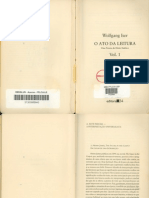Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Dufrenne Estetica e Filosofia
Hochgeladen von
PaulaBraga6886%(7)86% fanden dieses Dokument nützlich (7 Abstimmungen)
2K Ansichten30 SeitenDufrenne Estética e Filosofia
Originaltitel
69882409 Dufrenne Estetica e Filosofia
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenDufrenne Estética e Filosofia
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
86%(7)86% fanden dieses Dokument nützlich (7 Abstimmungen)
2K Ansichten30 SeitenDufrenne Estetica e Filosofia
Hochgeladen von
PaulaBraga68Dufrenne Estética e Filosofia
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 30
Prximo lanamento
O Sistema dos Objetos
Jean Baudrillard
A procura de um estatuto do objeto esttico leva Mikel Dufrenne a se
interrogar no s das relaes entre Cincia e Filosofia como a redefinir
"natureza" vendo-a prolongada na tcnica e na prtica humanas. Dufrenne
compreende a experincia esttica como ponto de partida de todas as rotas
que a humanidade percorre: ela abre seu caminho cincia e ao. Ela
manifesta a aptido do homem para a moralidade. Arte e Semiologia I
Expressividade do Abstrato I Estrutura e Sentido I constituem no livro alguns
dos blocos-conceitos situados no cerne da especulao esttica e filosfica
contempornea.
ISBN 85-273-0136-9
9 788527 301367
egates
e ates
e ates filosofia
mikel dufrenne
-ESTTICA
E FILOSOFIA
----,
Coleo Debates
Dirigida por J. Guinsburg
Equipe de realizao - Traduo: Roberto Figurelli; Reviso: Mary Ama-
zonas Leite de Barros; Produo: Ricardo W. Neves e Heda Maria Lopes.
mikel dufrenne
ESTTICA
E FILOSOFIA
SBD-FFLCH-USP
1111111111111111111111111111111111111111
245592
~\IIII
=== ~
~ EDITORA PERSPECTIVA
~I\\~
Ttulo do original:
Esthtique et Philosophie
Editions KJincksieck
DEDALUS - Acervo - FFLCH-FIL
\IMIIII~lli\II!1
21000056131
SUMRIO
11/ Ir duo edio brasileira
3' edio - 2' reimpresso
t'rrjcio:
A 'ontribuio da Esttica Filosofia . . . . . . . . . 23
A lgemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
en Psychologie, Assen, 56-5, dez. 1962.
Direitos reservados em lngua portuguesa
EDITORA PERSPECTIVA S.A.
Av. Brigadeiro Lus Antnio, 3025
01401-000 - So Paulo - SP - Brasil
Telefax: (O--ll) 3885-8388
"www.editoraperspectiva.com.br
2002
I. PROBLEMAS FlLOSOFlCOS DA ESTETICA'
() Belo
NQ especial da Revue A. S. FI. DE PHI., iun-out.
1961
7
35
5
Os Valores Estticos . . . . . . . . . . . . . . 48
Encvclopdie [ranaise, tomo XIX: Filosofia. Re-
ligio.
A Experincia Esttica da Natureza 60
Revue intcrnationa!e de Philosophie, Bruxelas, 1955.
XXX, 1.
Intencionalidade e Esttica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Revue philosophique, P. U. F., Paris, 1954, 1-3.
A "Sensibilidade Generalizadora" 89
Revue d'Esthtique, Paris, 1960, XIII, 2.
li. ARTE E SEMIOLOGIA
A Arte Linguagem? 103
Revue d'Esthtique , Paris, 1966, XIX, 1.
Formalismo Lgico e Formalismo Esttico 150
Annales d'Esthtique, Atenas, 1964.
A Crtica Literria: Estrutura e Sentido 169
Revue d'Esthtique, Paris, 1967, XX, 1.
Crtica Literria e Fenomenologia ' 187
Revue internationale de philosophie, Bruxelas, 1964,
68, 2-3.
A Propsito de Pndaro 204
Revue d'Esthtique, Paris, 1957, X, 2.
lIl. A ARTE HODIERNA
Mal do Sculo? Morte da Arte? . . . . . . . . . . . .. 215
Revue d'Esthtique, Paris, 1964, XXII, 3-4.
Objeto Esttico e Objeto Tcnico 238
The Journal of Aesthetics and Art criticism, eleve-
land, 1964, XXIII, 1.
Da Expressividade do A bstrato. A propsito de
uma exposio de Lapoujade 257
Revue d'Esthtique, Paris, 1961, XIV, 2.
6
INTRODUO
Edio Brasileira
I, Embora sem igualar a importncia da fenomeno-
li) 'ia no panorama da filosofia contempornea, a est-
11 'U Ienornenolgca , hoje, uma das correntes de maior
('onsi tncia no mbito da esttica. Sua histria re-
rvntc. O ponto de partida, obviamente, deve ser pro-
vurudo na obra de Edmund Husserl. Apesar de Husserl
11 10 ler escrito uma esttica, sua vasta obra contm
('h'Ill<;ntos suficientes para propiciar o surgimento de
11111[1 sttica fenomenolgica. Com efeito, a histria da
I'~I Iica no sculo XX assinala vrias tentativas no
'!'lllid de imprimir uma orientao fenomenolgica
IIl'It'xo sobre problemas que, tradicionalmente, ocu-
7
pam a ateno dos estetas. Assim, por exemplo, devem
ser lembrados os sutis estudos de M. Geiger e as pes-
quisas de ndole fenomenolgica de W. Conrad. Tanto
Geiger quanto Conrad eram integrantes do crculo
berlinense de Max Dessoir. Mas em Das iiterarische
Kunstwerk' do polons Roman Ingarden - um dos
primeiros discpulos de Husserl no tempo de Goettingen
- que deparamos com uma obra organicamente arti-
culada, empenhada em responder exigncia de supe-
rao do psicologismo, o qual caracterizava a filosofia
no final do sculo XIX. Infelizmente a Aesthetik de
N. Hartmann - filsofo que tanto contribuiu para a
formulao dos princpios e problemas de uma fenorne-
nologia da arte - s foi publicada aps a morte do
autor, ocorrida em 1953. Na Itlia, difcil avaliar a
extenso da influncia de A. Banfi como mentor de um
grupo de estudiosos que ainda hoje continuam, no cam-
po da fenomenologia, as pesquisas do mestre iniciadas
na dcada de 30. Na Frana, J.-P. Sartre e M. Mer-
leau-Ponty encarregaram-se da aclimao da fenome-
nologia husserliana. atravs deles que surge a figura
de Mikel Dufrenne-.
2 . A obra de Dufrenne pode ser dividida, por razes
didticas, em dois setores: filosofia e esttica. Mas
logo devemos observar que no existe uma separao
ntida entre os dois campos. A esttica, para Dufrenne,
filosofia. E no difcil descobrir os traos do esteta
no Dufrenne-filsofo, No setor da filosofia incluira-
mos: Karl Iaspers et Ia Philosophie de l'existence', es-
crita em colaborao com P. Ricoeur, La Personnalit
de base. Un concept sociologique', Language and Phi-
losophyr, Ialons: e Pour l'homme', A simples enume-
rao dos ttulos revela a amplitude de assuntos abor-
(I) Halle, 1931.
(2) Nascido em 19\0, em Clermont, Mikel Dufrenne professor
efetivo de. filosofia e doutor em letras. Exerceu o magistrio em vrios
liceus e, atualmente, leciona esttica e metafsica em Nanterre. :t;:
membro da socuu [ranaise d'esthtique e dirige, com Etienne Souriau,
a Revue d'Esthtique,
(3) Dufrenne, Mikel. Karl Jaspers et Ia Philosophie de l'existence ,
en collaboration avec P .. Ricoeur. Paris, t:.d. du Seuil, 1947.
(4) Dufrenne, Mikel. La Personnalit de base. Un concept socio-
logique, Paris, PUF, 1953.
(5) Dufrenne, Mikel. Language and Philosophy . Bloomington.
Indiana University Press, 1963.
(6) Dufrenne, Mikel. Jalons, Haia, Martinus Nijhoff, 1966.
(7) Dufrenne. Mikel. Pour 'homme, Paris. ~d. du Seuil, 1968.
8
dados num arco que se estende desde o estudo sobre
a filoscfia de Jaspers at o escrito polmico Pour
l'homme, cuja finalidade "evocar o anti-hurnanismo
prprio da filosofia contempornea, e defender contra
ela a idia de uma filosofia que teria solicitude pelo
hornem'",
Na parte esttica propriamente dita: o artigo "Phi-
I sophie et Littrature", na Revue d'Esthtique 9, Ph-
11 mnologie de l'exprience esthtique, em dois volu-
mes'", La notion. d":a priori"!', Le Potiquev e Esthti-
que et Philosophiev, cuja traduo a Editora Perspecti-
v ora oferece ao leitor de lngua portuguesa com o
ttulo de Esttica e Filosofia. nosso intuito, nos li-
mites de uma introduo, seguir o itinerrio da reflexo
esttica de Dufrenne e situar Esttica e Filosofia no
. njunto de sua obra.
3. Phnomnologie de l'exprience esthtique foi a
obra que projetou Dufrenne no cenrio internacional da
.. ttica. O escopo da Phnomnologie submeter a
:xperincia esttica descrio fenomenolgica, an-
tls transcendental e apreenso da significao me-
tulsica. So trs etapas de um itinerrio que no atin-
iu o trmino com a ltima pgina da Phnomnologie,
111a continua at hoje, tendo passado por La notion
d": priori" e O Potico. O leitor, acostumado a con-
cluses acabadas e definitivas, talvez se decepcione com
1 obra de Dufrenne. Seus livros so o fruto de um pen-
uncnto gil e indagador, aberto ao contato vivificante
rorn a experincia e disposto a repensar os dados 'do
pnssado. S atravs da leitura atenta de seus livros -
desde a Phnomnologie at O Potico, com o re-
I urs constante da Esttica e Filosofia - possvel
1 '( rnpanhar o itinerrio da fecunda reflexo do esteta
h ancs, Itinerrio que no chegou ao fim visto que
ca) tua.. p. 9.
(9) "Philosophie et Lttrature". Revue d'Esthtique I (1948) pp
'H'I 'O~. ' ,.
(10) Dufrenne, Mike l. Phnomnologie de l'e xprience esthtique.
1',,01 , PUF, 1953, 2v.
(11) Dufrenne, Mikel. La noton d'Ha pror", Paris, PUF, 1959.
(I ) Dulrenne, Mikel. Le Potque, Paris, PUF, 1963. Em portu-
11H O Potico, traduo de Luiz Arthur Nunes e Reasylvia Kroeff de
"lI/h, P. Alegre. Ed. Globo, 1969.
(I) Dufrenne, Mikel. Esthri que et Philosophie. Paris, :f:d. Klinck-
I k. 1967.
9
ele, atualmente, trabalha no recenseamento dos a
priori 14.
No incio da Phnomnologie, Dufrenne observa:
"Entendemos fenomenolozia no sentido em que Sartre
e Merleau-Ponty aclimaram este termo na Frana: des-
crio que visa a uma essncia, a qual definida como
significao imanente ao fenmeno e dada com ele. A
essncia est para ser descoberta mas por um desvela-
mento, no por um salto do conhecido ao desconhe-
cido"15.
Sabemos quo difcil o problema das diferentes
interpretaes suscitadas pela obra de Edmund Husserl.
Dufrenne filia-se corrente francesa liderada por Sar-
tre e Merleau-Ponty. Ambos os autores, no obstante
notrias divergncias, tm influncia reconhecida na
obra de Dufrenne. Ele no esconde seus receios pela
direo idealista do pensamento de Husserl. Da a pre-
ferncia pela interpretao de Merleau-Ponty, que sa-
lienta os aspectos existenciais da fenomenologia, e pela
leitura de Sartre, que d relevo idia de intencionali-
dade e dimenso antropolgica. Se acrescentarmos
os nomes de Espinoza, Kant, Hegel, Wittgenstein, Hei-
degger, Bachelard e Alain, teremos o elenco dos fil-
sofos que mais tm influenciado Dufrenne,
4. A Phnomnologie est circunscrita experincia
esttica do espectador. Mas existe uma intercomunica-
o entre a experincia do espectador e a experincia
do artista. No possvel descrever a experincia do
espectador sem ter presente, ao menos implicitamente,
a experincia do artista. Trata-se, porm, do artista
que a obra de arte revela. na obra, portanto, que
se realiza o encontro entre espectador e artista. E nes-
se ponto a Phnomnologie completada por outros
escritos do Autor. O Potico e Esttica e Filosofia ofe-
recem-nos valiosos subsdios para uma fenomenologia
da criao artstica.
A maior parte da Phnomnologie est dedicada
descrio fenomenolgica seja do objeto esttico, seja
da percepo esttica. de fundamental importncia
a distino entre obra de arte e objeto esttico. Este
(14) Dufrenne, MikeL "A prtori" et Philosophie de Ia Nature .
Filosofia, 18 (1967), p. 723.
(15) Dufrenne, Mkel, Phnomnologie, op, cit., pp. 4-5, nota L
10
objeto percebido esteticamente. o objeto percebido
enquanto esttico. A obra de arte, atravs da per-
cepo esttica, se torna objeto esttico. Obra de arte
objeto esttico no se identificam. O campo do
bjeto esttico mais amplo. Abarca o mundo
natural que, excludo da Phnomnologie, aparece em
esttica e Filosofia
l6
Longa e exaustiva a descrio do objeto esttico.
Paz-se mister situ-Io entre outros objetos: o objeto de
li e o objeto tcnico, por exemplo. A descrio de-
R nvolve-se atravs dos trs planos noemticos: o sen-
svel, o objeto representado e o mundo expresso. O ob-
j t esttico confrontado com os conceitos de natu-
r' za, forma e mundo. Dufrenne, ento, submete ao
.rivo da crtica as doutrinas de inspirao fenomeno-
)t gica de J.-P. Sartre, R. Ingarden, B. de Shloeser e
W. Conrad. Tendo fundamentado seu empreendimento
na realidade do objeto esttico e afastado os perigos
do subjetivismo e do psicologismo, ele situa ser e apa-
I' er em forma de adequao. O ser do objeto esttico
til pende da percepo e s se realiza na percepo.
Por fim, o problema do estatuto do objeto esttico.
Visto que o objeto esttico no s um em-si, corno
I unbm um para-si, Dufrenne recorre frmula quase-
su] ito numa tentativa de definir o estatuto do objeto
('NI tico atravs da superao da alternativa do para-si
( d em-si.
Aos trs aspectos noemticos - descobertos na
ti ., rio do objeto esttico - correspondem os nveis
ti I presena, representao e sentimento: trs marcos
tio r teiro da fenomenologia da percepo esttica. :E:
I I 'rceira parte da Phnomnologie e, com ela, Du-
trcnnc completa a descrio da experincia esttica,
uma das finalidades de sua obra. No plano da presena,
uli mta-se o tratamento dado ao papel desempenhado
pelo corpo na percepo, talvez um dos passos da
/'/1 nomnologie onde mais se percebe a influncia de
erlcau-Ponty. No nvel da representao, Dufrenne
11' 11ft a distino entre percepo e imaginao. Todo
11 u empenho demonstrar que a imaginao est na
h I c da percepo e deve ser encarada como sua cola-
hlll ItI ra. No terceiro momento notico, o Autor pro-
1/,) No artigo: A experincia esttica da Natureza, p, 54.
11
cura caracterizar a funo do intelecto na percepo
esttica, funo importante mas que no deve ser exa-
gerada sob pena de transformar a experincia esttica
em mero exerccio racional. O mesmo ocorre com o
sentimento: sua posio, no pice da percepo, no
deve levar ao erro de tudo sacrificar em favor do sen-
timento. Na atitude esttica h uma espcie de osci-
lac entre a atitude crtica e a ati tude sentimental.
5. Terminada a descrio da experincia esttica,
necessrio dar um passo alm e submet-Ia anlise
transcendental. Assim como Kant fala dos a priori da
sensibilidade e do intelecto, Dufrenne procura demons-
trar que a experincia esttica - ao atingir o ponto
culminante no sentimento como leitura da expresso
- pe em ao autnticos a priori da afetividade. Tal
o escopo da quarta parte da Phnomnologie, intitu-
lada: "Crtica da experincia esttica". E aqui nos
defrontamos com um exemplo tpico da evoluo do
pensamento de Dufrenne. Aps a Phnomnologie, ele
volta ao tema em questo, opondo-se tradio kan-
tiana do a priori em La notion d"'a priori", publicado
em 1959. Sua finalidade pensar o a priori corno sen-
tido imediato do objeto conhecido e no corno condio
lgica do conhecimento. H, portanto, uma deslogi-
cizao do a priori. Alm disso, o a priori desdobra-
do no objeto e no sujeito: estrutura no objeto e saber
virtual no sujeito. Em La notion. d"'a priori", Dufren-
ne parece afastar-se do contexto da experincia est-
tica. Realmente, a maior parte do livro ocupada
pelo repensarnento da noo de a priori, tanto do ob-
jetivo, quanto do subjetivo. Mas na terceira parte ("O
homem e o mundo"), o leitor depara com algumas das
mais profundas pginas do livro onde Dufrenne, aps
ter situado o homem e o mundo em termos de afini-
dade, efetua o salto do transcendental ao ontolgico.
J no final da Phnomnologie, o Autor tentara
a apreenso da significao metafsica da experincia
esttica. Seu propsito, porm, ficou invalidado ao pr
em dvida a necessidade da crtica se voltar para a
cntologia. Mas em La notion d":a priori", aps ter
ordenado a dualidade do a priori numa unidade que
abrange os dois termos, Dufrenne prope a idia de
12
um ser anterior ao a priori: o "a priori do a priori"
a soluo para o salto do transcendental ao ontol-
gico e para o exame da significao ontolgica da
xperincia esttica. E a busca do a priori do a priori
I va-o a uma filosofia da natureza - em O Potico
- onde a Natureza naturante concebida como a
f nte de todo o a priori, O fato de Dufrenne ter sido
obrigado a efetuar a passagem do a priori ao ontol-
ico, para no cair nas malhas do idealismo, situa sua
bra na corrente das enornenologias de inspirao
ntolgica.
6. Contam-se, no elenco das obras de Dufrenne, duas
, letneas: Ialons (1966) e Esttica e Filosofia (1967).
Jalons, que rene artigos sobre os filsofos que mais
o influenciaram, pertence s obras filosficas propria-
mente ditas. Cabe-nos, agora, a tarefa de situar Est-
li 'a e Filosofia no itinerrio esttico de Dufrenne.
Os artigos que compem a obra foram agrupados
p ,I Autor em trs grandes grupos: I. Problemas filo-
)ficos da esttica; lI. Arte e Semiologia; IH. A arte
hodierna. Estendem-se de 1954 - portanto logo aps
\ primeira edio da Phnomnologie - at 1967,
A justificativa do ttulo dado coletnea encontra-
~ na apresentao e no primeiro artigo do livro. Es-
f ('( i a e Filosofia porque a esttica s pode ser realizada
!lO mbito de uma filosofia e porque a esttica urna
vin privilegiada para a filosofia.
Assim ccmo a Phnomnologie, tambm o artigo
., contribuio da esttica filosofia tem o seu ponto
IIl' partida na descrio da experincia esttica, O ho-
11\ .m um ser-no-mundo. E estar no mundo leva o ho-
II1l'm a buscar o fundamento que consiste no acordo do
homem com o mundo. Da a importncia da experin-
ri I esttica, Ela reconcilia o homem consigo mesmo.
1-111 manifesta a aptido do homem para a cincia e .para
1\ moralidade, E isso porque a experincia esttica "se
ItUI na origem, naquele ponto em que o homem, con-
tundido inteiramente com as coisas, experimenta sua
fllllllliaridade com o mundo" 17. O fato de a esttica re-
111 tir sobre a experincia esttica - uma experincia
11rif.llrlHl , segundo Dufrenne - reconduz o pensamento
(I n Dufrenne, Mike1. Esttica e Filosofia. op . cit ., PP. 8 9.
13
e a conscincia origem. Nisso reside a principal con-
tribui o da Esttica Filosofia. So visveis, aqui, as
pegadas de Kant e de Merleau-Ponty.
7. No passa despercebido ao leitor da Phnomno.-
logie a recusa do Autor a utilizar o belo p~ra desc~?nr
a obra de arte e delimitar o campo do objeto esttico.
Mas se levarmos em conta trs artigos de Esttica e
Filosofia - O Belo, Os valores estticos e Obj;to es-
ttico e Objeto tcnico - veremos que, no computo
geral, a noo do belo adquire consistncia na esttica
de Dufrenne.
H uma exigncia de valor na vida. O valor no
s o que se procura. f:. aquilo ~ue encontrad~. O
valor ser. O objeto - porque e valor - se afirma
e persevera no seu ser. H seis tipos diferent~s de
valores: o til, o agradvel, o amvel, o verdadeiro, o
bom e o belo. Cada qual corresponde a modos espe-
cficos da intencionalidade e o conjunto abarca o campo
das relaes do objeto com o sujeito.
Vimos que o objeto esttico a obra. de arte, ~n-
quanto percebida esteticamente .. Se o obJeto. estet~co
corresponder sua vocao, realizar sua fmalid~de m~
trnseca, for - numa palavra - ele mesmo, entao ser a
um objeto de valor.
Ao sensvel, primeiro plano noemtico, deve estar
imanente um sentido. Quanto mais perfeita for a ade-
quao do sensvel com o sentido, tanto maior ser a
perfeio do objeto esttico. E o conceito de belo,
segundo Dufrenne, se identifica com a perfeio do ob-
jeto esttico. O belo o 'perfeit~, ~ acab~do. O contr~-
rio do belo, por conseguinte, nao e o feio. o aborti-
vo no caso de uma obra criada com pretenses a
objeto esttico. .
O homem um ser-no-mundo. Ele tem necessi-
dade de se sentir bem, no mundo, entre as coisas. E
pelo fato de precisar se sentir no mundo, o homem ~em
necessidade do belo. Ele capaz tanto de apreciar,
quanto de criar beleza. . Assim se justific~. a diviso
proposta: esttica do artista (fazer) e esttica do es-
pectador (aparecer). A esttica de Dufrenne reconhece
o belo. Reabilita e enaltece o belo. Sua esttica, po-
rm, para evitar os perigos do relativismo e do subje-
tivismo, no apresenta uma teoria do belo.
14
R. Objeto estenco e obra de arte no se identificam.
) conceito de objeto esttico , como vimos, mais am-
I : inclui a obra de arte e o objeto natural. f:. poss-
vel viver uma experincia esttica tanto diante de uma
obra de arte, quanto perante a natureza. Toda a Ph-
1/0 111 nologie, por razes de mtodo, est dedicada
, perincia esttica da obra de arte.' Essa experincia
\, ob o ponto de vista fenomenolgico, a mais esc1a-
rcccdora de todas. E Dufrenne afirma que a contem-
pla o da obra de arte estabelece a norma da experin-
ia esttica. Mais uma vez Esttica e Filosofia nos
oferece a complernentao necessria para termos uma
viso de conjunto do pensamento do Autor.
Em primeiro lugar, deve ser mantida a distino
entre as duas experincias. Mas o lugar de relevo atri-
hudo experincia diante da obra de arte no pode
1 'verter em detrimento da experincia esttica da na-
turcza. Assim como no h oposio entre natureza
, arte, tambm no possvel forjar um antagonismo
-ntrc as duas experincias tanto mais que Dufrenne vem
pro ressivarnente elaborando uma filosofia da Natureza.
I.m O Potico, por exemplo, a noo de natureza
11m; entada em referncia ao mundo, ao homem e
"te. Nesse sentido, de fundamental importncia a
distino, de origem espinoziana, entre Natureza natu-
runtc e natureza naturada",
A Natureza naturante espontnea, capaz de re-
('1<1 o e de expresso. E ela que inspira os artistas.
() artista, ao criar a obra de arte, responde ao apelo da
Nruureza. A arte , portanto, necessria Natureza.
Mus a Natureza naturante precisada natureza naturada.
I' I I se revela e se exprime na natureza naturada. A
111l11rCZa naturada testemunha em favor da Natureza
1\ illI rante.
No artigo A experincia esttica da Natureza o
111101' encontrar ampla descrio da experincia pe-
111111' a natureza: mbito, condies de possibilidade,
111l11 s, vantagens. Entre essas, sobressai o sentimento
Ili . naturalidade com a natureza. f:. o parentesco
, 'I 'I que une o homem natureza e o faz sentir-se
"li 1 mesma raa" com os entes e as foras que com-
1'1 "111 semblante da natureza.
( t H) A grafia do termo "natureza", em maiscula ou m-inscula.
1111111~i " dist ino entre os dois conceitos.
/5
------ -- ~------
Embora no seja nosso intuito apresentar uma
crtica filosofia da Natureza elaborada por Dufren-
ne, no podemos deixar de chamar a ateno para a
existncia de certas dificuldades que envolvem seu
empreendimento. Tais dificuldades poderiam ser com-
prendidas na pergunta: ser que o empenho de Du-
frene em sublinhar a conaturalidade do homem com a
natureza no o induziu, talvez inconscientemente, a
favorecer a natureza em prejuzo do homem?
9. No artigo Iruencionalidade e esttica, o Autor re-
toma e continua a reflexo sobre certos temas bsicos
da Phnomnologie. A noo de intencionalidade est
no mago da reflexo filosfica. A. de Muralt vi sua-
liza duas dimenses na idia de intencionalidade: Ie-
nomenolgico-transcendental e fenomenolgico-descri-
tiva. Dufrenne, juntamente com Sartre e Merleau-
-Ponty, inclui-se na dimenso fenomenolgico-descritiva,
Para ele, a experincia esttica do espectador pode
servir para esclarecer a idia de intencionalidade e
dar peso interpretao merleau-pontyana. Isto por-
que a percepo esttica "procura a verdade do objeto,
assim como ela dada imediatamente no sensvel?",
Do . mesmo modo como o artista se aliena na criao
da obra de arte, assim o espectador se aliena na per-
cepo esttica: entrega-se totalmente manifestao
do objeto. Efetua-se, ento, a reduo fenomenol-
gica. Real e irreal so neutralizados. Tudo, com
exceo do mundo do objeto esttico, posto entre
parnteses a fim de que o sujeito possa apreender o
fenmeno, isto , o objeto, e viver uma experincia
esttica.
A obra de Dufrenne est sob o signo do binmio
monismo-dualismo inserindo-se, destarte, na problem-
tica da filosofia moderna que no evita a oposio entre
sujeito e objeto e, ao interrogar o ser, pe em questo
aquele que interroga. No o momento oportuno para
verificar se Dufrenne pertence s fileiras do monismo ou
do dualismo. Interessa-nos, porm, sublinhar a exis-
tncia de um liame, tecido pela intencionalidade, entre
sujeito e objeto na experincia esttica. Ora, da cons-
tatao desse liame, ele passa idia de uma comuni-
(19) Dufrenne, MikeJ. Esttica e Filosofia, op, cir., p. 51.
16
cao originria entre sujeito e objeto. O objeto es-
ttico, alis, est duplamente ligado ao sujeito. O
artista cria a obra de arte. O espectador, atravs da
percepo, responsvel pela epifania do objeto est-
tico. O artista expressa seu mundo interior no objeto
de modo que, na experincia esttica, o espectador tem
acesso ao mundo do artista. Da ser correto nomear o
mundo do objeto esttico pelo nome do artista: mundo
dc Racine, Mozart ou Van Gogh.
Segundo Dufrenne, a comunicao originria entre
sujeito e objeto - conseqncia da idia de intencio-
nalidade - encontra sua explicao ltima na noo
de a priori. "A intencionalidade significa, portanto, que
homem e o mundo so da mesma raa: a comunica-
que ela conota se funda numa comunidade'w.
A fenomenologia uma doutrina. Doutrina que
prope um mtodo. Dentre as aplicaes do mtodo
r nomenolgico, sobressai - em Esttica e Filosofia
a crtica. crtica, Dufrenne dedica dois profundos
rrtigos: A critica. literria: Estrutura e Sentido e Crtica
lit irria e [enomenologia, Em ambos os artigos, alm
d que se refere especificamente crtica literria, de-
paramos com o pensamento de Dufrenne a respeito da
crltica de arte em geral. o Dufrenne terico da cr-
tlca e crtico penetrante das mais importantes teorias
qu norteiam a atividade dos crticos de hoje. Algumas
11 ias desses artigos, principalmente as restries em
f "C do estruturalismo, retomaro em Pour l'homme.
() principal interesse, entretanto, reside na comprovao
11, que os princpios da fenomenologia encontram apli-
iao prtica em setores de tanta atualidade, como o
I IS da crtica literria.
I(). No nos possvel apresentar uma anlise por-
111l'1) rizada de Esttica e Filosofia. Na perspectiva em
'I1l nos colocamos, o principal interesse do livro reside
11 1 primeira parte. Isso porque os artigos includos sob
I1 t tulo de "problemas filosficos da esttica" ser-
VI /11 de aprofundamento e complementao a temas de
IIIIH rtncia decisiva no itinerrio esttico de Dufrenne.
nfase que damos primeira parte no deve levar o
tor 8 menosprezar as outras duas partes. Nelas se
tI) Ibi., p, 58.
17
encontram dados de real valor que muito nos auxiliam
a ter uma viso geral da obra de Dufrenne.
Alm dos j mencionados artigos sobre crtica, me-
rece ser citado o longo estudo A arte linguageml , onde
Dufrenne, colocando-se na esteira de Husserl, Wittgens-
tein e Merleau-Ponty, aborda, sob diferentes pontos de
vista, o problema da linguagem. Na Phnomnologie,
a linguagem auxilia a compreenso do fenmeno da
expresso. Em O Potico, ao confrontar a linguagem
com a prosa e a poesia, aprofunda a idia de expresso.
Em Esttica e Filosofia visvel a preocupao de Du-
frenne em delimitaras campos da Semiologia e da Lin-
gstica e em esclarecer a maneira pela qual deve ser
entendida a assero "a arte linguagem"
Na ltima parte do livro, mais precisamente no
artigo Mal do sculo? Morte da artei , Dufrenne apre-
senta uma das mais lcidas anlises da arte contem-
pornea efetuadas na dcada de 60. O autor no se
contenta com observaes superficiais mas, fiel voca-
o filosfica da Esttica, procura as causas dos atuais
fenmenos artsticos para melhor cornpreend-los e in-
terpret-los. E no artigo Da expressividade do abstrato
Dufrenne coloca-se, como espectador, diante da pintura
figurativa e da pintura abstrata para, num segundo tem-
po, revelar-se um crtico exmio ao esclarecer e julgar
a pintura de Lapoujade. Nesse artigo no passa des-
percebido ao crtico o engajamento do artista na pro-
blemtica de nossa poca, como tambm no passa des-
percebido ao leitor o entusiasmo de Dufrenne ao real-
ar os aspectos humanos e sociais da exposio de La-
poujade.
Como todas as coletneas que renem estudos efe-
tuados em momentos diversos, Esttica e Filosofia
um livro desigual. Um juzo de valor no pode deixar
de tomar em conta a diversidade de assuntos abordados,
os motivos que suscitaram os artigos e o longo perodo
que se estende de 1954 a 1967. No obstante a inevi-
tvel desigualdade que transparece duma leitura atenta,
cremos que possvel, com o auxlio desta introduo,
ter uma viso de conjunto da obra de Dufrenne e do
seu itinerrio esttico. Alm de servir como comple-
mentao e aprofundamento aos temas bsicos da es-
ttica de Dufrenne, Esttica e Filosofia um convite
~eitura e estudo das demais obras de um dos vultos mais
Importantes da esttica contempornea. De fato o em-
~re:nd.iment~ de Mikel Dufrenne ganha em for~ e con-
sistencra se tivermos presente que sua esttica preenche
uma lacuna da fenomenologia e afirma a possibilidade
de uma esttica Ienomenolgica,
ROBERTO FIGURELLI
18
19
Reuni aqui, com o gentil consentimento das re-
vistas nas quais apareceram, artigos cu]a redao se
rscalona por uma qunzena de anos. Deverei descul-
l'lr-me ou, ao menos, dar uma explicao? Para o
11111 r um modo de fazer uma reviso, de conseguir
,It'/Iurana a respeito de si mesmo, mantendo sob o olhar
ntonremos diferentes de sua pesquisa: feliz se, na falta
'/1' um progresso certamente impossvel num domnio
finde sempre se est no comeo, constata, ao menos
rm seu pensamento, atravs dos diversos problemas que
IIhorda, certa continuidade. Quanto ao leitor, talvez
/'/t' observe que essa continuidade posta em questo
I'do modo de escrever a palavra natureza, ora com,
fi! I sem maiscula: sinal de que se elahorou progressi-
\'(/I//(mle a idia de uma filosofia da Natureza. Mas
21
se faz mister acrescentar que essa filosofia impe o
duplo modo de escrever, segundo se nomeia a natureza
naturante ou a natureza naturada. Em todo caso espero
que o leitor seja sensvel diversidade dos probLemas
suscitados nestes textos: tal tolerncia somente preten-
de solicitar a reflexo e seu nico mrito reside na mul-
tiplicidade de vias TUlS quais se engaja.
E necessrio tambm justificar o ttulo desta cole-
tnea. O primeiro artigo a isso se dedica, querendo
dizer que a esttica s pode se realizar JU) interior de
uma filosofia e tambm que a esttica uma via privi-
legiada para a filosofia. Privilegiada para o autor, em
todo o caso; mas talvez o leitor esteja pronto a segui-Ia
por um momento.
23
M.D.
Prefcio
A CONTRIBUIO DA ESTTICA
FILOSOFIA
I r. ~~tes de con~truir conceitos ou mquinas, enquan-
li, <I, nc~va as. pnmeiras ferramentas, o homem criou
"~iI()~. ,ePld~tou Imagens. Mas essa prioridade no pode
I I r CIVIDicada tanto I 1"-
I I di pe a Te 19IaO, quanto pela arte?
",_, rsputa, provavelmente, no tem sentido nesse pri~
uu-rro momento da humanidade R I' ,- ,
I II I' t d ' , J, e 19lao e arte so
I I S ar e se distInguiro verdade' , ,
11 fi .icnte com reende Irame~te, AqUI e
II Ilnme d h P r que a arte espontanea exprime
I 1\ li, o, ornem com a Natureza. E nisto que a
a vai meditar ao considerar uma experincia
22
25
original, ela reconduz o pensamento e, talvez, a cons-
cincia origem. Nisto consiste sua principal contri-
buio filosofia.
No se trata, porm, de remontar noite dos tem-
I
pos: a esttica no a histria, e a pr-histria que ela
I explora no a das sociedades sem histria mas, na
f
histria, a das iniciativas que em todas as pocas edifi-
I
cam a cultura e descortinam uma histria. Sim. Cada
,~ssas iniciativas - o olhar novo que um homem
lana paisagem, o gesto novo que cria uma nova for-
ma - se inscreve na cultura. A esttica, entretanto,
dirige a ateno para o mbito que se situa aqum do
cultural. Em que que ela se empenha? Mais do que
em apreender o natural, enquanto se ope e se liga ao
cultural, em apreender o fundamental: o prprio sen-
tido da experincia esttica, ao mesmo tempo aquilo que
a fundamenta e o que ela fundamenta. Para esta pes-
quisa ser invocado o patrocnio de Kant: o que torna
possvel a experincia esttica sempre a questo cr-
tica. a qual pode ser retomada se orientarmos a crtica
para uma fenomenologia e, depois, para uma ontologia.
Outro cuidado de Kant determinar o que essa expe-
rincia torna possvel e de que modo garante a busca
do verdadeiro e atesta a vocao moral do homem. Re-
tomemos, portanto, livremente a Crtica do Iuizo,
Mas antes de abordar o problema crtico, neces-
srio descrever rapidamente a experincia esttica. O
primeiro problema colocado por essa descrio j in-
I
tegra a esttica na filosofia: o que o hom;m-?illl!.@nto
sensvel ao~b 10 isto , enquan o capaz-do apreciar a
be eza segun o a normatividade do gosto, e de produ-
zi-Ia segundo os poderes da imaginao? O belo um
valor entre outros e abre caminho aos outros. Mas o
que um valor? No s o que procurado, aquilo
que encontrado: o prprio de um bem d$-;um ohje-
to que resgonde a algumas de nossas tendncias esatis-
raz a gurnas de ffo-ssro- nec~~Cfs. "'"\: exigenclaae
va or est enraizd" na VI a eValor est enraizado
em certos objetos. Aquilo que vale absolutamente no
vale no absoluto, mas em relao a esse absoluto que
um sujeito, quando ele se sente ou se quer satisfeito por
um objeto, real ou imaginrio, que aplaca sua sede de
bebida, de justia ou de amor. H uma sede de beleza
no homem? necessrio dizer que sim, a no ser que
se veja nisto uma necessidade artificial despertada ou
em todo o caso? orientada pela cultura; mas sempre
a natureza que Inventa a cultura, mesmo que seja para
nela se .negar. I7ssa sede no nem muito exigente,
ne~ mu_Ito consciente (e isso explica que nossa civil i-
zaao n~o. a ~enha sempre em muita considerao e ten-
da. a privilegiar a funcionalidade, por exemplo, na ar-
quitetura ~ n~ organizao, do ambiente de vida); ela
se .torna conscia quando esta satisfeita. Por quem? Por
obJe~os que ofere~em aJ?t!nas sua presena, mas cuja
plenitude se anuncia gloriosamente no sensvel. O belo
esse valor que experimentado nas coisas bastando
que aparea, na _gratuidade exuberante da; imagens,
quando a percep~o cessa de ser uma resposta prtica
OoU quando a praxis cessa de ser utilitria. Se o homem
na experincia esttica, no realiza necessariamente sua
voca~.o, ~o menos manifesta melhor sua-condio: essa
expe~IencJa revela sua relao mais profunda e mais
:strelta c~m o mundo. Se ele tem necessidade, do belo,
e n medI em ue recis se sentir no mundo. Estar
no mundo no ser uma coisa entre as coisas, sentir-
-se em casa en~re as, co.isas, mesmo as mais surpreen-
dentes e as I1!-als terrveis, porque elas so expressivas.
Or~,. um sentido se desenha na. prpria carne do objeto
estet~co,. como o vento que aroma a savana; um signo
nos e felto~ O q~~l ~os remete a si mesmo: para signifi-
car, o objeto ilimita-se n?m mundo singular, e esse
mundo e o qu~ ele nos da a sentir. Esse mundo que
nos fala, nos dIZ. o mundo: no uma idia, um esquema
~bs~~to, uma VIsta sem viso que viria se acrescentar
a visao, mas um ~s!ilo. que ,um mundo, o princpio de
um mundo na evidncia sensvel. A superfcie do vis-
v~l, o que "a duplica de uma reserva Invisvel" como
d~z - etleau-Pon ~I ~ esse mundo do ql ela ~t gr-
VIda e ue ~OnStItUl o seu sentido. Um sentido que
ressoa. ~o mais profundo do corpo, mas que no solicita
sua atividade como fazem uma presa, um obstculo, uma
ferramenta ou mesmo um discurso, um sentido que so-
~ent~ ,s~ d a sentir e cuja idealidade apenas algo
l~a~narIo., . pe modo que aJenomenologia da ~xpe-
riencia estettca. e.nfrenta diretamente a questo funda-
mental do sur81mento da representao na presena: do
(I) Le
A
visible et l'!nvisible, P. '37. (O Visvel e o Invisvel. Traduo
em portugus pela Editora Perspectiva, Col. "Debates", 1971.)
nascimento do sentido. E no nos admiramos que Mer-
leau-Ponty ten a meditado sobre a linguagem indireta
da arte e sobre as vozes do silncio.
O sentido s pode aparecer nessa expenencia se
todas as potncias da conscincia nela j esto presen-
tes. A percepo esttica a percepo aberta e feliz
que atesta essas potncias e solicita a reflexo sobre
elas. Ao mesmo tempo, ela anuncia e prepara para a
conscincia o seu futuro, fundamenta-o, como dizamos
h pouco. Primeiro, o fato de o homem ser sensvel ao
elo indica, con orme Kant, sua iptlilpr.a_a..morali-
dade. O acordo livre das faculdades, que desperta em
ns um sentimento de prazer, se produz quando seu
exerccio como que sublimado: o intelecto se supera
rumo razo quando os conceitos se ampliam em idias
estticas e quando a brancura do lrio se torna smbolo
da inocncia; e a imaginao se liberta do domnio do
intelecto refletindo a forma do objeto e "se divertindo
na contemplao da figura'". O acordo situa-se, por-
tanto, em um ponto de concentrao no supra-sensvel,
que atesta a vocao do homem para a racionalidade e,
no domnio prtico, para a moralidade. No ne~s-
srio, para aceitar essa anlise, conceber o _supra-sens-
ve como uma superaao ra ical dosensvel, e amora-
lidade como a su misso a"Uma iormPilr trnscen-
ente a fado contedo. O que retemos de Kant , em
primeiro lugar, a idia de uma harmonia espontnea
e feliz das faculdades; a ex eri '~st c econci-
lia-nos conosco mesmo: ao abrir-nos presena do
objeto, no renegamos nosso poder de conhecer, dei-
xamo-nos penetrar por um sentido, sem dvida inde-
terminado, mas insistente, que pode ser o smbolo de
um predicado moral, como os cumes o so da pureza
ou as borrascas das paixes. f.lm disso, o belo no
estimula como um estmulo qu uer, e e inspira, mo i-
Ig~---_alma mtelra':e tfria disponvel, f: sobre esse
fundo que se desenham as figuras da moralidade, na
medida em que requerem simultaneamente um engaja-
mento total da pessoa e o poder de superar o real ru-
mo a um irreal que pode ser um ideal.
tambm para o verdadeiro que o homem se di-
rige ~toa::::: ma. O ]uzo que visa - verdwe
(2) Kant. Critique du Lugement , 16.
(3) Potique de Ia r vere, p. 10.
coloca em jogo eSSe acordo das faculdades, e o juzo
determinante s pode manifestar a autoridade do inte-
lecto legislador porque o juzo que reflete manifesta,
primeiro, a possibilidade de um acordo de todas as
Faculdades. ~ erincia esttica rtanto, teste-
munha uma aQtido ...Q. homem para a cincia. A cin-
cia suscitada pela praxis e, sbretudo, pelos fracassos
dessa praxis. ci cia, enquanto teoria, - cons-
truo de conceitos e, depois, e mguinas ue produ-
-zem o jetQ1! a medica os concei!os - provm do pen-
samento que juzo. Esse pensamento delirante en-
quanto imagino exerce sua liberdade fora de todo
controle do intelecto, como no sonho; mas o delrio se
abranda e se torna promessa de razo quando a imagem
se carrega de sentido ou quando se torna, pela operao
do gnio, idia esttica. lndubiamente a poesia no
cincia, mas a prepara, no s ao provocar o pensa-
mento positivo por meio de obstculos epistemolgicos,
mas ao exercer o intelecto em objetos ainda imagin-
rios, E ela tambm a confirma: a verdade de uma teo-
ria sem re se recomenda Ror sua e egancia, como se o
be o ornecesse antia.a M.e_Id~ij). ,com fito,
toda teoria, mesmo quando no ainda formalizada, j
formal, e s materialmente verdadeira com a con-
dio de se-Io formalmente, visto que as dedues que
autoriza devem, em primeiro lugar, dar prova de validez
segundo critrios formais. Ora, a forma que se re-
vela na experincia esttica; e mesmo a imaginao ma-
terial, segundo Bachelard, a qualidade formal do ver-
bo potico que a solicita, enquanto o sonhador de ma-
trias "um sonhador de palavras'"; e, finalmente, a
matria sempre informada. Contudo, algum dir que
a forma lgica, que se presta necessidade lgica, no
tem nada em comum com a Gestalt que se recomenda
por uma necessidade sensvel; a necessidade lgica su-
pe a linguagem - um simbolismo lgico -, e no
h linguagem em arte, s h linguagem em poesia. Do
mesmo modo, o formalismo esttico que regula uma
prtica totalmente diferente do formalismo lgico que
constitui um objeto ideal. Certamente. Mas a forma
lgica, ainda que s exista para um pensamento capaz
de pureza e de rigor, tem certa "forma" que, sem ser
sensvel, apela para a sensibilidade: h nela como que
26
27
um estilo ideal de encadeamento dos objetos ideais. E,
por outro lado, a prtica artstica, se o formalismo das
normas nela no exaure a inspirao, cria um objeto
- real e no ideal - que "d o que pensar", e s
agrada com essa condio, na falta da qual ele deixa
indiferente ou s agradvel e vazio. Evidentemente
esse pensamento no ainda o pensamento formal de
um universo do discurso nem o pensamento positivo
do universo cientfico; , antes, o sentimen um
mundQ, de urri possvel do real. as as operaes que
~stroem o possvel lgico como trama do real talvez
se preparem nos atos da imaginao que se abre s fi-
guras irreais do mundo ao apreender formas ricas de
sentido. Apreender essas qualidades formais que con-
ferem a um monumento, a uma sonata ou a uma pai-
sagem a virtude de se expandir sem limites num mundo
possvel, imitar, na ordem do sentimento, o processo
racional que construir formalismos lgicos para ex-
plicar as aparncias. Poder-se-, assim, mostrar q~e
a beleza a~la ara o sa...er: que as idias fun-
,damentais de invarivel, de ordem, de lei, so su-
geridas por certas propriedades dos objetos belos; e
tambm que a criao de certos objetos da plstica ou
da msica requer atividades como contar, medir, orde-
nar, onde a imaginao j esquematizante, e que imi-
tam os processos da cincia. De ois, uando a opera-
o da cincia tiver sido realizada, quando as aparncias
tiverem SI Oesarma as e dominadas, o gosto das for-
-mas sensveis vir reanimar o sentimento insubstituvel
d.e uma-plenitude-do ser,e de nOssa familiaridade nativa
cOl!'LJ!le._
Assim a experincia do belo convida a filosofia a
meditar na unidade de sentido da palavra forma (ou
tambm da palavra estrutura), isto , na relao entre
a forma sensvel dada como Gestalt significante, pr-
pria ao objeto esttico, e a forma racional elaborada
pelos formalismos que, para compreend-lo, substituem
ao objeto real um objeto ideal. Em outras palavras,
ela convida a meditar na unidade dessas duas atividades
"complementares como contrrios bem feitos", dizia
Bachelard': a poesia e a cincia.
(4) Psychanalyse du teu, p. J.O.
28
Ora, a mesma experincia talvez nos sugira que
essa unidade no tem sua origem no logos humano,
numa atividade constituinte, mas na prpria Natureza.
Pois se pode dizer, contanto que se evite qualquer in-
flexo teolgica, que ela sugere filosofia que v do
transcendental transcendncia, da fenomenologia
ontologia. E ainda Kant quem nos ensina, que pri-
vilegia a beleza natural e que, aps ter evidenciado, no
juzo esttico, o livre acordo das faculdades, considera
o acordo contingente da Natureza com nossas faculda-
des. Sim, a estti a contemporn a, to atenta a des-
cobrir no artista a ativida e e um ego transcendental
~ anlogo quele que constri a cincia, ende qaecer
Y gue a Nature a-p,rmu a-beleza. Muitas vezes o artista
deve embrar ao esteta que ele inspirado pela Natu-
l
reza, quanto sua vocao e ao seu ato, e que ele
exprime a Natureza mesmo-quando dela parece se apar-
t~r: assim como(; abstr~tdl na operao do sab:r,
VIsa ao real do qual~pro em, o abstrato, na produao
da arte, diz ainda um mundo que proposto ao artista
pelo mundo. E, sobretudo, o artista provocado pela
beleza do mundo a produzir algo de belo onde a Natu-
reza se exprime. Ora, pela beleza, a Natureza mani-
festa sua complacncia em ateno a ns. Indubia-
mente como lembra Kant, a finalidade implicada plo
juzo esttico uma finalidade sem fim, subjetiva e for-
ma cuja realidade reside "na finalidade interna da re-
~ao e nossas faciildds su15jetivas"s. Mas resta que
a Natureza se ajusta a ns: parece que imita a arte
cujas produes esto deliberadamente ordenadas para
a felicidade da percepo. Ser necessrio dizer que
esse acordo apenas contingente? Sim, tanto que se
concebe a natureza s sob o aspecto crtico, como o di-
verso emprico, essa matria-prima que o intelecto in-
forma. Mas o fenmeno da beleza convida a re ensar
a idia diifureza. A Natureza capaz de bondade ,
atraves do diverso emprico que nunca propriamente
natural porque sempre j leva a marca da mo e do
intelecto humano, uma potncia escondida, Gaia, a Me,
e tambm a esposa que c in esposo, nCiDo a
matria deseja a forma, pois ela j se revela por for-
mas ou por imagens, mas como o incQnscien~.-d.esja
a conscincia, como a noite eseja o dia. O homem s
(5) Critique du Jugement, 58.
29
o correla to dessa Natureza porque o seu produto,
o filho; ela fala ao homem ao lhe prodigalizar imagens
nas quais se revela, para que ele a diga; sua compla-
cncia no nem fingida nem fortuita. Isso no sig-
nifica, evidentemente, que ela seja premeditada: s o
homem pe fins, mas porque ele mesmo produzido
como fim por uma fora que s nele se conhece. Assim
a arte responde a esse apelo da Natureza: e a a e;n=-
me ao ex nmrr os muu_dos_dos quais est grvida.
a arte celebra aNJu..r.za. - - - .
Mas o sbio e o agente moral tambm respondem
a seu modo. Pois o mesmo apelo lhes dirigido, a
mesma inspirao lhes. dada: tambm a cincia, ao
elaborar teorias ue e.gem~rtos ommlOs e ten em a
oiiVi-gir numa figura do universo, iz, mas etro
mo o, -_ a ureza. EenecessrlO, e fto, que Na-
tureza se preste a isto, que o cinbrio seja constante
em sua natureza e que os corpos simples no sejam
por demais numerosos: a inteligibilidade do dado, a
convenincia quase miraculosa da verdade formal e da
verdade material, se podem ser explicadas por uma
gnese recproca do a priori e do a posteriori, na Na-
tur~za, ~ aspirao da Natureza luz, que t~vez te:-
nham sua origem. E o mesmo vale d praxis tcnia
que, longe e fazer, em sua-essncia,-violncia a-
tureza, trava amizade com ela, conhece-a e a aperfei-
o oa; e crii'Olanao-desnatura a Natureza, tambrii no
;~ aliena necessariamente o homem. Enfim, a ao moral
que procura realizar no mundo o conceito de liberdade,
que trabalha na promoo, atravs das vicissitudes ter-
rveis da histria, de uma Repblica dos fins, visa a
uma relao final da Natureza e do homem: a consti-
tuio civil deve ser instaurada pelo homem conforme
sua prpria razo, mas no contra a Natureza; e se
algum progresso possvel, porque a Natureza quer
a cultura, no homem, e no mundo, como aquilo que a
desenvolve. De modo que o supra-sensvel que tende
a se realizar no jogo cego das foras sensveis talvez
seja o desejo do infra-sensvel, da Natureza como fundo.
Assim a experincia esttica pode ser descoberta
na partida de todas as rotas que a humanidade percor-
re: ela abre o seu caminho cincia e ao. E
claro por que: ela se situa na origem, naquele ponto
30
em que o homem, confundido inteiramente com as coi-
sas, experimenta sua familiaridade com o mundo; a Na-
~ureza se desvenda para ele, e ele pode ler as grandes
Imagens que ela lhe oferece. O porvir do lagos pre-
para-se no encontro ant~ior lingl!agem onde o Na-
tureza que f~la .. \.Natureza natu.ra~")..que Qrodu,z o
homem e o mspua ter acesso aonscincia. Com-
pr~e.nd~-se, por~a.nto, que certas filosofias 'optem por
privilegiar a esttica: com isso remontam fonte e to-
das as suas anlises nela se encontram orientadas e es-
clarecidas.
31
I
PROBLEMAS FILOSFICOS
DA ESTTICA
o BELO .
Como nos referimos ao Belo? Essa alavra, que
tem funo de adjetivo na linguagem cotidiana, torna- e
~us antIvo na lingua em erudita.da.filosoa.ou da es-
ttica: o jire 'lcaatOrna-se sujeito e ode, or sua vez,
scr--redicado, como diriam s lgicos; assim, quando
ns dizemos "o Belo um conceito", ou "o Belo o
denominador comum de todas as coisas belas". O
que significa, portanto, essa dualidadq de emprego?
Consideremos, em primeiro lugar, o juzo em que
() belo um atributo: "esta escultura bela". um
juzo de valor: reconhece a qualidade de certo objeto
quando esse jeto apreendido segundo certa atitude
que a contemplao esttica. Se o modo de intencio-
35
naJidade ou a atitude so diferentes, outros valores so
invocados; se se trata de agir, poder-se- dizer: "este
objeto til"; de saber: "este objeto verdadeiro";
de amar: "este objeto amvel". O juizo de valor es-
tt~o, alis, pode ser emitido a. propsito e objetos
que no parecem solicitar a atitude esttica; dir-se-,
pC"exemplo, de um ato de coragem que belo, ou de
um raciocnio lglco;-ou ate mesmo d umreliz acaso.
Isso podera induzir-nos a pensar que a noo de bele-
za bastante elstica; mas isso tambm significa que
muitas coisas podem se prestar, por algum fIanco,
atitude esttica. Tambm acontece, de modo inverso.
que nosso juzo se exprime timidamente num vocabul-
rio menos categrico e que, em lugar de dizer que um
objeto belo, dizemos que bom, valioso, autntico,
interessante etc.
Mas sua rete!lo universalidade o ue espe-
cifica, em o os os casos, o juzo de valor esttico.
Observoui Kan e , de fato, o ponto de partida de
sua reflexo: quando emito determinado juizo, no posso
deixar de reivifdir para ere1Jjetiviaae edeixar de
ensar gue dev~e por tod.Qs subscrito. Por certo,
tambm posso pronunciar juzos sub'~s, em primei-
ra pessoa, ao dizer, por exemp o, ' gosto desta obra" ou
"prefiro isto quilo"; mas, nessas circuns ancra , tenho
conscincia de exprimir apenas meus gostos e, afinal,
de julgar a partir de mim mesmo mais do que do objeto.
Portanto, distingo claramente entre [uzo objetivo e ju-
zo subjetivo; e talvez seja necessrio estar de m-f ou
ser ingenuo por excesso de sutileza para sustentar um
relativismo total e afirmar que todo juzo ,esttico
irredutivelmente subjetivo.
Contudo, esse relativismo, encorajado de bom gra-
do pela histria e pela sociologia, pode ser primeiramen-
te uma santa reao contra certo dogmatismo que pre-
valeceu por muito tempo e ao qual nos conduz a subs-
tantivao do adjetivo belo. Com efeito, se o juizo es-
ttico aspira universalidade, ele tentado a justificar
essa as irao recorrendo a um conceito que tambm
universal: objeto belo aquele _que realiza e mani-
festa o beJo. - Reconhece-se aqui o movimento platnico
~nsamento que vai ser retomado, talvez com alte-
raes, pelo racionalismo clssico.
36
Para Plato} realmenre, saber e sabedoria exigem
q.ue o hom,em se liberte do mundo sensvel e deixe de
viver no nvel do percebido para ter acesso s idias
d.onde ele r.etomar ao mundo. sensvel no qual se de~
cide o destino de seus companheiros. E essas idias
provavelmente, apenas miticamente so realidades nu~
mundo inteligvel. Pois, por si mesmas, nada mais so
que uma lu~ ~~ra aclarar o dado ou para inspirar a con-
duta. As Idelas constituem os elementos de um dis-
Curso lgico e no oossuem ser fora da contextura-dia,
!etlc.a. que elas compem, como as palavras no tm ser
significante - a no ser abstratamente, nos dicionrios
- fora da. fr_~se e .da totalidade da linguagem. Mas
entre essas idias CUjOser necessariamente indetermi-
nvel, porque consiste em se abolir no sentido por elas
engendrado, uma az.exeo: ~Be eza. Pois ela
ti uruca que resplandece; e a a nica - diz Fedro
- .que tem. c: p:ivilgio de poder ser aquilo que est
mais em evidncia e cujo encanto o mais atraente"
~nquanto as outra~ id~ias, "justia, sabedoria, no pos~
s~em nenhuI?a luminosidade nas imagens deste mundo".
f: verdade, ~to apenas significa gue o objeto belo nos
.nvove e emociona mais Imediatamente do que qual-
",uer out~o ?~jeto, por ue ele , ao mesmo tempo, sen-
'Ivel, e slgmflcante: nessa experincia incomparvel o
~ nsvel revela. em lugar de ocultar. CMas tentador
~l1po~'que aquilo que nos arrebata nos transporta fora
daq.U1,. nu~ outro mundo, e que o seu poder lhe vem
da mutao da Beleza em sil
1:: assim ue o cJassicismo se escuda no platonismo
p lr.a conceber uma esttica normativa, fundada sobre a
Idia de que h, de fato, uma idia ou uma essncia do
'~". Essa idia justific: ento, uma dupla normati-
vidade, ~or um lado, confere autoridade ao juzo crJ
11'0 exercido elas "academias", por outro lado, esta-
bclece uma concepo didtica da arte que se exprime
IIIS "artes poticas". Assim a idia do Belo no con-
rva sua transcendncia: ela se concretiza e se especi-
ri 'U em modelos determinados, dos quais os cnones da
rquitetura ou a regra das trs unidades figuram entre
ti mais clebres. Esses modelos impem-se tanto ao
r ti o que julga as obras em seu nome, quanto ao ar-
ti til que deve criar conforme eles, assim como o de-
37
-,
miurgo do Timeu cria o mundo contemplando as idias,
Os julgamentos proferidos pela Academia Real, no s-
cul-XVI-I seriam um excelente exemplo do dogmatism
es ontneo que assim se exerce na crtica e na peoa-
gogia. ara prov-lo basta a seguinte pass~gem de ~m
discurso de M. de Champaigne "contra o discurso felt?
por M. Blanchard sobre o valor da cor": "Eu no sei,
senhores, se podemos crer que pintor se deve prop.or
outro objeto a no ser a imitao da bela e perfeita
natureza. Dever propor-se algo de quimrico e de in-
visvel? Consta, entretanto, que a mais bela qualidade
do pintor ser imitador da perfeita natureza, sendo im-
possvel ao homem ir mais alm "1.
Esse dogmatismo , no fundo, ,-expresso da r-
tica e dos gostos estticos de uma po.ca mas no tem
,disso conscincia e, por isso, ajJsolutiza uma Id-ia~o
,belo que relativa. Justifica a promoo da idia a~
absoluto dizendo que essa idia impo.....@. };leia natu~
(e nov-propsta -pela cultura). Em primeiro lugar,
.ela natureza das coisas: por isso~rtasffi'iS
so invoca as a r..erfeio d~ <:i!:culo - idla.~-:
tlica -, ou _do- Retgono como i1l1-.gen:~3Ic:ocos-
mo - da.medieval) ou certas proporoes (o numero
de ouro), como a SO'lutamente belas, e j presentes na
natureza que a arte deve imitar, suposto que se descarte
dos a~tos feios. Em segundo lugar, pela- natureza
do orne pais Q paJ;er esttico peilllane.ce_o juiz ao
ua mls er consultar; mas se tem a convico, preci-?"
samente, que esse prazer determinado por uma estru>
tura imutvel dksensorialidade e da razo humana de
- modo que ,3!Lconsonncias, as homohias, as formaS::::
belas ou os enunciados claros merecero, sem re e em
toda a parte, ser chamados ~elosQ; or ue agra am, en-
quanto as dissonncias,. os hiatos, as orma equivocas
o os enunciados confusos sero feios orque esag a-
damo Apenas se olvida que o que pare e m a o da
ntureza , realmente, um fato de cultura, que certas
harmonias agradam ao OUVI o ou certas formas plsticas
vista porque esses rgos foram condicionados desde
cedo por certo ambiente artstico e, portanto, que o
artista tem direito a fazer violncia a gostos que, no
mais das vezes, no passam de hbitos lanando-nos em
novas aventuras. O fruto desse esquecimento a ma-
nuteno da tradio: o ensino de certo nmero e re-
ceitas que devem garantir a beleza da obra.
Essa idia, por certo, no insensata. O
histria contesta que uma tradio possa reivin icar o
. egredo ao Belo como um monoplio, como se a idia ,
do Belo se reduzisse a um sistema determinado de mo-
delos e a prtica artstica a um. sistema determinado de s:
regras. Mas a verdade que a arte recusa a improvi-. I' o-
ao, ela eXige pre ~endizagem e o contacto O' Cil-
c m uma traio. Somente que essa aprendizagem,
que pe o artista de posse-de uma tcnica e de meios de
expresso, deve libert-Ia e no escraviz-lo; e, com
efeito, todo artista autntico, quando torna conscincia
de Sua vocao, exerce sua li6er d cnadora e aparece
Como revolucionrio aos olhos do pblico ou das aca-
driiis . .-_H, certo, gfiides obras annimas que se
prendem mais a uma escola do que a um indivduO;.;
provavelmente elas s foram possveis porque o artista
se identificcu, com profundidade suficiente, com o gnio
do seu empo para ser ver a eirarnete inspirado por
'le ao nVs e aplicar mecanicamente processos reco-
mendados pela escola.
Este seria o momento de evocar a inspirao e unir
i imagem do artista-arteso a imagem do ;u:tista ins-
pirado. A i ia dessa Ioucur maravilhosa que se a 0-
dera do.arrista e o ana a ora de si mesmo tambm
j se encontr em !>lato_._Essa idia significa, em
primlro lu ar.,--inte.r.Rretada Ror um racionalismo--UC- ~";-1L
ti 'Ia desconfia - que a criao de uma ob ela it",'r;r.&
t revlSlvel e UC-a- a Ida e se eve acresceotar-'l ~
sorte ou, como s vezes se diz, a fe iCidade. Mas se a
idia for toma a com mais rigor, ser necessrio per-
'untar quem inspira a criao: se for a idia do Belo,
-nto no pode ser essa idia enquanto ela se referir a
11111 sistema de preceitos ou receitas, pois a regra fora
l' no inspira. Mas poder-se- dizer que uma idia seja
inspiradora? Sim, pois os homens vivem e morrem por
ld ias: pela liberdade ou pela justia; contanto que a
prpria idia seja bela, isto capaz de seduzir, porque
da provm da natureza. necessrio, portanto, que
1I idia do Belo deixe ~er idia, que no nos fale e
nHO nos estirriule como uma noo abstrata, mas ue
('sI ja encarnada em objetos belos.
i~
(I) Citado por Lhte, De Ia Palette '~ritoire, p. .J~.
39
38
Plato, por este desvio, conduz-nos a Kant. Kant,
com efeito, prope rirneirarnente uma teoria do juizo"
esttico: com que direito posso julgar que uma coisa
e a. O critrio aze que ela desperta em mim:
prazer desinteressado, ligado s forma do objeto e
(1,Como no aSsentimento, ao seu conted. O nela .
portanto, quil que agrada. Mas Kant acrescenta: uni-
versalmente, sem conceito. "Sem. conceito" quer dizer
que nao a iaela o hera, isto , um modelo que possa
~ crientar meu juizo e servir de padro._O belo_ s se en-
~:t:- contra em objetos sensyeis.. e s a sensi ilidad o
r:r'~-juiz. "P~ocurar um princpio do gosto que d, atravs
~ de con~elto$ determmado:,. um. conceito un.iversal do
,pV~':. gosto, e um trabalho estril, VIsto que aquilo que se
procura impossvel e contraditrio em si'": contradi-
trio, porque o rincgio do juzo esttico o senti-
mento do sujeite. e no o conceito de um objeto. De
certo modo, o objeto belo, aqui, apenas ocasio de
prazer; a causa do prazer reside em mim, no acordo da
imaginao com o ififlcto; isto , das <cluas faculdades
que tdo encontro do objeto pe em jogo; mas, enquanto
no juzo de conhecimento o intelecto governa a imagi-
nao, na experincia esttica a imaginao livre, e o
que experimentamos o livre jogo das faculdades e da
sua harmonia mais do que a sua hierarquia.
O aradoxo ermanece na reivindicao da univer-
salidade elo juiz . de_gosto: sem=qu ne falaramos
de beleza, mas de agrado pois, quando julgamos que
uma coisa agradvel, ns no esperamos, nem exigi-
"'" mos de outrem que esteja de acordo conosco. uni-
"\) versalidade, portanto, tem aqui seu princpio no sujeito
Uo no o je -: ma universalidade subjetiva. Mas
como ento justificar essa pretenso? suficiente su-
por: "que em todos os homens as condies subjetivas
da faculdade de julgar so as mesmas ... o que deve ser
verdade pois, caso contrrio, os homens no poderiam
comunicar suas representaes e conhecimentos" 3.
V -se que essa anlise, conforme ao esprito do
idealismo transcendental, inclina Kant para a negao
de toda, objetividade do belo; o belo no nem uma
idia em si, nem uma idia no objeto, nem um conceito
objetivamente definvel, nem uma propriedade objetiva
do objeto> ~ uma qualidade que atribumos ao objeto
para expnrnir a experincia que fazemos de certo estado
de nossa subjetividade atestada pelo nosso prazer: "co-
mo se, ao. chamarmos uma coisa bela, se tratasse de
uma propriedade do objeto nele determinada por con-
c nos e, contudo, a beleza, separada do sentimento do
sujeito, no nada em Si"4.
Ser essa a ltima palavra de Kant? E por ser o
belo St?1 conceito ser necessrio concluir que ele
d:sprovldo de toda objetividade? Afinal o prazer es-
teuco nos ~ d~d? E o objeto que o desperta. Se -
longe dos indivduos se pautarem pelo objeto para jul-
garem sua beleza - "o juzo de gosto consiste preci-
samente em chamar uma coisa bela somente atravs da
qualidade pela qual ela se acomoda ao nosso modo de
tom-la"~, ~ont,udo. . a coisa que manifesta essa quali-
dade: S-,JUIZ.O~ .obJetlvo registrando-a, mesmo se ele se
r fere a subjefivi ade. O fato de o belo no ser experi-
menta..do s:m que haja essa relao no significa que
ele nao seja dado numa experincia irrecusvel. H
um fat~ do belo, mesmo se esse fato sempre um fato
para nos. I
. . esse fato, precis~mente, que interessa '~ @ e
tnsplr~ o .seu empreendimento. Mas o que o interessa, \
c.~ ~nmel~~ lugar , sem dvida, o apoo que a expe-
nencia esttica pode dar experincia moral. H uma
{1fima~ e entre essas uas experincias, testemunhada
pela linguagem comum, visto que "designamos objetos
belos com nomes que parecem fundados numa apre-
.iao mo.ral"6: falamos de um edifcio majestoso, de
uma campina ridente, de uma cor inocente ou modesta.
, assim que as idias estticas que a poesia sugere,
"estas representaes da imaginao que do muito a
pensar sem que nenhum conceito lhes seja adequado"
em que ,traduo alguma seja possvel na linguagem
da prosa, tem algum parentesco com as idias racionais
suscitadas pela prtica moral: o belo o smbolo dO\
I cIlli ele no nos ensina o qe o 6em, pois o bem,
'orno a so uto, so pd ser realizado e no concebido.
Mas ele no-Ia sugere. E, so retudo, o belo insinua que
somos ca azes de realizar o bem; pois o desinteresse, ~
(4) lbid., 9. ' 'I ~
(5) lbid., 32. (J-,.,1 --:.:--- Ii IAI. _ U _
(6i lhid., SR. l/.JlJ'JZ9- ~.-o\.
(2) Critique d l ugement, 17.
(3) lbd., 38.
40
4/
ou a obra de gnio que so belos, modelos-a mesmo
rernpo exemplares e inimitveis. Poder ege ajudar-
n s a ir mais longe? Para dizer a verdade, ns j nos
(IV nturamos em suas paragens. em Hegel ue se
i: plicita a idia - apenas esboada por Kant - de
11l11areconciliao ntre a natureza c o esprito. ,egel,
~im duvida, se interessa antes de tudo pela arte. Ele
no elabora como Kant, uma teoria do juzo esttico
mas ma teora da arte e do seu devir. Do seu devir,
porque, com Hegel, uma nova idia conquistou direito
d cidadania em filosofia: a idia de histria. Ficamos
saben o que os semblantes do be o so mltiplos e sua
diversidade irredutvel afravs do tempo. Mas isso
n nos deve conduzir a um relativismo ou a um ceti-
cismo superficiais, pois o devir pensado por Hegel sob
os auspcios da dialtica: obedece a uma necessidade
lgica, gue o orienta e o racionaliza (a tal ponto que
quase deixa de ser devir: um problema momentoso
- que no ser por ns aqui abordado - saber em
que medida a dialtica pode recuperar a histria e se
o lgico no corre o risco de suprimir, de alguma forma,
o cronolgico por ele suscitado e ilustrado).
Mas se esse devir um devir lgico, , por acaso, ~
um devir da idia? No. No h mais idia do BelO\~'-ot
em Hegol; ffi o belo a idiaffie<ffia, encamada.~n- '~\
quanto o belo era, em K-l!J, ao ~o temp_o que sim-
h 10 da moralidade, promessa de verdade a ui ele a \/
prpria verdade sob uma ferma sensvel. que e, com '(
'feio, a I eia em egef?9 m o jeto a soluto da cons-
cincia''islo , a ver ade su rema em que so supe-
I adas todas as contra ioes; essa verdade no a ver-
dade de qualquer objeto, idenfiaade da verdade e
li objeto, da idia e da natureza: o movimento do ver-
dadeiro evela-se como realidade ltima. Ora, essa' ver-
dade que a filosofia deve laboriosamente conquistar ,
de algum modo, imediatamente dada na experincia es-
t ~tica: a idia nela est presente sob uma for~nsve1.
-:, assim que "entre os gregOsa arte foi a forma mais
levada sob a qual o povo se representava os deuses e
tornava conscincia da verdade". E toda a histria da
arte mostra o desenvolvimento da idia sob o se vu
sensvel, a tal ponto que < o esprito que 01 a mais para
prprio do prazer esteuco, o ndice de nossa VOCJ-
ao mora. 0- sentimento esttico anuncia e prepara o
sentiment -moral: _"Eu concordo, de bom grado, que
o interesse que se atribui ao belo na arte no seja prova
de um .esprito vinculado ae bem moral. Mas, ao con-
trrio, eu sustento que ter um interesse imediato pela
beleza da natureza> sempre o sinal uma alma
boa ... "7
Observamos ue Kant, aqui, exalta o belo da na-
tureza. E sendo isso constante em sua rcfl~re-
con uz-nos objetividade do belo: ,t,ncontramos objetos
na natureza que estimulam, em ns, a experincia es-
etica. E' essa experincia no interessa filosofia
transcendental s porque nos instrui sobre o sujeito,
scbre o jogo de suas faculdades c, indiretamente, sobre
sua aptido para a mcralidade mas tambm porque nos
esclarece sobre a natureza, sobre aquilo que Kant chama
de "a possibilidade externa de uma natureza concor-
dante", isto , sobre o fato de.J!-Ilatur.eza se Rrestar
atividade intelectlli!." Q:SUjeito. Entre o diverso da
in ulo "e a unidade de conceito, possvel o acordo
requerido peio con eClmenta: o mundo pensado por-
que pensvel. Isso no-Ia prova a experincia do belo.
Assim a filosofia transcendental pode se completar
graas a uma fi os afia da natureza ou, ao menos, graas
a um tema que esboa uma filosofia da natureza. E o
privilgio cencedido natureza repercute, ao mesmo
tempo, a teoria a arte: "a arte deve ter a a arncia
da natureza, aina que se tenha conscincia de que se
tr a de a e'"; e, sobretudo, na teoria do artista: se a
obra de arte deve ter a aparente liberdade de um pro-
duto da natureza porque a regra que preside sua
produo dada pela natureza, a qual se manifesta
atravs do homem com gnio pois o gnio esta es-
pontaneidade cega "dada pe a regra enquanto natureza";
o que se chama, algumas vezes, de uma fora da natu-
reza. Assim, junto com as obras de gnio, tambm a
natureza ue testemunha e que nos torna participantes
de sua disponibilidade. '
. No h po tanto idia do belo como no h regra
d~finitiy.a para Rroduzit 0 obje o 5elo. ~O fijo natural
(7) Ihid., * 42.
(R) l bid .. 45.
(Y) Hcucl. Esthrique, I. 124. As citaes que seguem so extradas
\10 tomo I. que a "pane geral" da "filosofia da arte.".
43
42
longe se afasta desta forma objetiva, a rejeita. reentra
em si mesmo".
Assim o belo a manifestao do "ideal"; o ideal
no a5strato, a idia presente e transparente no obje-
to idealizado; sejam os humildes objetos cotiiaoos de
uma natureza morta holandesa, seja o semblante de uma
madona de Ratael. \ A arte no imita. Idealiza. A
arte exprime o universa no parflcu ar; "e a obra tanto
mais bela quanto seu contedo espiritual possui uma
verdade mais profunda: se os chineses, os hindus, os
egpcios no puderam se tornar mestres da verdadeira
beleza porque suas concepes mitolgicas, as idias
contidas em suas obras eram ainda indeterminadas ou
mal determinadas, em lugar de serem acabadas e ver-
dadeiras". Essa , em Hegel, a conseqncia da intro-
duo de u~rspectiva histrica: h graus do Belo,
segundo a idia mais ou menos rica, ou encarnada
com mais ou menos felicidade. Hegel, ao menos, no
cede tentao ao dogmatismo que aprova ou condena
absolutamente em nome de certo modelo intemporal:
admite um devir do belo mas condicionado ao devir
da idia; a arte, dir-se-ia hoje, recebe seu movimento
mais da cultura e da viso do mundo, do qual expres-
s'o;-do que de st esrna, deumaexigncia intrnseca.
---.Julga nossa poca o Belo de um modo diferente?
Por certo, ela se acautela, mais do que nunca, contra
todo dogmatismo: ela se esfora em fazer justia a to-
dos os estilos reunidos no museu imaginrio, ela con-
descende com a extraordinria renovao das formas
plsticas e sonoras que tanto o gnio da inveno, quan-
to o contacto com as artes dos selvagens suscitam nos
artistas. Por causa disso deve ser ela interditada de jul-
gar? Alguns pensam assim e, com o pretexto de repri-
mir a expresso de preferncias subjetivas, se aplicam
em dar uma acolhida igual a todas as obras sem jamais
escolher dentre elas: a palavra belo desaparece de seu
vocabulrio. Atitude rl crita ou preguiosa. Em pri-
meiro lugar, porque a arte no renunciou beleza. As
buscas mais desconcertantes - aquelas que, s vezes,
eScandalizam um gosto esclerosado pelos hbitos ou pre-
conceitos - visam beleza. Ns s as podemos apre-
ciar se tomarmos em conta' que elas obedecem lgica
criadora dessa busca do belo e da perptua exigncia
44
de renovao que ela comporta na medida em que o
Belo se inventa mas no se imita. Em segundo lugar,
porque, entre ns, se opera o discernimento de valores
com mais rigor do que nunca: h, no mundo, uma
Bolsa das obras pisticas c das. obras literrias que
domina o mercado da arte. Valores uramente econ-
micos e totalmente provisrim, dir-se-: mas essa co-
tao pesa sobre o destino' dos artistas e da arte to
duramente quanto o gosto dos mecenas de outrora e
ela exprime, sua maneira, os gostos de certo blico.
Ser necessrio, portanto, deixar que esse JUIzo prtico
tome o lugar de um juizo terico?
No. Somente que esse juzo, se ainda reivindica
a universalidade, evita todo dogrnatismo. Ele no con-
fronta o objeto com um cnone preestabelecido. Deixa
objeto realizar-se e julgar-se por si mesmo. Ter o
gosto bem formado, a ateno assaz dcil, o esprito
muito aberto - eis o que se requer do espectador -
para fazer justia ao objeto que se prope sua per-
cepo. Certamente, ele no ser jamais assaz pru-
dente em seu juzo, visto que nunca est seguro de estar
de bca f, de ser suficientemente cultivado e disponvel:
ernpre possvel que, em conseqncia de um defeito
de preparao ou de um excesso de preconceitos,
. cjamos literalmente cegos ou surdes a certos objetos.
m tal caso, a sabedoria exige ~e suspendamos nosso
juizo porque serra um juz-o sem objeto: o obieto ainda
no existe para ns. Mas se no estamos perturbados,
predispostos ou impacientes, ento a beleza se manifesta
por si mesma e, simultaneamente, se denunciam os obje-
t s falhos e inautnticos.
Mas o que , ento, o Belo? No uma idia ou
um modelo. uma qualidade presente em certos pbje-
t - sempre singulares - que nos so dados per-
.cp." - a pleni u e, expenmentada lmeaiatamente
pela percepo do ser percebido (mesmo se essa per-
.cpo requer longa aprendizagem e longa familiaridade
. m o objeto). Perfeio do sensvel, antes de tudo,
que se impe com uma espcie de necessidade e logo
de: encoraja qualquer idia de retoque .. Mas tambm
imanncia total de um sentido ao sensvel, sem o que
o objeto serIa IOslgni icante: agra ave, decorativo ou
deleitve, uando uito-.-U bieto el ~.ala e eJe
~6 De o se for verdadeira Mas o que me diz? Ele
(~
no se dirige inteligncia, como o objeto conceitual -
algoritr io lgico ou raciocnio -, nem vontade pr-
tica como o objeto de uso - sinal ou ferramenta -,
nem afetividade como o objeto agradvel ou amvel:
primeiramente ele solicita a sensibilidade para arreba-
t-Ia. E o sentido que ele prope tambm no pode
ser justificado nem por uma verificao lgica ne~ por
uma verificao prtica; suficiente que ele seja ex-
perimentado, como presente e urgente, pelo sentimento.
Esse sentido a sugesto de um mundo. Um mundo
que no p6e ser definido nem em termos de coisa,
nem em termos de 'estado de alma, mas promessa de
ambos; e que s pode ser nomeado pelo nome do seu
autor: o mundo de Mczart ou ae Czanne.
~ Esse mundo singular, entretanto, no subjetivo.
fV~] autenticidade o critrio da veracidade esttica. a-
I T rece ser o mundo como~atureza naturante, atravs do
\.... autor da obra - quan o inspirado -, que nos faz
sinal e nos d para decifrar um de seus semblantes.
Cada mundo singular um possvel do mundo real. E
esse mundo real , tambm o mundo vivido pelos ho-
mens. Sartre, prefaciando uma recente exposio de
pinturas de La oujade, cujo tema .era a tort~ra e os
tumultos, escrevia que "a arte intima o artista para
instalar o reino humano em toda a sua verdade sobre
as telas e a verdade desse reino, hoje, que a espcie
humana abrange carrascos, seus cmplices e mrtires".
Essa verdade, infelizmente, a mais urgente para ns,
hoje, no plano tico e poltico. pa ser oportuno que
a arte tam em a assuma. Mas l1 outra '9'erdades-
iflcTusive a da compteira na obra de Czanne ou dos
cavalos na obra de Lapique - que podem ser ditas
sem traio pela arte e que podem, tambm, se ampli~r
nas dimenses de um mundo. Pois, como Carnap diz
da lgica, no h moral na arte: na?a de ~~sun~~, im-
G
li posto. A mca tarefa, e Sartre ta moem o dizia, e res-
( tituir o mundo". E o mundo o inesgotvel: ele sempre
\ excede aquilo que vivem - como sua principa~ soli-
citude e principal tarefa - os homens de uma epoca.
No se pode fazer justia ao Belo sem. lhe reconh,ec~r
o direito de atualizar o no-atual, de dizer os possrveis
vividos ou capazes de serem vividos dos quais o mundo
est pleno, pois no se daria Natureza - e isso no
artista mesmo - a parte que lhe corresponde.
De resto, o posmvismo, mais do que o existen-
iialismo, que pode contestar arte sua liberdade cria-
d ra. Ele fem a liberdade para recusar os possveis que
u arte prope: para rejeitar a poesia em favor da prosa,
a pintura em favor da fotografia, a msica em favor
d s rudos; ele tem a liberdade para conhecer somente
um mundo de uma dimenso. Mas se dizemos. ue U1~al "
c isa bela, atestamos a presena de um signo cuja vjV
significao irredutvel ao conceito e que, entre rto,
nos atrai e nos empenha, falando-nos de uma Ntireza
que nos fala. O gosto d ouvidos a essa voz: suficien-
tc que ela o oua, qualquer que seja a mensa em, para
que julgue que c objeto esttico belo: pelo porque
realiza o seu destino, porque verdadeirarnefi e, segundo .,I!.
modo de ser que convem a um objeto sensvel e sig-
nificante. , ento, baseado num justo ttulo ue meu
juzo aspira'T univerr~lllde, pois a universal~n-
dica a bjertvid'n'le e_essa ooJ'tividde est assegurada
pelo fato de seroQr2rio objeto que se julg em mim
desde qu~ se impe a mim com toda a for a de sua
presena radiosa.
46
47
OS VALORES ESTTICOS
tf
vf $'
'~
berano, dando mais sabor ao festim. [ yalor d~us ue
se ~xp:nr~enta, .na consumao: mas a consumao,
aqui, nao e est uca.
, ~~ser necessrio, para afirmar um valor mais
autentico, colecar a 05ra ae arte fora do alcance no
empreo, onde rema a beleza? Mas se a idia do belo
no co.nduzida pelo pensamento metafsico, que a
eleva ao impensvel e a separa da esttica o cu me-
tafsico corre o risco de ser um cu acadmico e o valor
no mais se manifesta a no ser pela afirma'(; de nor-
mas exteriores ao propor um modelo objetivo como fi-
nalidade. Tal valor s serve para instituir um valor
de permuta que medir e sancionar a diferena entre
obra e modelo, a docilidade do artista s normas social-
mente aprovadas. Mas os especuladores s jogam em
valores seguros; a histria no tarda em lhes ensinar
que as normas tm o seu em o. averia, por acaso
uma histria se o artista lhes fosse constantemente d~
cil e se, afinal, a obra no criasse suas prprias normas?
b necessrio, portanto, retomar idia de um va-
lor imanente obra e que""sej;- ro riamente esttico:
em que condies pode s-lo? suficiente que a obra
eja considerada propriamente como obra, isto , como
objeto esttico e no como objeto til. Nem preciso
acrescentar qualquer especificao idia de valor: o
valor sem re o valor de uso, mas tudo deRende -do
gnero do uso: o scio dos concertos no usa de Mo-
zart como o convidado do arcebispo. Provavelmente
no necess~io, para obter essa converso da ateno,
ue a obra seja arrancada de seu contexto cultural, em-
17 ra isso, hoje em dia, acontea freqentemente com as
artes antigas ou selvagens que enchem nossos museus:
uma igreja pode ser bela sem prejuzo de sua funcio-
nalidade, um retrato sem que seja esquecido o mo-
delo. E talvez mesmo tenha sido necessrio que o ato
.riador fosse inspirado por esse contexto para ter toda
sua densidade, toda sua veracidade. Alm disso. talvez
s 'ja necessrio que esta cultura, de alzuma for~a nos
, ""
stcja presente tambm atravs da obra, contanto que a
obra, aqui, seja a verdade da cultura e no a cultura
1\ verdade da obr-. . or conseguinte, com a condio de
nosso olhar fixar a prpria obra e fru-la de modo desin-
tercssado, isto , sem ser impulsionado por nenhum
Como pode a arte revelar-se portadora e criadora
de valores? E de que valores? O chefe de tribo que
ordena um fetihe, o prncipe que encomenda o seu
retrato, o arcebispo de Salzburgo que solicita apetite
musique de nuit no pensam em termos de valor es-
ttico: eles obedecem a ritos que dizem respeito sal-
vao, glria ou prazer. A arte ainda no foi inventada
ou, ao menos, eles no a reconheceram: eles no enco-
mendam obras de arte, mas os instrumentos do culto
ou da cerimnia cujo valor reside na eficcia; como a
plvora ao explodir mas tambm como um monumento
ao regular a cerimnia, assim a obra de arte se abole
ao cumprir sua misso, honrando o ancestral ou o so-
48
49
outro interesse seno o esttico, sem dela fazer nenhum
outro uso a no ser o esttico.
A relao do valor ao uso no condena, em ne-
nhum-caso --ovlor a ser subjetzo: O uso, ao contrrio,
reVela a objetividade do valor, como certas proprieda-
des pertencem ao objeto e se manifestam quando ex-
perimentadas. . Mas somos ainda ~enta?os a acusar ?
valor de subjetividade porque ele implica uma valori-
zao: no h valor que no seja apre~iado, '~?:
que no se confronte o objeto a um determina o cnteno,
e, por acaso, a escolha do critrio no ~ma oecI._ao
subjetiva? Mas o critrio pode ser escolhido precisa-
mente por manifestar o ser ?o ?bjeto: p.ex"A a :o~ustez
ou o rendimento de uma maquina de preferncia a ele-
gncia ou preo; o sabor de um ~rut~ de preferncia
ao brilho. Por outro lado, a valonzaao pode ser em-
pregada na compatao de objetOs para classific~l.os em
funo desse critrio, como os alunos so classificados
conforme as diversas disciplinas que lhes so ensinadas.
Mas o valor relativo no o valor ~to: em terra
e cego quem tem um olho rei. E a ~alorizao
verdadeira ou primeira aquela queJ a~ormente a
toa comparao, reconhece o valor intrnseco _do _in:
comparvel, o valor que no se mede, que na~ est~
subordinado a um critrio exterior porque o objeto e
a si mesmo, par''o juiz, o seu Prprio critrio, e requer
ser julgado em si mesmo, requer julgar, ele mesmo, a
si: index sui. No , por acaso, l em cima que se
fundam os juzos de comparao? Os pontos de refe-
rncia mais firmes, numa escala de valores, so aqueles
nos quais o valor parece se manifestar - presente ou
ausente - num objeto incomparvel e requerer o que
chamamos uma valorizao verdadeira como fundamento
de todo juzo e valor, na meuida em que esses juzos
esteiam fundados.
. Assim o valor ser, plenitude de ser: ser verda-
deirarileil'te isto , segunuo sua verdade; e, sem dvida,
"iicessrio qe" essa verdade seja reconhecida ou rea-
lizada, que o fruto verdadeiramente saboros~ se
derreta em degustao na boca do homem sequioso,
ou que o ato verdadeiramente moral se proponha como
50
comovcnte e irrefutvel aos olhos -do moralista; mas o
sujeito apenas reconhece um valor que est no objeto
e pelo qual o objeto se afirma e persevera em seu ser,
sendo, precisamente, o seu ser a permisso de certo uso
e. se quisermos, a proposta para certos fins. Mas ele
s pode responder a esta finalidade externa porque res-
ponde a uma finalidade interna; ele s ode estar sub-
metidc a nor as - da utilidade do deleite ou dVaor
esttico - no caso de serem suas prprias normas.
o valor ,
9.Qk
t
de alor r~0=-:v'"'a710:':'r~n-:~0~'!':'n:::'a-dt;:a~d;-.::t::e:':::x:':'te-':rio.r. ao ob-
jeto, o objeto mesmo enquanto responde ao sel!.S0n-
celto e satisfaz sua vaca o. Mas qual a vocao
o o jeto esttico? Se dissermos que sua vocao
agradar, alm de no ser verdade a respeito do sublime
(e h, talvez sempre, algo de sublime no belo) exce-
demo-nos: pois medimos o valor por aquilo que pode
ser o despotismo de uma subjetividade. lndubiamente
a obra de arte existe para algum, mas ela s espera
ser reconhecida - apreciada, se quisermos - mas no
julgada; a obra de arte espera a perce o ue lhe faa
justia. Isso quer er que e a e, essencialmente, um
o je o a ser percebido: ela encontra a plenitude do
Seu sere princpio mesmo do seu valor na plenitude
do sensvel. Agradar no afagar a. sensualidade, ,
principalmente, satisfazer a sensibilidade.
as isto suficiente para suscitar o prazer est-
tico e especificar o valor esttico? suficiente que a
obra de arte oferea o semblante de uma necessidade
sensvel e que esteja plena de um acordo perfeito? No.
Pois no possvel que o sensvel no seja significante;
no lhe basta ser soberanamente exaltado e ordenado,
necessrio que ele assuma sua funo de linguagem
e que, nele, o splendor ordinis provenha de um sentido:
sendo a diferena entre a linguagem da prosa e a da
poesia, precisamente, a imanncia do sentido ao signo ..
OJ?bjeto belo a uele ue realiza p.Qgeu do s.@-
S\'el, -a -e1 aao otal do sensvel e do sentido e ue,
'aSsim, Suscita o lIvre acordo-illi. sensibilidade e do in- I
tlecto~ -- - I
Mas, com isso definimos apenas a beleza, que
a perfeio do objeto esttico enquanto esttico: valor
5/
geral ou, antes, canornco, cujo lugar, ao lado de cinco
outros valores, se poderia justificar por uma espcie
de deduo tran.?-ce.!2dental: o til, o agradvel, o am-
vel, o verdadeiro, o bem. Todos esses respondem a
modos especficos da intencionalidade e o conjunto
talvez cubra o campo das relaes fundamentais do
objeto com o sujeito. Cada um desses valores, incom-
parveis entre si, circunscreve um domnio prprio, or-
denado para uma exigncia que diz respeito, ao mesmo
tempo, ao objeto e ao sujeito: nisso esses valores so
formais. Mas o problema da criao dos valores est-
ticos s se pe sob a conio-.fu: uralizar-o-valor.
De fato, no podemos permanecer na idia de um
valor forma: o prprio objeto-=-- cada objeto desde
que seja belo - que valor e segundo o seu ser sin-
gular. necessrio, portanto, para diferenar os valores
estticos, com o inconveniente de multiplic-Ias infini-
tamente, passar do formal ao material e considerar
mais de perto cada essncia singular, ou seja, retomar
~o entido que cada objeto esttico prope.
Esse sentido inseparvel do signo defin o estilo.J
I ~ pois o estilo, longe de ser uma coletnea deecei as
\
~icas impessoais e inexpressivas, define uma maneira
de fazer como maneira de dizer. Mas o qUe dito?
O que a sonata pode dizer e dizer to bem quanto um
poema, uma teia ou um monumento? No pode ser um
sentido conceitualizvel ao qual a qualidade sensvel
Q
da linguagem seria indiferente: a mensagem do belo
sem conceito. Aqui a linguagem remonta sua origem:
~ ela no um meio annimo, e transportvel para a co-
municao, de um sentido que se poderia dizer de outra
maneira, como se traduz a geometria euclidiana em geo-
metria riemaniana, ou o falado em morse: a linguagem
inventa e carrega em si o seu sentido. Sentido implcito
conseqentemente ou, ao menos, todo envolvido no sen-
svel, sentido nascente, claro e indistinto, irrefutvel e,
contudo, sem prova: um pr-sentido, de certo modo.
Visto que o sentido no comporta nenhuma determi-
nao explcita, ele figura a possibilidade luminosa de
uma multiplicidade indefinida de sentidos, o anncio
feito ao intelecto por uma razo que ainda no se
conhece como razo. por isso que o objeto esttico
no fala de uma coisa ilm sequer quando a representa:
e~fl-a do- munao que uma idia da razo. A cadeira
52
de Van Gogh no me conta Ima histria de cadeiras,
ela me .?fere~e o mundo de Van Gogh, mundo no qual
as P,lIXOCStem um.a COr porque as cores so paixes,
p~rque todas ~s c?lsa~ padecem a insuportvel necessi-
dade de uma J,ustJa Impossvel. O objeto esttico Si
g
-
n
nifica -- :~e belo com a condi o de significar _
C"',_"I."o do mundo Com a ,ubjovidado, uma di- ri'
mens~o do mundo; ele nao me propoe uma verdade a
respeito do mundo, e!e me descortina o mundo como ~
!o~te de verdade. POIS o mundo no , para mim, um f
objeto de saber ante~ de ser um objeto de deslumbra- ~
men.to e de rcconhecimenny, O objeto esttico tem um
s:ntldo porque ele um sentido - sexto ou nono sen-
tido - cuja aquisio logo me facultada, se eu me
dedico a e~s.e objeto,. e cuja especificidade propria-
mente espiritual: pOIS a faculdade de ressentir o
afe:I~~ e no o visvel,. o tctil ou o auditivo. O objeto
~~etl:o resume e expnme numa qualidade afet;a mex-
~f1ml~el a totali,:Iade sinttica do mundo: ele me faz
co~preen~er o mundo ao compreend-Ia em si mesmo
c >e_atrave~ de sua mediao que eu o reconheo antes
d..s.E2nhece-lo e que eu nele me reencontro antes de me
ter encontrado.
. Detenhamo-no, por um instante, pois, agora, es-
tamos capacitado, para ~efinir os valores estticos no
l~ral. ~~cusando fazer deles modelos exteriores ~o
objeto, d:z~amos: os valores so os objetos mesmos en-
quanto sao _verdadeiramente aquilo que pretendem ser.
e~quanto sao verdadeiros. Digamos agora: enquanto
.~ao focos de verdade: E o que neles especifica o valor
p en a?e gue revelam sob as espcies de uma quali-
dade af~tl~a. Acaso pO,de ser chamado valor o grotes-
c.a, o trgico ou o elegaco ou, antes, o matiz de sen-
tImento. prprio a tal ou qual obra, a alegria de Bach,
a serenidade de Matisse, a intensidade de Rernbrandr e
aquela at~osfe.ra indefinvel cnde nos mergulham um
n:os
a
,lco bizantino, uma mscara sudanesa ou um jar-
dirn a Ia francesa? Por que dizer valor e no essncia?
Porque a essncia nao designa sempre o essencial g o
essencial agui no . explicitvel e reduzvel idia geral,
mas deve ser sentido como se sente o perfume de uma
53
flor ou de uma virtude; e tambm porque esse essencial
aparece num domnio que est ordenado para um va-
lor e sob a condio de adotar a atitude que esse valor
sclicita. Contudo, para justificar esse termo, suficien-
te renunciar a fazer do valor o mgo de uma ierarqui-
zao. ndi.l5lamente o homem consagra boa parte de
-Sua atividade a exprimir preferncias ou estabelecer
classificaes. E essas preferncias no so todas sub-
jetivas pois o valor, considerado formalmente, Ihcs
empresta autoridade: o belo ope-se ao feio e pa-
rece estar sujeito a graus; pode-se discutir indefinida-
mente sobre o mais ou menos belo. Mas o valor talvez
seja, primeiramente, uma exigncia mais para a ao do
que para o juizo; na medida em que formal, o valor
apela para o ato que o realiza e tanto pior se esse ato
destina a ao a uma dialtica que far, cem sua des-
graa, a felicidade da reflexo. A afi aro dela
significa: age de modo que produzas obras que, longe
de serem malogradas, sejam obras verdadeiras e capa-
zes de solicitar a contemplao) E im lica tambm um
iml2erafvo p.ara o e~ eclli.S!..2!::age de ~fas
justia s coisas belas; s tu mesmo para deix-Ias ser
em ti e por ti mas, ao mesmo tempo, cala-te a fim de
deix-Ias falar. Ora, se o valor se nos manifesta como
exigncia - fazer ser o deixar ser - e porque o valor
reside no ser do objeto e, singularmen e, naqUI o que
-o infmma e lhe d um estilo: no sentido que anima,
pelo qual ele o que e d provas do seu acabamento.
O valor G objeto porque est no corao de. objeto
corno seu princpio e seu fim. Criar valores ser criar
~,9.hjetos. Criar valores estticos ser produzir obras no-
vas carregadas de um novo sentido, iniciadoras de um
novo estilo, mensageiras de um novo mundo.
Contudo, essa identificao entre valor e obra pode
ser posta em questo se se contesta que valor possa
ser criado. Qual , portanto, a parte do criador? Tal-
vez seja necessrio, ao mesmo tempo, lhe conceder o
poder e lhe recusar a iniciativa; pois o valor, com efeito,
no simplesmente um sentido subjetivo, homo additus
naturae, produto. de uma inveno arbitrria; neces-
srio que o valor seja expresso e essa expresso , real-
mente, inveno; mas antes de o ser, ela preexiste de
algum modo como a essncia leibniziana que aspira
54
exis_tncia; o valor um possvel que espera sua real i-
zaao, mas ue e, ele mesmo.cuma figura do real:-Isso
sera visto mais claramente ao aprofundarmos a anlise
da objetividade prpria significao esttica.
O valor ~ue o objeto esttico revela - e que ele
vale ao revelar - uma gualidade afetiva pela qual
se desvela um mundo. Que mundo? Ns evocamos o
mun o de Van Gogh, como tambm o mundo de Mo-
zart, de Michelangelo ou de Valry. Trata-se, portan-
to, de um ser do mundo para um ser no mundo: no
para um.a subjetividade transcendental, e sim para uma
pessoa singular. nisso que a revelao esttica difere
da . 'd~cia racional: to mundo sugerido pela idia
ka~tJan _e u~ mundo Impessoal e objetivo como a pr-
pna razao, e a promessa ou o voto de uma fflidade
ifhgvel afinal conquistada pelo intelecto. O mundo
~uge~ido pelo oBjeto. esttico a irradiaao de um
qualidade afetiva, a exp-erincia urgeQ!.e.:e precria na
qual o homem descobre num instante o sentido de seu
destino, quando ele est totalmente engajado nessa pro-
va. O artista est sempre presente em sua obra e tanto
mais presente, quanto mais discreto: ns reconhecemos
~elhor sua voz quando ela profere uma palavra que no
e a sua.
Com efeito, se o ue a obra exprime .,o mundo
em certa relao com uma pessoa - e poderemos al-
gum dia nos libertar dessa correlao? - no reciso
cre~.--9.!1e a essoa.-5eja, a9..':!i, constituinte ou mesmo
~nferprete do mundo. possvel que o tema da cons-
tituio deva presidir a uma teoria do conhecimento a
um~ teoria d.a arte: o tern'' da ins Ira o)Essa ae-
naao do artista em sua obra preserva-nos de acreditar
na sll~jet.i~idade do mundo esttico. O mundo que a
obra significa tem, por certo, necessidade de uma cons-
c!ncia para aparecer como tambm requer a conscin-
era do espectador para ser reativado; pois s existe
ao aparecer luz ,natural de uma conscincia. por isso
que podemos designar esse mundo pelo nome do artista,
como as terras desconhecidas pelo nome do primeiro
qu~ nelas desembarca. O artista o viajante feliz que,
apos ter longamente navegado sobre as guas da dvi-
da, nas trevas do esforo, pode, enfim, bradar: terra! A
55
obra est pronta! Por que pronta? Porque se diz algu-
ma coisa que no podia se dizer de outro modo.
Porque o mundo foi dito. Sim, o mundo, eterna
personagem em busc~ de autor, que. solicita e sustenta
o artista em seu paciente empreendimento. Quando o
autor revela um mundo atravs da obra, o mundo que
se reve a 2tria de toda verdade. Quer dizer que o
mundo a soma de todos Os mundos singulares pro-
postos pela arte? No a som~, mas a ~onte. Como o
universo se reflete em cada manada, assim o mundo se
reflete no~spel~os mundos estticos. ~a~ a verd~de
no um jogo de espelhos, o a arecer nao e o ser, e o
aparecer do ser: so semblantes do ~undo que apare-
cem nesses espelhos como tantos possiveis autenticados
pelo real. O possvel aqui - ? imaginrio - atesta a
fora silenciosa do real, a potencJa do mundo.
~
V-se aqui o destino da subjetividade. Estar no
munde azer )2arte do mundo. O mundo no mundo
"S"eTh mim maseu e eu no sou o outro do mundo; eu
existo no interior da correlao da qual sou um dos ter-
mos: s h mundo para mim, mas eu no sou .0 !:'undo;
o que parecia nascer de mim me faz nascer, aldeia kan-
tiana retoma natureza, natura naturans; entretanto,
eu continuo sendc sua testemunha indispensvel e ,for-
mal. Mas o meu testemunho diz respeito ao possvel:
esse mundo que meu ,- o mundo de Van Gogh .ou
de Mozart como tambm o mundo do vero opres~lvo
ou da leve primavera, o mundo do abandono ou da mo-
cncia - um mundo possvel, e a poss~vel t~stemunha
em favor do real: o possvel que eu projeto e uma ver-
dade do real que me conduz e me justifica.
Tal tambm - e nosso propsito - o destino
do artista, subjetividade por excelncia.. po?emos, ago-
ra tentar me ir sua criatividade. Cnar e um modo
eminente de realizar o destino da subjetividade: ser
necessrio ao mundo sendo necessitado por ele. ~sse
apelo, que o artista ouviu - na .inquietude ou na mo-
cncia, pouco importa - o mundo que o profere.
Talvez o artista no o saiba: o mundo assume a voz da
obra esboada, desse possvel irritante e fascinante que
exige seu acabamento. Mas o mundo que fala: ele
56
57
, precisamente, essa potncia do possvel interior ao
real. Ele , em primeiro lugar, essa promoo do por-
vir, pcrque ele o tempo. por isso que o artista
'qtI o ouve chamado a criar duas vezes: criar uma
obra e uma obra que seja nova; pois o tempo recusa a
repetio: quem e assu me no pode refazer o que foi
feito; era necessrio que Giotto renunciasse a Masaccio,
El Greco a Tintoretto ; a nica fidelidade que devemos
a um mestre aprender dele a tornarmo-nos ns mes-
mos; a uma tradio, ser revolucionrios:. viver uma
durao criadora. Mas o tempo que o mundo o
tempo do mundo; ele a realidade do real. Que real?
Todas as coisas: o cu por cima do telhado, a palmeira
sobre o fundo do deserto, o sorriso da amante. O mun-
de no est escondido em alguma parte: ele est a,
infinito sem cessar anunciado no finito, coisa em si
cintilante em cada aparncia, saber presente em cada
sonho. por isso que Espinoza contempla uma mosca
singular, Van Gogh pinta uma cadeira e Ravel um jar-
dim s?b a chuva; mas os mo~tros imaginados por Goya /
tambm so do mundo, e os deuses da epopeia, desde
-que a arte os fixou, porque o imaginrio uma ima-?;!S
gem possvel, refletida na conscincia esttica, desse n
real cuja significao inesgotvel. ' ?
Talvez artist no seja sensvel a essa necessi-
dade que o m n o tem dele para Se verificar; ento ele
mesmo se procura, p ocura seu estilo sem saber que
ele mesmo procurado; cr realizar-se enguanto rea-
liza o mundo. Mas preciso, com efeito, que ele se
realize: criar , antes de tudo, criar em si - ou deixar
ser - um rgo assaz sensvel para experimentar e
dizer um novo semblante do mundo; s os generosos
so suficientemente ricos para acolher e neles deixar
desabrochar esse semblante. O artista, ao se procurar,
procura a uilo ue pode encontrar o mundo: toda Qb-ra
subj~Qara ser objet~v~ visto ser esta sua maneira
de ser veraz.
Mas necessrio, ainda, criar a obra na qual o
valor se deponha e o mundo revele um dos seus senti-
dos sob a forma de uma qualidade afetiva. Ora, o pr-
prio da arte - ns o assinalamos suficientemente -
que o sentido nela est totalmente enga jado no sensvel;
e o sensvel, longe de se enfraquecer e apagar ao entre-
gar o sentido, exalta-se e brilha. O artista, portanto,
trabalha para a epifania do sensvel e no para o ad-
vento do valor: entretanto, o sentido que o dirige dado
por acrscimo. Arteso, em primeiro lugar, como Alain
o repete: um estilo e uma tcnica perpassados por um
sentido, eis que ele inventa ao se engalfinhar com a
matria. A inveno da espiritualidade gtica foi, pri-
meiramente, a inveno de uma nova tcnica de andai-
me; a inveno do mundo de Bach, a assinalao da
gama moderada. Estaramos, com isso, sendo injustos
para com gnio do inventor? Absolutamente . .1a~a
que a inveno tcnica tenha propriedade de um estilo
"necessrio ~e o rocessc: ~par~a como ~ obra ~ a
expresso de uma personalidade capaz, me~o se. ela
o-ignora, e entrar em uma nova relao com o mundo,
de apreender-e fixar um novo aspecto real. No inventa
rnvlor quem quere no basta querer; mas o querer
e o agir s podem se referir ao objeto e no ao sujeito,
matria e no ao sentido. O artista no quer inventar
um valor, ele quer fazer uma obra. Como o sentido,
na obra de arte, est totalmente imanente ao sensvel,
a'SSim a .nveno do sentid, .-no artista, totalmente
imanente . manipulao dg sensvel, a esgiritulidade
otalmente imanente tecnicidade. Visto que jamais
h possibilidade para .desquaflfcr a tecni,ci~~de: o
fazer no somente a prova do pensar, e ja certa
maneira de pensar e de viver conforme o pensamento.
O trabalho do artista como o do sbio moderno num
outro plano, reconcilia ao e contemplao. ~z
quem pensa com as mos.
.:- Talvez n haja tambm possibilidade para su-
perestimar o artista. Um estilo ode ser coletiv~:. a
arquitetura romana, os pftrrr lVOSflamengc:s,. a musl.ca
francesa do sculo XVII criam valores anornmos, am-
da que claramente reconhecveis, e compete aos peritos,
quando eles o conseguem, o cuidado de promover pro-
cessos de paternidade que interessam histria das ~r-
tes mas no histria dos valores. E, portanto, o estilo
que manifesta o valor, mas no necessrio que seja
o estilo de um indivduo. Ou, antes, suficiente que o
indivduo tenha assumido esse estilo e tenha preferido
estar em sua obra a estar em sua biografia; que ele se
tenha feito, sem o saber, o instrumento do valor fazen-
58
do-se inzenuamente o herdeiro de uma tradio e, tal-
vez' - :u penso no homem gtico, no escultor dogo,
no mosasta bizantino - o campeo de uma f.
E isso, enfim, nos sugere que o espectador tam-
bm 'necessrio para o advento dos valores estticos:
--ele-quem epaTa o esttico do reli!iioso, do mgico
u o u !TiafIO, quem apreende o va or em sua ureza
e ue, no ~l'igInno, compeo co...mossempre
inacaba o. O espectadrti13m tem uma tarefa: o
ape o que da obra a ser feita se eleva ao artista, ele-
va-se da obra feita ao espectador: pois essa obra tam-
bm quer ser percebida e que, na glria do sensvel,
pelo ato comum daquele que sente e do sentido, brilhe
o valor esttico. Assim o espectador colabora com o
advento do valor no porque o cria, mas porque sem-
pre pode lhe recusar audincia; todavia, sabemos, mu!to
bem o que o pblico d obra pela fora da admirao.
Atravs disso se entrev o estatuto dos valores es-
tticos. Estatuto du lamente precrio porque ds valo-~'
restm, ao mesmo tempo, de ser. ~ri~dos p~~o trabl~o "i j
artstico e reativados pela expenencia esttica do es- t~,~
pectador. Eles tm a preca~edade daqu!lo 5ue se~tido ~
e contudo no so nem vaos nem arbitrrios, POIS os .
v~lores exprimem o mundo, do qual vislumbram os sem-
blantes possveis sob qualidades afetivas; mas. o nlu_~do
s mundo em relao a uma subjetividade que ele
'iiipreende e que a compreende: parodiando uma' c-
- ebre frmula de Kant sobre o tempo, diramos: eu
estou no mundo e o mundo est em mim. O valor es-
ttico atesta essa reciprocidade paradoxal: criado pela
iniciativa da fantasia e, contudo, imperioso; contingen-
te e, contudo, necessrio; submetido percep~o e, con-
tudo, irrefutvel; imaginrio e, contudo, verdico. Mas
talvez seja esse o carter de todo valor: se o homem
o ser das distncias, o valor o ser de nenhures e,
contudo, presente e ativo em toda a parte; pois o valor
no exprime nem o ser do homem nem o ser do mundo,
mas o liame irrompvel do homem e do mundo, segundo
o qual o homem cria ao se criar porque criado:, le-
vando o mundo e, no entanto, a ele consagrado ate se
alienar na ex erincia esttica.
~~~-----~-------------
- 59
Das könnte Ihnen auch gefallen
- José Ferrater Mora - Dicionário de FilosóficoDokument751 SeitenJosé Ferrater Mora - Dicionário de FilosóficoJean Patrik100% (8)
- Mimesis: A Representação da Realidade na Literatura OcidentalVon EverandMimesis: A Representação da Realidade na Literatura OcidentalNoch keine Bewertungen
- Apostila de Apologética PDFDokument34 SeitenApostila de Apologética PDFSaulo Da Silva Nogueira100% (2)
- Da contemplação amorosa: inteligência e consciênciaDokument52 SeitenDa contemplação amorosa: inteligência e consciênciazitrofj100% (1)
- LIVRO BAKHTIN Estetica Criacao VerbalDokument230 SeitenLIVRO BAKHTIN Estetica Criacao Verbalguimagranato100% (15)
- O belo autônomo: Textos clássicos de estéticaVon EverandO belo autônomo: Textos clássicos de estéticaBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (2)
- Conversações com Goethe nos últimos anos de sua vida: 1823-1832Von EverandConversações com Goethe nos últimos anos de sua vida: 1823-1832Noch keine Bewertungen
- Acreditavam Os Gregos em Seus MitosDokument87 SeitenAcreditavam Os Gregos em Seus MitosLeandroFernandesDantas80% (5)
- Acreditavam Os Gregos em Seus MitosDokument87 SeitenAcreditavam Os Gregos em Seus MitosLeandroFernandesDantas80% (5)
- Obra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneasVon EverandObra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneasBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Esperando não se sabe o quê: Sobre o ofício de professorVon EverandEsperando não se sabe o quê: Sobre o ofício de professorBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)
- Pedagogia profana: Danças, piruetas e mascaradasVon EverandPedagogia profana: Danças, piruetas e mascaradasBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- COMPAGNON Antoine - O Trabalho Da CitaçãoDokument171 SeitenCOMPAGNON Antoine - O Trabalho Da Citaçãoestorilfilmefestival100% (3)
- LUKÁCS, Georg - A Teoria Do RomanceDokument240 SeitenLUKÁCS, Georg - A Teoria Do RomanceAmanda Andozia75% (4)
- Luiz Costa LimaDokument514 SeitenLuiz Costa LimaDorinda50% (2)
- Foco narrativo e fluxo da consciência: questões de teoria literáriaVon EverandFoco narrativo e fluxo da consciência: questões de teoria literáriaNoch keine Bewertungen
- Linguagem, tradução, literatura: Filosofia, teoria e críticaVon EverandLinguagem, tradução, literatura: Filosofia, teoria e críticaBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- FOUCAULT, Michel. A Ordem Do Discurso (Fiel Ao Impresso)Dokument39 SeitenFOUCAULT, Michel. A Ordem Do Discurso (Fiel Ao Impresso)Prometheoz100% (13)
- Literatura e Teoria da Complexidade: revendo conceitosVon EverandLiteratura e Teoria da Complexidade: revendo conceitosBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- BARTHES, Roland - O Rumor Da LinguaDokument96 SeitenBARTHES, Roland - O Rumor Da LinguaCarolina Vaz100% (1)
- Esculpir o Tempo - Andrei TarkovskiDokument303 SeitenEsculpir o Tempo - Andrei TarkovskiCarolina Guimarães RibeiroNoch keine Bewertungen
- Esculpir o Tempo - Andrei TarkovskiDokument303 SeitenEsculpir o Tempo - Andrei TarkovskiCarolina Guimarães RibeiroNoch keine Bewertungen
- Discussão sobre poesia e prosaDokument7 SeitenDiscussão sobre poesia e prosaTikka Sobral0% (1)
- Alain Didier-Weill - Nota Azul - Freud, Lacan e A ArteDokument117 SeitenAlain Didier-Weill - Nota Azul - Freud, Lacan e A Arterenatachristina100% (6)
- Anne Cauquelin A Invencao Da Paisagem PDFDokument69 SeitenAnne Cauquelin A Invencao Da Paisagem PDFPaulaBraga68100% (1)
- Cuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultVon EverandCuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultNoch keine Bewertungen
- T.S.Eliot - Notas para Uma Definição de Cultura-1Dokument120 SeitenT.S.Eliot - Notas para Uma Definição de Cultura-1Rodrigo MendonçaNoch keine Bewertungen
- Sobre Nietzsche: vontade de chance: Seguido de Memorandum; A risada de Nietzsche; Discussão sobre o pecado; Zaratustra e o encantamento do jogoVon EverandSobre Nietzsche: vontade de chance: Seguido de Memorandum; A risada de Nietzsche; Discussão sobre o pecado; Zaratustra e o encantamento do jogoNoch keine Bewertungen
- BADIOU, Alain. em Busca Do Real Perdido. Belo Horizonte - Autêntica, 2017Dokument34 SeitenBADIOU, Alain. em Busca Do Real Perdido. Belo Horizonte - Autêntica, 2017Alberto PucheuNoch keine Bewertungen
- História pessoal e sentido da vida: historiobiografiaVon EverandHistória pessoal e sentido da vida: historiobiografiaNoch keine Bewertungen
- Literatura em discurso: Os leitores e a leitura na obra de Machado de AssisVon EverandLiteratura em discurso: Os leitores e a leitura na obra de Machado de AssisNoch keine Bewertungen
- A Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosVon EverandA Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosNoch keine Bewertungen
- Gênese e Estrutura Da Fenomenologia Do EspíritoDokument146 SeitenGênese e Estrutura Da Fenomenologia Do Espíritojoaomseckler100% (2)
- ISER, Wolfgang - A Arte Parcial - A Interpretação Universalista IN O Ato Da Leitura. Vol 1. São Paulo - Editora 34, 1996Dokument15 SeitenISER, Wolfgang - A Arte Parcial - A Interpretação Universalista IN O Ato Da Leitura. Vol 1. São Paulo - Editora 34, 1996rsebrian100% (4)
- Jacques Rancière - Partilha Do Sensível (Entrevista)Dokument7 SeitenJacques Rancière - Partilha Do Sensível (Entrevista)Mariana LimaNoch keine Bewertungen
- O sensível e a abstração: Três ensaios sobre o Moisés de FreudVon EverandO sensível e a abstração: Três ensaios sobre o Moisés de FreudNoch keine Bewertungen
- 169 Susanne K Langer Ensaios Filosoficos PDFDokument161 Seiten169 Susanne K Langer Ensaios Filosoficos PDFTúlio Henrique100% (1)
- Walter Benjamin - Origem Do Drama Barroco AlemãoDokument139 SeitenWalter Benjamin - Origem Do Drama Barroco AlemãoJoão Neto91% (11)
- A Escrita de SiDokument11 SeitenA Escrita de SiAri SacramentoNoch keine Bewertungen
- Impasses do narrador e da narrativa na contemporaneidadeVon EverandImpasses do narrador e da narrativa na contemporaneidadeNoch keine Bewertungen
- O Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoVon EverandO Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoNoch keine Bewertungen
- O Ato de Criação: G. DeleuzeDokument13 SeitenO Ato de Criação: G. DeleuzeJosé Miguel Mascarenhas Monteiro100% (1)
- Intertextualidade: A Nomeada nas Personagens de Machado de AssisVon EverandIntertextualidade: A Nomeada nas Personagens de Machado de AssisNoch keine Bewertungen
- Prolegomenos A Toda Metafisica Futura KANTDokument98 SeitenProlegomenos A Toda Metafisica Futura KANTlulinhaalmeidaNoch keine Bewertungen
- FILOSOFIA 11 Ficha Trabalho Descartes HumeDokument3 SeitenFILOSOFIA 11 Ficha Trabalho Descartes HumeLeonardo Araujo Freitas0% (2)
- Inconsciente - Multiplicidade: conceito, problemas e práticas segundo Deleuze e GuattariVon EverandInconsciente - Multiplicidade: conceito, problemas e práticas segundo Deleuze e GuattariNoch keine Bewertungen
- Origem das ideias: racionalismo de Descartes vs empirismo de HumeDokument4 SeitenOrigem das ideias: racionalismo de Descartes vs empirismo de HumeBruna Silva0% (1)
- Exames FilDokument26 SeitenExames FilClaudia QueirosNoch keine Bewertungen
- O que é um corpo? Uma perspectiva jurunaDokument14 SeitenO que é um corpo? Uma perspectiva jurunaErik PozoNoch keine Bewertungen
- A ORIGEM DA ARTE - HeideggerDokument6 SeitenA ORIGEM DA ARTE - HeideggerMA G. D Abreu.100% (1)
- A Filosofia da PaisagemDokument18 SeitenA Filosofia da PaisagemmessalasNoch keine Bewertungen
- A Filosofia da PaisagemDokument18 SeitenA Filosofia da PaisagemmessalasNoch keine Bewertungen
- Uma Breve Introdução À Filosofia - Nagel - Parte 1Dokument20 SeitenUma Breve Introdução À Filosofia - Nagel - Parte 1feppoutlook100% (4)
- Quem é você, professor FoucaultDokument18 SeitenQuem é você, professor FoucaultGli Stronzi BambiniNoch keine Bewertungen
- FOUCAULT O Que e Um AutorDokument4 SeitenFOUCAULT O Que e Um Autorcolabor100% (1)
- TODOROV, T. Poética Da Prosa PDFDokument362 SeitenTODOROV, T. Poética Da Prosa PDFInfradotado100% (2)
- Ensino Médio na Bahia e o Ginásio Ruy Barbosa: Análise Sócio-Histórica da Criação e Consolidação de uma Instituição EscolarVon EverandEnsino Médio na Bahia e o Ginásio Ruy Barbosa: Análise Sócio-Histórica da Criação e Consolidação de uma Instituição EscolarNoch keine Bewertungen
- Ion PLatão 12 - OLIVEIRA - Revista - Ensaios - Volume - XXIIIDokument21 SeitenIon PLatão 12 - OLIVEIRA - Revista - Ensaios - Volume - XXIIIPaulaBraga68Noch keine Bewertungen
- DownloadDokument8 SeitenDownloadKaren EliziarioNoch keine Bewertungen
- Entrevista Com RancièreDokument8 SeitenEntrevista Com RancièreericooalNoch keine Bewertungen
- Arquivo Da Agressividade em PsicanáliseDokument23 SeitenArquivo Da Agressividade em PsicanáliseIndiana Oliveira Do MonteNoch keine Bewertungen
- Denise Milan 2023Dokument1 SeiteDenise Milan 2023PaulaBraga68Noch keine Bewertungen
- A Psicanálise - Estranho No NinhoDokument7 SeitenA Psicanálise - Estranho No NinhoPaulaBraga68Noch keine Bewertungen
- Jesus Soto 2023Dokument3 SeitenJesus Soto 2023PaulaBraga68Noch keine Bewertungen
- BRITO, R. O Moderno e o ContemporâneoDokument10 SeitenBRITO, R. O Moderno e o ContemporâneocarrijorodrigoNoch keine Bewertungen
- Arquivo Da Agressividade em PsicanáliseDokument23 SeitenArquivo Da Agressividade em PsicanáliseIndiana Oliveira Do MonteNoch keine Bewertungen
- O Equador de Rafael CorreaDokument163 SeitenO Equador de Rafael CorreaPaulaBraga68Noch keine Bewertungen
- WarburgDokument14 SeitenWarburgPaulaBraga68Noch keine Bewertungen
- A invenção da histeria e sua expressão na contemporaneidadeDokument10 SeitenA invenção da histeria e sua expressão na contemporaneidadeClarissa Barcellos100% (1)
- A Comunicação e Hipermidia - Sloterdijk USPDokument12 SeitenA Comunicação e Hipermidia - Sloterdijk USPvictordubaixoNoch keine Bewertungen
- Whuan No Isolamento Do Coronavirus PDFDokument179 SeitenWhuan No Isolamento Do Coronavirus PDFCarla Mesquita0% (1)
- Considerações Sobre A Causalidade Psíquica e A Escolha Na PsicanáliseDokument9 SeitenConsiderações Sobre A Causalidade Psíquica e A Escolha Na Psicanáliselouise haasNoch keine Bewertungen
- Guerra Violencia e Pulsão de Morte - FreudDokument9 SeitenGuerra Violencia e Pulsão de Morte - FreudIlê SartuziNoch keine Bewertungen
- JAMESON, F. Pós-Modernidade e Sociedade de ConsumoDokument7 SeitenJAMESON, F. Pós-Modernidade e Sociedade de ConsumoVinx34Noch keine Bewertungen
- A Poética Dos Neurônios em Freud PDFDokument26 SeitenA Poética Dos Neurônios em Freud PDFMardem LeandroNoch keine Bewertungen
- A Comunicação e Hipermidia - Sloterdijk USPDokument12 SeitenA Comunicação e Hipermidia - Sloterdijk USPvictordubaixoNoch keine Bewertungen
- Aby Warburg e A Pós-Vida Das Pathosformeln Antigas PDFDokument14 SeitenAby Warburg e A Pós-Vida Das Pathosformeln Antigas PDFrexthelostNoch keine Bewertungen
- O Equador É VerdeDokument163 SeitenO Equador É VerdeRenan PinnaNoch keine Bewertungen
- BRITO, R. O Moderno e o ContemporâneoDokument10 SeitenBRITO, R. O Moderno e o ContemporâneocarrijorodrigoNoch keine Bewertungen
- TABALHODokument15 SeitenTABALHORaissa SantosNoch keine Bewertungen
- Descrição e Interpretação Da Atividade CognoscitivaDokument39 SeitenDescrição e Interpretação Da Atividade CognoscitivaVanessa CaravelinhaNoch keine Bewertungen
- Kant e a razão criativaDokument108 SeitenKant e a razão criativaAdilson QuevedoNoch keine Bewertungen
- Sobre A Estética Transcendental de I KantDokument6 SeitenSobre A Estética Transcendental de I KantJuliano Gustavo OzgaNoch keine Bewertungen
- Argumentos Da Existencia de DeusDokument2 SeitenArgumentos Da Existencia de DeusFrancisco SilvaNoch keine Bewertungen
- Crítica da Razão Pura de KantDokument7 SeitenCrítica da Razão Pura de KantFilipe Feijó100% (1)
- 01 Ética paraDokument13 Seiten01 Ética paraTayson QuarentaNoch keine Bewertungen
- O Empirismo de Hume: a experiência como fonte do conhecimentoDokument11 SeitenO Empirismo de Hume: a experiência como fonte do conhecimentoBárbara DuarteNoch keine Bewertungen
- A ética de Kant e o imperativo categóricoDokument44 SeitenA ética de Kant e o imperativo categóricoVincius BalestraNoch keine Bewertungen
- A análise da cognição humana e a dualidade sujeito-objetoDokument6 SeitenA análise da cognição humana e a dualidade sujeito-objetoAna BarbosaNoch keine Bewertungen
- A Teoria de Clive Bell Acerca Das Obras de ArteDokument7 SeitenA Teoria de Clive Bell Acerca Das Obras de ArteHudson RabeloNoch keine Bewertungen
- O Focus ImaginariusDokument200 SeitenO Focus ImaginariusJuan Carlos CastroNoch keine Bewertungen
- Crítica de Kant À TeodicéiaDokument9 SeitenCrítica de Kant À TeodicéiaDanilo LorenzottiNoch keine Bewertungen
- Espelho Correção - Exame Especial - FD - D2N - 1-2022Dokument6 SeitenEspelho Correção - Exame Especial - FD - D2N - 1-2022Camila PiuzanaNoch keine Bewertungen
- Livro 4 Filosofia Como Sistema PDFDokument339 SeitenLivro 4 Filosofia Como Sistema PDFdarcioluiz100% (1)
- Introdução À EpistemologiaDokument12 SeitenIntrodução À Epistemologiaa29784Noch keine Bewertungen
- A Epistemologia e A Psicologia Genética de Jean PiagetDokument22 SeitenA Epistemologia e A Psicologia Genética de Jean PiagetHiago Carvalho100% (1)
- Estrutura Do Ato de ConhecerDokument15 SeitenEstrutura Do Ato de ConhecercatarinaNoch keine Bewertungen
- Desassossegadamente 11 Planificacao AnualDokument5 SeitenDesassossegadamente 11 Planificacao AnualRosario LopesNoch keine Bewertungen
- Dignidade e dever moral na fundamentação da ética kantianaDokument10 SeitenDignidade e dever moral na fundamentação da ética kantianaGabriel Satiro KimuraNoch keine Bewertungen
- Forma visualDokument171 SeitenForma visualEduardo RibaslarNoch keine Bewertungen
- Kant e Humboldt: representação transcendental na linguagemDokument13 SeitenKant e Humboldt: representação transcendental na linguagemAlejandro LimaNoch keine Bewertungen