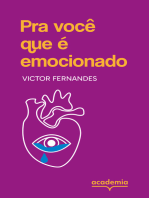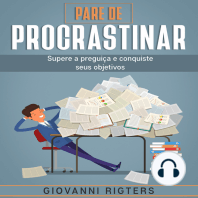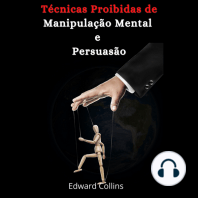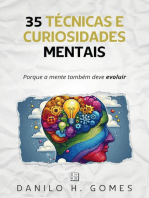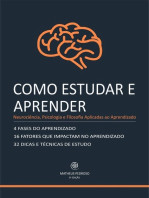Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Hannah Arendt
Hochgeladen von
Pedro Henrique NascimentoOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Hannah Arendt
Hochgeladen von
Pedro Henrique NascimentoCopyright:
Verfügbare Formate
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
f
i
c
k
r
.
c
o
m
/
p
h
o
t
o
s
/
c
a
s
s
i
m
a
n
o
/
6
7
5
6
2
0
8
7
8
5
/
i
n
/
p
h
o
t
o
s
t
r
e
a
m
Cursos de Especializao para o quadro do Magistrio da SEESP
Ensino Fundamental II e Ensino Mdio
Rede So Paulo de
tic
a
d03
Rede So Paulo de
Cursos de Especializao para o quadro do Magistrio da SEESP
Ensino Fundamental II e Ensino Mdio
So Paulo
2011
3
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
Sumrio
1. A tica na literatura grega dos trgicos e na flosofa socrtico-
platnica ........................................................................................4
2. A tica em Aristteles .............................................................14
3. Sobre a Conduta Moral Parte I ........................................... 25
4. Sobre a Conduta Moral Parte II ...........................................38
Bibliografia tema 1 ................................................................. 48
Bibliografia tema 2 ................................................................. 49
Bibliografia tema 4 ................................................................. 50
Ficha da Disciplina: ................................................................ 51
sumario
4
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
1. A tica na literatura grega dos trgicos e
na losoa socrtico-platnica
O propsito dos trs tpicos que compem esse texto o de, primeiramente, buscar uma
certa compreenso da educao tica do homem grego no perodo anterior a Scrates, para,
ento, nos prximos dois tpicos, comear a anlise de alguns elementos componentes de um
novo modelo tico, o socrtico-platnico, no qual a razo ter papel preponderante para a de-
terminao das aes moralmente boas.
1.1. A tica na literatura grega anterior a Scrates
Tornou-se comum, no meio flosfco, a distino entre moral e tica, no sentido (em linhas
gerais) que a moral diria respeito ao corpo de regras que funciona como paradigma para a de-
terminao das aes moralmente boas ou ms em um grupo social, e a tica seria a disciplina
terica que teria como objeto de estudo crtico a moral. A palavra moral derivada de mos,
5
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
mores, termo latino para verter o termo grego ethos, de onde deriva a palavra tica. Visto que
anacrnico empregar o termo moral quando se trata da tica grega do perodo dos trgicos,
de Scrates, de Plato, de Aristteles, e considerando que, quando o termo empregado pe-
los latinos, no recebe a distino supramencionada, quando utilizarmos a palavra moral em
expresses como moralmente boa, no estaremos fazendo qualquer distino entre moral e
tica, mas estaremos tomando ambos os termos como sinnimos. A tica tem ento o seu
nome (assim como vrios outros tantos conceitos da Filosofa) derivado do grego, derivado
de ethos, que comumente vertido para o Portugus como hbito, costume. Da no se segue
que a tica tem como grande propsito mapear os costumes de um grupo social para, ento,
elaborar um corpo de regras a partir de tal mapeamento. A tica tem muito menos como
propsito examinar como as coisas so, como so os hbitos e costumes de uma comunidade,
como os indivduos dessa comunidade agem normalmente nas inter-relaes pessoais, do que
examinar como os indivduos, como agentes morais, deveriam agir. A tica, semelhana de
outras disciplinas, tem como uma das suas funes propiciar uma boa organizao nas diversas
sociedades para que os seus indivduos possam nela viverem bem. Para isso, no basta constatar
como so as aes dos indivduos, mas tratar de como eles deveriam agir para que a sociedade
venha a se manter organizada e, com isso, possa promover uma boa vida para os indivduos.
A literatura da Grcia antiga apresenta, desde os seus relatos mais antigos, importantes
problemas ticos, ainda que eles no fossem explicitados como objetos de estudo. Entre os
poetas trgicos, questes ticas de extrema relevncia foram apresentadas, como sobre a pos-
sibilidade de imputar ao agente moral a responsabilidade da sua ao, se ela foi realizada sem
conscincia das circunstncias em que a ao ocorreu, como no clebre caso do dipo que
mata o pai sem saber que era o seu pai. Atentemos que, ainda hoje, saber se o agente tinha
conscincia das suas aes pode ser crucial para poder responsabilizar algum tanto do ponto
de vista moral como at mesmo do ponto de vista jurdico.
Vale observar que, tendo tratado de questes relevantes, a tica grega no consiste em con-
juntos de regras ou teorizaes que fcaram na totalidade ou em sua maior parte circunscritas
a um momento embrionrio das investigaes ticas e que esto guardadas em uma redoma
aberta apenas para uma certa erudio pouco profcua para suscitar novos problemas ticos
ou possveis resolues de problemas postos por novos modelos ticos. Muito mais do que
isso, a tica grega antiga auxilia, em muito, a anlise tica de uma perspectiva histrica, uma
6
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
vez que autores como Plato e Aristteles tiveram profunda infuncia na posteridade. Os
gregos tm importncia hoje no domnio tico tambm por suscitarem problemas ainda atuais
e por apresentarem alternativas que contribuem, e muito, para pensar questes ticas. Nesse
sentido, vale observar que a tica aristotlica tem sido consultada at mesmo para trazer para
o debate tico elementos (como o resgate da discusso do acrtico, do phrnimos, de um fm
a ser buscado que orientaria as discusses ticas e deve orientar as aes dos agentes morais,
etc) que ajudam a fazer contraponto inclusive com o modelo tico universalista kantiano. Dito
isso, faz-se necessrio examinar o que os gregos antigos nos apresentaram acerca da tica no
apenas para pensar a Histria da Filosofa no concernente tica, mas tambm para ajudar a
pensar questes ticas independentemente de qual autor ou escola as teriam apresentado.
Ainda que haja uma variada gama de questionamentos ticos na literatura anterior a Aris-
tteles, talvez seja exagerado querer encontrar, em tais textos, uma tica tal como ns a conhec-
emos em Aristteles, em cujos textos ticos encontramos objeto de estudo bem determinado,
com modelo investigativo prprio a tal objeto e com caractersticas especfcas de tal anlise
(nesse sentido, o modelo investigativo na tica se distingue radicalmente do modelo investi-
gativo metafsico ou das matemticas). Os textos de Hesodo e sobretudo os textos atribudos
a Homero faziam parte da educao do homem grego, inclusive em relao a sua formao
tica. Obviamente no por trazerem pormenorizadas discusses ticas, mas por apresentarem
modelos de comportamento, modelos de como o homem grego no geral deveria se portar em
diversas situaes. Nesse sentido, os deuses e os heris da Ilada e da Odissia eram de certo
modo apresentados como modelos de comportamento. As aes dos deuses e de heris eram
tomadas como paradigmas para as aes humanas. H, portanto, nos textos dos trgicos, de
Hesodo e, sobretudo, os atribudos a Homero, certas determinaes de como deve o indivduo
agir para tornar-se moralmente bom. Para percebermos a importncia da educao do homem
grego a partir dos textos atribudos a Homero, lembremos, por exemplo, que na Repblica, sob
diversos aspectos um dos dilogos mais importantes de Plato, quando em diversos momentos
Scrates pensa a educao na cidade ideal, ele o faz, em grande medida, a partir dos textos
atribudos a Homero.
Em um rpido exame geral da tica grega, talvez seja de bom tom no gastar muita tinta
com os flsofos pr-socrticos, porque, de modo geral, eles no tiveram como objeto de in-
vestigao questes ticas. Os pr-socrticos se notabilizaram especialmente pelas suas inves-
7
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
tigaes acerca da natureza, acerca do mundo, acerca da possibilidade ou no de ter acesso ao
mundo e, a partir da, poder falar sobre ele. Parece-nos conveniente, tambm, no nos determos
nos sofstas (hbeis professores de retrica que ganharam fama e muito dinheiro por trabalha-
rem a forma do discurso de modo tal a faz-lo forte; por trabalharem a forma do discurso com
tal destreza a ponto de fazer parecer que o que no , a ponto de discorrerem sobre falsidades
dando a elas aparncia de verdades). Ainda que os sofstas tivessem grande preocupao com
a elaborao astuciosa (podendo ser falsa) do discurso com o intuito, em grande medida, de
favorecer politicamente aqueles que participavam dos debates que determinavam os destinos
da polis na gora da Atenas democrtica, essa preocupao, com grandes refexos na poltica,
no fez com que tomassem a tica como objeto investigativo.
1.2. A tica nos dilogos de Plato
Com Plato, a tica ganha ateno especial. comum na literatura especializada nos dilo-
gos de Plato dividi-los em grupos. Uma dessas divises diz respeito cronologia na elabora-
o dos dilogos. Uma delas comporta 3 momentos: no primeiro momento, o qual mais nos
interessar aqui, corresponde aos dilogos escritos na juventude (o segundo momento o dos
dilogos de maturidade e, por fm, no terceiro momento, os dilogos de velhice), denominados
dilogos aporticos, isto , dilogos que acabavam em aporia, em difculdade, sem se chegar
defnio do objeto investigativo motivador do dilogo. Tais dilogos chegam ao fm sem o
aclaramento de certas dvidas, de certos questionamentos, no sendo obtido conhecimento
seguro acerca do objeto investigado. Esses dilogos tm como protagonista Scrates que, dife-
rentemente dos pr-socrticos, ir dar grande ateno ao homem enquanto objeto de estudo,
sobretudo no que diz respeito tica.
Com Scrates, o homem se torna, de modo mais acentuado, objeto de investigao. No
investigao do ponto de vista biolgico, mas de um ponto de vista tico, portanto de um
ponto de vista em que o homem examinado sobretudo em relao s suas aes, mas no
propriamente como eles agem cotidianamente. Em relao ao modo como os homens agem
cotidianamente, principalmente como agem bem, em grande medida a partir de paradigmas
dados por heris e deuses em textos como a Ilada e a Odissia, esse no o modelo buscado
por Scrates. Se, por um lado, Scrates, como homem grego, foi educado tambm com os
textos atribudos a Homero, valendo-se de tais textos em suas conversas com os interlocutores,
8
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
por outro lado, Scrates no aceita por completo o modelo educativo dos textos atribudos a
Homero. Na prpria Repblica Scrates prope censura a partes de tais textos.
No concernente tica, Scrates parece propor novidades. Ao invs de aceitar plenamente
o modelo tico cujos paradigmas das aes moralmente boas seriam dados pelos textos que
ajudaram a educar o homem grego, Scrates prope um novo modelo, onde as aes moral-
mente boas seriam determinadas no por modelos j dados, mas, de certo modo, por paradig-
mas a serem buscados pela razo. A razo, de certo modo, poderia direcionar o homem para
as boas aes. Mas como faz-lo? Tal busca fgura em vrios dilogos de Plato, mas no se
encontra de modo sistemtico e concentrado em um ou outro dilogo, estando distribuda nos
mesmos, sobretudo nos dilogos aporticos de juventude. A partir do conjunto de informaes
dadas nos diversos dilogos possvel chegar a alguns elementos prprios discusso tica
socrtica.
Se, por um lado, Scrates no aceita por completo os paradigmas dados (sobretudo nos
textos atribudos a Homero) para a determinao da ao moralmente boa, por outro, ele
necessita propor outros paradigmas, outros orientadores do agente, para que este possa reali-
zar aes moralmente boas. No parece ser a proposta socrtica atribuir aos deuses as causas
das nossas aes, como se os homens fossem marionetes dos deuses. Por outro lado, Scrates
parece propor que as nossas aes e, conseqentemente, o nosso modo de vida, se bom ou
ruim, no podem ser obra do acaso. Nesse sentido, em uma certa proposta socrtica, o bem do
homem no determinado exclusivamente pelas contingncias externas. Pelo contrrio: ainda
que Scrates no parea eliminar o peso das contingncias externas para a possibilidade ou
no do agente poder agir bem e, com isso, poder viver bem, ele parece sustentar que cabe ao
agente ter certo controle das nossas aes e, portanto, ter certo controle das aes moralmente
boas que podemos engendrar.
Para isso, Scrates volta a sua ateno, enquanto objeto da sua investigao, no para o
corpo, o qual no o responsvel primeiro pelas aes do agente, mas para a alma, a qual seria a
motivadora das aes. Nesse sentido, a investigao tica socrtica ganha certo vis psicolgi-
co. Scrates prope uma diviso tripartite da alma. A alma teria uma parte apetitiva, a qual
inclinaria o agente a realizar aes para satisfazerem-na. Essa parte da alma seria a responsvel
pelos prazeres, pelas inclinaes do agente para satisfazer as necessidades que aparentam ser
9
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
prazerosas. Se, em Scrates, a boa vida do homem no parece estar sujeita ao acaso, no
sendo guiado pela parte apetitiva da sua alma que o agente conseguir viver bem, conseguir
uma boa vida, pois a parte apetitiva da alma pode se deixar guiar, muitas vezes, por aquilo que
aparenta ser bom sem, de fato, ser bom.
Comer chocolate e outros doces pode aparentar ser bom para uma criana na medida em
que pode satisfazer a sua inclinao para a satisfao dos seus desejos, mas a criana se ali-
mentando regularmente de chocolate e outros doces, sem qualquer orientao, pode, de ime-
diato, satisfazer as suas inclinaes imediatas motivadas pela parte apetitiva da sua alma e,
com isso, ter prazer, tendo a crena que est fazendo um bem a si mesmo. Mas pode ser que
essa criana possa vir a ter brevemente problemas de sade por consumir exageradamente os
doces. Aquilo que parece ser um bem no , necessariamente, de fato, um bem. possvel o
engano em relao ao bem. Sem a devida orientao, a criana pode estar gerando para si, sem
ter clareza disso, mais mal que bem. Como, ento, poder ser bem orientado segundo o bem no
meramente aparente, mas o bem de fato?
O que parece ser o bem pode se apresentar de mltiplos modos. Nesse sentido, algo pode
ser bom para Scrates e no para Glauco, ou ento uma ao pode ser justa e boa em certo
momento e no em outro. E ainda: algo pode ser bom para um indivduo x em determinado
momento e, para o mesmo indivduo x, ruim em outro momento. Restituir aquilo que
devido a algum nem sempre pode ser algo justo e bom, como Scrates argumenta no livro I
da Repblica. Restituir armas quando um indivduo x est so pode ser justo e bom, mas pode
no ser se ele no estiver so, podendo tal restituio vir a gerar problemas para tal indivduo
x. Face possibilidade de engano acerca do que o bem, a virtude, o justo, e face aparente
multiplicidade de bens, do que virtuoso ou do que justo, como uma concepo mltipla e
talvez meramente aparente de bem pode ser guia para as aes de um agente moral? Como
detectar o que de fato o Bem para que o mesmo possa bem guiar as aes do indivduo, con-
duzindo-o s boas aes, aquelas que lhe possibilitam viver bem? Esses so difceis problemas
que Scrates necessita enfrentar na apresentao de um modelo tico novo. Ele, ento, recor-
rer ao que se convencionou chamar de Teoria das Formas ou Teoria das Idias para enfrentar
tais problemas.
10
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
1.3. tica e Teoria das Idias nos dilogos de Plato
Relembrando rapidamente, de modo bastante geral, alguns pontos da Teoria das Idias
concernentes discusso tica apresentada nos dilogos de Plato: Scrates prope a sepa-
rao do mundo em sensvel e inteligvel. O mundo sensvel seria apreensvel pelos sentidos,
apreenso essa que no oferece o conhecimento acerca do mundo, mas apenas opinies sobre
ele, uma vez que os entes existentes no mundo, que so mltiplos e em transformao, so
apenas cpias imperfeitas da verdadeira realidade, a das Idias, realidade essa una e imutvel,
apreensveis pela razo.
Atravs dos sentidos apreendemos, por exemplo, as mltiplas rvores existentes no mundo,
que esto em processo de transformao, de vir-a-ser. As rvores do mundo (que esto em
processo de transformao, em devir) no correspondem verdadeira realidade e no nos pos-
sibilitam sequer conhecer o que a rvore, que uma Idia una e imutvel. Se a rvore fosse
uma laranjeira e se a laranjeira correspondesse idia de rvore, ento, uma jabuticabeira, que
bem diferente, ou no poderia ser rvore ou a idia de rvore teria que ser mltipla. Se fosse
mltipla, ela teria que ser to mltipla quantos so os tipos de rvores. Se as rvores so infni-
tamente diferentes, as idias de rvores seriam infnitamente diferentes, no nos possibilitando
conhecer o que rvore, pois rvore receberia infnitos signifcados. A proposta socrtica
que se faz necessria uma Idia una das coisas, como a de rvore, para que, ao se falar de rvore,
algo determinado seja compreendido. As mltiplas rvores (em devir) do mundo s so recon-
hecidas enquanto tais por participarem da idia una de rvore. As Idias asseguram o plano do
conhecimento na proposta socrtica. Quanto a certo modelo tico proposto por Scrates nos
dilogos de Plato, ele pressupunha o conhecimento, portanto as Idias.
Do mesmo modo que no supramencionado exemplo da rvore: face aos mltiplos bens ditos
das mltiplas coisas e situaes do mundo no seria possvel o conhecimento acerca do Bem,
conhecimento esse necessrio para se poder agir bem. Em um certo modelo tico socrtico, o
conhecimento das boas aes necessariamente conduziria o agente s boas aes. S agiria mal
quem desconhecesse como agir bem. Uma razo bem cultivada conduziria o agente s aes
moralmente boas. Educar bem o agente, do ponto de vista tico, pressuporia faz-lo ter acesso
s idias de virtude, justia, bem, etc.
Scrates parece propor um modelo tico intelectualista (no qual a razo bem cultivada
11
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
sufciente para a determinao das aes moralmente boas) segundo o qual as aes do agente:
1) no dependeriam dos desgnios dos deuses, 2) no estariam totalmente sujeitas ao acaso
dado pelas contingncias do mundo, 3) nem tampouco dependeriam dos impulsos da parte
apetitiva da alma, a qual pode conduzir a aes aparentemente boas que, de fato, no o so, ou
at mesmo para aes que manifestamente no so boas. A vida guiada pelas paixes e no
orientada por certa razo, a qual possibilita conhecer o que a virtude, o Bem, pode apenas
acidentalmente conduzir o agente boa vida. preciso ao homem, ento, no se deixar guiar
pelas suas paixes, semelhante a um barco deriva, em que conduzido para o lado que o
vento e as ondas o levarem, sem qualquer capacidade de ser guiado. O destino de tal barco
dado pelas contingncias do momento na regio do mar em que est. A vida do homem no
pode, de modo semelhante, estar sujeita s contingncias do mundo. Para o barco poder ir a
algum lugar determinado de modo no acidental preciso que algum tome o seu leme. De
modo semelhante: preciso que algo no homem tome o leme da sua vida, das suas aes. A
parte intelectiva da alma ser a responsvel por dar certo rumo s aes, vida do agente. Para
isso, faz-se necessrio ascender s Idias, faz-se necessrio ao intelecto controlar os impulsos
do agente de modo a ele poder agir bem, poder alcanar a boa vida.
Nesse modelo socrtico, as aes so realizadas pelos homens, aos quais pode ser imputada
a responsabilidade das suas aes. Mas se, por um lado, Plato apresenta certo modelo tico
intelectualista proposto por Scrates, por outro lado, no dilogo Mnon levantada a objeo
que a razo no seria sufciente para conduzir o agente s aes moralmente boas ao se suspeit-
ar que um agente no pode se transformar em virtuoso atravs da aprendizagem meramente
racional. Nesse sentido, Scrates questiona no Mnon: se a virtude pudesse ser ensinada, por
que Pricles no teria feito dos seus flhos homens virtuosos? Comea-se a levantar a suspeita
que o acesso s Idias no seria sufciente para tornar o agente virtuoso. Plato, ento, comea
a atenuar a funo da razo que ascende s Idias como guia uno e infalvel para as boas aes,
como capaz de exclusivamente engendrar as aes moralmente boas.
Aristteles, por sua vez, no poder aceitar o intelectualismo do modelo socrtico, at-
enuado por Plato, por uma razo bastante simples: Aristteles no aceita a Teoria das Idias
de Plato, rechaa a diviso do mundo em sensvel e inteligvel, negando tambm a idia de
participao (a qual, na Teoria das Formas, possibilita que ambos os mundos, sensvel e in-
teligvel, no sejam intransponveis um ao outro). Negando o modelo dos dilogos de Plato,
12
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
Aristteles no tem mais as Idias para, de certo modo, orientar o agente para a determinao
da ao moralmente boa. No atribuindo aos deuses a responsabilidade das aes moralmente
boas do agente moral e tambm no delegando ao acaso ou s contingncias do mundo a pos-
sibilidade da ao moralmente boa, uma vez que recusa o modelo dos dilogos de Plato, Aris-
tteles necessitar de outro guia para orientar o agente moral para as aes moralmente boas
e, conseqentemente, para a boa vida. Essas recusas de Aristteles em relao ao modelo dos
dilogos de Plato far com que Aristteles apresente um modelo tico sob muitos aspectos
bem diferente do modelo dos dilogos platnicos.
Aristteles atribui grande importncia aos impulsos da parte da alma responsvel pelos de-
sejos, os quais se convertem em mveis das aes, mesmo as que so consideradas moralmente
boas. Se, no modelo apresentado nos dilogos, a parte apetitiva da alma deveria estar sujeita
parte intelectiva, a qual seria a responsvel pela determinao da ao moralmente boa, em
Aristteles, a parte responsvel pelos desejos assumir grande importncia para o engendra-
mento das aes, mesmo as moralmente boas. O que da ordem dos apetites e dos desejos no
dever ser subjugado pelas determinaes da razo, mas dever ser conduzido para que, bem
orientado, possa ser desejo do que bom, do que virtuoso, levando s boas e virtuosas aes.
No novo modelo proposto por Aristteles, saber como agir no implica necessariamente em
agir segundo o conhecimento de como agir, pois os desejos se apresentam como mveis das
aes no modelo aristotlico. possvel ao agente moral saber como deveria agir para agir bem
e, ainda assim, ter o desejo de realizar aes contrrias s boas aes. Vejamos, ento, a seguir,
o novo modelo tico proposto por Aristteles.
Bibliograa tema 1
BENOIT, Hector. Estudos sobre o dilogo Filebo de Plato. Ed. Uniju, Iju-RS, 2007.
BRAGUE, Remi. Introduo ao Mundo Grego: estudos de histria da Filosofa, Loyola, 2007.
BRUNSCHWIG, Jacques. Estudos e exerccios de Filosofa Grega, Loyola e PUC-Rio, So
Paulo-SP, 2009.
FINLEY, Moses I. O legado da Grcia: uma nova avaliao, Ed. UNB, Braslia-DF, 1981.
GOLDSCHMIDIT, Victor. Os dilogos de Plato: estrutura e mtodo dialtico, Loyola, So
13
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
tema1
Paulo-SP, 2002.
HADOT, Pierre. O que a Filosofa Antiga? Loyola, So Paulo-SP, 2004.
JAEGER, Werner. Paidia: a formao do homem grego, Martins Fontes, So Paulo-SP,
1989.
KIRK, G. S. e RAVEN, J. E. Os flsofos pr-socrticos, Fundao Calouste Gulbenkian,
Lisboa-Portugal, 1982.
MAGALHES-VILHENA, VASCO. O problema de Scrates: o Scrates histrico e o Scra-
tes de Plato, Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa-Portugal, 1984.
NUSSBAUM, MARTHA C. A fragilidade da bondade: Fortuna e tica na tragdia e na flo-
sofa grega, Martins Fontes, So Paulo-SP, 2009.
PAPPAS, Nickolas, A Repblica de Plato, edies 70, Lisboa, Portugal, 1995.
PERINE, M. (Org.). Estudos Platnicos: sobre o ser e o aparecer, o belo e o bem, Loyola, So
Paulo-SP, 2009.
PIETTRE, Bernard. Plato, a Repblica: livro VII, Ed. UNB e Ed. tica, So PauloSP,
1981.
REALE, Giovanni. Para uma nova interpretao de Plato, Loyola, So Paulo-SP, 1997.
ROBINSON, T. M. As origens da alma: os gregos e o conceito de alma de Homero a Aristteles,
Annablume editora, So Paulo-SP, 2010.
TRABATTONI, F. Plato, Annablume editora, So Paulo-SP, 2010.
VZQUEZ, A. S. tica, Civilizao Brasileira, Rio de Janeiro-RJ, 2008.
VERNANT, J. P. As Origens do Pensamento Grego, Difel, Rio de Janeiro-RJ, 2009.
ZINGANO, Marco. Virtude e saber em Scrates, in Estudos de tica Antiga, Discurso
Editorial, So Paulo-SP, 2007, pp. 41-72.
14
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
2. A tica em Aristteles
O objetivo dos trs tpicos deste texto o de comear a apresentar a sofsticada teoria
tica aristotlica, chamando a ateno para algumas diferenas em relao aos modelos ticos
anteriores. Para tal propsito, sero apresentados diversos elementos que fzeram da tica ar-
istotlica um dos grandes modelos ticos da Histria da Filosofa, como a nova concepo de
virtude, o justo-meio, a razo voltada para a esfera prtica, etc.
2.1. Uma nova proposta de modelo tico em relao
ao modelo socrtico-platnico
Aristteles nos deixou trs textos ticos: a 1) tica a Nicmaco, o texto mais comentado
do Estagirita (Aristteles era de Estagira), a 2) tica a Eudemo e a 3) Magna Moralia. Alm
desses, outro texto atribudo por alguns especialistas a Aristteles nos chegou: Da virtude e
dos Vcios, mas os comentadores de Aristteles consideram, de modo geral, esse ltimo texto
15
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
como apcrifo, no tendo sido escrito pelo Estagirita. Esses textos ticos compem, junta-
mente com a Poltica, o grupo de textos denominados prticos, isto , textos que tratam da
prxis (ao). De certo modo semelhante ao que ocorre nos dilogos de Plato, a investigao
tica aristotlica guarda estreita relao com a investigao psicolgica, metafsica e sobretudo
com a investigao poltica. Em Aristteles, a tica e a Poltica so complementares, uma de-
pendendo da outra para a sua boa compreenso. A psicologia torna-se de grande relevncia na
medida em que, de modo similar ao que encontramos nos dilogos de Plato, como no fnal do
livro IV da Repblica, Aristteles examina a alma em partes. Tal diviso de grande relevncia
na medida em que, para pensar como as aes so engendradas, ser preciso examinar, como
veremos, quais as partes da alma atuam em tal engendramento. Por fm, a Metafsica assume
grande importncia por ser prprias dela algumas investigaes cujo objeto pertence tambm
ao domnio tico. Nesse sentido, em grande medida os pressupostos metafsicos valem para a
investigao tica.
Visto a estreita relao da tica com o exame psicolgico, metafsico e poltico, alm de
outras investigaes, como a biolgica e at mesmo com os textos de fsica, isso nos faz encon-
trar elementos que ajudam a compor uma certa compreenso do modelo tico no apenas em
seus trs textos ticos, mas tambm na Metafsica, na Poltica, no De Anima, nos textos bi-
olgicos e em vrios outros textos do corpus aristotelicum. Mas, diferentemente do que ocorre
nos dilogos de Plato, Aristteles possui um conjunto de textos em que trata especifcamente
dos escritos prticos e, nos trs textos ticos do Estagirita supracitados, examina especifca-
mente questes ticas. Talvez no seja exagerado afrmar que com Aristteles que a tica
ganha estudos sistemticos com mtodo prprio de investigao, contornos mais precisos,
textos especfcos sobre questes ticas. Se Aristteles herda uma certa tradio de discusses
ticas de Hesodo, dos trgicos, da Ilada e da Odissia, de Scrates, de Plato, de alguns pr-
socrticos, a investigao dos seus predecessores e contemporneos talvez no seja sufciente
para considerarmos a tica como disciplina constituda. Para uma certa compreenso da tica
aristotlica, mister lembramo-nos do contexto no ele escreve. Nesse sentido, convm recor-
dar que o grande interlocutor de Aristteles tambm nos textos ticos Plato, o que est
em certa medida encerrado nos dilogos de Plato (lembremos que Aristteles estudou na
academia de Plato por praticamente duas dcadas). Muitos argumentos levantados nos textos
ticos so para responder a discusses que encontramos nos dilogos do mestre Plato.
Aristteles apresenta um modelo tico que, ainda que guarde mltiplos elementos prprios
16
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
ao modelo dos dilogos de Plato, bem distinto deste. Logo no captulo dois do livro I da
EN, Aristteles, em uma alegoria indicativa do modelo teleolgico que apresenta nessa obra,
evoca a imagem da fgura de um arqueiro que, para atingir o seu alvo, precisa antes visualiz-
lo, assim como o agente moral necessita ter em mira o seu fm prtico (o qual um bem) para
poder alcan-lo. No se trata aqui de uma novidade do modelo aristotlico, uma vez que a
idia de Bem deve, em certa medida, tambm nos dilogos de Plato, direcionar as aes do
agente para que ele consiga agir moralmente bem e, conseqentemente, viver bem, feliz. Em
Aristteles, o bem tambm deve ser norteador das aes moralmente boas, para que o agente
possa vir a viver bem, com isso alcanando o seu fm de um ponto de vista tico.
Porm, uma vez que o Estagirita no aceita a diviso dos mundos em sensvel e inteligvel
e nem o que possibilitava o contato entre ambos os mundos (a saber, a Idia de participao),
ele no pode aceitar o modelo tico que tem como guia das aes as Idias. O bem, que dever
orientar as aes moralmente boas do agente, no poder consistir em uma Idia. No captulo
6 do livro I da tica a Nicmaco, Aristteles rechaa o bem uno genrico enquanto Idia,
sustentando que o bem dito de mltiplos modos (formulao essa de base metafsica, dada a
partir da discusso travada no texto Metafsica acerca dos mltiplos modos de dizer o ser). Se
Aristteles no pode mais contar com as Idias para orientar o agente sobre como agir moral-
mente bem, e se o bem o fm da investigao tica, pois visando a esse fm, o bem, que as
aes humanas so realizadas, o Estagirita precisa de outra concepo de bem, orientadora das
aes do agente moralmente bom.
2.2. A vida feliz.
Desde o incio da EN, Aristteles parte em busca do bem, para saber o que fazer para atingi-lo,
semelhante ao arqueiro em relao ao alvo. Examina, ento, o Estagirita, em uma prtica comum
nos seus textos, o que os seus predecessores e contemporneos tomavam como sendo o fm tico
buscado, a saber, o bem, uma boa vida, a fm de saber qual tipo de vida buscar em seu modelo
tico. Nesse exame acerca de qual a melhor vida a ser buscada, Aristteles encontrar, nas anlis-
es dos seus predecessores e contemporneos, quatro candidatas relevantes que se apresentam
vida feliz: 1) a vida dos prazeres; 2) a vida das honras; 3) a vida virtuosa e 4) a vida contempla-
tiva. Por mais que Aristteles parea estar buscando um modelo tico distinto de um modelo
intelectualista socrtico, onde a vida feliz poderia ser alcanada mediante boa orientao da
17
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
razo, ele no prope um modelo tico hedonista em que o fm a ser buscado seria dado pelo
prazer. Deste modo, 1) a vida dos prazeres, primeira candidata vida feliz, no se confundiria
com a felicidade, ainda que a vida feliz pressuponha prazer, ainda que o prazer, nas palavras de
Aristteles, seja um acompanhante natural da felicidade. Isso signifca que as aes humanas
e conseqentemente a investigao tica, em Aristteles, no tero como guia, como fm, o
prazer, muito embora Aristteles parea no conceber a felicidade do agente moral sem prazer.
Diferentemente dos dilogos de Plato, o prazer receber grande ateno na investigao tica
aristotlica, recebendo na tica a Nicmaco dois tratados, tal a sua importncia para o mod-
elo tico proposto por Aristteles. 2) O segundo candidato vida feliz a vida das honras, a
qual descartada na seqncia, uma vez que as honras, como Aristteles afrma, dependem
mais de quem a concede do que de quem as recebe. Como uma das caractersticas da vida feliz
a autonomia (isto , a vida que torna o agente no carecendo de nada), a felicidade no pode
se identifcar com as honras, pois a vida feliz no pode depender de outrem, o qual poder ou
no conceder honra ao que pretende alcanar a vida feliz.
Restam, ento, dois outros candidatos
vida feliz, quais sejam, 3) a vida virtuosa
e 4) a vida contemplativa. No concernente
vida contemplativa, Aristteles apenas
a menciona para, logo a seguir, informar
que dela tratar posteriormente. Dela o
Estagirita vai tratar apenas no livro X, l-
timo livro da obra. Aristteles vai na EN
voltar-se sobretudo para a noo de vir-
tude. Esta se torna a principal candidata
vida feliz para o homem. Podemos, ento,
comear a entender, primeiro, a estrutura da EN, a qual visa apresentar um projeto prtico para
possibilitar ao agente viver bem, fm da tica aristotlica. Uma vida sem ter como fm o alvo
de viver bem e de pensar em meios, ao longo de uma vida, para atingir tal fm, difcilmente
poderia conduzir o agente a uma boa vida. Uma certa razo possibilita ao agente moral no
fcar preso s decises momentneas tomadas a partir das inclinaes das suas paixes, possi-
bilitando-lhe calcular o que seria o viver bem e como alcanar a boa vida em um projeto para
Acerca da vida contemplativa como uma das possibili-
dades de alcanar o fm ltimo da tica, a saber, o bem,
a felicidade, no trataremos aqui. Para uma certa noo
sobre em que medida a vida contemplativa possibilita
ao agente a boa vida, vide o artigo Polis e virtude em
Aristteles de Reinaldo Sampaio Pereira, na Revista
de Estudos Filosfcos e Histricos da Antiguidade, n.
25, jul. 2008 jun. 2009): http://www.antiguidadeon-
line.org/index.php/antiguidade.
18
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
uma vida toda. esse o exame que toma boa parte da ateno do flsofo na EN.
Para saber como agir virtuosamente, Aristteles no pode mais contar com a Idia de vir-
tude e, a partir dela, saber se uma ao qualquer participa da Idia de virtude e, participando
de tal Idia, perceb-la como virtuosa, como ocorre em dilogos de Plato. O critrio determi-
nante da ao virtuosa no se encontra tambm em modelos dados a priori. Aristteles neces-
sita de uma nova noo de virtude, a qual ser responsvel pela grande novidade do modelo ar-
istotlico. Tal noo apresentada extremamente sofsticada e faz com que a tica aristotlica
difra radicalmente de todos os modelos ticos universalistas (tanto os da antiguidade quanto
os posteriores a Aristteles), como o dos dilogos de Plato, o de um certo modelo cristo
ou ento o modelo kantiano. Em Aristteles, a determinao da ao virtuosa no pode ser
dada a priori. Isso faz com que no seja possvel, em seu modelo, produzir um corpo de regras
que poderiam circunscrever as aes virtuosas, moralmente boas. Esse impedimento pode ser
visto como de certo modo problemtico. Por outro lado, tal impedimento pode ser visto como
o grande diferencial do modelo tico aristotlico em relao aos outros modelos, diferencial
esse que possibilita considerar, por exemplo, aspectos culturais na determinao de uma ao
virtuosa. Nesse sentido, uma ao que pode ser considerada virtuosa para algum em determi-
nado contexto no ser necessariamente virtuosa para outra pessoa em um contexto diferente.
Se uma ao ou no virtuosa depender de muitas variantes.
2.3. Um certo relativismo no modelo tico aristotlico
Aristteles, por um lado, parece procurar escapar de um modelo tico duro, com princpios
ou modelos de como agir bem dados a priori. O Estagirita introduz na tica um certo relativ-
ismo. Mas, por outro lado, ele no pode cair em um modelo relativista nos moldes do relativ-
ismo de Protgoras, do homem medida de todas as coisas, em um modelo em que o que seria
considerado ou no virtuoso dependeria do agente, de como o agente considera a sua prpria
ao, o que pulverizaria a tica, pois, se cada um pode elaborar livremente a sua regra de con-
duta mesmo vivendo em sociedade, se cada um pode determinar livremente para si mesmo se
a sua ao ou no virtuosa, ento cada um pode fazer qualquer coisa (desde que fosse con-
siderada boa para si mesmo, sendo, nesse modelo relativista radical, moralmente boa), desse
modo, se dissolveria a tica e, conseqentemente, tal modelo tico geraria inmeros problemas
de convivncia social.
19
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
Evitando o relativismo de Protgoras no campo tico, Aristteles apresenta um elemento
regulador da ao virtuosa que no estrangeiro ao mundo grego: uma certa moderao.
Aristteles prope que uma ao, para ser considerada virtuosa, portanto moralmente boa,
necessita atender a uma certa moderao, a uma mediania, a um justo-meio. Esse justo-meio,
ao qual tem que necessariamente atender toda ao virtuosa, no um meio aritmtico, como
insiste Aristteles, assim como o 3 o meio entre o 2 e o 4. A noo de justo-meio com a
qual o Estagirita trabalha na EN a de mesots, um meio que varia caso a caso. Para explicar
essa noo chave de justo-meio, Aristteles observa que para toda ao e sentimento h um
excesso, uma falta e um justo-meio. As aes podem ser viciosas tanto por excesso quanto por
falta. Apenas as aes que atendem a um justo-meio so as virtuosas. Em relao a uma virtude
como a coragem, por exemplo: a falta de impulso para algumas aes pode ser considerada
como covardia (vcio). O excesso do mesmo impulso, temeridade (vcio). Apenas considerada
corajosa a ao resultante de um impulso adequado, moderado, que atende a um justo-meio,
fazendo com que o agente no aja viciosamente nem por excesso (temerariamente) nem por
falta (covardemente), mas virtuosamente (de modo corajoso). Mas o justo-meio varia caso a
caso: varia segundo o agente, segundo o objeto, segundo o contexto no qual a ao ocorre.
O justo-meio varia segundo o agente, no sendo possvel determinar uma ao virtuosa
incondicionalmente para todos os indivduos, assim como no possvel se prescrever a boa
quantidade de comida a priori para duas pessoas: para um atleta uma boa quantidade de
comida e o tipo de alimento pode ser x, mas para algum que possui alguma atividade mais
sedentria, a boa quantidade de alimento pode ser bem menor do que a quantidade x. O justo
meio varia tambm segundo o objeto: a coragem (virtude), por exemplo, est mais prxima do
vcio por excesso (temeridade) que do vcio por falta (covardia); j a temperana (virtude) est
mais prxima do vcio por falta (insensibilidade) que do vcio por excesso (intemperana). A
ao virtuosa depende tambm do momento apropriado (kairos): avanar sobre as linhas do
inimigo em uma batalha no necessariamente uma ao corajosa (virtuosa). Pode haver mo-
mento em que avanar sobre o inimigo pode ser um vcio por excesso (temeridade), colocando
desnecessariamente em risco a vida de muitos soldados sem a promoo de qualquer ganho
em contrapartida.
A determinao do que virtuoso, portanto, depende de se a ao atende ou no a um
justo-meio, mas o justo-meio depende do agente, do objeto, do momento oportuno, do lugar
apropriado, etc. Aristteles, por um lado, elimina o relativismo radical no domnio tico ao
20
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
instituir um princpio regulador da ao moralmente boa: o justo-meio. Toda ao, para ser
considerada virtuosa, portanto moralmente boa, deve necessariamente atender a um justo-
meio (as que no o atendem so viciosas por excesso ou por falta). Mas a determinao do
justo-meio como princpio determinante da ao moralmente boa no possibilita engessar
o modelo tico aristotlico em um conjunto de determinaes de como agir virtuosamente,
moralmente bem, uma vez que, como visto, o justo-meio varia caso a caso, em cada ao, se-
gundo cada contexto. Essa maleabilidade conferida pelo justo-meio faz com que o modelo
tico aristotlico difra em muito dos modelos universalistas, conferindo a ele a possibilidade
de se considerar a diversidade cultural, de contextos, de agentes morais na determinao das
aes virtuosas, moralmente boas.
O domnio da tica aristotlica o domnio da contingncia, jamais o da necessidade.
Se no mundo tudo fosse necessrio (necessrio aqui entendido como o que no pode ser de
outro modo), se no houvesse a possibilidade de algo ser de um modo ou de outro, no have-
ria a possibilidade de escolha para o agente moral. No se pode escolher fazer com que uma
pedra no caia (se no impedida de cair por algo qualquer), uma vez jogada para cima. No
havendo capacidade de escolha (a partir da possibilidade de duas ou mais aes), no se pode
responsabilizar algum do ponto de vista tico, esvaziando, com isso, o domnio da tica. Para
a existncia da esfera tica faz-se necessrio, portanto, que haja a possibilidade de o mundo
comportar a contingncia, faz-se necessrio que as coisas no mundo possam ser de um modo
ou de outro, assim como pode ser possvel a algum se deslocar para um lado ou para outro ou
mesmo fcar parado, deslocar-se com maior ou menor velocidade, com um ou com outro meio
de deslocamento. na contingncia do mundo que o homem pode agir, nele que ser aberto
o domnio para a esfera tica, em Aristteles.
Uma vez que na contingncia do mundo que o agente moral pode agir, nela a razo ca-
paz de fazer cincia, a razo cientfca (a qual, a partir de princpios invariveis, infere regras,
leis naturais, produzindo conhecimento acerca do mundo) impotente para a determinao
de como agir. Como, em Aristteles, o agente moral no tem mais as Idias (dos dilogos de
Plato) para o orientarem sobre como agir bem, e o agente precisa detectar qual a melhor ao
em cada caso particular, ento no ser a razo cientfca que lhe conferir tal capacidade de
escolha. Aristteles ir propor um outro tipo de racionalidade, uma razo prtica, delibera-
tiva, calculativa, responsvel no pela produo do conhecimento (como o da Metafsica ou
21
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
das Matemticas), mas por calcular, na contingncia do mundo, qual a melhor ao dentre as
aes possveis, responsvel por calcular quais aes devem ser executadas para se atingir um
determinado fm.
Pensar em como agir de um determinado modo para atingir um fm prprio tica aristo-
tlica, a qual teleolgica, fnalista, ou seja, nela o agente moral age em funo de fns e jamais
aleatoriamente. J na abertura da EN Aristteles sustenta que toda ao e toda escolha visam
um certo fm. Esse fm, como afrma o Estagirita a seguir, um bem. Esse fm, esse bem,
aquilo que o agente moral busca ao agir. Para Aristteles, todos buscam o bem para si, a felici-
dade. Todas as aes do agente moral visam a promoo da maior quantidade de bem-estar do
agente. Essa felicidade buscada no se confunde com o uso que fazemos de felicidade quando
dizemos que estamos felizes porque conseguimos rever alguma pessoa de quem gostamos e
que no vamos h muito tempo, ou quando alguma outra coisa boa acontece conosco.
A felicidade, em Aristteles, algo que se consegue com uma vida toda, com uma vida vir-
tuosa. A felicidade, portanto, no obra do acaso, mas pode ser alcanada com um bom clculo
das aes a serem realizadas. Em rpidas palavras, a tica aristotlica tem como fm possibilitar
a cada agente moral a felicidade, a qual alcanvel mediante uma vida virtuosa. Nesse sen-
tido, a busca pelas aes virtuosas se faz necessria. Aristteles se volta, ento, para saber quais
aes poderiam ser tomadas como virtuosas e, mais do que isso, como o agente moral pode agir
virtuosamente, no fcando sujeito ao acaso ou aos seus impulsos que no conduziriam a aes
virtuosas, portanto a uma vida virtuosa, condio necessria para uma vida feliz.
Se, como visto, a razo prtica, calculativa, apresenta-se como condio necessria para a
ao moralmente boa, ela se apresenta necessria para se detectar qual ao atende a um justo-
meio, fazendo com que a ao seja virtuosa (tornando a nossa vida no entregue ao acaso),
por outro lado, a razo, por si s, no capaz de engendrar aes. Por mais que a razo seja
habilidosa no clculo de qual ao executar, esta jamais executada se no for motivada por
um desejo. Nesse sentido, o desejo se converte em mvel das aes. Em Aristteles, as aes
podem ser motivadas repentinamente, sem clculo prvio, apenas atendendo a impulsos. Mas
tais aes seriam, de certo modo, similares s aes dos animais racionais: elas no teriam a
razo prtica como guia, difcilmente conduzindo o agente (se ele agisse sempre por impulso)
a uma vida virtuosa, feliz.
22
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
A razo prtica e os desejos so necessrios para as boas aes que podero conduzir vida
feliz. A escolha, em Aristteles, consiste justamente na operao conjunta entre razo prtica
e desejo, com a razo prtica, de certo modo, orientando o desejo, e este, principiando a ao.
Como visto, a possibilidade de responsabilizar algum pelas suas aes (instaurando o universo
tico) s se d quando h, para o agente, a capacidade de escolher como agir, ante a possibili-
dade de duas ou mais aes. A possibilidade de operao conjunta entre razo prtica e desejo,
portanto, assegura o domnio tico, em Aristteles. Grande parte do esforo do Estagirita
passa a ser, ento, o de estudar como ambas as faculdades operam no engendramento de uma
ao.
Aristteles no aceita a sugesto apresentada nos dilogos de Plato segundo a qual s age
mal quem desconhece como agir bem, como se o conhecimento acerca do bem levasse neces-
sariamente prtica das boas aes. No modelo aristotlico, ainda que a razo prtica possa
orientar os desejos do agente moral, ela no senhora dos desejos. Aristteles atribui aos de-
sejos humanos a possibilidade de no atender ao que determina a razo. Em sua viso, o con-
hecimento acerca do bem, da virtude, de como algum deve agir em determinado momento
no assegura a ao segundo tal conhecimento. possvel o agente saber com certo grau de
preciso o que deve fazer para agir bem e, ainda assim, ter o impulso de agir contrariando o que
prescreve a razo. O saber como agir bem pela razo no confere necessariamente a capacidade
de controle dos impulsos do agente moral.
Para que o agente moral consiga controlar e bem direcionar os seus impulsos segundo o
que prescreve uma razo prtica bem cultivada preciso um longo processo educativo atravs
do hbito (ethos). O termo tica derivado de ethos (hbito). No modelo aristotlico, o
processo educativo atravs do hbito assume papel de extrema relevncia. atravs do hbito
que uma certa disposio (talvez um termo moderno prximo do que Aristteles entende por
disposio hexis seja carter) vai sendo formada. Se o agente moral adquire o hbito (por
exemplo, agir moralmente bem), na medida em que as aes vo se repetindo, vo se tornando
habituais e a disposio para agir segundo esse tipo de aes vai se solidifcando. Um agente
que vai gradativamente sendo educado a no jogar papel no cho vai, gradativamente, solidi-
fcando a sua disposio (que vai se convertendo em hbito) para no jogar papel no cho. Na
medida em que a sua disposio para no jogar papel no cho vai se solidifcando, tal agente
ter cada vez mais o desejo de no jogar o papel no cho. Como o desejo o mvel da ao, o
23
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
agente tendo o desejo de no jogar papel no cho e a sua razo orientando-o a no faz-lo, a
calcular o que necessrio para no jogar o papel no cho, de se esperar que o agente acabe
por adquirir o hbito de no jog-lo.
O processo educativo tico, em Aristteles, no dever ser feito (como parece ser sugerido
em certa medida nos dilogos de Plato) exclusivamente pela instruo da razo. Em Aris-
tteles, no sufciente instruir a razo calculativa do agente, pois, se ele tiver o desejo de agir
de certo modo e a razo o orienta a agir de modo contrrio, dependendo da disposio que o
agente tiver ele atender inclinao do desejo e no seguir a orientao da razo. A educa-
o tica aristotlica, ento, pressupe a educao da disposio do agente, educao essa que,
quando moralmente boa, possibilita o desejo do agente de se inclinar normalmente para as
boas aes, possibilitando ao agente uma vida virtuosa, criando a possibilidade de ele viver fe-
liz, felicidade essa que o que visa a tica aristotlica. Nesse sentido, a educao da disposio
do agente torna-se condio necessria para que ele consiga atingir o seu fm do ponto de vista
tico. Tambm quanto educao voltada para a formao de uma boa disposio o modelo
tico aristotlico difere do modelo platnico e de outros modelos ticos.
Bibliograa tema 2
ALLAN, D. J. A flosofa de Aristteles. Lisboa: Presena, 1970.
BARNES, Jonathan. Aristteles, idias e letras. Aparecida-SP, 2009.
BRAGUE, Remi. Introduo ao mundo grego: estudos de histria da flosofa. So Paulo:
Loyola, 2007.
BRUNSCHWIG, Jacques. Estudos e exerccios de flosofa grega. So Paulo: Loyola,
2009.
FINLEY, Moses I. O legado da Grcia: uma nova avaliao. Braslia: Ed. UNB, 1981.
HADOT, Pierre. O que a flosofa antiga? So Paulo: Loyola, 2004.
KRAUT, R. (Org.). Aristteles: a tica a Nicmaco, Porto Alegre: Artmed, 2006.
LEAR, Jonathan. Aristteles: o desejo de entender. So Paulo: Discurso Editorial, 2006.
24
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 2
fcha sumrio bibliografa
NUSSBAUM, Martha C. A fragilidade da bondade: fortuna e tica na tragdia e na flo-
sofa grega. So Paulo: Martins Fontes, 2009.
ROBINSON, T. M. As origens da alma: os gregos e o conceito de alma de Homero a
Aristteles. So Paulo: Annablume, 2010.
ROSS, David. Aristteles. Lisboa: Dom Quixote, 1987.
VZQUEZ, A. S. tica. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2008.
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Difel, 2009.
ZINGANO, Marco. Estudos de tica antiga. So Paulo: Discurso Editorial, 2007.
25
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
3. Sobre a Conduta Moral Parte I
Preliminares
A moral tem a ver com as idias de bem e de mal, mas no no sentido amplo em que tudo
o que desejvel (por exemplo, a sade) um bem, e tudo o que indesejvel (por exemplo, a
doena) um mal. Trata-se, antes, de um sentido bem mais restrito, em que o bem vem a ser o
benefcio que proporcionamos s outras pessoas (crianas, jovens ou adultos), ao agir por fora
de obrigaes, de deveres, que reconhecemos ter para com elas, e o mal vem a ser malefcio que
causamos a elas ao descumprirmos essas obrigaes.
Freqentemente falamos em tica como um sinnimo de moral. nesse sentido que se fala,
por exemplo, em tica na poltica, em comisso de tica etc. Assim, quando dizemos que a
conduta de um poltico, de um profssional, foi antitica, queremos com isso dizer que ela foi
contrria moral, que ela foi moralmente errada. Usarei aqui esses dois termos como sinni-
mos um do outro.
26
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
Observemos que h uma estreita e importante relao entre moral e direito. De fato, as leis
jurdicas, sobretudo no campo do direito penal que o que lida com o crime procuram
exprimir aquilo que a sociedade ou os legisladores julgam que moralmente correto; nesse
terreno, portanto, podemos dizer que uma proibio legal (por exemplo, aquela que incide
sobre o homicdio ou sobre o estupro) exprime uma proibio, que aquela de no matar, no
estuprar. Mas a despeito dessa relao estreita, moral e direito so coisas diferentes, e impor-
tante que se tenha presente essa diferena, pois muitas coisas que esto dentro da moral esto
fora do direito. Se algum trai a confana de um amigo de um modo chocante e injustifcado,
ns diremos que ele fez algo tica ou moralmente errado. Mas, ningum de ns vai dizer que
a conduta foi ilegal, isto , contra a lei. Assim como nesse exemplo, h muitas outras condutas
que so reguladas pela moral e que no so objetos do direito. Podemos dizer que, ao contrrio
das obrigaes e normas legais, que so inscritas formalmente no corpo da lei, as obrigaes e
normas morais so inscritas informalmente no tecido de nossas relaes sociais.
Assim, a moral inseparvel da vida social. Por que isso? As pessoas que so, direta ou in-
diretamente, afetadas por nossos comportamentos podero ser prejudicadas por alguns desses
comportamentos. Se voc sempre busca a satisfao de seus interesses individuais, sem levar
em considerao as adversidades ou prejuzos que essa sua busca infige nas outras pessoas com
as quais voc se relaciona, seja no crculo familiar seja no profssional seja em qualquer outro,
voc estar agindo de um modo eticamente errado para com elas. Portanto, necessrio traar
uma linha que separe os interesses individuais, que todos podemos buscar, daqueles que so
proibidos. Esta linha existe, e no pode deixar de existir, na vida social, embora no seja sempre
fcil dizer por onde ela passa exatamente. Por outro lado, se imaginarmos um mundo ir-
real em que voc no se relacionasse, nem direta nem indiretamente, com nenhuma pessoa,
ento voc no seria capaz de praticar nem o mal nem o bem; a distino entre o bem e o mal
morais no existiria, o que mostra que a moralidade pressupe a existncia de relaes entre
as pessoas.
Outro fato notvel a respeito da moral sua universalidade. Ou seja, ele faz parte de qual-
quer tipo de sociedade humana, e no h nenhuma pessoa que pretenda estar fora de sua juris-
dio. Queremos com isso dizer que, por mais que haja divergncia entre as pessoas a respeito
do que moralmente certo e do que moralmente errado, ningum pretende estar fora ou
acima do bem e do mal. Mas mesmo nas faces criminosas, no mundo do crime organizado,
27
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
no universo de uma grande penitenciria, os criminosos ou sentenciados tm suas normas
prprias do certo e do errado, bem como medidas de punio previstas para a transgresso
dessas normas.
3.1 A Dimenso Moral
Os indivduos mantm uns com os outros, e com grupos e instituies, vrios tipos de rela-
cionamento. Um desses tipos aquele formado pelo que chamamos de relaes morais. O con-
junto dessas relaes morais numa sociedade constitui aquilo que vamos chamar de dimenso
moral da vida social. Para chegar a uma compreenso da dimenso moral da vida social, vamos
tratar de entender o que h de prprio no tecido das relaes morais que ligam as pessoas umas
com as outras.
Perguntemos-nos, ento: que relaes so essas, exatamente? Para responder, esclarecedor
pensar como elas diferem de outros tipos de relaes, as no-morais. Como exemplos de rela-
es no-morais, pensemos na amizade, na descendncia, e na maternidade. Dizemos que ser-
amigo-de uma relao social, j que envolve mais do que uma pessoa e se desenvolve durante
nossa vida; por outro lado, ser-descendente-de uma relao biolgica, e no social. Por ltimo,
ser-me-de no apenas no sentido de ter dado luz, mas tambm de cuidar do flho
uma relao ao mesmo tempo biolgica e social.
Pois bem. Nenhuma dessas trs relaes intrinsecamente uma relao moral (embora a
primeira e a ltima se relacionem com a moral): no faz parte da defnio mais essencial delas
um compromisso mtuo de obrigaes que o rompimento leve a acusaes ou a condenaes.
E quanto s relaes morais, qual seria sua marca distintiva? Podemos caracteriz-la do se-
guinte modo. Vamos pensar numa certa rea da vida social, aquela defnida pelo entrelaamen-
to e combinao: (1) das exigncias morais que as pessoas fazem umas s outras, por exemplo,
a exigncia de respeito, de considerao, de ser tratado como pessoa e no como objeto etc.,
(2) das expectativas morais, isto , as expectativas de que as outras pessoas cumpram aquelas
exigncias, ou seja, nos respeitem, nos tratem com considerao etc, (3) dos sentimentos morais,
como os sentimentos de gratido, de ressentimento, de indignao, de culpa, de auto-respeito
etc., que brotam em ns como conseqncia das expectativas a serem cumpridas ou descump-
ridas, e (4) das atitudes morais nas quais aqueles sentimentos se manifestam, por exemplo, ati-
28
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
tudes de culpar, condenar, louvar, bem como algumas reaes de agresso. Vou utilizar o termo
conduta moral para designar o entrelaamento desses quatro elementos.
De fato, as pessoas vivendo em sociedade tm a expectativa de serem tratadas pelas outras
de um modo eticamente adequado, portanto com respeito, justia, dignidade. fcil ver que
essas expectativas provm das exigncias morais que regulam nossa vida social e que so funda-
mentais. Quando uma expectativa nossa frustrada isto , quando a outra pessoa no agiu
do modo eticamente adequado ou esperado ento a exigncia moral foi descumprida pela
outra pessoa. E, por se tratar de uma exigncia, e no de um favor, sentimo-nos no direito de
reclamar, de cobrar da outra pessoa, de conden-la, ou de exigir desculpas ou reparao, isto ,
de adotar alguma atitude moral punitiva contra ela.
As atitudes de condenao e punio so elementos centrais de nossa vida moral. O fato
que todos ns, sem exceo, sentimo-nos no direito de pronunciar condenaes morais contra
os outros. Uma questo fundamental da flosofa moral , ento, a seguinte: em que que se
fundamenta esse direito? O que autoriza uma pessoa a condenar outra? No vale responder,
apenas: o fato de essa ter cometido um mal contra a primeira, pois nossa pergunta mais
geral e mais fundamental: o que justifca que eu infija uma punio moral sobre uma pessoa
que fez um mal para mim? Bem, uma resposta que parece satisfatria, e que tem sido dada
por vrios flsofos, : eu tenho esse direito, porque se essa pessoa tivesse feito isso comigo, eu
reconheceria nela o direito de me condenar, de me punir, e aceitaria essa condenao como
merecida. Tudo se passa, ento, como se existisse um combinado, um acordo, um contrato,
entre essa pessoa e mim, estabelecendo que determinadas condutas de um em relao ao outro
fcam proibidas; condutas que nem eu nem ela podemos praticar, sob pena de sofrermos as
conseqncias desagradveis de sermos condenados, punidos, hostilizados.
Vemos, desse modo, que as idias de proibio, de direito, de dever, de condenao, de punio,
so centrais na tica, na moral.
Uma idia determinante do tratamento que estamos defendendo a de que a estrutura
em questo a realidade bsica que devemos primeiro estudar. Dentro da rea extralegal da
aprovao e desaprovao morais, a anlise flosfca do discurso moral isto , aquela que
esmia o conceito de liberdade, responsabilidade viria em segundo lugar; as atitudes verbais
e no verbais so o que importa inicialmente. Os atos individuais e particulares de culpar, de
29
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
condenar, de exprimir raiva, gratido, aprovao etc. so a realidade bsica com a qual comear.
Eles so um objeto mais seguro para o incio da investigao, porque eles ocorrem diante de
nossos olhos, nas relaes sociais, publicamente observveis, do cotidiano.
Com respeito proibio, levantemos agora a seguinte questo: por que tem de ser assim?
Por que a proibio , ou tem de ser, central na moral? Ser que no poderamos ter uma tica,
uma moral, sem proibies?
No, infelizmente no possvel. Com efeito, toda conduta vista como moralmente errada
aparece sempre na forma de uma conduta proibida; vejamos por qu: parte integrante da
conduta proibida ser objeto de ameaa de punio; no h sentido em proibir algo sem associar
uma ameaa de punio prtica desse algo. Mas, vamos pensar aqui no apenas na punio
legal e institucionalizada, mas tambm nas condutas punitivas adotadas nas relaes interpes-
soais, seja nas dos pais com os flhos, seja nas de adultos entre si. Exemplos dessas condutas
so: pr de castigo, fcar bravo com a pessoa, romper relaes com ela, espalhar que ela um
mau carter que fez uma coisa horrvel para voc, desacreditar publicamente a pessoa, agredi-
la fsicamente dando agresso o sentido de revide contra o mal praticado por ela, participar
do linchamento do perpetrador de um crime particularmente hediondo e revoltante, como o
estupro/assassinato, etc. Todas essas condutas tm em comum o fato de infigir uma situao
desagradvel, adversa, sobre o praticante da ao moralmente incorreta. Elas podem ser con-
sideradas como punies morais, em analogia com a idia de punio no mbito legal.
Bem, mas a seguinte pergunta ainda no foi respondida: por que tem de haver proibio? E
com ela a ameaa de punio? Pelo seguinte: todos ns precisamos que a conduta moralmente
incorreta seja proibida, isto , necessitamos da ameaa de punio, ainda que dirigida poten-
cialmente contra ns, para que no incorramos na conduta errada. E, mesmo quando nenhuma
punio alheia arme seu bote contra uma possvel conduta incorreta nossa, ainda assim dever
estar presente a punio infigvel em ns por ns mesmos, na forma do sentimento de culpa (ou
conscincia pesada). Ou seja, precisamos da ameaa de punio para no agirmos de modo
errado.
Mas, voc pode continuar insistindo: e por que as coisas so assim? O que faz com que seja
verdade que precisemos dessa ameaa para agir corretamente? E esta uma pergunta muito
boa, cujo exame vai nos levar mais fundo na compreenso da tica. Uma resposta (ainda que
30
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
parcial) para essa pergunta a seguinte: aquilo que chamamos de eticamente errado nunca
algo a que somos indiferentes. Muito pelo contrrio, sempre algo que, em si mesmo, bom,
no moralmente bom, claro, mas bom no sentido de ser ou vantajoso ou lucrativo ou gostoso
ou atraente ou sedutor etc. Em outras palavras, aquilo que chamamos de mal moral sempre, e
como que por natureza, feito de tentaes. Assim sendo, o refrear-se e no fazer a coisa errada
constitui sempre uma frustrao de desejos, uma renncia ao tentador, ao atraente, e , portanto,
sempre em parte desagradvel. Dito de outra forma, a prtica do mal dessa coisa que nos
proibimos e censuramos nos outros intrinsecamente ou atraente ou gostosa ou excitante
ou estimulante ou colorida ou rendosa ou vantajosa; isto e, em si mesma boa, nesse sentido
amplo da palavra boa. Na verdade, se o que consideramos mal moral no tivesse nenhuma
dessas qualidades desejveis, no seria necessrio termos normas ou mandamentos que di-
gam No faa isso, no faa aquilo, j que, em se tratando de algo sem nenhuma qualidade
desejvel, ningum iria querer faz-lo. Qualquer viso moral prudente, que no se limite a
de declaraes de princpios e exortaes de normas de conduta, e que ambicione ser de fato
posta em prtica para promover efcazmente o bem comum, tem de comear por reconhecer
a verdade da proposio acima. E isso tanto melhor, pois quanto mais conhecemos os ardis
do inimigo, tanto mais podemos nos proteger dele. E o inimigo neste caso no est fora de
ns, mas sim em ns, na nossa capacidade de desejarmos as coisas, de nos sentirmos atrados
por pessoas e coisas, em nossa sujeio s tentaes de buscar essas pessoas e coisas atraentes.
3.2 Contrato e Conduta Moral
As situaes em que as pessoas exigem determinadas coisas uma das outras so, caracteristi-
camente, aquelas em que se pode dizer que um acordo recproco foi previamente estabelecido,
ainda que de modo implcito. Um acordo, ou, para empregar o termo mais apropriado, um
contrato recproco. Podemos talvez interpretar as exigncias morais como algo que insti-
tudo tendo-se como pano de fundo um contrato, tcito ou expresso, um contrato que diremos
moral. Exigncias fazem sentido somente dentro da vigncia de um contrato, e as ofensas
morais seriam ento descritas como comportamentos que constituem um rompimento, uma
violao, das condies postas por um certo tipo de contrato. A violao de condies contrata-
das, por sua vez, seria ento vista como algo que pode fazer nascer, naturalmente, sentimentos
hostis para com o ofensor e que, alm do mais, justifca a expresso desses sentimentos nos
31
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
vrios tipos de atitudes de punir. Embora este seja um esboo muito incompleto de uma linha
de explicao das atitudes morais, ele parece sufciente como sugesto de uma possibilidade de
se construir uma teoria da responsabilidade e punio morais no quadro de uma refexo sobre
os sentimentos morais. Como se sabe, o contratualismo em tica tem uma linha respeitvel de
proponentes na flosofa moderna, a qual inclui John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Imman-
uel Kant, entre outros, e tambm na cena contempornea, sendo que o norte-americano John
Rawls o mais eminente nome dos anos 1970 at a atualidade. Em conseqncia disso, existe
uma literatura substancial de inspirao contratualista a que se pode recorrer com o fm de se
construir uma teoria correspondente dos fundamentos da conduta moral. H uma afrmao
de Peter Strawson, flsofo ingls contemporneo, na qual, esclarecedoramente, ele identifca
a feitura da exigncia moral com a disposio para adotar as atitudes morais. Seu pensamento
pode ser interpretado como contendo a sugesto de uma explicao de tipo contratualista dos
sentimentos e atitudes morais e pode, desse modo, ser relacionado com a tradio flosfca
referida acima.
A dimenso da expresso dos sentimentos de ressentimento, gratido, etc. , de fato, central
para a natureza social do homem e ela o a tal ponto que ns parecemos at mesmo carecer
do poder de optar entre reter ou abandonar esta dimenso.
Quando atribumos a algum um desses sentimentos, ns o fazemos sempre com base
em alguma atitude que a pessoa tem de manifestar o sentimento em questo. Na ordem do
conhecimento da conduta moral, portanto, o que se apresenta em primeiro lugar aos olhos do
observador so as atitudes. Alm do mais, elas so algo que tem a natureza de ocorrncias que
podem ser vistas por um observador. Elas so, mais ainda, publicamente observveis, isto , a
respeito delas possvel ter-se, sem grande difculdade, um acordo intersubjetivo, por parte de
diferentes observadores, a respeito da ocorrncia delas, da relativa intensidade dos sentimentos
que elas servem para exprimir, e dos efeitos que elas produzem nas outras pessoas. Isto tudo
faz, portanto, com que elas constituam um adequado ponto de partida epistemolgico; uma
teoria da conduta moral deve, consequentemente, tomar a forma inicial de um estudo das
atitudes morais.
Disse mais atrs que a questo de por que adotamos as atitudes morais nos casos em que o
fazemos, uma questo central da teoria dos sentimentos morais. Essas atitudes, quando so
32
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
de hostilidade, so, de fato, como ensina Peter Strawson, os correlatos das exigncias morais
nos casos em que se sente que estas ltimas foram descumpridas. Entendo que o insight con-
tido nesta sugesto muito precioso e ele convida o estudioso a dar um passo adiante, o qual
no dado por Strawson, que consiste em tentar saber qual a natureza exata dessas exigncias
e quais so os elementos isto , crenas, emoes, expectativas que esto centralmente
envolvidos nelas, ou subjacentes a elas.
Uma das razes do contraste entre no manifestarmos, por exemplo, indignao para com
pessoas mentalmente perturbadas e manifestarmo-las para com pessoas normais reside no fato
de que no primeiro caso ns no fazemos porque no teria sentido faz-las as exign-
cias de considerao, de boa-vontade, etc., que fazemos no segundo caso. Portanto, podemos,
num primeiro momento, convenientemente pensar essas exigncias ou, mais exatamente, a
dimenso da exigncia de considerao como sendo a fonte ou, se se prefere, como sendo
uma condio necessria que precisa existir previamente para que os sentimentos emerjam e
as relaes tenham lugar. Inspecionemos, ento, aquilo que est envolvido nesta exigncia de
considerao, em particular as crenas que estariam envolvidas a. Esto certamente presentes:
A crena de que razovel e plenamente justifcado entender, como princpio
geral, que toda e qualquer pessoa vivendo em sociedade tenha o direito consid-
erao, ao respeito, boa-vontade, por parte das outras.
A crena de que o agente que justifcadamente objeto, por exemplo, do culpar
ou da condenao perfeitamente capaz de enxergar que a crena enunciada no
item (a) aceitvel, e que a ao pela qual ele est sendo culpado uma instncia
de violao do direito referido acima.
A crena, partilhada por todos, inclusive pelo ofensor, de que este capaz de al-
terar sua conduta em ocasies futuras do mesmo tipo; noutras palavras, a crena
de que nossas reais atitudes de culpar ou condenar, nas quais nossos sentimentos
de ressentimento, de indignao, de raiva, etc., so exprimidos, podem afetar o
comportamento futuro do ofensor.
Tentemos enxergar um pouco mais fundo nessa rea das exigncias morais. Uma questo
33
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
bsica que inevitvel levantar-se a respeito delas a seguinte: quais seriam as condies
que do nascimento a essas exigncias ou que as fundam?Parece que a legitimidade de uma
exigncia, quando ela existe, provm toda ela da legitimidade de um direito previamente es-
tabelecido: s posso validamente exigir X se tenho direito a X. Com isso, somos remetidos
questo seguinte: quais so os elementos necessrios, e em seu conjunto sufcientes, para que
um direito se qualifque, do ponto de vista moral, como um direito legtimo? A contrapartida
do direito , naturalmente, a obrigao ou o dever: se tenho direito a X, as outras pessoas tm
o dever de respeitar esse direito meu a X. na rea jurdica, naturalmente, que vamos encon-
trar, e em abundncia, o discurso dos direitos e deveres, e a eles so institudos por meio do
contrato jurdico. Este, por sua vez, uma forma particular de uso da linguagem. Os usos da
linguagem foram penetrantemente estudados, entre outros, pelo flsofo ingls John L. Aus-
tin (principalmente nos anos 50), e sua intuio a respeito do que ele chamou de sentena
performativa interessante lembrar aqui. O uso performativo da linguagem aquele que se
caracteriza pelo seguinte fato: a emisso da elocuo performativa (a qual tem a aparncia de
uma sentena descritiva, como, por exemplo, X tem direitos) , na verdade, a execuo da
ao, ou a produo do estado de coisas, que a sentena em questo aparentemente descreve.
Com efeito, X tem direito a Y, por exemplo, no uso performativo, uma elocuo com a qual
o falante produz o estado de coisas de X ter, ou passar a ter, direito a Y. Ou seja, esta elocuo
(emitida por algum investido da necessria autoridade) instaura nascer o direito em questo.
Pois bem. Passando do domnio jurdico para o domnio exclusivamente moral, podemos dizer
que o discurso moral ou melhor, uma parte dele, que aquela que geraria e fundaria enti-
dades e relaes morais cria direitos e deveres morais onde antes no havia nem uns nem
outros. Permanecendo na analogia com a lei, na qual direitos e deveres fazem sentido dentro
de um contrato, diremos que o fundamento, ou parte do fundamento, da exigncia moral um
prvio contrato (de natureza) moral, que cria direitos e deveres morais.
Tendo chegado a esse ponto, temos de admitir que, com esta sugesto, no apenas re-
solvemos muito pouco, mais ainda criamos para ns mesmos vrios problemas. Com efeito, a
Histria da flosofa no deixa dvidas de que, indo por esses caminhos, estamos pisando num
terreno cheio de controvrsia. Para cada nova tentativa de propor alguma verso original do
contratualismo, por exemplo a relativamente recente tentativa de John Rawls em Uma Teoria
da Justia [A Teory of Justice], de 1971, segue-se uma teoria que confita e polemiza com ela,
por exemplo a viso de Robert Nozick em Anarchy, State and Utopia [Anarquia, Estado e Uto-
34
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
pia], de 1974, que se encarrega de manter considervel o grau de divergncia entre os critrios
luz dos quais se h de especifcar as clusulas bsicas desse contrato. Um outro problema
uma possvel objeo que se pode fazer contra a procedncia da analogia com a situao ju-
rdica: nesta ltima o contrato to concreto e fatual quanto um trecho de discurso, enquanto
que na situao moral no h, do ponto de vista fatual ou histrico, contrato algum; nem
possvel escrev-lo a partir dos costumes praticados numa comunidade no que respeita ao re-
lacionamento entre as pessoas, j que eles so muitas vezes inconsistentes uns com os outros;
de modo que caberia perguntar que espcie de entidade esse suposto contrato moral. Um
dos elementos que validam o contrato jurdico o assentimento das partes contratantes, mani-
festado expressamente por escrito, e registrado em cartrio; ora, onde encontrar assentimento
dos membros da comunidade a um contrato moral, admitindo que este possa ser satisfatoria-
mente redigido?
Seja como for, pode-se dar como virtualmente certo que aquilo que d nascimento, e funda,
a exigncia moral uma condio de natureza prtica portanto, vinculada organizao da
conduta individual e social e no de natureza terico-cognitiva. De fato, esteja ou no a or-
ganizao em pauta espelhada, em suas linhas mais gerais e bsicas, numa espcie de contrato
moral, o certo que ela vai incluir, no essencial, estipulaes que visam, entre outras coisas,
garantir a prevalncia de um certo nmero de condies, algumas das quais bvias, como a
sobrevivncia da espcie e a existncia de um mnimo de harmonia social que exclua um estado
de beligerncia generalizado e crnico, e outras que visam a fazer funcionar a sociedade. Ou
seja, o que essencial aqui pode ser descrito mediante o uso de categorias prticas, como fns
a serem atingidos e estado-de-coisas sociais que se quer implantar.
As consideraes acima pertencem ao grupo das questes mais gerais que teriam que ser
estudadas por uma teoria mais acabada da conduta moral. H, por outro lado, um grupo de
questes mais particulares, as quais seria tambm necessrio tentar responder. Limito-me,
aqui, apenas a apont-las. Como j foi dito mais atrs, a expresso das atitudes est sujeita a
um grau considervel de variao de indivduo para indivduo. Estas variaes dependem de
diversos fatores, um dos quais diz respeito ao temperamento e ao carter individual da pessoa
que faz a avaliao moral de uma conduta, e um outro envolve a natureza da relao dele com
o agente cuja conduta objeto da avaliao. Sabemos que o grau em que algum est disposto,
por exemplo, a desculpar as pessoas depende, em muitos casos, de condies extra-morais como
35
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
amizade, afeio, simpatia, admirao. Nesses casos, seria falso dizer que esse algum sabe que
o agente responsvel pelo mal, que ele merece ser culpado e punido, mas no obstante isso
deixa, por causa de sua afeio etc., de responsabiliz-lo. As coisas devem se passar antes, do
seguinte modo: por fora da afeio, esse algum no v o agente como uma pessoa que estava
(plenamente) consciente daquilo que estava fazendo, ou das conseqncias possveis de sua
ao. Por que razo as pessoas procedem assim em alguns casos e fazem o oposto em outros,
e por que os indivduos apresentam tal variao entre si na adoo das atitudes morais, so
questes que devem ser respondidas at onde podemos respond-las para que se tenha
uma compreenso mais aprofundada e mais abrangente da conduta moral.
3.3 A natureza do culpar e do desculpar
A relao entre culpa e responsabilidade habitualmente pensada nos seguintes termos:
culpar algum por alguma coisa implica em entender que esse algum responsvel por algo
que ocorreu ou que deixou de ocorrer; portanto, por uma situao situada no passado. Mas
parece que este entendimento est longe de esgotar as relaes interessantes entre culpar e
atribuir responsabilidade.
Com efeito, razovel supor-se que o ato de culpar, no domnio moral, um tipo de ao
praticada em conformidade com um impulso para trazer alguma alterao num certo estado
de coisas global, e isso por meio de uma modifcao do comportamento de outrem, ou por
meio de uma modifcao da condio mental do prprio agente. (Isto est relacionado com,
mas no idntico a, a dupla desejabilidade referida acima). Se assim , ento o culpar deve
ser visto como um aspecto da conduta moral que est em boa parte intrinsecamente voltado
para o futuro.
Por outro lado, de se presumir que uma pessoa se sinta culpada na medida em que ela se
pensa responsvel pela provocao ou prevalncia de um certo estado de coisas, e nessa medida
o sentimento de culpa diz respeito ao passado. Mas aqui tambm h razo para se entender
que esse sentimento est tambm muito relacionado com o futuro: a pessoa se sente, ou con-
tinua a se sentir, culpada a menos que ela tome iniciativas no sentido da reparao (futura) do
mal praticado. Sentir-se culpado distinto de lamentar. Este ltimo tambm se relaciona com
aes passadas, e pode estar ou no associado com a culpa. Nos casos em que ele est, ento
36
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
o agente lamenta a ao praticada e, se ainda h tempo de reparar o mal, ento ele se sentir
(futuro) culpado se no fzer nada na direo da reparao. V-se, desse modo, que o senti-
mento de culpa, ao mesmo tempo em que incide sobre uma ao passada, alimentado por
uma condio voltada para o futuro.
Portanto, somos inclinados a pensar que culpar , entre outras coisas, atribuir responsabili-
dade por aes futuras, ou pelas conseqncias de aes futuras do objeto dessa atitude, e que,
em conformidade com isso, a famosa condio agir-diferentemente-do-que-se-age, que
vista como central para a ao humana livre voltada-para-o-futuro.
Considere-se, ainda, a lgica da fala: Desculpe!. Ela tem o objetivo de comunicar que
a ao ofensiva foi, por exemplo, no-intencional, ou no-consciente, ou que se lamenta t-la
praticado, etc. A proferio , sobretudo, isso: um meio de fazer a outra pessoa saber da no-
intencionalidade etc., da ao, e isso com vistas a prevenir interpretaes errneas, presentes
ou futuras, e/ou reaes hostis futuras contra o agente. Esta fala tem, verdade, um contedo
assertivo isto , um contedo que ser verdadeiro ou falso que ostensivamente incide sobre
o passado (por exemplo: A ao praticada no foi intencional, o que ser verdadeiro ou falso),
mas a razo de ser dela aquilo que a motiva uma preocupao com o presente e com o
futuro, preocupao essa que exprimida pelo contedo diretivo da elocuo: Desculpe!. O
contedo diretivo aquele que visa, no a dizer a verdade, mas a infuenciar o comportamento
do ouvinte.
Portanto, e resumindo, a pessoa que culpa consegue o que ela quer to logo ela solicitada
a desculpar e/ou tem o prejuzo reparado e/ou retalia e/ou vingado etc. E estas condies se
referem ao presente e ao futuro. O pedido de desculpas do ofensor, e seu reconhecimento de
que a queixa de outra pessoa justa, importante para que o acusador se d por satisfeito, e
isto envolve a avaliao presente de uma ao passada como errada ou injusta.
Por outro lado, a ameaa de punio, legal ou moral, e obviamente, por sua prpria natureza,
dirigida para o futuro. Sua justifcao decorre, entre outras coisas, de sua efccia em afetar o
comportamento futuro das pessoas. Mas ocorre que a ameaa de punio no nada na aus-
ncia de ocorrncias efetivas de punio em situaes que elas ocorrem; portanto, estas ltimas
precisam existir, se se quer que a ameaa de punio sirva o propsito referido acima. Logo, no
fundamento de muita punio o que vamos encontrar uma condio prospectiva.
37
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 3
fcha sumrio bibliografa
Considere-se, tambm, o escolher, ou o exerccio da faculdade de escolha. Ele tem igual-
mente seu lugar no quadro acima, e, novamente, deve ser visto como sendo dirigido-para-
o-futuro. A efccia da ameaa de punio em impedir as pessoas de fazerem isto ou aquilo
implica que elas tm o poder de escolher, neste ou naquele momento do futuro, entre fazer
isto ou aquilo.
Consideraes anlogas se aplicam ao perdoar. Pense-se no ditado Compreender per-
doar tudo (Comprendre cest tout pardonner), no contexto de uma certa postura flosfca. Se
interpretado num sentido perfeitamente literal, ele constitui uma negao das atitudes morais
em geral. Por isso, no se pode dar a ele essa interpretao; quando agimos em conformidade
com este ditado, supomo-lo reescrito nos seguintes termos: ns compreendemos e perdoa-
mos, mas com a condio que a pessoa objeto da atitude faa, ou escolha fazer, a coisa certa na
prxima vez. Portanto, embora o perdoar incida sobre uma conduta passada, ele dependente
de uma condio prospectiva.
Subjacente tambm conformidade s normas morais prtica de no viol-las
fgura uma condio tambm dirigida-para-o-futuro: o receio de infigimento de punio ou
condenao.
Falando em termos mais gerais, diremos que, no que diz respeito garantia da manuteno
de disposies de considerao, respeito, boa-vontade, etc., deve-se colocar a nfase sobre a
importncia de ter a capacidade de desculpar-se por ter feito X, de reparar o mal, de sentir-se
culpado etc. isto , condies que se referem ao futuro e no sobre a alegao de no se
ter tido a capacidade de evitar a prtica da ao errada X.
Podemos dizer, para concluir, que as coisas se passam como se existisse no culpar, e nas ati-
tudes afns, uma ambigidade inerente entre passado e futuro que essencial a elas para que
elas desempenhem as funes para as quais elas foram desenvolvidas.
38
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
4. Sobre a Conduta Moral Parte II
4.1. Utilidade, retribuio e atitudes morais
Esta seo trata de questes centrais da teoria da justifcao da punio e indica rumos que
parece promissor seguir no enfrentamento delas. Vamos fazer um esforo de compreenso da
dimenso moral da vida social, em particular da teia de sentimentos e atitudes morais referida
mais atrs. Um tema central desta parte ser o da utilidade da manifestao das atitudes mo-
rais. Como se sabe, o conceito de utilidade muito empregado em flosofa moral, e tambm
na discusso dos fundamentos da punio legal. Quero aqui, em vez disso, relacion-lo com
as atitudes morais nelas mesmas, isto , independentemente de penalidades legais que possam
estar associadas a elas.
De um ponto de vista amplo, podemos dizer que h uma dupla desejabilidade na manifesta-
o dos sentimentos morais, em quaisquer das atitudes que nos so familiares.
39
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
Em primeiro lugar, essas atitudes tm freqentemente a conseqncia de afetar e infu-
enciar o comportamento futuro das outras pessoas de modos que so desejveis tanto para
o sujeito que adota a atitude quanto para as outras pessoas envolvidas na relao. No estou
aqui dizendo que ns de fato manifestamos essas atitudes porque elas conduzem a resultados
desejveis. Quaisquer que sejam, exatamente os motivos que nos levam a essa manifestao, o
fato que ela produz resultados desejveis. Pois bem. De que modo se d a infuncia referida
acima? Entre outras coisas, plausvel supor que o grau maior ou menor com que se conde-
nam moralmente pessoas infratoras, que faz com que elas venham a enxergar a magnitude de
sua violao das normas morais, e s vezes, o prprio ato de as terem transgredido. Em outras
palavras, dar vazo revolta, indignao, ao descontentamento, raiva etc., pode ter o efeito
benfco de funcionar como um fator auxiliar para que o ofensor se d conta da gravidade da
ofensa cometida, e s vezes da prpria ocorrncia dela. E, nos casos em que esse efeito bem
sucedido, o ofensor tender a entender e aceitar a condenao moral recebida. Isso signifca
que a gravidade do erro moral (parcialmente) dada pela atitude das outras pessoas para com
o comitente do erro, atitude essa de castig-lo de uma forma ou de outra.Desse modo, pode-se
dizer que a condenao e a punio morais so uma fonte importante de um tipo de autocon-
hecimento, que o conhecimento de nosso prprio comportamento tico ou dos padres de
nosso comportamento. E, com isso, tambm um instrumento importante por meio do qual o
comportamento pode ser melhor compreendido e mudado para melhor. Portanto, o culpar
na forma de uma expresso efetiva e efcaz de sentimentos de indignao, reprovao etc
uma ferramenta importante, e mesmo necessria, do conhecimento e da educao morais. E
isso verdadeiro, independentemente da interpretao mais moralstica ou mais teraputica
que se queira dar a esse culpar. V-se, desse modo, que no que diz respeito utilidade referida
acima no parece haver confito entre a viso teraputica e a viso moralstica ou principial
da adoo de atitudes morais.
A esse respeito bom observar o seguinte. As pessoas freqentemente enveredam pelo
caminho de montar, para si mesmas e/ou para os outros, justifcaes supostamente ticas
para dios ou outras formas de hostilidade que, de fato, tm origens no-morais; isto , que
so geradas no pela violao de normas por parte do indivduo objeto da hostilidade, mas
por fatores meramente psicolgicos integrantes do temperamento, dos interesses, da person-
alidade delas. Trata-se a de casos em que um certo tipo de hostilidade mascarado em outro,
40
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
como acontece quando uma hostilidade gerada por alguma perturbao interior, e no por um
fato exterior, apresentada como uma reao justa provocada por um comportamento alheio
indevido. Ora, o que foi dito acima a respeito da utilidade das atitudes hostis depende, claro,
de a hostilidade ser genuinamente moral, e no mascarada de moralidade.
Em segundo lugar, a expresso das atitudes, e talvez especialmente do culpar e das demais
reaes hostis, tem em muitos casos, ou talvez sempre, uma outra utilidade, que independen-
te da primeira, a saber, a de restaurar sentimentos de auto-respeito e de auto-estima que foram
abalados por fora da violao de normas. E isto est associado ao fato de as vrias formas de
manifestar desaprovao ou hostilidade moral e podemos aqui pens-las como estando
associadas com aquilo que se chama de desabafo moral fazerem com que o sujeito que as
adota se sinta em geral melhor em sua relao consigo mesmo e com o mundo. Pode-se dizer
que a expresso de atitudes hostis, nesses casos, garante a sobrevivncia moral do agente, isto
, sua condio de um ser possuidor de personalidade moral.
Portanto, dar vazo a sentimentos de ressentimento ou indignao e praticar atos de conde-
nao e punio morais, so modos de restaurar certas condies, umas mentais outras com-
portamentais, na ausncia das quais as relaes de cooperao, e boas relaes em geral, seriam
muito difceis ou mesmo impossveis de se estabelecerem, ou de se restabelecerem uma vez
rompidas. Talvez a universalidade que se reconhece existir, na sociedade dos homens, da con-
duta moral e de suas atitudes, possa ser explicada, em parte ao menos, por esta dupla desejabi-
lidade.
O problema da justia da punio e da recompensa, o qual tem sido desde o incio da floso-
fa uma de suas grandes difculdades, muito freqentemente levantado no quadro do debate
sobre liberdade e determinismo. Nesse quadro ele pode ser apresentado do seguinte modo.
Para que a punio seja justa parece pelo menos, pareceu e parece a muitos que neces-
sitamos de uma liberdade anti-determinista. Com efeito, se nossa liberdade fosse totalmente
compatvel com a determinao causal de nossa ao, ento a ao m (e a boa) j estaria
pr-determinada desde sempre, e no seria fruto de nossa livre escolha. Logo, no seria justo
puni-la. Mas ocorre que ningum, desde a Grcia antiga at hoje, conseguiu enunciar inteli-
givelmente o que essa liberdade, e esse fato, por si s, faz com que tenhamos fortes suspeitas
a respeito dessa noo. No entanto, o discurso da justia da punio e da recompensa parece
41
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
fortemente fazer sentido; ele mesmo parte integrante da teia de sentimentos e atitudes mo-
rais. Em nosso trabalho, no vamos enfrentar este problema espinhoso.
Pode-se enunciar do seguinte modo o requisito da justia da punio e, em geral, das atitudes
morais hostis (i.e. aquelas que tendem a resultar no infigimento de condies desagradveis,
como sofrimento, dor etc., pessoa objeto da atitude): a punio, o infigimento a algum de
condies desagradveis, aceitvel e justifcado somente se eles so justos. Poderamos acres-
centar: e eles so justos somente se o agente objeto deles os merece; mas isso no ajuda muito,
uma vez que o merecimento em geral entendido, ou defnido, a partir da prpria noo de
justia, como, por exemplo, nesta formulao: Merecer uma coisa (...) ter agido de tal manei-
ra que a obteno da coisa merecida seja considerada como justa (LALANDE, 1999, p. 665).
A justia um dos grandes e controversos temas da flosofa. Mas precisamos, a esta altura,
ter cuidado em no assumir, sem mais, que necessitamos primeiro de uma teoria, detalhada e
abrangente, que nos fornea uma clarifcao flosfca do conceito de justia, para depois ex-
aminarmos em que condies uma punio justa. Pode ser que seja o caso, mas pode ser que
no. Seja como for, no h como evitar a tarefa de investigar o modo como a idia de justia
estaria inserida no quadro conceitual que constitui o objeto de nosso estudo.
Presumivelmente, a punio justa aquela que infigida nos casos em que uma exigncia
moral descumprida. Logo, precisamos compreender por que o descumprimento daquela
exigncia uma ao injusta, pela qual o agente est sujeito a ser justamente punido. Como
foi observado mais acima, seria aqui importante refetir sobre a questo de quais so as car-
actersticas de uma exigncia que a tornam uma exigncia moral vlida, isto , uma exigncia
que correto as pessoas fazerem uma s outras. Uma dessas caractersticas , naturalmente, ser
ela alicerada numa prvia norma moral cuja validade aceita: uma exigncia seria vlida se
ela decorre de uma norma moral justa; portanto, de uma norma tal que a inobservncia dela
constitusse uma ao injusta.
Com isso, a questo da justia se desloca do item punio para o item norma moral. Mas
no plausvel que cada uma das normas morais, separadamente das outras, seja caracterizvel
como justa (em si mesma). Podemos dizer, ao contrrio, que a justia das atitudes morais hostis
em geral, e da punio em particular, parece residir, grosso modo, na justia de algum sistema de
normas cuja efccia so garantidos pela ameaa de punio, decorrente da possvel violao
42
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
desse sistema. A estrutura ou teia de sentimentos e atitudes morais, de que a punio faz parte,
teria a funo de garantir a observncia das normas morais de um modo semelhante ao que as
penalidades legais objetivam garantir a observncia de um contrato jurdico. Com isso, somos
aqui, mais uma vez, remetidos idia de contrato. Nessa linha de refexo, a justia residiria,
em ltima anlise, num contrato moral, isto , no sistema das diversas clusulas que compo-
riam esse contrato. O contrato moral justo e universalmente aceito como tal, assumindo-se
que ele possa ser redigido, justifcaria o infigimento punitivo de sofrimento. Como assinala-
mos atrs, um tal programa de fundamentao das atitudes morais poderia, portanto, buscar
elementos na flosofa de contratualistas como Tomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Kant,
Rawls e outros.
Mas, num esforo em busca do fundamental, ou do mais fundamental, pode-se perguntar:
por que optar pela idia de contrato, e de contrato justo? No tentarei responder estas per-
guntas, a no ser para sugerir o que segue. Consideremos, mas uma vez, a noo de utilidade,
s que agora pensada como idia fundamentadora (e no, como elemento fatual associado com
as atitudes morais). A utilidade de contratos, jurdicos ou no, manifesta demais para que se
precise dar-se ao trabalho de estabelec-la; e o contrato justo (admitindo-se que ele exista),
ou aquele dotado de maior grau de justia, tem uma utilidade maior que o contrato no-justo,
nisso pelo menos que o primeiro tem mais condies, do que o segundo, de garantir a harmo-
nia e concrdia entre as partes no desempenho das atividades objeto do contrato. Portanto, a
utilidade uma razo de ser do contrato.
Mais atrs falamos do papel das atitudes morais hostis em provocar alteraes desejveis em
condies comportamentais e/ou mentais. Pensemos nestas ltimas. O ressentimento e a dor
provocados por injustia podem dissolver-se com a reparao desta ltima, e a reparao mui-
tas vezes no pode assumir outra forma seno a do infigimento de condies desagradveis ao
agente da injustia. A punio do infrator tem essa utilidade para a vtima da injustia, seja ela
um indivduo, um grupo de pessoas ou a sociedade em geral.
Os direitos institudos no contrato jurdico tm sua contrapartida nos direitos morais dos
indivduos, os quais podem ser respeitados ou violados. Ora, as atitudes hostis podem funcio-
nar, evidentemente, como um modo de proteger direitos morais que estejam sendo violados, e
garantir, para o indivduo, o pleno exerccio deles.
43
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
Por outro lado, o insistir em que o infrator receba o que ele merece, porque assim o exigem
os sentimentos feridos da vtima, faz, como j foi apontado mais atrs, com que a gravidade
do mal feito possa ser melhor percebida isto , melhor conhecida em toda a sua extenso
pelo prprio infrator, e isso til.
Um programa como esse, que combina elementos do contratualismo e do utilitarismo,
em parte animado pelo desejo de evitar a outra grande alternativa, que uma metafsica, as-
sociada ou no teologia, na qual o Bem, o Mal, a Justia etc., tm um carter mais ou menos
transcendental e pouco contato com a histria e com os diversos elementos psicolgicos da
sociedade dos homens. de supor-se que o mal, o bem, a responsabilidade, a liberdade, o
merecimento, a justia, a virtude, a punio, sejam itens integrados numa certa unidade, e, se
assim, no h como desconsiderar algum deles sem enfraquecer o contato com os demais. E
parece que a idia de contrato e de utilidade podem permitir um tratamento menos misterioso
dessa rede de conceitos. Assim, o mal, por exemplo, pode ser concebido como decorrente de
um comportamento de violar um contrato moral positivamente defnido, de forma que prati-
car o mal consiste em violar clusulas desse contrato.
Um tal programa flosfco pode parecer que desqualifca as idias de justia, de virtude etc.,
as quais algumas metafsicas gostariam de ver elevadas a uma posio mais privilegiada. Mas
a fnalidade da vida humana no parece ser a virtude, nem a justia. A vida social humana
inerentemente moral, verdade. Mas a razo por que pregamos, e tentamos praticar, a virtude
e a justia, parece ser, em ltima anlise, uma razo eminentemente prtica que tem muito a
ver com a utilidade. Com efeito, a dimenso da moralidade til na mesma medida em que a
existncia da vida social til. Esta dimenso parte da natureza social humana. Os homens
concebem certas prticas como corretas, justas, virtuosas, e outras como injustas, viciosas, in-
corretas, e no interessa isto , no , em ltima anlise, til para eles renunciar a esta
concepo, e nem isso parece possvel ao indivduo social.
J que, neste ensaio, estamos fazendo uso (explicativo e justifcatrio) da idia de utili-
dade, convm que indiquemos a relao entre este nosso uso e a conhecida escola flosfca
do utilitarismo tico. Esta ltima v a utilidade como sendo o princpio dos valores ticos, ou
como o bem tico supremo. Em que consistiria exatamente a utilidade isto , qual seria
seu contedo um assunto controverso na escola. Por exemplo, para o ingls John Stuart
44
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
Mill (1806-73), que um de seus trs proponentes clssicos [os outros dois so Jeremy Ben-
tham (1748-1832) e Henry Sidgwick (1838-1900), tambm ingleses], a utilidade consiste
no prazer, e o princpio supremo da tica o Princpio da Maior Felicidade, o qual advoga a
maior quantidade de felicidade para o maior nmero de pessoas, a felicidade a consistindo
no prazer e na ausncia de desprazer. Mas, seja qual for seu contedo, a escolha da utilidade
como a idia fundamental dos valores morais e como explicativa do bem e do mal signifca
uma excluso drstica de tradicionais consideraes de natureza deontolgica, kantianas ou
no, isto , daquelas que enfatizam o dever e postulam algum valor intrnseco das aes boas,
consideradas nelas mesmas, e em particular da inteno com que elas so praticadas. O centro
do palco tico passa a ser ocupado pela utilidade que as aes e suas conseqncias tenham.
Pelo menos duas crticas importantes tm sido feitas ao utilitarismo: (1) Ele pecaria por
uma excessiva unilateralidade, que residiria precisamente na excluso de consideraes deon-
tolgicas; (2) No se v como poderia ser includa, na idia de utilidade, a noo de justia,
a qual, no entanto, uma pea essencial do aparato moral. Estas crticas so srias, e seria
ingenuidade aderir ao utilitarismo como se no o fossem. No entanto, o aproveitamento, no
contexto dos problemas que estamos estudando, de um certo tanto de utilitarismo no sig-
nifca, por si s, uma adeso flosofa moral advogada por essa escola. No estamos estudando
aqui a maldade ou bondade das aes, muito menos dizendo que o carter bom ou mal deva
ser medido atravs do grau de utilidade que uma ao e suas conseqncias tm. O que esta-
mos tentando fazer explicar e iluminar a teia formada pelos quatro componentes da conduta
moral referidos acima, ou, se se quiser, a dimenso da disposio para experimentar e manife-
star os sentimentos morais. Portanto, no parece que aquelas objees contra os fundamentos
do utilitarismo tenham peso contra esta particular utilizao que estamos fazendo da noo
de utilidade. O importante flsofo britnico David Hume usou a utilidade como um recurso
explicativo por exemplo, para explicar por que valorizamos certos traos de carter como
virtuosos e desvalorizamos outros como viciosos e no como um princpio normativo, isto
, como um princpio para nos orientar a respeito de quais aes devem ser praticadas, i.e., so
boas. E nem por isso ele visto como utilitarista, embora s vezes seja tido como um precur-
sor dessa tendncia. A utilidade, em provocar condies comportamentais e/ou mentais dese-
jveis, de fato uma das razes prticas para se adotar esta ou aquela atitude moral; portanto,
parace que estamos justifcados em conceder um papel explicativo para ela. Quanto ao uso
45
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
justifcatrio que estamos fazendo, ele no est comprometido com o uso dessa idia como
fundamento da tica.
Mais acima falamos, e mais que uma vez, sobre a satisfao de uma necessidade emocional
da vtima que pode advir do infigimento de punio ao infrator, e estamos tentando reservar
um papel justifcatrio para esta satisfao. Um tal expediente traz mente, muito natural-
mente, a flosofa retributivista da punio. O retributivista sustenta, como princpio geral, que
correto que o ofensor sofra punio. Mas, ao contrrio do utilitarista, que dirige seus olhos
para as conseqncias da ao, ele afrma que a ofensa traz, como que intrinsecamente, por-
tanto independentemente de suas conseqncias, a necessidade da punio. Uma ao viola-
dora da norma provocaria na ordem moral um desequilbrio, o qual seria restabelecido atravs
do infigimento punitivo de sofrimento ao ofensor. A punio seria necessria, at mesmo
para proteger ou salvaguardar a integridade (inteireza) moral do agente ofensor: o crim-
inoso moral necessitaria, por razes que tm a ver com ele prprio como agente moral, sofrer
punio. Hegel defendia uma tal punio. Segundo ele, o criminoso tem direito a ser punido,
para que, deste modo, seja tratado no como uma coisa, mas como uma pessoa. V-se bem que
esta flosofa est associada com temas como o da autopunio, e com uma certa viso do senso
comum sobre o vingar-se, sobre lavar a alma, ou com a poltica do olho por olho, dente por
dente.
A teoria retributiva da punio se alimenta do desejo de infigir adversidades. De fato, e
como foi dito atrs, essa teoria particularmente sensvel a coisas como o desejo ou neces-
sidade emocional da retaliao, de vingana etc. Ora, essas coisas so vistas por alguns intelec-
tuais com suspeio: eles tendem a acreditar que os sentimentos de hostilidade para com os
outros, e em especial o desejo de vingana, so intrinsecamente maus ou negativos, ou ento
bem inferiores eticamente aos sentimentos que envolvem bondade, benevolncia etc. Pode ser
que eles tenham razo em algum grau. Mas parece haver uma incompreenso a respeito da
substncia do esprito do retributivismo. Considere-se a crtica a esta teoria feita pelo flsofo
ingls contemporneo Anthony Kenny, segundo o qual o elemento essencial na punio, de
acordo com uma teoria puramente retributiva, o dano do criminoso, seja em sua vida, liber-
dade ou propriedade. Este mal procurado diretamente como um fm em si, e no como um
meio para impedir ou corrigir. Mas buscar o prejuzo de outro como um fm em si mesmo o
caso paradigmtico de uma ao injusta, (KENNY, 1978, p. 73). Ora, a incompreenso dele
46
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
reside em tomar o prejuzo de outro como um fm em si mesmo, incompreenso esta que
real mesmo que se trate de uma teoria puramente retributiva. De fato, o fm ltimo a seria a
satisfao da necessidade emocional da vtima, de que ocorra um prejuzo para o ofensor, de
que ele pague pelo que fez, e no est nada claro que a satisfao dessa necessidade seja um
caso paradigmtico de ao injusta. Seria injusto, isto sim, o ofensor permanecer impune.
Falta, pelo menos em alguns crticos mais ou menos radicais do retributivismo, uma anlise
mais aprofundada da noo de justia, merecimento, retaliao. O flsofo ctico Alfred J. Ayer,
falando daquilo que ele considera como sendo o modo comum e costumeiro de concebermos
a punio e a recompensa, escreve: nossa principal razo para recompensar ou punir algum
que ele merece (AYER, 1973, p. 277, traduo alterada pelo autor). Ora, aqui tambm h
uma incompreenso: o merecer no a razo primria, mas apenas uma condio necessria.
A razo primria poderia ser, digamos, a mesma necessidade emocional, da parte da vtima,
de ver o ofensor prejudicado. Numa outra passagem Ayer questiona a idia retributivista de
vingana: a prpria noo de castigo vingativo, a idia de que se algum faz mal aos outros,
(...) exigido que seja feito mal a ele, uma noo objetvel por razes morais. (AYER, 1973,
p. 271). Enunciada assim, a idia mais questionvel do que seria se exigido substitudo,
por exemplo, por eles tm o direito de. E o retributivista pode perfeitamente alegar que sua
tese a de que a vtima tem direito, mas no obrigada, punio vingativa do ofensor.
Convm assinalar que, se vamos empreender uma anlise de um problema com o apelo a
elementos buscados no contratualismo, no utilitarismo e no retributivismo, ento precisamos
advertir a ns mesmos sobre os perigos do ecletismo. As linhas que foram propostas aqui, e em
especial uma certa desenvoltura com que elas foram propostas, no signifcam que estamos igno-
rando totalmente os perigos de compor uma explicao ecltica. Mas no vou discutir aqui esse
assunto, mesmo porque no seria frutfero faz-lo sem um prvio exame adequado dos pontos
em que as flosofas mencionadas acima confitam, ou deixem de confitar, umas com as outras.
Vou, no entanto, registrar o seguinte: primeiro, pode ser que algumas teses mais caracters-
ticamente retributivistas possam ser reescritas de modo a se harmonizarem com o utilitarismo.
Mais atrs, por exemplo, procurei argumentar que o ressentimento e a indignao mal resolvi-
dos comprometem de tal modo as relaes de cooperao recproca que , desse ponto de vista,
til que esses sentimentos sejam extintos no esprito da pessoa em que eles emergem (aquilo
47
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
1
2
3
4
tema 4
fcha sumrio bibliografa
que referi como provocao de alteraes de condies mentais), e o modo mais natural
como se d essa extino a reparao do mal pelo ofensor, a includa possivelmente a sub-
misso dele punio. Segundo, nem tudo o que est prximo do retributivismo est, por essa
razo, fora do alcance da explicao utilitarista. Como exemplo disso, considere-se a seguinte
afrmao daquele que o primeiro grande sistematizador do utilitarismo, Jeremy Bentham:
toda punio maldade: toda punio em si um mal. Segundo o princpio da utilidade, se
ela deve ser admitida, ela deveria somente ser admitida na medida em que ela promete excluir
algum mal maior. (BENTHAM, 1979, p. 59, traduo alterada pelo autor). Os retributivistas
ou, ao menos, alguns deles poderiam concordar que a punio, considerada nela mesma,
um mal, e mais que isso, argumentar que a opo pela excluso do mal maior no est em
desacordo com nenhum princpio retributivista, sendo que esta opo poderia ser interpretada
como a opo pelo bem, j que a punio de um mal particular seria, nesse caso, um bem, o qual
consistiria na excluso do mal maior.
Bibliograa tema 4
AYER, A. J. As questes centrais da flosofa. Traduo Alberto Oliva e Lus Alberto
Cerqueira. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
BENTHAM, J. Uma Introduo aos princpios da moral e da legislao. Traduo Lus
Joo Barana. So Paulo: Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores).
KENNY, A. Freewill and responsibility. London : Routledge & Kegan Paul, 1978.
LALANDE, A. Vocabulrio tcnico e crtico da flosofa. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
RAWLS, J. A. Teory of justice. Oxford: Oxford University, 1972.
STRAWSON, P.F. Freedom and resentment and other essays. London : Methuen, 1974.
48
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
bibliograa
Bibliograa tema 1
BENOIT, Hector. Estudos sobre o dilogo Filebo de Plato. Ed. Uniju, Iju-RS, 2007.
BRAGUE, Remi. Introduo ao Mundo Grego: estudos de histria da Filosofa, Loyola, 2007.
BRUNSCHWIG, Jacques. Estudos e exerccios de Filosofa Grega, Loyola e PUC-Rio, So
Paulo-SP, 2009.
FINLEY, Moses I. O legado da Grcia: uma nova avaliao, Ed. UNB, Braslia-DF, 1981.
GOLDSCHMIDIT, Victor. Os dilogos de Plato: estrutura e mtodo dialtico, Loyola, So
Paulo-SP, 2002.
HADOT, Pierre. O que a Filosofa Antiga? Loyola, So Paulo-SP, 2004.
JAEGER, Werner. Paidia: a formao do homem grego, Martins Fontes, So Paulo-SP,
1989.
KIRK, G. S. e RAVEN, J. E. Os flsofos pr-socrticos, Fundao Calouste Gulbenkian,
Lisboa-Portugal, 1982.
MAGALHES-VILHENA, VASCO. O problema de Scrates: o Scrates histrico e o Scra-
tes de Plato, Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa-Portugal, 1984.
NUSSBAUM, MARTHA C. A fragilidade da bondade: Fortuna e tica na tragdia e na flo-
sofa grega, Martins Fontes, So Paulo-SP, 2009.
PAPPAS, Nickolas, A Repblica de Plato, edies 70, Lisboa, Portugal, 1995.
PERINE, M. (Org.). Estudos Platnicos: sobre o ser e o aparecer, o belo e o bem, Loyola, So
Paulo-SP, 2009.
PIETTRE, Bernard. Plato, a Repblica: livro VII, Ed. UNB e Ed. tica, So PauloSP,
1981.
REALE, Giovanni. Para uma nova interpretao de Plato, Loyola, So Paulo-SP, 1997.
ROBINSON, T. M. As origens da alma: os gregos e o conceito de alma de Homero a Aristteles,
49
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
bibliograa
Annablume editora, So Paulo-SP, 2010.
TRABATTONI, F. Plato, Annablume editora, So Paulo-SP, 2010.
VZQUEZ, A. S. tica, Civilizao Brasileira, Rio de Janeiro-RJ, 2008.
VERNANT, J. P. As Origens do Pensamento Grego, Difel, Rio de Janeiro-RJ, 2009.
ZINGANO, Marco. Virtude e saber em Scrates, in Estudos de tica Antiga, Discurso
Editorial, So Paulo-SP, 2007, pp. 41-72.
Bibliograa tema 2
ALLAN, D. J. A flosofa de Aristteles. Lisboa: Presena, 1970.
BARNES, Jonathan. Aristteles, idias e letras. Aparecida-SP, 2009.
BRAGUE, Remi. Introduo ao mundo grego: estudos de histria da flosofa. So Paulo:
Loyola, 2007.
BRUNSCHWIG, Jacques. Estudos e exerccios de flosofa grega. So Paulo: Loyola,
2009.
FINLEY, Moses I. O legado da Grcia: uma nova avaliao. Braslia: Ed. UNB, 1981.
HADOT, Pierre. O que a flosofa antiga? So Paulo: Loyola, 2004.
KRAUT, R. (Org.). Aristteles: a tica a Nicmaco, Porto Alegre: Artmed, 2006.
LEAR, Jonathan. Aristteles: o desejo de entender. So Paulo: Discurso Editorial, 2006.
NUSSBAUM, Martha C. A fragilidade da bondade: fortuna e tica na tragdia e na flo-
sofa grega. So Paulo: Martins Fontes, 2009.
ROBINSON, T. M. As origens da alma: os gregos e o conceito de alma de Homero a
Aristteles. So Paulo: Annablume, 2010.
ROSS, David. Aristteles. Lisboa: Dom Quixote, 1987.
VZQUEZ, A. S. tica. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2008.
50
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
bibliograa
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Difel, 2009.
ZINGANO, Marco. Estudos de tica antiga. So Paulo: Discurso Editorial, 2007.
Bibliograa tema 4
AYER, A. J. As questes centrais da flosofa. Traduo Alberto Oliva e Lus Alberto
Cerqueira. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
BENTHAM, J. Uma Introduo aos princpios da moral e da legislao. Traduo Lus
Joo Barana. So Paulo: Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores).
KENNY, A. Freewill and responsibility. London : Routledge & Kegan Paul, 1978.
LALANDE, A. Vocabulrio tcnico e crtico da flosofa. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
RAWLS, J. A. Teory of justice. Oxford: Oxford University, 1972.
STRAWSON, P.F. Freedom and resentment and other essays. London : Methuen, 1974.
51
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
Ficha da disciplina
Autoria:
Reinaldo Sampaio Pereira
Antonio Trajano Menezes Arruda
Ficha da Disciplina:
tica
52
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
Ficha da disciplina
Reinaldo Sampaio Pereira
Professor de Histria da Filosofa Antiga da UNESP de Marlia. Graduado em Filosofa
pela Unicamp (1996); mestre em Filosofa pela Unicamp (1999); doutor em Filosofa pela
Unicamp (2006); ps-doutor em Filosofa pela USP (2009). Desenvolve pesquisa em Aris-
tteles desde a graduao, mais especifcamente nas reas de Metafsica e tica
Antonio Trajano Menezes Arruda
Doutor em Filosofa pela University of Oxford - UK. Professor das disciplinas Filosofa
Geral e problemas metafsicos e Introduo leitura dos textos flosfcos do Curso de Gradu-
ao em Filosofa da UNESP campus de Marlia.
Ementa da disciplina
Primeiramente o curso aborda problemas e discusses tica na flosofa antiga, sobretudo
nas flosofas de Plato e Aristteles, flsofos que, de alguma forma, estabeleceram muitos
dos conceitos ticos com os quais a flosofa trabalhou ao longo dos sculos. Num segundo
momento, o curso introduz algumas questes acerca do problema da conduta moral.
Palavras-chave:
tica, moral, conduta, arbtrio, bem.
53
U
n
e
s
p
/
R
e
d
e
f
o
r
d
u
l
o
I
D
i
s
c
i
p
l
i
n
a
0
2
T
E
M
A
S
fcha sumrio bibliografa
1
2
3
4
Ficha da disciplina
Estrutura da Disciplina
tica
Tema 1 A tica na literatura
grega dos trgicos e na flosofa
socrtico-platnica
1.1. A tica na literatura grega anterior
a Scrates
1.2. A tica nos dilogos de Plato
1.3. tica e Teoria das Idias nos dilogos
de Plato
Tema 2 A tica em Aristteles
2.1. Uma nova proposta de modelo tico
em relao ao modelo socrtico-platnico
2.2. A vida feliz.
2.3. Um certo relativismo no modelo
tico aristotlico
Tema 3 Sobre a conduta Moral
Parte 1
3.1. A Dimenso Moral
3.2. Contrato e Conduta Moral
3.3A natureza do culpar e desculpar
Tema 4 Sobre a conduta Moral
Parte 2
4.1 Utilidade, retribuio e atitudes
morais
UNESP Universidade Estadual Paulista
Pr-Reitoria de Ps-Graduao
Rua Quirino de Andrade, 215
CEP 01049-010 So Paulo SP
Tel.: (11) 5627-0561
www.unesp.br
Governo do Estado de So Paulo
Secretaria de Estado da Educao
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedaggicas
Gabinete da Coordenadora
Praa da Repblica, 53
CEP 01045-903 Centro So Paulo SP
GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO
Governador
Geraldo Alckmin
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO, CINCIA E TECNOLOGIA
Secretrio
Paulo Alexandre Barbosa
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Reitor Afastado
Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Vice-Reitor no Exerccio da Reitoria
Julio Cezar Durigan
Chefe de Gabinete
Carlos Antonio Gamero
Pr-Reitora de Graduao
Sheila Zambello de Pinho
Pr-Reitora de Ps-Graduao
Marilza Vieira Cunha Rudge
Pr-Reitora de Pesquisa
Maria Jos Soares Mendes Giannini
Pr-Reitora de Extenso Universitria
Maria Amlia Mximo de Arajo
Pr-Reitor de Administrao
Ricardo Samih Georges Abi Rached
Secretria Geral
Maria Dalva Silva Pagotto
FUNDUNESP - Diretor Presidente
Luiz Antonio Vane
Pr-Reitora de Ps-graduao
Marilza Vieira Cunha Rudge
Equipe Coordenadora
Elisa Tomoe Moriya Schlnzen
Coordenadora Pedaggica
Ana Maria Martins da Costa Santos
Cludio Jos de Frana e Silva
Rogrio Luiz Buccelli
Coordenadores dos Cursos
Arte: Rejane Galvo Coutinho (IA/Unesp)
Filosofa: Lcio Loureno Prado (FFC/Marlia)
Geografa: Raul Borges Guimares (FCT/Presidente Prudente)
Antnio Cezar Leal (FCT/Presidente Prudente) - sub-coordenador
Ingls: Mariangela Braga Norte (FFC/Marlia)
Qumica: Olga Maria Mascarenhas de Faria Oliveira (IQ Araraquara)
Equipe Tcnica - Sistema de Controle Acadmico
Ari Araldo Xavier de Camargo
Valentim Aparecido Paris
Rosemar Rosa de Carvalho Brena
Secretaria/Administrao
Mrcio Antnio Teixeira de Carvalho
NEaD Ncleo de Educao a Distncia
(equipe Redefor)
Klaus Schlnzen Junior
Coordenador Geral
Tecnologia e Infraestrutura
Pierre Archag Iskenderian
Coordenador de Grupo
Andr Lus Rodrigues Ferreira
Guilherme de Andrade Lemeszenski
Marcos Roberto Greiner
Pedro Cssio Bissetti
Rodolfo Mac Kay Martinez Parente
Produo, veiculao e Gesto de material
Elisandra Andr Maranhe
Joo Castro Barbosa de Souza
Lia Tiemi Hiratomi
Lili Lungarezi de Oliveira
Marcos Leonel de Souza
Pamela Gouveia
Rafael Canoletti
Valter Rodrigues da Silva
Das könnte Ihnen auch gefallen
- O Empreendedorismo CriativoDokument74 SeitenO Empreendedorismo CriativoDeusdete SoaresNoch keine Bewertungen
- Plano de Aula 2016 2.anos HistóriaDokument3 SeitenPlano de Aula 2016 2.anos HistóriaDaniel Katun SilvaNoch keine Bewertungen
- Seduc 013 19Dokument10 SeitenSeduc 013 19Rô PimentaNoch keine Bewertungen
- Conhecendo o Nosso BairroDokument4 SeitenConhecendo o Nosso BairroGeovane SouzaNoch keine Bewertungen
- Delitos FiscaisDokument26 SeitenDelitos FiscaisNeymar Fagundes Da RosaNoch keine Bewertungen
- Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São PauloDokument9 SeitenAtitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São PaulobrunacjpereiraNoch keine Bewertungen
- 2 Dicas para Um Casamento FelizDokument2 Seiten2 Dicas para Um Casamento FelizCleberson Santos Do CarmoNoch keine Bewertungen
- Resenha Crítica Sonoridade e Cidade, de Luciana Ferreira Moura MendonçaDokument3 SeitenResenha Crítica Sonoridade e Cidade, de Luciana Ferreira Moura MendonçaOtavio OliveiraNoch keine Bewertungen
- Análise Do Poema Vicio Na FalaDokument3 SeitenAnálise Do Poema Vicio Na FalaLidiane Silva100% (1)
- HPM Capítulo 9Dokument27 SeitenHPM Capítulo 9kev_colmanNoch keine Bewertungen
- Uma Política Nacional de Meio Ambiente Focada Na Produção Limpa: Elementos para DiscussãoDokument7 SeitenUma Política Nacional de Meio Ambiente Focada Na Produção Limpa: Elementos para Discussãojoao das covesNoch keine Bewertungen
- Desenvolvimento LiguisticoDokument5 SeitenDesenvolvimento LiguisticoJaque OliveiraNoch keine Bewertungen
- Ficha 1 Amostragem PDFDokument11 SeitenFicha 1 Amostragem PDFAnonymous nvkblX6ONoch keine Bewertungen
- O Processo Ritual - Victor TurnerDokument125 SeitenO Processo Ritual - Victor TurnerMuriloPecciolideOliveria100% (4)
- Prostituição No Rio de Janeiro PDFDokument7 SeitenProstituição No Rio de Janeiro PDFRaphael de FariaNoch keine Bewertungen
- Metodologia Da Pesquisa em Ciencias SociaisDokument5 SeitenMetodologia Da Pesquisa em Ciencias SociaisAngícia GomesNoch keine Bewertungen
- 1-Qual A Diferença Entre o Homicídio e A Legítima DefesaDokument3 Seiten1-Qual A Diferença Entre o Homicídio e A Legítima Defesarog1rio1tadeu1mesquiNoch keine Bewertungen
- Acústica Musical de Luís L. Henrique, Lisboa Gulbenkian, 2007 PDFDokument186 SeitenAcústica Musical de Luís L. Henrique, Lisboa Gulbenkian, 2007 PDFcarlaisabell0% (5)
- LABRONICI, Rômulo para Todos Vale o EscritoDokument165 SeitenLABRONICI, Rômulo para Todos Vale o EscritoVinicius Ferreira NataNoch keine Bewertungen
- O Materialismo Dialético Na Metodologia CientíficaDokument4 SeitenO Materialismo Dialético Na Metodologia CientíficaVanessa Matos100% (1)
- A Causa SecretaDokument4 SeitenA Causa SecretaAdrielle MikaelleNoch keine Bewertungen
- A RECIPROCIDADE DESIGUAL Família e Política Na História Do Brasil.1Dokument12 SeitenA RECIPROCIDADE DESIGUAL Família e Política Na História Do Brasil.1alberto.portugalNoch keine Bewertungen
- Antonio Candido - Sobre Poesia (Ensaio)Dokument5 SeitenAntonio Candido - Sobre Poesia (Ensaio)Werner Borges100% (4)
- Conversas ResenhaDokument2 SeitenConversas ResenhaGiovanni CarúsNoch keine Bewertungen
- Brand Equity - Os Arquetipos Das MarcasDokument9 SeitenBrand Equity - Os Arquetipos Das MarcasJuliana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Projeto Ong Jovens Do AmanhãDokument95 SeitenProjeto Ong Jovens Do AmanhãserpublicitarioNoch keine Bewertungen
- 235 1 803 1 10 20130514 PDFDokument23 Seiten235 1 803 1 10 20130514 PDFCarolineNoch keine Bewertungen
- Cálice - Paródia e ParáfraseDokument1 SeiteCálice - Paródia e ParáfraseJairo PadilhaNoch keine Bewertungen
- Introdução A GeografiaDokument27 SeitenIntrodução A Geografia3c3c3c3cNoch keine Bewertungen
- Educação e CurriculoDokument75 SeitenEducação e CurriculoEdwiges Sanches100% (1)
- Elaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoVon EverandElaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoNoch keine Bewertungen
- Propósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAIVon EverandPropósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAIBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (4)
- A vida é curta demais pra viver o mínimo das coisasVon EverandA vida é curta demais pra viver o mínimo das coisasNoch keine Bewertungen
- Comunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasVon EverandComunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Até que nada mais importe: Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de vocêVon EverandAté que nada mais importe: Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de vocêBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (82)
- Focar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoVon EverandFocar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (53)
- Pare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosVon EverandPare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (58)
- Intervenções Psicológicas para Promoção de Desenvolvimento e Saúde na Infância e AdolescênciaVon EverandIntervenções Psicológicas para Promoção de Desenvolvimento e Saúde na Infância e AdolescênciaBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- O Segredo do Carisma: Ser carismático não é tão difícil quanto pareceVon EverandO Segredo do Carisma: Ser carismático não é tão difícil quanto pareceBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (29)
- Técnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoVon EverandTécnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)
- 35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirVon Everand35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)