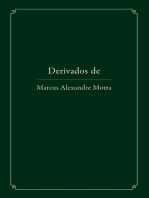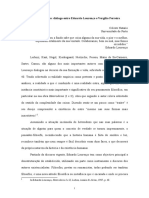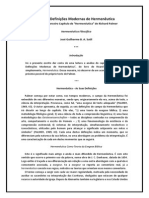Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
A função do sentimento estético segundo Kant
Hochgeladen von
Helena PinelaOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
A função do sentimento estético segundo Kant
Hochgeladen von
Helena PinelaCopyright:
Verfügbare Formate
A FUNO DO ESTTICO
J. A. ENCARNAO REIS
1. O problema em Kant "Forma final de um objecto sem representao de fim " ou, mais simplesmente , " finalidade sem fim ", como Kant define o esttico no "terceiro momento" da sua " Analtica do belo" 1. E j o havia caracterizado, no "primeiro momento" 2 e no "segundo " 3, respectivamente como "desinteressado " e como "universal sem conceito ". No entanto, estas caracterizaes referem - se a algo . O que se diz desinteressado , universal sem conceito , e se define em termos de finalidade sem fim? Kant, evidentemente , no esquece o sujeito desta caracterizao e apresenta-o mesmo com bastante nfase, dedicando - lhe o primeiro pargrafo. Mas, como inclui tal pargrafo no primeiro momento, que dedica ao ponto de vista da qualidade , tal sujeito , que depois caracterizado como desinteressado , universal sem conceito , finalidade sem fim e necessrio , pode sem dvida passar um tanto despercebido . Da a ateno que preciso ter para com esse texto, que em rigor no deveria fazer parte do primeiro momento da Analtica , mas ser antes uma introduo ou um momento prvio aos efectivos quatro momentos da anlise.
Trata - se, como bvio, da afirmao de que o esttico sentimento e no conhecimento. Tal dito logo no prprio ttulo do pargrafo: "O juzo de gosto esttico". Esttico, com efeito, significa , de acordo com o respectivo texto, algo de subjectivo ; e mesmo de to subjectivo que nem as prprias qualidades segundas , com toda a sua tradio sobretudo moderna de simples produtos do sujeito a partir das qualidades
Kritik der Urteilskraft (KU), 10-17. 2 Ibid. 1-5.
3 Ibid. 6-9. 4 Para o quarto momento , ibid. 18-22.
Revista Filosfica de Coimbra - n." 3 - vol . 2 (1993 )
pp. 85-113
86
J. A. Encarnao Reis
primeiras, so to subjectivas. Elas podem ainda, graas s formas priori do sujeito (nomeadamente o espao e depois as categorias), serem objectivas: "a cor verde dos prados", dir Kant um pouco mais adiante 5, " uma sensao objectiva enquanto percepo de um objecto dos sentidos, ao passo que o seu carcter agradvel uma sensao subjectiva, pela qual nenhum objecto representado". S os sentimentos podem ser verdadeiramente, posto que exclusivamente, subjectivos; s eles so, pela sua prpria- natureza, de quem os tem, e no podem portanto ser algo de objectivo, que a esteja para as diversas conscincias deles tomarem conscincia. No alis outra coisa o que j Descartes dizia nas Meditaes, ao perguntar se, na verdade, "h coisa mais ntima ou mais interior que a dor" 6. O esttico portanto, para Kant, antes de tudo, o sentimento de prazer e de dor do sujeito. Como ele prprio escreve, resumindo tudo: "Esttico significa aquilo cujo princpio determinante no pode ser seno subjectivo. Toda a relao das representaes, mesmo a das sensaes, pode ser objectiva (esta relao significa neste caso: o que real numa representao emprica); mas no a relao das representaes ao sentimento de prazer e de dor, que no designa nada no objecto e na qual o sujeito sente como afectado pela representao" 7. E pois o sentimento que est na base da esttica de Kant e que depois caracterizado como desinteressado, universal sem conceito, finalidade sem fim e necessrio. E assim caracterizado, com efeito, porque o esttico em Kant sem dvida, antes de tudo, sentimento, prazer, mas no um sentimento, um prazer qualquer. Tambm o "agradvel", ao nvel dos sentidos, e o "bom", ao nvel quer do "til" quer do "perfeito", so ocasio de uma satisfao, de um comprazimento, e nem por isso eles so o esttico. preciso, se se quer definir o esttico enquanto tal, e aps determinada a sua essncia nuclear e mais ntima, saber como esta se sobre-determina, diferenciandose daqueles dois domnios, aos quais - sob o puramente sensvel, pelo lado dos empiristas, e sob o simples racional, da tradio de Baumgarten tendia a reduzir-se nas grandes correntes estticas do sc. XVIII 8. Da a anlise subsequente do esttico - j determinado como sentimento - do ponto de vista, sucessivamente, da qualidade, da quantidade, da relao e da modalidade. Dessa anlise resultar a descoberta de uma nova
5 Ibid. 3. 6 Mditations Mtaphysiques , Paris, Classiques Larousse , s.d. p. 82. KU,1.
s Cf. J. PLAZAOLA, Introduccin a la esttica . Histria , teoria, textos , Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos , 1973, pp. 88-97 e 103-113.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
87
faculdade, justamente a faculdade de julgar esttica, a meio caminho entre o sensvel e o inteligvel, ao ponto de, segundo o mesmo Kant, nem os simples animais nem os anjos terem acesso ao esttico. O prazer esttico , assim, desinteressado, isto , no sugere a posse do objecto e nem mesmo a sua existncia , bastando a sua simples representao. E, ao contrrio, o agradvel implica o interesse, porque cria uma tendncia, do mesmo modo que o bom igualmente interessado, mas no seu caso atravs do conceito 9. Do ponto de vista da quantidade, por sua vez, apresenta-se com pretenses universalidade, apesar de no ter conceito e de ser mesmo um sentimento, pelo que irredutivelmente subjectivo. Kant, neste segundo momento, deduz esta universalidade do desinteresse descoberto no primeiro momento: "aquele que tem conscincia de que a satisfao produzida por um objecto isenta de interesse no pode fazer outra coisa seno julgar que este objecto deve conter um princpio de satisfao para todos" 10. Mas evidentemente que esta no uma prova positiva: antes a simples possibilidade de que, se eu no estou particularmente interessado no objecto, e o mesmo acontece a todo e qualquer sujeito, tal objecto pode ser para todos. A verdadeira prova da universalidade vir conjuntamente com a da necessidade, e isto porque, depois do terceiro momento, Kant j sabe que o prazer esttico o resultado da harmonia de duas faculdades priori e, portanto, algo que pode efectivamente ter pretenses verdadeira universalidade e verdadeira necessidade (que no se passam, como sabido, ao nvel da simples generalidade emprica): ainda que se trate s de uma necessidade exemplar, "solicita-se a adeso de cada um, porque se possui um princpio que comum a todos" 11. E deste modo o terceiro momento da anlise kantiana sem dvida o mais importante, porque nele no se caracteriza s o prazer esttico, mas define-se o que ele na sua essncia, enquanto o resultado da harmonia das faculdades. Mas, antes, concluamos os segundo e quarto momentos, contrapondo dessa perspectiva o belo ao agradvel e ao bom. Se o belo um prazer universalmente necessrio sem conceito, o agradvel, pertencendo ordem dos sentidos, sem conceito tambm mas particular e contingente, ao passo que o bom pode sem dvida ser universal e necessrio, mas porque possui conceito. A imaginao, na sua liberdade, apresenta a matria ao entendimento; havendo harmonia, isto , servindo essa matria s formas daquele, gera-se um sentimento de prazer. isso o prazer esttico: o resultado da
9 Cf. ibid. p. 115. 10KU.6. 11 Ibid. 19.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol. 2 (1993)
pp. 85-113
88
J. A. Encarnao Reis
harmonia da imaginao e do entendimento. A imaginao apresenta a matria porque, embora constituindo a parte mais alta da sensibilidade, ela ainda claramente do lado desta e justamente cabe sensibilidade, segundo o modo como Kant entende o conhecimento desde a Crtica da Razo Pura, a apresentao da matria 12. Mas apresenta-a na sua liberdade, no s porque ela a parte mais alta da sensibilidade e por isso j est prxima do entendimento de cuja espontaneidade de algum modo participa, mas tambm porque se trata da faculdade especfica da Arte, a qual, segundo a tradio, sempre foi a imaginao. Trata-se assim - na definio do prazer do belo - do prazer que resulta de poder haver conhecimento. No que haja efectivamente conhecimento; se estivssemos nesta ltima atitude, teramos um objecto com as suas determinaes, e no um sentimento; na atitude do sentimento que se est. Essa uma afirmao que, desde o incio, quase est em cada pgina. No h subsumpo das intuies sob conceitos. Neste caso, sim, haveria conhecimento. Mas h simplesmente subsumpo da prpria imaginao sob o prprio entendimento. Como diz expressamente Kant: "O gosto, enquanto faculdade de julgar subjectiva, compreende um princpio de subsumpo, no das intuies sob conceitos, mas da faculdade das intuies ou apresentaes ( a imaginao ) sob a faculdade dos conceitos (o entendimento), na medida em que a primeira na sua liberdade se acorda com a segunda na sua legalidade" 13. De modo que "o juzo de gosto repousa sob a simples sensao da animao recproca da imaginao (...) e do entendimento (...)", como constituintes da "faculdade de conhecer" 14. Alis Kant diz isto mesmo em muitos outros passos 15 e at num pargrafo que ainda anterior ao terceiro momento mas que o precede imediatamente e o prepara, onde nomeadamente escreve: "A universal comunicabilidade subjectiva do modo de representao num juzo de gosto, que deve produzir-se sem pressupor um conceito determinado, no pode ser outra coisa seno o estado de esprito no livre jogo da imaginao e do entendimento (na medida em que estes se acordam entre si como requerido para um conhecimento em geral)" 16. O prazer esttico no pois conhecimento - justamente prazer - mas resulta da faculdade de conhecer, resulta no fundo de poder haver conhecimento. No , por fim, seno isto o que Kant diz da prpria perspectiva do sublime. Este, com efeito, comea por ser dor, e s depois prazer, alis
12 Cf. Critik der reinen Vernunft nomeadamente no incio da Lgica transcendental. 13 KU, 35.
14 Ibid. 35.
15 Ibid. 37-39. 16 Ibid. 9. O sublinhado nosso.
pp. 85-113
Revista Filosftjca de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
89
tanto maior quanto deriva daquela dor 17. E dor ( esse o ponto - e isto por demais evidente pelo menos no sublime matemtico) porque a imaginao, como faculdade finita que , no capaz de fornecer a matria suficiente para conhecer a Ideia de infinito: "o sentimento do sublime", diz Kant, " um sentimento de dor, suscitado pela insuficincia da imaginao na avaliao esttica da grandeza em ordem sua avaliao pela razo ; mas ao mesmo tempo h nisto uma alegria despertada pelo acordo entre as Ideias e este juzo sobre a insuficincia da mais poderosa faculdade sensvel, na medida em que para ns uma lei tender para essas Ideias" 18. Tambm, pois, o sublime se pe a partir da nossa faculdade de conhecer; no caso, a partir de no poder haver conhecimento. Harmonia , ou desarmonia ( com uma harmonia mais alta), das nossas faculdades, eis o que o esttico na sua essncia mais profunda. prazer, sem dvida, e no conhecimento, mesmo o dessa harmonia (ou desarmonia). Mas a essncia de tal prazer essa prpria harmonia (ou a desarmonia, seguida de uma harmonia mais alta). S um tal prazer, de resto, poderia ser desinteressado e universalmente necessrio. Porque, repitamo-lo, o agradvel sempre interessado, particular e contingente, e o bom, se pode ser universal e necessrio, interessado (ainda que atravs do conceito). S portanto um prazer "de reflexo", mas de reflexo simplesmente "formal", "sem fim", pode, deste modo, constituir uni domnio prprio, distinto no s da esfera do conhecimento, mas tambm quer dos interesses sensveis quer dos interesses da faculdade de desejar em geral. O que significa, obviamente, que estava enfim alcanada a autonomia do esttico. Por esse motivo, Kant o grande marco da histria destas ideias, o grande marco da histria da Esttica: o ponto de chegada - a essa autonomia - e o ponto de partida - para ulteriores aprofundamentos. Mesmo quando se rejeita o modo kantiano de pensar o esttico, como acontece por exemplo e como adiante veremos em Gadamer, ainda contra tal ponto de referncia que isso se faz; e se faz, como a veremos de igual modo, at sem recusar inteiramente o sentimento como o distintivo do esttico enquanto tal. Kant bem o grande marco, o "pai" da Esttica l9. Sendo algo em si mesmo mas no possuindo nenhum fim determinado, sendo o que deve ser mas no se sabendo o que deve ser (porque justamente carece de interesse sensvel e de interesse racional) 21, o esttico no s, assim , uma esfera
17 Ibid. 23. 18 Ibid. 27. 19 Cf. em J. PLAZAOLA, o.c. justamente as grandes divises da histria da esttica em termos de Gestao , Nascimento e Crise de crescimento.
20 Ibid. p. 116.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
90
J. A. Encarnao Reis
autnoma mas tambm uma esfera que "no serve para nada", uma esfera que no tem qualquer funo, uma esfera que se esgota sendo o que , uma "esplndida inutilidade". No tem alis outro sentido, acrescentemo-lo para terminar, a clebre distino kantiana entre beleza vaga 21: mesmo e beleza aderente (pulchritudo vaga e pulchritudo quando se trata da aderente, ela no est naquilo a que adere (seja conceito ou, como tambm se diz antes 22, nos atractivos ou na emoo) alas nela mesma. No entanto, tambm aqui h o outro lado da lua. Mesmo em Kant, o esttico tem vrias funes. Tem, desde logo, unia funo de unificao sistemtica, em relao aos dois mundos sados das suas anteriores Crticas: o mundo da natureza, do fenmeno, da legalidade, por uni lado, e o mundo do esprito, do nmeno, da liberdade, por outro. Kant, como sabido, di-lo expressamente. "Na introduo Crtica da faculdade de julgar", escreve com efeito Plazaola, "Kant revela o motivo do livro: quis encontrar uma sntese entre o entendimento e a razo por meio do juzo. O ter sentido por muito tempo a necessidade de colmatar o fosso "entre o mundo sensvel do conceito de natureza e o supra-sensvel do conceito de liberdade" o que est na raiz da Crtica do Juzo" 23. Justamente esta Introduo , no conjunto dos escritos de Kant, o lugar onde ele mais reflecte sobre os problemas deixados pelas suas duas anteriores Crticas: nomeadamente o "incomensurvel abismo" entre o mundo da natureza e o mundo da razo, onde "nenhuma passagem possvel" - mas onde "o ltimo tem de ter uma influncia sobre o primeiro [pois] o conceito de liberdade tem de realizar no mundo sensvel o fim imposto pelas suas leis" - 24, e o problema da finalidade objectiva da natureza, que no era uma categoria do entendimento mas que era precisa para o estudo completo da natureza, e que enfim descoberta, dando origem segunda parte da Crtica, a faculdade de julgar teleolgica 25. E tem, depois, uma funo claramente tica, quer ao nvel do belo quer ao nvel do sublime. Como diz Plazaola: "pela agradabilidade imediata (sem conceito) que o belo produz, pelo seu desinteresse, pela concrdia que estabelece entre as faculdades, pela sua universalidade, a beleza tem uma estreita analogia com a moral" 26. E Kant inequvoco: "O belo o smbolo do bem moral" 27. , alis, por essa razo, continua
21 KU, 16. 22 Ibid. 13-14.
223 J. PLAZAOLA, o.c. p. 114, nota 7. 24 KU, Introduo , sec. H.
25 Ibid . sec. VIII. 26 J. PLAZAOLA, o.c. pp. 120-121. 27 KU, 59.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
91
Kant, que "ns designamos muitas vezes os objectos belos da natureza ou da arte com nomes que parecem tirados de uma apreciao moral. Dizemos, ao falar de edifcios e rvores, que so magestosos e magnficos, ou dos campos, que so ridentes e alegres; as prprias cores se dizem inocentes, modestas, ternas (...)". E o filsofo conclui: "O gosto torna por assim dizer possvel, sem salto demasiado brusco, a passagem da atraco sensvel ao interesse moral habitual, dado que representa a imaginao na sua prpria liberdade como determinvel de um modo final em relao ao entendimento, e ensina a encontrar uma livre satisfao at nos objectos dos sentidos, sem atraco sensvel" 21. Mas em relao ao sublime que o esttico ainda mais funo do tico. Se no belo a imaginao se orientava, digamos, de modo natural, para o entendimento, agora ela "como que violada" 29 (porque se trata da razo), mas para um fim mais alto. O sublime a apresentao, a prpria descoberta do tico, ainda que (porque esttico) sempre em termos de sentimento. , o que Kant claramente diz ao definir o sublime matemtico: "E sublime o que, por isso s que se pode pensc-lo, demonstra uma faculdade da alma que ultrapassa toda a medida dos sentidos" 31. A imaginao, ao pretender dar a matria suficiente para conhecer a Ideia de infinito, soobra na sua empresa, e da a dor num primeiro momento; mas logo a alegria nos invade porque este colapso do sensvel justamente a mostrao, a demonstrao, a descoberta da nossa faculdade das Ideias. "A nossa imaginao, mesmo na sua suprema tenso (...), prova os seus limites e a sua impotncia, mas ao mesmo tempo tambm o seu destino, que o acordo com essas Ideias" 31. E deste modo, escreve Kant mais adiante, "assim como a imaginao e o entendimento, pela sua unio no juzo sobre o belo, produziam uma finalidade subjectiva, assim agora a imaginao e a razo a produzem pelo seu conflito: isto , atravs do sentimento de que possumos uma razo pura, independente (...), cuja eminncia no poderia tornar-se sensvel de nenhum modo, a no ser pela deficincia da prpria faculdade que no tem limites na apresentao das grandezas [a imaginao]" 32. E o mesmo acontece em relao ao sublime dinmico. Representando-nos vivamente situaes de risco para a nossa parte sensvel, aparece, por oposio e inclume a essas situaes, a nossa parte supra-sensvel. "A disposio do esprito", escreve com efeito Kant, "pressuposta pelo sentimento do
28 Ibid . no fim do mesmo pargrafo. 29 Ibid. 23. 30 Ibid. 25, no fim. 31 Ibid. 27. 32 Ibid. 27.
Revista Filosfica de Coimbra - n.' 3 - vol . 2 (1993 )
pp. 85-113
92
J. A. Encarnao Reis
sublime exige uma abertura deste s Ideias; na inadequao da natureza a elas, e por conseguinte s sob a pressuposio das Ideias e do esforo da imaginao para tratar a natureza como um esquema para elas, que consiste o que assustador para a sensibilidade e contudo ao mesmo tempo atraente : que nisto a razo exerce com violncia o seu poder sobre a sensibilidade , a fim de a alargar medida do seu domnio prprio, que prtico (...)" 33. Indo mesmo Kant, logo a seguir , ao ponto de dizer que, " sem o desenvolvimento das Ideias ticas, aquilo que , preparados pela cultura , ns chamamos sublime no seria seno medonho para o homem inculto , (...) que mais no seria que uni prisioneiro de tais circunstncias " 34. Ou seja, a funo do sublime levar - nos ao domnio tico - Kant chega a escrever que o sublime "nos obriga a pensar subjectivamente a prpria natureza na sua totalidade como a apresentao do supra - sensvel" 35 - e, mais do que levar - nos a ele, depende at, de algum modo , desse prprio tico. Em resumo : o esttico, em Kant, embora se ponha como aquilo que no pode ter nenhum fim determinado , nem subjectivo nem objectivo, como uma "finalidade sem fim", e por isso mesmo como constituindo um domnio autnomo no s em relao ao conhecimento mas tambm em relao ao tico, tem no entanto, claramente , uma funo tica, e mesmo de conhecimento , enquanto fornecedor do princpio de finalidade para o estudo da natureza . Como de resto no poderia ser de outra maneira, porque o homem - que contempla o belo, que conhece , e que age moralmente - o mesmo. S se os sujeitos destes domnios fossem diferentes, ou se , sendo o mesmo, ele estivesse dividido em compartimentos estanques, ento cada domnio seria em absoluto autnomo , sem nenhuma incidncia sobre os demais. Como no assim, evidentemente h uma mtua influncia . No entanto , deve sublinhar - se que, no que respeita ao esttico, que o domnio que aqui nos interessa , ele no deixa de ser o que , ele no perde a sua essncia, por se pr ao servio do tico. Porque ele sempre o sentimento que ( quer ao nvel do belo quer ao nvel do sublime ) e no um conhecimento ( qualquer que ele seja) ou um imperativo ( a qualquer nvel ). Se se pe o problema de uma hierarquizao de valores , a, sim , na perspectiva de Kant, o esttico ficar sem dvida a perder em relao ao tico. Mas, em primeiro lugar, se na verdade acontece assim em Kant , tal no aconteceu sempre: em Schiller,
33 Ibid. 29.
34
Ibid. 29.
35 Ibid. "Nota geral exposio dos juzos estticos de reflexo" (a seguir ao 29).
pp. 85-113
Revista Filosfira de Coimbra - n. 3 -- vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
93
por exemplo ( e depois em toda a tendncia esteticista do sc . XIX) 36, h justamente a tendncia contrria para valorizar mais o esttico e dele fazer depender o tico e o poltico. E depois, se sem dvida a tendncia generalizada aquela de valorizar mais o tico do que o esttico pensemos nomeadamente em Plato e no prprio Aristteles ou em Plotino, e nos nossos dias, em Gadamer , em M. Dufrenne ou num Lpez Quints -, justamente a questo que, ao menos em Kant , no se perde aquela determinao - que a primeira e mais essencial - do esttico como sentimento , pelo que, ainda que subordinado hierarquicamente ao tico, jamais perde a sua autonomia prpria. De resto, perde-a - se que alguma vez a ganhou - nesses prprios autores ? neles que agora vamos passar a analisar o problema , para concluirmos com alguma concretude, ainda que necessariamente de forma geral , acerca do problema da funo do esttico. Veremos quais as tendncias da hierarquizao dos valores e at que ponto o sentimento est ou no presente. Porque, repitamo-lo, o que o problema da funo do esttico antes de mais implica , em nossa opinio, esse mesmo duplo aspecto: saber como se faz a respectiva hierarquizao e se se mantm ou no a prpria essncia do esttico.
2. O problema em Schiller Depois do Sturm und Dratlg dos seus primeiros melodramas, e atravs quer da influente amizade de Gothe, que entretanto se havia convertido ao classicismo depois da viagem a Itlia, quer do estudo da filosofia de Kant, Schiller dedica-se, de 1784 a 1796, a uma notvel reflexo sobre esttica terica , que alcana a sua mais alta expresso nas Cartas sobre a educao esttica do homem 37. O seu objectivo, ao escrev-las, mostrar " que as questes estticas tm um interesse prtico, um interesse de actualidade poltica . Quer provar que as suas especulaes estticas podem servir para a reforma do Estado e contribuir para a felicidade da humanidade" 31. E, por a, parece imediatamente que a posio de Schiller afinal semelhante de Kant: que os grandes valores so o tico e o poltico e que o esttico, estando-lhes subordinado, mais no faz do que servi-los. E tanto assim, alis, que a obra comea por uma primeira parte
36 Cf. sobre este terna e para a respectiva influncia em Portugal , J. ENES, A autonomia da arte, Lisboa, Unio Grfica , s.d. nomeadamente pp. 95-111. 31 Utilizaremos a edio bilingue Lettres sur l'ducation esthtique de l'homme, traduo e introduo de R. LEROUX, Paris, Aubier - Montaigne, 1943. 38 Ibid . Introduo, p. 5.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol. 2 (1993)
pp. 85-113
94
J. A. Encarnao Reis
(Cartas 2-9) dedicada a "resolver o problema da liberdade poltica" 39. S que o que acontece que Schiller atribui tanta importncia ao esttico, que ele no mais um simples elemento que se articula com os outros e se lhes funcionaliza mas, ao contrrio, o eixo, o fulcro dessa articulao, de tal modo que o moral e o poltico, longe de se verem servidos pelo esttico, derivam antes dele.
Schiller, com efeito, pretende a realizao de uma "humanidade ideal", que ser justamente a beleza ideal. Nas cartas 11-14 - e na linha mais de Fichte do que de Kant 411 - pe os princpios simultaneamente psicolgicos e metafsicos da sua doutrina. O homem constitudo por duas "naturezas" fundamentais, a sensvel e fenomenal, que se passa na relatividade do espao e do tempo, e a racional e absoluta, que assiste imutvel s mudanas da parte sensvel e as enforma dotando-as de universalidade e necessidade 41. Ora, se esta a natureza humana, a tarefa de cada indivduo ser ento a de "obedecer s duas exigncias opostas do seu ser sensvel e racional" 42. O homem ser tanto mais homem quanto mais desenvolver essas suas duas capacidades. Ele possui, alis, at dois instintos 43 que o impelem nesse sentido, um, com efeito, a ter sensaes, vivendo intensamente o tempo, o outro, a sobrevoar essa multiplicidade efmera e por isso permanentemente perdida, em direco verdade e prpria espcie humana. O que significa que ele , assim, esses prprios dois impulsos que o levam a realizar-se dessa dupla maneira. Simplesmente, os dois impulsos so contrrios 44, um tende a mergulhar o homem no tempo e o outro, na eternidade; se se desenvolve exclusivamente o primeiro, fica-se apenas um ser sensvel, se se desenvolve exclusivamente o segundo, fica-se apenas um ser racional. Parece que um obstculo essencial vem impedir a realizao completa do homem, a realizao da precisa unidade na precisa multiplicidade. Seja, porm, como for, ao menos uma coisa desde j certa e, por isso, deve ser bem assinalada: "a limitao de cada um dos dois instintos no deve (...) em nenhum caso resultar da respectiva fraqueza; ao contrrio, deve
39 Ibid. Introduo, p. 6.
40 Cf. H-G. GADAMER, Verdad y mtodo. Fundamentos de una hermenutica filosfica, trad. de A. A. APARICIO e R. de AGAPITO, Salamanca, Sgueme, 1977, p. 122, onde com efeito se diz: "O livre jogo da capacidade de conhecimento, em que Kant tinha baseado o a priori do gosto e do gnio, entende-se em Schiller antropologicamente a partir da teoria dos instintos de Fichte".
41 Lettres, o.c. Introduo, p.6. 42 Ibid. Introduo, p. 7.
43 Ibid. Carta 12. 44 Ibid. Carta 13.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n." 3 - vol. 2 (1993)
A Funo do Esttico
95
ser o efeito da fora do outro : o instinto sensvel deve ser limitado e detido no pela sua impotncia mas pela liberdade moral do instinto formal, tal como este deve ser detido no pela sua preguia em pensar e querer , mas por uma abundncia de sensaes que resista invaso da alma pelo esprito" 45 Esse obstculo , contudo , superado . Porque, para alm desses dois instintos, h um terceiro, o instinto de jogo 46 . Ou antes, deve haver, porque este instinto no seno o resultado do "estado esttico". Justamente , o papel da beleza abolir aquela dupla oposio . " Desde que os dois instintos antagnicos , plenamente desenvolvidos , passam, sob a influncia da beleza , a serem simultaneamente activos e a limitarem-se mutuamente , a necessidade d lugar(...) liberdade, posto que cada um dos dois instintos impede o outro da sua opresso .(...) Assim nasce na alma humana uni estado de indeterminao que possibilidade de ser livre, isto , possibilidade de o pensamento e a vontade se manifestarem na sua autonomia " 47.O estado de natureza assim ultrapassado e o homem , enfim , plenamente homem . H, sem dvida , antes de mais, uma liberdade simplesmente racional. Mas tal liberdade , para o homem que um composto de esprito e matria , vazia . S uma liberdade que tenha em conta a sua natureza mista , uma liberdade que se manifeste no seio da vida sensvel - " quando ele age racionalmente nos limites da matria e materialmente segundo as leis da razo " 48 - uma verdadeira liberdade, uma liberdade positiva . Ora, tal liberdade que se deve beleza. O instinto de jogo que dela resulta justamente jogo, porque se trata de adquirir uma " ausncia de constrangimento, dado que, ao partilhar a alma entre a lei e a necessidade , tal instinto a subtrai ao determinismo tanto de uma como da outra" 49. Agora , sim, a verdadeira liberdade pode existir, porque ela " tem por condio a aco simultnea das (...) duas naturezas plenamente desenvolvidas" 50. E, evidentemente , a beleza pode ter estes efeitos sobre a natureza humana , porque ela , nela mesma , uma sntese daqueles dois primeiros instintos: uma "forma viva ". Viva, do sensvel ; forma , do racional. "O objecto belo, para estabelecer entre as nossas duas naturezas o acordo e a harmonia que so as condies do prazer esttico, tem de ser, ele
45 Ibid. Introduo , pp. 7-8. 46 Ibid. Cartas 14-15.
47 Ibid. Introduo, p. 9. 48 Ibid. Carta 19, nomeadamente nota final. 49 Ibid. Introduo, p. 10.
51 Ibid. Introduo, p. 10.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
96
J. A. Encarnao Reis
prprio, associao e equilbrio perfeitos de matria e forma" 51. A beleza assim , simultaneamente, forma que contemplamos e vida que sentimos, actividade e passividade , sinal de que a vida fsica no suprime a liberdade moral e de que o infinito se pode realizar no finito 52. No que, deste modo, o tico se reduza ao esttico. A partir da poderosa influncia de Kant, Schiller afirma que, na deciso de agir por dever, a lei moral que se impe vontade, tal como, na descoberta da verdade, a pura forma lgica que se impe inteligncia 13. "Mas a aco indirecta da arte sobre a moralidade considervel, posto que - e aqui Schiller separa-se de Kant - a arte possibilita o acto de autodeterminao pelo qual o homem impe a sua forma inteligncia e vontade" 54. O belo condio do bom e do verdadeiro. Sem esta autodeterminao, o homem seria, na prtica, exclusivamente sensvel e, por isso (exclusivamente passivo), incapaz de se auto-determinar. a beleza que lhe devolve a auto-determinao. E ento, sim, ele pode passar "facilmente do estado esttico ao estado lgico e moral" 55. Como diz R. Leroux, "no total, Schiller julga (Carta 22) que o estado esttico, se no gera directamente nenhum pensamento nem nenhuma aco precisa, contudo entre todos os estados da alma humana o mais fecundo para o conhecimento e a moralidade" 56. "Desde que a razo pronunciou: uma humanidade e um instinto de jogo devem existir, ela simultaneamente ps a ttulo de imperativo: tm de existir objectos belos que sejam a condio dessa humanidade" 57. Se so a condio, de um certo ponto de vista, sem dvida, orientam-se para o tico e para o conhecimento, que so, estes, no o meio mas o fim; mas de um outro ponto de vista, se so a condio, estes no podero existir sem aqueles objectos belos, em ltima anlise o bom e o verdadeiro dependem do belo. De resto, onde se v ainda melhor esta predominncia do esttico, na sua relao ao poltico. o que ntido logo na Carta 2. "Se a educao esttica (escreve a Schiller em substncia) confere ao homem a capacidade de agir como ser moral, s a faculdade de agir como ser moral lhe d o direito liberdade - compreendamos, liberdade fsica e poltica". E acrescenta Leroux, precisando a ideia: "sem beleza, os caracteres humanos no se enobrecero; se no se enobrecerem, os homens no sero
51 52 53 54 55 56
Ibid . Ibid. Ibid . Ibid . Ibid. Ibid .
Introduo , Introduo , Carta 23. Introduo, Introduo, Introduo,
p. 11. Ver c arta 16. p. 11. Ver carta 25. p. 14. p. 14. p. 14.
57 Ibid. Introduo , p. 12. O sublinhado nosso.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n." 3 - vol. 2 (1993)
A Funo do Esttico
97
capazes de moralidade ; enquanto no forem morais, nem se poder pr a questo de lhes outorgar a liberdade no Estado". Concluindo: "a liberdade poltica o ltimo presente prometido aos homens , para quando eles forem , por uma longa educao esttica, feitos dignos de a receber " 58. Tudo est feito com a adquirida educao esttica : a liberdade poltica um prmio liberdade j efectivamente realizada . Como quase todos os tericos polticos do sc . XVIII , tambm Schiller pensa que o homem comeou por viver num estado de natureza (Carta 3), o qual, de resto, no existiu efectivamente ( Carta 24 ) porque, impelidos pela necessidade de escapar ao isolamento e impotncia , cedo os homens estabeleceram entre si um contrato fundador do Estado . Mas tal Estado no passava daquilo que Schiller chama o Estado da necessidade (Notst(icit), que apenas limitava pela violncia a violncia dos indivduos, impedindo que se destruissem mutuamente . preciso transformar esse Estado num Estado moral . para isso que serve a beleza. "Na cidade esttica do futuro", escreve em resumo Leroux , " no haver nem cesarismo nem escravido ; os governantes no necessitaro de constranger ; eles podero outorgar a liberdade poltica , porque a beleza ter gerado a liberdade moral e esta ter dado direito liberdade civil e poltica " 59. Alis, para Schiller , o Estado orgnico composto de cidados estticos no um puro ideal , uma vez que j existiu na histria, na antiguidade grega 60. Se o nosso sculo estranho s preocupaes da arte, se a necessidade rainha e senhora, se a utilidade o dolo do tempo (Carta 2), mais uma razo , justamente , para sublinhar a sua importncia. "A arte nobre, tal como os Gregos nos deixaram os modelos , ajudar os modernos a restaurar a natureza nobre, a renovar os caracteres e os costumes. At l, o Estado racional esttico s poder existir nas almas; ou antes, s poder , como a pura Igreja e a pura Repblica, ter realidade em algumas comunidades de elite (Carta 27),161. Em concluso : no que se refere hierarquizao dos vrios domnios humanos, o esttico bem, em Schiller , o mais importante, porque ele a condio ( para no dizer a prpria realidade ) dos outros . E, no que respeita constituio da prpria essncia do esttico, h sem dvida, neste autor , uma certa " objectivao " do belo em relao pura " subjectividade" kantiana : Schiller " declara que o objecto belo deve ser regular (Kallias), que deve ter uma "arquitectnica " natural ( Ueber Anmut un
58 Ibid. Introduo, p. 17. 59 Ibid. Introduo, p. 21. 60 Ibid. Carta 6.
61 Ibid. Introduo, p. 23.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993 )
pp. 85-113
98
J. A. Encarnao Reis
Wrde) e que deve ser (nas Cartas) uma incarnao e uma irradiao do supra - sensvel no sensvel " 62; o que quer dizer que Schiller no se atm exclusivamente ao sentimento. Mas evidente que este no est ausente. Ele fala por toda a parte , expressamente , no "prazer esttico" e, como bvio, nem poderia ser de outra maneira , porque ele prprio um artista e vem directamente de Kant . O que acontece, neste ponto, que Schiller est interessado na "utilidade " do esttico para a formao humana em geral e da que no se limite a dizer que ele um simples sentimento, antes importa -lhe enunciar e sublinhar os elementos que o integram, em ordem a mais facilmente explicar essa sua "utilidade". O esttico serve assim ao tico, ao poltico, e ao prprio conhecimento , mas no deixa de ser antes de tudo um "sentimento" (que se tem na "contemplao") e por isso um domnio prprio em relao aos demais.
3. O problema em Plato, Aristteles e Plotino
O esttico como sentimento no aparece , contudo, s depois de Kant. Ele j exactamente isso antes, ainda que de uni modo apenas implcito, se tivermos por termo de comparao a afirmao clara e sistemtica do autor da Crtica a que fizemos referncia . E -o, em termos de contemplao e articulando-se naturalmente com os demais domnios humanos. Acontece tal, nomeadamente, em Plato, Aristteles e Plotino. Plato, sem dvida, de um certo ponto de vista, parece no ter esttica nenhuma. No Hpias Maior, depois de se perguntar o que o belo - se o "conveniente", o "til", o "agradvel" - chega concluso de que no nenhuma destas hipteses , tal como no tambm o "bom ". Ou seja, parece que de facto alguma coisa , mas, quando se vai ver o que , nada aparece. E se alguma coisa aparece - no fundo, h uma certa tendncia para o identificar com o bom - ento o belo justamente reduz-se ao bom 63 e no em definitivo, como belo, coisa alguma. Depois, na Repblica, os poetas so expulsos da cidade 64. Nem todos, certo; so expulsos sobretudo os modos musicais langorosos e lamentosos (" perniciosos at para as mulheres "), os quais levam os cidados moleza e preguia 65, ficando os que levam coragem e constncia , na guerra e na paz 66
62 63 64 65 66
Ibid. Introduo, p. 41. Cf. J. PLAZAOLA, o.c. p. 12. Rep. III, 395-403. Ibid. 398 e. Ibid. 399 b.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n." 3 - vol. 2 (1993)
A Funo do Esttico
99
Mas so aqueles que mais arte so porque mais nos emocionam, constituindo um perigo para todos , cidados e guardies 67. Alis, e em terceiro lugar , toda a arte, sem distines, uma imitao e esta - a mmesis - no passa , para usarmos a conhecida expresso de Collingwood, de um "erro de terceiro grau " 68; Plato, do ponto de vista da sua teoria das Ideias - e tambm sem dvida em virtude da menor qualidade das obras do seu tempo 69 - levado at desvalorizao ontolgica da arte. E, finalmente , a sua tendncia para , sob a influncia pitagrica, pr a beleza em termos de harmonia 70 leva -o, ainda por esta razo , a perder o sentimento mesmo; pois, dado que a beleza se define exclusivamente em termos numricos , ela consistir apenas nessas prprias propores matemticas e parece que no h mais lugar para o sentimento . Por todas estas razes, parece que no h, na verdade , em Plato , lugar para o efectivo sentimento esttico e, consequentemente , para uma esttica. Simplesmente , ao ler Plato , o sentimento est por toda a parte e ele prprio um extraordinrio artista. porque, como escreve Plazaola, "Plato ( como mais tarde Sto. Agostinho) sente a enorme atraco que a arte exerce sobre o homem que ele adverte o perigo que ela pode criar moral" 71. Da, a expulso dos poetas da cidade. Se ele no tivesse sensibilidade para a arte, se ele prprio se no sentisse arrastado por toda a sorte de poesia - e msica e pintura e escultura e arquitectura - ele no se teria apercebido da poderosa influncia que em ns ela exerce e no teria tomado tais precaues. A prpria expulso dos poetes da cidade , pois, a mais segura e eloquente prova do sentimento esttico em Plato. Alis, ele prprio o refere expressamente em muitos passos 72 , entre os quais me permito evidenciar um, que me parece mais elucidativo porque, a par com a franca admisso do prazer , vem justamente a razo pela qual o sentimento produzido pela arte no pode ser admitido na cidade: "Se" - diz Scrates - "a poesia imitativa, que tem por objecto o prazer, pode provar de algum modo que deve ter lugar na cidade bem ordenada, ns lho concederemos de bom grado; porque temos conscincia do encanto que sobre ns ela exerce; mas seria mpio trair o que nos parece a verdade. Tu prprio, meu amigo, no sentes o encanto da poesia, sobretudo quando se trata de Homero? - Sim, sinto-o vivamente",
67 Teet. 158 a; Leis, 719 c-d; Tim. 19 d; Rep. X, 605-608. , 68 R. COLLINGWOOD, Plato's Philosophy ofArt, in Mind 34 (1925) pp. 154-172. 69 Cf. J.PLAZAOLA, o.c. p. 14. Ver a respectiva referncia.
70 Ver nomeadamente: Gorg. 508; Soph. 228 a-d; Filebo, 51 c-d; todo o Timeu. 71 J. PLAZAOLA, o.c. p. 15.
72 Nomeadamente: Rep. X, 606 d; Fedro, 249 d-251; Banq. 210 e-211 d; Leis, 790.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n." 3 - vol . 2 (1993 )
100
J. A. Encarnao Reis
responde Glaucon 73. E a mesma coisa acontece em relao ao esttico em termos de harmonia. Se Plato parece reduzir o belo a esta determinao, isto s porque, no tendo ainda havido Kant a pr (sob a influncia do sec. XVIII) o esttico em termos de sentimento, este passa um tanto despercebido. Mas claro, nos respectivos contextos, que a harmonia s interessa para tornar o objecto "belo", quero dizer, para o sentimento de prazer que sentimos perante tal objecto. Se este tivesse toda a harmonia do mundo mas nos deixasse frios perante ele, ningum diria que tal objecto era belo. Alis, repilamo-lo, Plato - e depois Aristteles, como veremos de seguida - esto constantemente a falar no prazer das coisas belas. Se ao teorizar o objecto belo, depois, esquecem esse prazer e ficam s com as suas determinaes objectivas, porque no houve ainda Kant (e tudo o que h at l). Mas ao menos - isso bem ntido no h beleza sem prazer, sem sentimento, e o objecto, com a sua harmonia (ou a sua perfeio, como ir ser dito por Aristteles), no serve seno para causar esse prazer. Ou seja, em resumo, o objecto esttico, em Plato, j fundamentalmente prazer, sentimento - apesar de isso, para o dizermos deste modo, no ter ainda nome, e apesar de, na articulao com os outros domnios do homem, a ateno ir predominantemente para o tico e para o conhecimento (a harmonia). De resto, Plato evolui e nos ltimos dilogos faz da razo - que no Fedro era um auriga a controlar os seus dois cavalos - "um fio dbil que no pode governar a marioneta humana sem a cooperao dos fios do prazer" 74.
E, neste contexto, o papel de Aristteles vai ser o de dar uma certa independncia ao esttico em relao ao tico, de dois pontos de vista diferentes. Em primeiro lugar, do ponto de vista da definio dos respectivos conceitos, no clebre passo da Metafsica: "o bom s se encontra no mundo da aco, enquanto o belo se encontra tambm nos seres imveis (...) uma vez que as formas mais altas do belo so a ordem, a simetria e a finitude" 75. Com efeito, parece estar aqui ao menos o esboo da distino kantiana (e j humiana) do bom como "interessado" (ou "til") e do belo como "desinteressado", ao qual basta apenas a "representao", sem necessidade da existncia efectiva no tempo. E certo que a perspectiva do bom ou interessado em Aristteles se pe exclusivamente em termos de "aco" e portanto de "movimento" 76 e,
73 Rep . X, 607 e . Os sublinhados so nossos. 74 J. PLAZAOLA, o.c. p. 16 . Ver Leis, VII, 803 c-e. 75 Metaph . M, 3, 1078 a 30-b 6. 76 Cf. Metaph . B, 2, 996 a 27 e toda a teoria aristotlica do prazer em Eth. Nic. VII, 11-14 e X, 1-5.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n." 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
101
por outro lado, que no h nesta aco pelo menos o relevo que Kant depois dar ao carcter "voluntrio" do acto moral 77 e que justamente o faz "interessado" face pura "contemplao" do esttico. Mas, no que se refere ao primeiro ponto, esse "activismo" da tica aristotlica no seno o resultado da perspectiva predominantemente biolgica do seu pensamento 78; e, no que respeita ao segundo, se a dimenso subjectiva humana ainda precisar de muito tempo para se desenvolver convenientemente, isso no significa que no haja j em toda a aco humana o seu aspecto "voluntrio", que a pe como aquilo que o homem "quer", e quer "realizado", "existente". E assim, se no h j, neste passo aristotlico, a clareza da distino kantiana do belo e do bom, h pelo menos sem dvida os seus princpios. E, em segundo lugar, Aristteles vai dar uma certa independncia ao esttico em relao ao tico, do ponto de vista da sua teoria da arte, na Potica. que, como se l na sua clebre definio da tragdia, esta destina-se, sem dvida, a, "suscitando a piedade e o temor, fazer a purificao destas emoes" 79, o que parece p-1a claramente ao servio da tica. S que esta uma concluso nossa. O que vai citado tudo o que Aristteles diz da funo da tragdia - e depois da epopeia 80 - e portanto, em geral, da arte. Embora esta funo tenha naturalmente consequncias ticas, elas no so sequer tiradas. Ao contrrio, sempre se vinca o carcter imitativo da arte 81 e o carcter particular do seu prazer, que deriva dessa imitao 82. Parece que Aristteles se coloca, na verdade, na tradio dos sofistas, que tomavam o esttico como uma outra esfera ao lado do tico. Tudo se passa - a uma leitura despreconcebida dos textos da Potica - como se se tratasse de um mundo estanque: h as imitaes e o prazer delas tirado e parece tudo. E digo bem, o prazer, porque quanto a este ponto, quanto ao objecto esttico em termos de sentimento, no h evidentemente a mais pequena dvida. Podamos mesmo dizer que a substncia desta obra, a sua carne , so os sentimentos, o prazer e a dor, as emoes e comoes, o "pathos". Quase no h uma
77 Em toda a Crtica da Razo Prtica, com efeito, a aco tica a que se segue a uma vontade: no se trata de uma simples aco, mas de uma aco enquanto querida pela vontade.
18 Cf. nomeadamente Metaph. Th, 6, 1048 b 18-35, com os comentrios de J. TRICOT, La Mtaphysique, Paris, J. Vrin, 1964, II vol. pp. 501-503.
79 Poet. 6, 1449 b 24-28. Cf. para o problema histrico da interpretao da catarse, a Introduo de J. HARDY, Potique, Paris, Belles Lettres, 1952, pp. 16-22. 80 Poet. 23 e ss. 81 Cf. Potique, trad. cit. pp. 12-13. 82 Poet. 14. 1453 b 1-14.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993 )
pp. 85-113
102
J. A. Encarnao Reis
pgina onde isto no aflore 83. Que me seja permitido pr em relevo trs. No fim do cap. 11, ao acrescentar o "evento pattico" peripcia e ao reconhecimento, diz: "o evento pattico uma aco que faz morrer ou sofrer , como por exemplo, as agonias expostas em cena, as dores lancinantes, as feridas e todos os outros factos deste gnero" 84. No cap. 14, para que o efeito trgico seja o mais intenso , exige que as personagens sejam " amigas ", por exemplo " um irmo que mata o irmo" ou "Medeia matando os seus filhos" 15. No Cap. 17, ao tratar da natureza do poeta, diz que, "pois que os poetas so da mesma natureza que ns, eles sero tanto mais persuasivos quanto mais se adentrarem nas paixes, de tal modo que parecer verdadeiramente triste aquele que se entregar tristeza e colrico aquele que se entregar colera. Por isso a arte da poesia pertence a homens naturalmente bem dotados ou a exaltados: no primeiro caso estaro aptos a transformarem-se sua vontade em personagens, no segundo a abandonarem-se ao delrio potico" 81. Ou seja, em concluso: mais ainda do que em Plato, o esttico em Aristteles inequivocamente prazer, e tende-se mesmo a distinguir formalmente o seu domnio, que o da contemplao, do do tico, que o da aco. Quanto a Plotino, est, apesar de uma certa ambiguidade, ainda mais no caminho que ir dar a Kant, no s ao acentuar a distino entre o belo e o bom, mas ainda ao pr em relevo o aspecto subjectivo da experincia esttica. certo que a beleza se apresenta, antes de mais, como algo objectivo: ela idntica ao Uno, o resplendor da sua essncia, e depois - de um modo que ns j podemos comear a compreender - o resplendor do bem 87. O que significa que Plotino, por um lado, identifica o belo ao bem e ambos ao Uno 88 mas, por outro, estabelece uma certa distino no s entre o belo e o bem mas tambm entre ambos e o Uno. Tal como estabelece a mesma identidade e distino entre o belo e o bem, por um lado, e a inteligncia por outro: "sem dvida que a inteligncia bela; mas essa beleza inerte enquanto a luz do bem no a ilumina" 19.
1450 b 1456 b 12-13. 14 15 86 87
83 Nomeadamente : Ibid. 4, 1448 b 8-14; 5, 1449 a 31-36; 6, 1449 b 27; 1450 a 15-20; 18; 9, 1452 a 1-5; 11, 1452 b 1-3; 13, 1452 b 28-1453 a 12; 19, 1456 a 37-b 2; 11-12; 23, 1459 a 21; 24, 1459 b 11; 1460 a 17-18; 26, 1462 a 15-16; 1462 b Ihid. 11, 1452 b 11-13. Ibid. 14, 1453 b 15-1454 a 15. Ibid. 17, 1455 a 31-35. En, 1,6,6. Cf. J. PLAZAOLA, o.c. pp. 27-28, com as respectivas referncias.
88 En . V, 8, 9: "No pode haver beleza sem ser, nem ser sem beleza: esvaziado da beleza, o ser perde algo da sua essncia". 89 Ibid . VI, 7, 22. Ou (a mesmo ): " cada inteligvel por si mesmo o que ; mas no se converte em objecto de desejo seno quando o bem o faz brilhar".
pp. 85 - 113
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
103
Temos assim a identidade dos transcendentais e a sua diferena. O ser, ao nvel da inteligncia-inteligvel , , porque ser, a prpria essncia do belo e do bom, sem o qual estes nada seriam; mas a prpria essncia do ser o belo e o bom; e o belo, em relao ao bom, , por sua vez, o seu resplendor, a sua manifestao, e por isso aquilo mesmo que se pode contemplar. O bom seria assim o ncleo do ser, a sua essncia ntima ao nvel naturalmente j do valor, porque j no se trata do simples ser e o belo seria a irradiao desse ncleo, o seu resplendor, a sua manifestao e, porque manifestao, o que a est por definio para contemplao. Teramos ento aqui, justamente , a distino entre o belo e o bom: este ltimo no o que se manifesta , o objectivo, o que se contempla, mas, ao contrrio, o que simplesmente move o sujeito, situando-o ao nvel da aco e do interesse (por conceito); o belo, o que, pondo-se como manifestao do bom e, por isso, sem mais, como o que pode e deve ver-se, simplesmente um objecto que nem sequer evoca o sujeito (tal como acontece nas nossas contemplaes do belo). Mas, evidentemente, este sujeito - e o segundo aspecto da esttica plotiniana - est l e mesmo posto em relevo . Simplesmente , ao nvel esttico, ele prprio j uma manifestao, uma "esttua viva", como ele diz `0, e no uni sujeito de aco, tico. E Plotino no esquece tal sujeito, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a partir do helenismo de Alexandre o cidado grego se sente perdido no vasto mundo e ento s lhe resta voltar-se para si prprio tentando ao menos salvar -se a si - o que naturalmente est na linha da descoberta do sujeito que do mundo clssico vem dar ao mundo moderno -. E depois porque, do exclusivo ponto de vista de Plotino, como a verdadeira realidade no a exterior mas a interior , para a converso habitual da alma que preciso reparar - preciso tomar ateno realizao da esttua - a fim de que, ao contemplar o mundo exterior, ela veja o que deve ver e no a pura exterioridade material, que nada . Por isso, a doutrina da representao da tradio atinge nele a densidade e a viragem de perspectiva que atinge: o ver no mais funo do objecto, mas o objecto funo do ver; " nunca a vista veria o sol se no tomasse antes a sua forma; do mesmo modo a alma no poder ver a beleza se antes no se fizer bela ela prpria" 91. Pelo relevo dado assim ao subjectivo na experincia esttica 92 e pela acentuao da distino entre o belo e o bom, Plotino est pois bem no caminho que vai dar a Kant. E mesmo preciso dizer que, se na
vo En. I, 6. 9. vt Ibid . 1, 6, 9. 92 Cf. J. PLAZAOLA, o.c. p. 32.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993 )
pp. 85-113
104
J. A. Encarnao Reis
articulao que se estabelece entre o esttico e o tico parece, primeira vista, que o primeiro se pe ao servio do segundo - porque a beleza do mundo sensvel o princpio do caminho de regresso nossa verdadeira Ptria 93 - a verdade que at o tico que mais se subordina ao esttico, porque tudo se faz, no mundo de Plotino, em ltima anlise para a contemplao. Ou seja, parece at que Plotino ultrapassa Kant e vai dar a Schiller, se bem que sua maneira. 4. O problema em Gadamer, I)ufreune e Lpez Quinis Kant e Schiller, que Gadamer rejeita. O primeiro, porque perde a obra de arte a favor de uma pura subjectividade e o segundo, porque perde a realidade a favor de uma pura aparncia. Com efeito, a principal crtica que Gadamer dirige esttica Kantiana a de que nela os objectos estticos no tm qualquer autonomia ou validade em si mesmos, antes so reduzidos ao puro sentimento do sujeito, posto que s tm sentido enquanto objectos da faculdade de julgar esttica. E o que o autor de Verdade e mtodo diz sem sombra para dvidas, ao analisar o papel do gnio na esttica de Kant: "a nica coisa que o conceito de gnio consegue nivelar esteticamente os produtos das belas artes com a beleza natural . Tambm a arte considerada esteticamente, isto , tambm ela representa um caso para a faculdade de julgar reflexa". E Gadamer precisa a sua ideia: "Aquilo que se produz deliberadamefte, e portanto com vista a algum objectivo, no , apesar disso, referido a um conceito, antes s intenta comprazer no seu mero juzo, exactamente como a beleza natural". O que quer dizer que, efectivamente, "a autonomia da faculdade de julgar esttica no funda, de modo nenhum, um mbito de validade autnoma para os objectos belos" 94. Estes, que so na verdade a realidade que so, perdem-se e fica s o puro sentimento do sujeito. E, quanto a Schiller, Gadamer em substncia diz que o acordo alcanado pela arte um acordo ao nvel da "aparncia" e, por isso, que no s no resolve o conflito real entre a natureza e a liberdade, mas ao contrrio vem mesmo cavar um novo abismo entre as experincias estticas, por um lado, e as naturais e tico-polticas, por outro 95. Trata-se, em sntese (a esttica de Schiller, para Gadamer), de uma esttica fundada no "preconceito nominalista", que leva prpria alienao da realidade, o que se patenteia no s nas "puras obras de arte" como correlatos da "consciencia esttica"
91 En.V,9,1;I,6,8. 94 H-G. GADAMER, o.c. p. 90. 95 Ibid. pp. 122-123.
pp. 85 - 113
Revista Filasfiea de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
105
mas mesmo na criao desses lugares - " museus", "bibliotecas ", " salas de concerto" - onde as raizes espcio-temporais da arte pura e simplesmente desaparecem 96. Ora, justamente contra esta alienao e contra a pura subjectividade de Kant que Gadamer pensa o seu objecto esttico como uma forma de conhecimento 97, como um "pr em obra a verdade" 98. A partir da essncia de jogo, como a essncia da obra de arte 99, esta revela- se no s como uma efectiva experincia, alargando assim o moderno conceito da experincia cientfica , mas ainda como uma experincia em que se experimenta a essencial finitude humana e, por isso , em que a experincia enquanto tal passa a ser olhada de uma outra maneira . No jogo, s aparentemente ns somes os sujeitos activos . Apanhados pelas suas malhas, submetidos s possibilidades e riscos que ele nos oferece, somos antes jogados pelo prprio jogo; este que nos atrai e fascina e nos domina prescrevendo-nos as suas regras. "O verdadeiro sujeito do jogo", diz Gadamer, "no o jogador mas o prprio jogo. este que mantm enfeitiado o jogador, que o enreda e mantm nele " 100. E j havia dito Heidegger: "Fazer unia experincia, seja de unia coisa, de um homem ou de um deus, significa que algo nos acontece, nos encontra, nos sobrevm, nos derruba e transforma. Falar em "fazer" no significa nesta acepo, em rigor, que ns efectuemos por ns prprios a experincia; aqui fazer significa suportar, sofrer, receber o que vem ao nosso encontro, submetendo - nos" 101. E assim, sem dvida, os objectos estticos em Gadamer tm antes de tudo uma funo de conhecimento: so, eles prprios, uma forma de conhecimento e orientam-se - antes da "conscincia exposta eficcia histrica" (o "wirkungsgesclliclitliclies Bewusstsein", na traduo de Ricoeur) e da ontologia da linguagem - para a elucidao metdica de uma Hermenutica . Mas, evidentemente , e aqui voltamos a Kant, no so uma forma de conhecimento qualquer , indiscernvel das outras. Eles continuam a definir-se pela contemplao e pelo prazer. Eles so justamente "jogo", e o jogo "atrai e fascina". certo que o jogo , sua maneira, coisa sria, porque leva o jogador a entregar-se-lhe; mas
96 Ibid. pp. 123-129. 97 Ibid. p. 70. 98 M. HEIDEGGER, L'origine de l'Oeuvre d'Art, in Chemins qui ne inanent nulle part (trad. de Holzwege por W. BROKMEIER), Paris, Gallimard , 1976, p. 30. 99 H-G. GADAMER, o.c. p. 143 e ss. 100 Ibid. pp. 149-150.
101 M. HEIDEGGER, Acheminement vers Ia parole (trad. de Untenvegs zur Sprache por J. BEAUFRET, W. BROKMEIER e F. FEDIER), Paris, Gallimard, 1976. p. 143.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol. 2 (1993)
pp. 85-113
106
J. A. Encarnao Reis
suspende a sua existncia comprometida no quotidiano, fazendo-o entrar num outro espao, o do jogo 102. E certo que o fascnio que o jogo exerce sobre o jogador parece ditado s pelas suas regras , de tal modo que, embora o jogador sinta "atraco e fascnio", parece que nada a h de sentimento, de prazer e dor. Mas s aparentemente assim. Porque, de toda a evidncia, no se trata de ficar preso ao jogo como os corpos esto presos uns aos outros pela gravidade. A atraco de que se trata aqui no a atraco fsica, que do ponto de vista do sentimento nada ; ao contrrio, nada tem de fsico (ou daquilo que desta maneira se quer dizer) e toda a sua essncia est no prazer e na dor. Ou seja, o objecto esttico continua a ser, em t;adamer, inteiramente sentimento. Que este seja entendido em termos subjectivos ou objectivos, isso no tem qualquer importncia; alis, na Hermenutica . "subjectivo" e "objectivo" passa a significar sobretudo "actividade" ou "passividade" por parte do sujeito. O que importante, do ponto de vista esttico, que o respectivo objecto continua a ser sentimento para uma contemplao, isto , como em Kant, um sentimento desinteressado. Tal como o continua a ser para Dufrenne e para Lpez Quints. O primeiro, com efeito, parte 103 da separao da arte em relao ao mundo real. Separao, no s porque desde a Renascena ela se institucionalizou como domnio prprio, como o domnio das Belas Artes, mas tambm e principalmente porque a arte pe o mundo real entre parnteses, construindo o seu prprio espao de liberdade 104. Decerto, para no perder este mundo real; antes para falar dele "enquanto grvido do possvel", enquanto "ainda lastrado de imaginrio" 105. E justamente neste quadro que entra o ncleo do seu pensamento. Assim como "a tica v, ou pelo menos insuficiente , se no desemboca no poltico", assim tambm "v a esttica, se s recomenda "esthese" prazeres refinados e no denuncia a fealdade do mundo social" 106. A funo do esttico assim , claramente, o tico-poltico. E o meio poderoso que ele tem para o realizar precisamente o prazer "vivo e intenso" que o constitui, tanto ao nvel da fruio como da criao 107.
102 H-G . GADAMER , o.c. p. 144.
103 Utilizaremos como texto de base do autor da j clssica Phnomnologie de l'erprience esthtique ( 1. L'objet esthtique . 11. La perception esthtique , Paris, 1953) o artigo : Vie de l'art, art de Ia vie, publicado na Encyclopdie Philosophique Universelle. 1. L' Univers Philosophique , Paris, PUF, 1989, pp. 648 - 655. A sua grande obra neste domnio especfico , como sabido , Art et politique , Paris. UGE, 1974. 101 Art . cit. p. 648. 105 Ibid . p. 649. 106 Ibid . p. 651. 117 Ibid. p. 651.
pp. 95-113
Revista Filosdfira de Coimbra - n. 3 -- vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
107
Importa, contudo, perceber como se faz esta articulao entre o esttico e o tico-poltico. Porque h muitos modos, e j vimos justamente o de Schiller, no qual o esttico s prepara o poltico enquanto se constitui como um mundo prprio e, portanto, no qual acaba efectivamente por haver uma certa reduo do tico-poltico ao esttico. Em Dufrenne, as coisas no se pem desta maneira. Ele recusa, como Souriau, "todo o esteticismo" 101. E mesmo mais: ele no quer ficar at ao simples nvel tico justamente de um Souriau ou de um Gilson. Ele quer o nvel poltico: "o sujeito moral deve ter o cuidado do outro"; "trabalha na tua salvao, sim, mas trabalhando na salvao dos outros" 109. E, assim, preciso que a arte deixe os altos lugares em que se instalou e venha reintegrar o quotidiano; preciso que a "vida da arte", no seu mundo retirada aps a Renascena, se transforme na prpria "arte da vida" 110. Como? Dufrenne enumera alguns pontos. Em primeiro lugar, assinala o que a escola de Frankfurt chama a funo crtica da arte: "mesmo quando a crtica no explcita, basta que a obra abra uni mundo outro para sensibilizar aqueles que, abrindo-se a ela, so ainda capazes de vibrar perante o que de feio, de absurdo, de oprimente ou de deprimente h no real" 111. Depois, ela provoca o prazer, e o prazer " j subversivo", pois que "arranca o indivduo morosidade do mundo administrado e o reconcilia uni momento consigo prprio, com o seu semelhante e at com o naturante que o naturado oculta ou perverte" 112. Em terceiro lugar, alguma arte pode ser, ela prpria, tica e poltica. o caso da ginstica, da equitao, da esgrima, por um lado, e da dana, do canto, dos ritos das boas maneiras, por outro. O primeiro conjunto (que bem merece o nome de arte, posto que nos admiramos quando assistimos a esses espectculos) cultiva o corpo do homem e o primeiro domnio de si; o segundo (Dufrenne pensa na "dana campesina e no no ballet") cultiva j as relaes sociais e completa o domnio de Si 113. As prprias artes plsticas, a escultura, a pintura e o desenho, aparentemente habitando no mundo das nuvens, desligadas do real, no seriam "um luxo" mas teriam por funo "fazer do homem o espectador das suas prprias tempestades" e, dessa maneira, de ele cultivar - repetidamente, persistentemente - o seu prprio ideal de homem 114 Mas Dufrenne no pra ainda aqui. Ele vai
108 109 110 111 112 113 114 Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. p. p. P. p. p. p. p. 650. 650-651. 650. 651. 651. 651. 651.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 -vol . 2 (1993 )
pp. 85-113
108
J. A. Encarnao Reis
mesmo ao ponto de atribuir arte um papel activo de colaborao nessa "mudana dos costumes, dos comportamentos, das opinies", que possibilitar um dia "a vinda de um novo Ado num novo mundo" e que permitir, por desnecessrio, o "fim do poltico": atravs do seu carcter "ldico", ela pode libertar o indivduo do constrangimento quotidiano, situando-o num espao de jogo onde sero possveis a "imaginao" (para a abertura a novas possibilidades), a "sensibilidade" ("ao que h de intolervel na misria e no sofrimento dos outros") e a "utopia"; "sem arte", escreve, "no h utopia; ela que liberta no homem as capacidades do sentimento e da imaginao" 115. E concretiza at, de algum modo, o que a nova arte deve ser. "Popular", antes de tudo. O que no quer dizer "de massas": o indivduo irredutvel. Antes quer dizer que os artistas no so s os que saem das Escolas de Belas Artes mas todo e qualquer indivduo do povo; Dufrenne fala inclusivamente no "desenvolvimento actual dos pequenos servios e no retorno ao artesanato". E, depois, que seja mesmo uma arte "da vida", que a impregne, "que se transporte para a praxis quotidiana a prpria prtica da arte" 116. Que as casas se construam "para habitar", como os "habitantes paisagistas" que arranjam o seu jardim. "No se pode imaginar que a cumplicidade aprendida numa representao teatral ou a fraternidade experimentada nos grupos de msica popular se transfiram para as relaes quotidianas (...) e que enfim de algum modo o trabalho se transforme em jogo?" 117 Ento o homem para invocarmos Hlderlin - poder "habitar poeticamente o mundo", isto , transformar a vida num espao de jogo, onde o prprio trabalhador urbano poder "habitar poeticamente o seu subrbio (...) e mesmo a sua fbrica" 118 No se trata, pois, no projecto de M. Dufrenne, de criar um mundo esttico prprio, que depois, de algum modo, seria posto ao servio do tico e do poltico, mas de trazer o esttico para os prprios domnios do tico e do poltico e, a, no s de transformar a realidade humana em tais domnios mas tambm de a adornar.
E, neste quadro, Lpez Quints, enfim, no s atribui ao esttico menos valor de fim e mais valor de meio, mas ainda, mais do que o poltico, interessa-lhe o tico, o metafsico e o religioso. Isto, evidentemente, para alm de o seu objecto esttico continuar a pr-se em termos de prazer e contemplao. o que nos diz expressa e
115 Ibid. pp. 651-652. 116 Ibid. pp. 652-653. 117 Ibid. pp. 653-654. 118 Ibid. p. 654.
pp. 85-113
Revista Filoshfira de C ointra - n. 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
109
sistematicamente na sua recente obra A experincia esttica e o seu poder formativo, dedicada, como o ttulo de resto sugere , ao tema em apreo 119 Com efeito, tratando sobretudo da experincia esttica na arte, diz logo no Prlogo: "Se autonomizo o agrado que me produz uma obra, fico-me a meio caminho na contemplao da obra (...)". Mas, "se tomamos o agrado como sinal da presena de um valor em princpio oculto, mas j operante, a experincia esttica (...) realiza um trabalho mais fundo (...), adentra-nos no mundo que os artistas plasmam nas suas obras , ensina-nos a considerar o sensvel no como uma barreira (...) mas como um lugar vivo de presena (...), ponto luminoso de vibrao das mltiplas realidades que nutrem a nossa vida pessoal" 121, de que fazem parte, e at com particular realce, os valores ticos e religiosos 121. O objectivo do autor nesta obra justamente mostrar como a experincia esttica pode ser "exemplar" para as demais experincias valiosas do homem - da gnoseolgica religiosa - e, portanto, como ela encerra um valor de formao integral para ele, que de modo nenhum dever ser desaproveitado 122. Para compreendermos bem o pensamento do autor, contudo, preciso recuar s suas primeiras grandes obras, nas quais elabora os grandes conceitos. A meta eliminar a contraposio de excluso mtua entre sujeito e objecto, racional e arracional, de modo a chegar ao que ele chama a realidade "super-objectiva" - o objectivo per eminentiam - que implica ao mesmo tempo o subjectivo e o objectivo, o logos e o pliatos, "como energias que s devem conceber-se potenciando-se mutuamente" 123. Para isso, cria o mtodo "analctico", isto , de "dialctica ascendente", em que um domnio "superado" por outro ao modo da Aufllebung hegeliana, e em que a realidade, mais do que constituda por "coisas", constituda por "relaes", por "espaos de jogo", por
119 A. LPEZ QUINTS, La experiencia esttica y su poder formativo (EEPF), Estella, Editorial Verbo Divino, 1991. -- Prof. de Esttica na Universidade Complutense de Madrid, Lpez Quintis autor de uma obra de grande flego (vasta pelos temas e pelas espcies publicadas, de que esta a vigsima terceira), conhecedora , informada e original. Embora dominantemente construda a partir da perspectiva esttica, ela abarca todos os domnios da filosofia: a gnoseologia , a metafsica , a antropologia, a tica, a religio. Devem realar-se: Metodologa de lo suprasensible, 2 vols. Madrid, 1971 (1963); Hacia un estilo integral de pensar, 3 vols . Madrid , 1967-70: I. Esttica; El tringulo hennenutico, Madrid, Editorial Catlica, 1975; Cinco grandes tareas de la filosofia actual, Madrid. Gredos, 1977.
120 A. LOPZ QUINTS, EEPF, p.7. 121 Ibid. logo na p. 12, em muitos passos no decorrer da obra, e depois no ltimo cap. pp. 250-264. 122 Ibid. pp. 12 e 215-216. 123 Cf. J. PLAZAOLA, o.c. p. 249.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol. 2 (1993)
pp. 85-113
110
J. A. Encarnao Reis
"mbitos", que permitem ao homem a passagem dinmica de uns domnios aos outros dessa mesma realidade. As categorias implicadas neste processo so, assim , as de imediatidade e distncia, as quais, cuzando-se mutuamente , do os diferentes modos de presena. Neste sentido, fala na "intuio intelectual imediato-indirecta" 124, na qual, por exemplo, eu entro indirectamente no mundo das alegrias, das tristezas, das vivncias do outro atravs do seu aparato sensvel comportamental e lingustico, mas entro imediatamente, e tanto que nos acontece muitas vezes no sabermos a cor dos olhos da pessoa com quem estivemos a conversar uni bom bocado 125. Do ponto de vista esttico, essas trs categorias fundamentais - o "tringulo hermenutico", como lhe chama - articulam-se em termos da imediatidade do contacto sensvel e da distncia dos valores, as quais, cruzando-se, do a presena da manifestao do supra-sensvel atravs do sensvel, convertendo-se este ltimo, desta forma, no lugar de vibrao do supra-sensvel 126. Se a isto acrescentarmos que o homem j no como o animal , que est umbilicalmente preso s coisas do seu meio, mas ao contrrio j est livre delas e por isso, para se realizar, tem de se "relacionar com elas", j um "ser de encontro", teremos dito o essencial: a realizao do homem s pode processar-se por "imerso criadora"; s assim ele acolhe o que lhe alheio e mesmo heternomo, e o integra no dinamismo da sua vida, de modo a "realizar-se criadoramente" 127, com o prazer que acompanha (desde Aristteles) toda a realizao humana 128
Ora, neste contexto que entra a experincia esttica, e sobretudo a experincia musical, no s do caso conhecido de G. Marcel, mas do prprio autor, que ele mesmo um notvel intrprete musical. Quando o intrprete comea a estudar a obra, esta -lhe estranha, quer ao nvel da partitura quer ao nvel do instrumento . Atravs dos ensaios, vai adquirindo liberdade, at que se sente "invadido pela obra, qual configura; sabe-se plenificado por uma realidade que no existiria se ele no a afirmasse; sente-a vibrar em si como algo prprio, como uma voz interior; (...) mas ningum est mais consciente que ele de que no sua, de que lhe transcendente. Neste sentido, distinta dele, mas no distante, nem estranha , antes ntima . O intrprete domina a obra ao
124 Desde a obra: A. LPEZ QUINTS, Metodologia de p. 419 e ss.
lo Suprasensible, ed. c.
121 ID. EEPF, pp. 112-113.
126 ID. Metodologia de to suprasensible, ed. c. H. pp 87-88. 127 ID. EEPF, pp. 12-13, 108-109 e outros.
128 Ibid. p. 24. Para a aluso a Aristteles, Eth. Nic. X, 4.
pp. 85-113
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
111
deixar-se dominar por ela" 129. Est aqui, segundo o autor, o essencial da experincia esttica : uma "imerso activo - receptiva (...) numa realidade apelante (a obra musical) que convida o intrprete a assumi-la como princpio da sua actividade artstica". A contraposio estranheza-intimidade, heteronomia-autonomia, necessidade-liberdade assim superada e de tal modo que, em vez de se perder o homem no heternomo, ao contrrio enriquece-se, realiza-se no sentido mais profundo da palavra. por isso que a experincia esttica pode ser o "modelo" das demais experincias valiosas do homem , nomeadamente a gnoseolgica, a metafsica, a tica e a religiosa; pode-se assim, diz Lpez Quints em relao ltima, ter a experincia do "acolhimento de uma mensagem revelada e do Ser supremo, que ao princpio distinto e distante do homem e mais tarde se lhe converte em ntimo, "mais ntimo que a prpria intimidade" (Sto. Agostinho)" 130. E ao analisar a importncia que a experincia musical teve na obra filosfica de G. Marcel, o autor sublinha o carcter de "universalidade concreta, eficiente, inesgotvel" que por exemplo uma Nona Sinfonia tem sobre todo o seu intrprete, de tal modo que no foi de outra maneira que justamente Marcel "se abriu convico, para ele decisiva, de que a msica constitui um "testemunho ontolgico", porquanto revela a face invisvel do visvel"; "cair na conta disso foi para Marcel uma torrente de luz, em ordem compreenso do que significa o "ser" para o homem" 131. Tal , pois, para Lpez Quints, a essncia da experincia esttica. Trata-se da participao do homem numa realidade valiosa, fazendo-o entrar num espao de jogo em que se desenrola uma verdadeira criao. E o mesmo processo se passa nomeadamente nos domnios do tico e do religioso. Mas, quer j porque a experincia esttica "desinteressada", renunciando assim vontade de domnio, quer sobretudo porque nela se v "com exemplar clareza" o modo de "nos abrirmos a realidades distintas, distantes e alheias, sem nos alienarmos" - que o problema bsico da realizao ou formao humana -, ela o paradigma, o modelo que deve ser seguido para a completa formao humana 132. Se tal se fizer, "o sentimento de gozo e felicidade" que acompanha todo o esttico 133 e que, como diz belamente Bergson, " sinal de que a vida triunfou" poder tambm vir a experimentar-se em relao "ao bom, ao verdadeiro
129 A. LPEZ QUINTS, EEPF, pp. 15 e 252-253. 130 Ibid. p. 15.
131 Ibid. pp. 81-83. 132 Ibid. pp. 23-25.
133 Ibid. pp. 165, 166, 168.
Revista Filosfica de Coimbra - n." 3 - vol . 2 (1993 )
pp. 85-113
112
J. A. Encarnao Reis
e ao santo. Ajudar a descobrir esta vizinhana enigmtica das experincias humanas mais altas", conclui o autor, " a maior contribuio da esttica para a tarefa educativa do homem" 134. Tal como em Schiller, tambm pois aqui "o homem s verdadeiramente homem quando joga". Mas em Lpez Quints o jogo tem um outro sentido e integra- se numa outra perspectiva. Aqui o "jogo" significa que o homem um "ser de encontro" 135 e o esttico, em vez de ser no fundo a grande realizao humana , ao contrrio sobretudo o exemplo, o modelo, o caminho para a experincia filosfica num sentido completo, isto , nomeadamente para a experincia tica e religiosa 1311. Trata-se, no caso de todas elas, de experincias diferentes e, como tais, independentes 137. Mas se se pe a hierarquizao - e, sem dvida, no pode deixar de se pr - os grandes valores so os da tica e da religio 131. A prpria filosofia e a prpria teologia fazem-se poesia na Divina Comdia de Dante e nos poemas de S. Joo da Cruz: parece ser este o ideal para Lpez Quints 139. Como quer que seja, porm, o autor termina invocando as experincias do nada de Heidegger, do trancender de Jaspers e do dever ser de Fichte, e a compar-las experincia da interpretao musical 140, para concluir que "tanto na experincia esttica como na tica e na metafsica [s] procuramos algo em virtude da fora que irradia da realidade procurada" 141
5. Concluso Donde parece resultar a concluso seguinte. Em primeiro lugar, no sendo o homem constitudo por um s domnio nem por domnios estanques, mas por uma rede deles, o esttico articula-se sempre, desta ou daquela maneira, com todos os outros domnios. Mas, e em segundo lugar, sendo sempre esse mesmo esttico - para se distinguir dos outros domnios - prazer e contemplao, jamais se perde pura e simplesmente, por mais que se ponha ao servio deles. Alis, nesta articulao, o prprio
134 Ibid. p. 24. 135 Ibid. p. 24. 136 Ibid. p. 250.
131
138 Ibid. p. 234.
139 Ibid. p. 235.
Ibid. p. 226.
140 Ibid. pp. 250-258. 141 Ibid. p. 257.
pp. 85 -113
Revista Filos,lfira de Coimbra - n." 3 -vol . 2 (1993)
A Funo do Esttico
113
esttico serve sem dvida - acabamos de o ver em Lpez Quints - descoberta dos outros domnios. Mas a prpria descoberta desses domnios (e a sua posterior prossecuo) sempre se entendeu - desde Aristteles, e Lopz Quints naturalmente no o esquece - como a origem da nossa verdadeira felicidade, do nosso verdadeiro prazer. E parece ento - como um T. Gautier o diz no clebre prefcio de Mademoiselle de Maupin - que afinal o prazer "a finalidade da vida e a nica coisa til no mundo" 142; ou, como de outra maneira o diz Nietzsche na "Cano das doze badaladas" do Zaratustra, que s o prazer "quer a eternidade, a profunda eternidade". No entanto este um problema que s um exame radical e despreconcebido das teorias histricas acerca da constituio ontolgica do prazer - a comear pela aristotlica na tica a Nicmaco (VII, 11-14 e X, 1-5) - pode resolver.
142 T. GAUTIER, Mademoiselle de Maupin , Bruxelles, 1837, p. 44.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 3 - vol . 2 (1993)
pp. 85-113
Das könnte Ihnen auch gefallen
- A ideologia enquanto instrumento pedagógico crítico em Adorno, Horkheimer e GirouxDokument19 SeitenA ideologia enquanto instrumento pedagógico crítico em Adorno, Horkheimer e GirouxneresluanaNoch keine Bewertungen
- mondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesDokument33 SeitenmondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesÉsio SalvettiNoch keine Bewertungen
- Considerações Sobre A Encenação de Marat-Sade Por Peter BrookDokument13 SeitenConsiderações Sobre A Encenação de Marat-Sade Por Peter BrookCarlin FrancoNoch keine Bewertungen
- PLENITUDE E CARÊNCIA - A Dialética Do Fragmento PDFDokument17 SeitenPLENITUDE E CARÊNCIA - A Dialética Do Fragmento PDFAlexCosta1972Noch keine Bewertungen
- CARLI, Ranieri. LUKÁCS, LITERATURA E O IMPERATIVO DA CATARSE REALISTA-1Dokument15 SeitenCARLI, Ranieri. LUKÁCS, LITERATURA E O IMPERATIVO DA CATARSE REALISTA-1Kárita BorgesNoch keine Bewertungen
- ADORNO - Dialética Negativa - Pedaço Do Livro PDFDokument7 SeitenADORNO - Dialética Negativa - Pedaço Do Livro PDFLucas Macedo SalgadoNoch keine Bewertungen
- Hofmannsthal. Carta de Lord Chandos para Francis Bacon1Dokument11 SeitenHofmannsthal. Carta de Lord Chandos para Francis Bacon1Mario SantiagoNoch keine Bewertungen
- Poetas À Beira de Uma Crise de VersosDokument10 SeitenPoetas À Beira de Uma Crise de VersosCintia FollmannNoch keine Bewertungen
- Fichamento Do Artigo Sentido e Não Sentido Na Crise Da Modernidade. Do Filo. Henrique Cláudio de Lima VazDokument5 SeitenFichamento Do Artigo Sentido e Não Sentido Na Crise Da Modernidade. Do Filo. Henrique Cláudio de Lima VazSilvestre Savino Jr.Noch keine Bewertungen
- Herberto Helder, Alquimista Das Imagens - Revista CultDokument3 SeitenHerberto Helder, Alquimista Das Imagens - Revista CultEduardo RosalNoch keine Bewertungen
- Linguagem e Acontecimento ApropriativoDokument25 SeitenLinguagem e Acontecimento ApropriativoLuiz Carlos de Oliveira e Silva100% (1)
- Expressão Lírica de Um Mundo em Colapso (Gustavo Ribeiro) PDFDokument12 SeitenExpressão Lírica de Um Mundo em Colapso (Gustavo Ribeiro) PDFLeonardo PaivaNoch keine Bewertungen
- Glauber Critica e Autocritica TESEDokument247 SeitenGlauber Critica e Autocritica TESECris VenturaNoch keine Bewertungen
- Guyau Por Ferruccio AndolfiDokument29 SeitenGuyau Por Ferruccio AndolfiRuben FilipeNoch keine Bewertungen
- Dois poemas de Hölderlin analisados por BenjaminDokument20 SeitenDois poemas de Hölderlin analisados por BenjaminErick CostaNoch keine Bewertungen
- Agamben - A Potência Do PensamentoDokument7 SeitenAgamben - A Potência Do PensamentoSoraya VasconcelosNoch keine Bewertungen
- Abreu, Ovideo de - O Combate Ao Julgamento No Empirismo Transcendental de Deleuze PDFDokument292 SeitenAbreu, Ovideo de - O Combate Ao Julgamento No Empirismo Transcendental de Deleuze PDFArtur P. CoelhoNoch keine Bewertungen
- Existencialismo Eduardo Lourenço Vergílio FerreiraDokument12 SeitenExistencialismo Eduardo Lourenço Vergílio FerreiraPedro Fonseca E SilvaNoch keine Bewertungen
- Sobre a ontologia da literatura hojeDokument10 SeitenSobre a ontologia da literatura hojeMatiasBarrios86Noch keine Bewertungen
- Leituras Do Sublime - Lyotard e DerridaDokument24 SeitenLeituras Do Sublime - Lyotard e DerridaJorgeLuciodeCampos100% (1)
- Lefort, C..Dokument6 SeitenLefort, C..Renata TavaresNoch keine Bewertungen
- Theodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFDokument3 SeitenTheodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFAde EvaristoNoch keine Bewertungen
- Heidegger, poesia e linguagemDokument25 SeitenHeidegger, poesia e linguagemMomoBeNoch keine Bewertungen
- ÉticaDokument2 SeitenÉticaPaulo Andrade II100% (1)
- Teoria estética de AdornoDokument2 SeitenTeoria estética de AdornoJanara SoaresNoch keine Bewertungen
- (TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaDokument3 Seiten(TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaMarcelo AlvesNoch keine Bewertungen
- Características de Benjamin Por Jeanne PDFDokument13 SeitenCaracterísticas de Benjamin Por Jeanne PDFOi, tudo bem?Noch keine Bewertungen
- Nasce a literatura gay no BrasilDokument9 SeitenNasce a literatura gay no BrasilIago MouraNoch keine Bewertungen
- A Foto de FinisterraDokument17 SeitenA Foto de Finisterraantónio_gomes_47Noch keine Bewertungen
- Glauber e os signos do cinema, transe e revoluçãoDokument21 SeitenGlauber e os signos do cinema, transe e revoluçãoJoaoNoch keine Bewertungen
- Definição de arquitetura ao longo dos temposDokument3 SeitenDefinição de arquitetura ao longo dos temposAdalton Rosa100% (1)
- A representação do dionisíaco em Nietzsche: o conceito de apolíneoDokument28 SeitenA representação do dionisíaco em Nietzsche: o conceito de apolíneoRicardo Pinto de SouzaNoch keine Bewertungen
- Defacement e o Labor do NegativoDokument39 SeitenDefacement e o Labor do NegativoNilma AndradeNoch keine Bewertungen
- ANTELO. Tempos de Babel PDFDokument16 SeitenANTELO. Tempos de Babel PDFFrancisco CamêloNoch keine Bewertungen
- Lawrence - O Caos Na PoesiaDokument2 SeitenLawrence - O Caos Na Poesiamauje26Noch keine Bewertungen
- Blanchot e a literatura como impossibilidadeDokument22 SeitenBlanchot e a literatura como impossibilidadeJuliana FalcãoNoch keine Bewertungen
- Fabiano de Lemos Britto - Nietzsche Ensaio de Uma Pedagogia Messiânica (Tese)Dokument361 SeitenFabiano de Lemos Britto - Nietzsche Ensaio de Uma Pedagogia Messiânica (Tese)FilosofemaNoch keine Bewertungen
- O tímpano derridiano e a filosofia de NietzscheDokument20 SeitenO tímpano derridiano e a filosofia de NietzscheSamon NoyamaNoch keine Bewertungen
- ADORNO, Theodor - Palestra Sobre Lirica e Sociedade in Notas de Literatura IDokument14 SeitenADORNO, Theodor - Palestra Sobre Lirica e Sociedade in Notas de Literatura ICristiane CubasNoch keine Bewertungen
- 02 MEDEIROS, Constantino. A Invenção Da Modernidade LiteráriaDokument105 Seiten02 MEDEIROS, Constantino. A Invenção Da Modernidade LiteráriaBruna SantosNoch keine Bewertungen
- Aula 14.temp PDFDokument73 SeitenAula 14.temp PDFAndre Familia LyraNoch keine Bewertungen
- História Da Expressão - Afinidade EletivaDokument14 SeitenHistória Da Expressão - Afinidade EletivaSílvia PintoNoch keine Bewertungen
- Derrida, Jacques - Discurso Prêmio AdornoDokument12 SeitenDerrida, Jacques - Discurso Prêmio AdornoJuliana Bratfisch100% (1)
- Conceito de Paideuma de Leo FrobeniusDokument1 SeiteConceito de Paideuma de Leo FrobeniusEmilsonwernerNoch keine Bewertungen
- Teatro no século XVIII: Voltaire, Diderot e RousseauDokument16 SeitenTeatro no século XVIII: Voltaire, Diderot e RousseaurenatoNoch keine Bewertungen
- Ana Godoy - Menor Das Ecologias 2Dokument12 SeitenAna Godoy - Menor Das Ecologias 2Ana GodoyNoch keine Bewertungen
- Leitura(s) - Sobre George SteinerDokument30 SeitenLeitura(s) - Sobre George SteinerArtur Alves100% (2)
- SAFATLER, Vladimir - Sexo, Simulacro e Políticas Da ParódiaDokument18 SeitenSAFATLER, Vladimir - Sexo, Simulacro e Políticas Da ParódiapolicisseNoch keine Bewertungen
- Análise da relação entre imagem e movimento em DeleuzeDokument3 SeitenAnálise da relação entre imagem e movimento em DeleuzeWood Mutran100% (1)
- Júlia Ripoll Eizirik - Sobre Benjamin e FoucaultDokument9 SeitenJúlia Ripoll Eizirik - Sobre Benjamin e FoucaultPriscilla StuartNoch keine Bewertungen
- Imitação e manifestação na arte: aproximações entre Aristóteles e HegelDokument46 SeitenImitação e manifestação na arte: aproximações entre Aristóteles e HegelJorge TostesNoch keine Bewertungen
- TEMPLE, Giovana Carmo. Acontecimento Poder e Resistencia em Michel Foucalt PDFDokument288 SeitenTEMPLE, Giovana Carmo. Acontecimento Poder e Resistencia em Michel Foucalt PDFJamille RosaNoch keine Bewertungen
- Roland Barthes e a revelação profana da fotografiaVon EverandRoland Barthes e a revelação profana da fotografiaNoch keine Bewertungen
- Grafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)Von EverandGrafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)Noch keine Bewertungen
- Poly-Universe metodologia de ensino matemáticaDokument17 SeitenPoly-Universe metodologia de ensino matemáticaHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Filosofia e Ge Nero Outras Narrativas So PDFDokument255 SeitenFilosofia e Ge Nero Outras Narrativas So PDFHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Entrevistas LÍDIAJORGEe TEOLINDAGERSÃODokument6 SeitenEntrevistas LÍDIAJORGEe TEOLINDAGERSÃOHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Uma Filosofia Do Cogito Ferido - Paul Ricoeur - GagnebinDokument12 SeitenUma Filosofia Do Cogito Ferido - Paul Ricoeur - GagnebinÉrico FumeroNoch keine Bewertungen
- Um Vazio de Direito PaperDokument10 SeitenUm Vazio de Direito PaperHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Heidegger e o Exercício EcfrásticoDokument14 SeitenHeidegger e o Exercício EcfrásticoHelena Pinela100% (1)
- ArquivopessoaDokument5 SeitenArquivopessoaHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Texto - Bachelard.Poética Do EspaçoDokument17 SeitenTexto - Bachelard.Poética Do EspaçoHelena Pinela100% (1)
- Fernando Pessoa e A Consciencia InfelizDokument20 SeitenFernando Pessoa e A Consciencia InfelizHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Notadeleitura Sobre "O Que É Um Texto" (RICOEUR, 1989)Dokument7 SeitenNotadeleitura Sobre "O Que É Um Texto" (RICOEUR, 1989)Helena PinelaNoch keine Bewertungen
- Biscoitos de Aveia e MelDokument1 SeiteBiscoitos de Aveia e MelHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- A HERMENÊUTICA DA CONDIÇÃO HUMANA de Paul RicoeurDokument44 SeitenA HERMENÊUTICA DA CONDIÇÃO HUMANA de Paul RicoeurRocha JessicaNoch keine Bewertungen
- Dialnet InfluenciaDoEstoicismoSobreMarcoTulioCiceroEOPensa 3754261 PDFDokument12 SeitenDialnet InfluenciaDoEstoicismoSobreMarcoTulioCiceroEOPensa 3754261 PDFHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- O Bom Uso Das Feridas Da MemoriaDokument4 SeitenO Bom Uso Das Feridas Da MemoriaClara RohemNoch keine Bewertungen
- Chatelet-História Da Filosofia 7Dokument145 SeitenChatelet-História Da Filosofia 7Helena Pinela100% (8)
- Teologia Política-Dicionário Alexandre Franco SáDokument10 SeitenTeologia Política-Dicionário Alexandre Franco SáAna Suelen Tossige GomesNoch keine Bewertungen
- As seis definições modernas de hermenêuticaDokument5 SeitenAs seis definições modernas de hermenêuticaHelena Pinela100% (1)
- Rosa Jose Trindade Teologia Pol Tica PDFDokument24 SeitenRosa Jose Trindade Teologia Pol Tica PDFHelena Pinela100% (1)
- Fichte, Dourina Da CiênciaDokument11 SeitenFichte, Dourina Da CiênciaHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Pires Edmundo Balsemao Teoria Critica Moral PDFDokument30 SeitenPires Edmundo Balsemao Teoria Critica Moral PDFHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Aristoteles Met-V PDFDokument20 SeitenAristoteles Met-V PDFHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- O problema da tolerância na filosofia política de John RawlsDokument21 SeitenO problema da tolerância na filosofia política de John RawlsHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Cicero Sobre o DestinoDokument17 SeitenCicero Sobre o DestinoSusana PaisNoch keine Bewertungen
- Materiais Sobre o Programa de OntologiaDokument76 SeitenMateriais Sobre o Programa de OntologiaHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Filosofia e Universidade PDFDokument32 SeitenFilosofia e Universidade PDFHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Marcus Aurelius's Meditations - Philosophy, Coimbra University (2012)Dokument10 SeitenMarcus Aurelius's Meditations - Philosophy, Coimbra University (2012)Helena PinelaNoch keine Bewertungen
- Hegel e As Patologias Da Ideia PDFDokument25 SeitenHegel e As Patologias Da Ideia PDFHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- Curso Jesuíta ConimbricenseDokument292 SeitenCurso Jesuíta ConimbricenseHelena Pinela100% (1)
- Modos de Inscricao Do CorpoDokument14 SeitenModos de Inscricao Do CorpoHelena PinelaNoch keine Bewertungen
- AULA 07 Parte II LET 102 2020Dokument42 SeitenAULA 07 Parte II LET 102 2020José RuggieroNoch keine Bewertungen
- Colégio Nobel LínguasDokument10 SeitenColégio Nobel LínguasGabriel ZemunerNoch keine Bewertungen
- StylingDokument29 SeitenStylingJohn's SualkNoch keine Bewertungen
- BrainstormingDokument12 SeitenBrainstormingsheilar_16846886Noch keine Bewertungen
- Super Dicas para Se Tornar Um Verdadeiro LíderDokument12 SeitenSuper Dicas para Se Tornar Um Verdadeiro LíderDNS100% (1)
- Uma Outra Abordagem de Lugar Rem Koolhaas e A Casa Da MúsicaDokument53 SeitenUma Outra Abordagem de Lugar Rem Koolhaas e A Casa Da Músicatatiane_martinelli_2Noch keine Bewertungen
- Conhecendo Jesus e Aprendendo A Orar-RevistaDokument55 SeitenConhecendo Jesus e Aprendendo A Orar-RevistaAndreRibeiro50% (2)
- O Classicismo na LiteraturaDokument3 SeitenO Classicismo na LiteraturaThaynara BatistaNoch keine Bewertungen
- Como vencer o medoDokument2 SeitenComo vencer o medoPr. Waldenberg100% (1)
- Carta de Liberação Do PerdãoDokument4 SeitenCarta de Liberação Do Perdãogomees.allyneeNoch keine Bewertungen
- U-039 Cleres Do Nascimento MansanoDokument15 SeitenU-039 Cleres Do Nascimento MansanoGEOGRAFÍA DE COSTA RICANoch keine Bewertungen
- Funções mentais superiores e desenvolvimento cognitivoDokument21 SeitenFunções mentais superiores e desenvolvimento cognitivoAndre Zanon100% (1)
- PIAGET 7926-Texto Do Artigo-25116-1-10-20180221Dokument19 SeitenPIAGET 7926-Texto Do Artigo-25116-1-10-20180221marco bugniNoch keine Bewertungen
- Administração atual e futuroDokument7 SeitenAdministração atual e futuroJane CruzNoch keine Bewertungen
- Mulheres que tecem: análise dos contos de Marina ColasantiDokument12 SeitenMulheres que tecem: análise dos contos de Marina ColasantiVanessa PorfirioNoch keine Bewertungen
- Sermões - Dois Pecadores Na Igreja - o Cego de JericóDokument5 SeitenSermões - Dois Pecadores Na Igreja - o Cego de JericóFranciscoSimasNoch keine Bewertungen
- Neoliberalismo Como Gestao Do Sofrimento PsiquicoDokument322 SeitenNeoliberalismo Como Gestao Do Sofrimento PsiquicoLaíne Carvalho100% (2)
- RELATÓRIO 3 - Ótica GeométricaDokument28 SeitenRELATÓRIO 3 - Ótica GeométricaAna Célia Mantovani Pagliuso100% (1)
- Cartas de Tarô: Paus e CopasDokument79 SeitenCartas de Tarô: Paus e CopasEmília Garcez100% (1)
- Raciocínio LógicoDokument9 SeitenRaciocínio Lógicolucas ronieryNoch keine Bewertungen
- Semântica e a natureza da línguaDokument56 SeitenSemântica e a natureza da línguaTadeu carvalho gouveaNoch keine Bewertungen
- Pronomes em Latim: Gêneros, Casos e FunçõesDokument2 SeitenPronomes em Latim: Gêneros, Casos e FunçõesJosimar OliveiraNoch keine Bewertungen
- No Caminho Do Trânsito Seguro (1) Prova Do SábadoDokument5 SeitenNo Caminho Do Trânsito Seguro (1) Prova Do SábadoraucfNoch keine Bewertungen
- 9 Razões Bíblicas para Ser Católico-1Dokument2 Seiten9 Razões Bíblicas para Ser Católico-1luisrichardheavyNoch keine Bewertungen
- Plano de EnsinoDokument2 SeitenPlano de EnsinoFlávio BassoNoch keine Bewertungen
- Iluminação cênica obra iluminadora Jamile TormannDokument14 SeitenIluminação cênica obra iluminadora Jamile TormannPedro FelizesNoch keine Bewertungen
- Vittude Guia Completo Das Principais Abordagens Da Psicologia 2Dokument49 SeitenVittude Guia Completo Das Principais Abordagens Da Psicologia 2GuilhermeNoch keine Bewertungen
- GERE - NRA Do Rosário-Juliana Beatriz de SouzaDokument21 SeitenGERE - NRA Do Rosário-Juliana Beatriz de SouzaMilaNoch keine Bewertungen
- Aulas Hpe 1Dokument14 SeitenAulas Hpe 1Felisberto MaelNoch keine Bewertungen