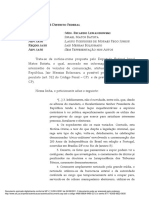Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Resumos Penal 1
Hochgeladen von
Inês SofiaCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Resumos Penal 1
Hochgeladen von
Inês SofiaCopyright:
Verfügbare Formate
Direito Penal 1
PARTE I QUESTES FUNDAMENTAIS
O Direito Penal e a sua cincia no sistema jurdico estadual
1 Capitulo. O DIREITO PENAL EM SENTIDO FORMAL
Distingue-se Direito Penal em sentido subjectivo e em sentido objectivo. O primeiro, o ius punendi, reporta-se ao poder punitivo do Estado resultante da sua soberana competncia para considerar como crimes certos comportamentos humanos e ligar-lhes sanes especficas. Emanado deste poder estadual surge o ius poenale (sentido objectivo). Tratase do conjunto de normas jurdicas que ligam certos comportamentos humanos (os crimes) a determinadas consequncias jurdicas privativas deste ramo do direito. A mais importante dessas consequncias aquela que encontra expressa guarida no nomen iuris deste ramo do direito: a pena. Mas, lquido no ser esta a nica. Ao seu lado vivem as medidas de segurana. Se estas ltimas se ligam perigosidade do agente, a pena liga-se sua culpa. Ainda que muitos autores (como Beleza dos Santos e Eduardo Correia) prefiram a designao de direito criminal, por porem a tnica no conjunto dos pressupostos de que a consequncia depende (o que conta com a observao crtica de que, em rigor, no poderemos juntar as designaes de criminal com medidas de segurana, pois estas ltimas no dependem da culpa que um elemento essencial de definio do que crime, do que criminal), por nossa conta, tendemos para a preferncia do designativo de Direito Penal, pois esse que subsiste no cdigo e quanto ao nome oficial da disciplina escolar correspondente. Isto formalmente mas tambm de um ponto de vista teleolgico e funcional, uma vez que tudo haver de ser em funo da especificidade da consequncia jurdica que tem lugar neste ramo jurdico. Pena e medida de segurana criminais so os instrumentos sancionatrios que, em definitivo, determinam a pertinncia da matria ao ramo do direito aqui em foco. Em rigor, deveramos ento chamar direito das penas e medidas de segurana criminais. Do exposto decorre a importncia que se deve conferir s valoraes poltico criminais imanentes ao sistema que se exprimem, por excelncia, nas consequncias jurdicas de que falei. Nesta acepo, digamos que o Direito Penal e a sua cincia se orientam para o resultado, isto , para a consequncia jurdica. Por fim, refiro apenas que quando se fala em Direito Penal, usualmente apenas se quer referir um dos ramos do Direito Penal em sentido amplo: o Direito Penal substantivo. Ao lado deste, habitam o Direito Processual Penal, adjectivo ou formal e o direito de execuo das penas e medidas de segurana ou direito penal executivo.
2 Capitulo. A LOCALIZAO DO DIREITO PENAL NO SISTEMA JURDICO
Se essencialmente intra-estadual (por serem rgos nacionais estaduais que criam e aplicam o direito), o Direito Penal tem assistido a um prodigioso incremento da sua relevncia no plano internacional.
Direito Penal
As normas de direito internacional, os instrumentos de direito internacional em matria penal e os princpios de direito internacional geral ou comum (estes ltimos que vigoram na Ordem Jurdica Portuguesa por fora do 8 CRP) so um relevante reflexo dessa abertura. Isto a par da criao de Tribunais Penais Internacionais ad hoc na antiga Jugoslvia e no Ruanda) e com a aprovao do Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI), com o Estatuto de Roma, aprovao essa que traz consigo os princpios vectores da sua jurisdio: o da vinculao voluntria (12) e o da subsidiariedade (17 ETPI); e a regra relativa sua competncia: conhece, exclusivamente, os delicta iuris gentium. Tudo isto vem mostrar como, hoje, j no o Direito Penal monoplio da legislao e jurisdio dos Estados. Todavia, devo frisar como a doutrina da essencial intra-estadualidade do Direito Penal no se modifica, apesar dos problemas suscitados pelo processo de integrao europeia. Na verdade, ainda que se possa falar de um ius punendi negativo das instancias comunitrias (legitimidade para impor normas que se projectam no estreitamento ou recuo do direito penal estadual) por fora dos princpios da prevalncia do direito comunitrio face ao nacional e da unidade da ordem jurdica j no ser assim quanto ao ius puniendi positivo. No h ainda, hoje, opinio cimentada e generalizada quanto questo de saber se as instncias comunitrias tm ou no competncia penal para aprovar normas directamente aplicveis pelos tribunais nacionais (regulamentos). No plano interno, o Direito Penal , sem dvida, uma parte integrante do Direito Pblico, visto estar em foco a relao de supra / infra ordenao entre o estado soberano e o particular submetido ao imprio daquele. O ius puniendi, preenchidos todos os pressupostos de interveno, apresenta-se, por inteiro, subtrado vontade dos particulares, alm de espelhar a funo estadual de preservao das condies essenciais da existncia comunitria. H, aqui, portanto, uma estreita relao entre a doutrina do crime e os seus efeitos jurdicos (por um lado) e o direito constitucional e a Teoria do Estado (por outro). Na verdade, quanto a esta ideia, os instrumentos sancionatrios tpicos do Direito Penal (penas e medidas de segurana) representam negaes ou limitaes fortssimas aos direitos fundamentais das pessoas, constitucionalmente protegidos, alm de ser premente a mtua referncia entre a ordem axiolgica jurdico constitucional e a ordem legal dos bens jurdicos que o direito penal pretende tutelar. Decorre daqui o carcter de dependncia relativamente ao direito constitucional ( liquida esta afirmao do ponto de vista sistmico formal, j no tanto do espectro material). J quanto aos outros ramos do Direito, no curso tende-se para a configurao do Direito Penal como ramo autnomo e criador de uma especfica ilicitude penal, uma vez que lhe cumpre seleccionar (de entre os comportamentos ilcitos em geral) aqueles que, de uma perspectiva teleolgica, representam um ilcito geral digno de sano de natureza criminal. Em rigor, a funo do Direito Penal poder-se- designar como subsidiria, fragmentria e, hoc sensu, acessria, na medida em que radica na proteco das condies indispensveis da vida comunitria.
3 Capitulo. A CINCIA CONJUNTA DO DIREITO PENAL
Foi mrito de Von Liszt ter criado o modelo tripartido do que chamou a cincia conjunta (total ou global) do Direito Penal: a Gesamte Strafrechtswissenschaft, que compreendia a:
Direito Penal
(1) Dogmtica jurdico penal (ou cincia estrita do Direito Penal) conjunto de princpios que subjaziam ao ordenamento jurdico penal e devem ser explicitados dogmtica e sistematicamente; (2) Criminologia Cincia das causas do crime e da criminalidade; (3) Poltica Criminal conjunto sistemtico dos princpios fundados na investigao cientifica das causas do crime e dos efeitos das penas, segundo os quais o Estado deve levar a cabo a luta contra o crime por meio da pena e das vicissitudes com ela relacionadas. No quadro do Estado de Direito Formal (positivismo jurdico) e no do Estado Social (sociologismo jurdico), imperou a ideia de Von Liszt segundo a qual caberia dogmtica jurdico penal o primeiro lugar na hierarquia das cincias criminais. Mesmo com as mudanas operadas no Estado social, com as quais a politica criminal e a criminologia se autonomizaram face dogmtica jurdico penal, pode dizer-se, porm, que a poltica criminal no deixava de ser, na perspectiva do jurista, uma cincia auxiliar somente competente para a reforma penal. Da que o aforismo de Liszt, segundo o qual o direito penal [a dogmtica jurdico penal, portanto] constitui a barreira intransponvel da poltica criminal, continuasse a valer ilimitadamente. Hoje, com o pano de fundo de um sistema jurdico penal teleolgico funcional e racional no mbito do Estado material contemporneo o caso muda de figura e elevam-se outras perspectivas. No atinente relao entre dogmtica jurdico penal e poltica criminal, a problemtica resume-se questo de saber at onde o pensamento do problema se pode introduzir no pensamento do sistema (em geral dominante na dogmtica jurdico penal). Roxin diz que o sistema um elemento irrenuncivel do direito penal de um Estado de Direito. Daqui discorre que o facto de se poder atribuir um lugar cimeiro ao pensamento do problema na dogmtica jurdico penal significa negligenciar ou minimizar o papel irrecusvel que nela continua a pertencer ao pensamento do sistema. Por isso, pensamento do problema deve coexistir com pensamento do sistema. Ficam, assim, lanadas as coordenadas bsicas para a atitude metodolgica do jurista: busca de solues concretas, justas e adequadas, concebendo o sistema aberto e conformado por consideraes axiolgicas, confrontando a dogmtica jurdico penal com problemas novos ou apresentando solues novas para problemas antigos. Em cada dia o sistema se vai refazendo. Com este alargamento da funo da dogmtica jurdico penal, foi possvel fazer-lhe corresponder uma posio de transcendncia e domnio face prpria dogmtica. Esta concluso espelhou duas consequncias: 1. As categorias e os conceitos bsicos da dogmtica jurdico penal devem agora ser, no simplesmente influenciados por consideraes de politica criminal, mas sim determinados e cunhados a partir de proposies poltico criminais e da funo que por estas lhes assinada no sistema; 2. De cincia anteriormente competente para as tarefas da Reforma Penal (apenas), a poltica criminal, agora, passa a definir os limites da punibilidade, em ltimo termo (Assim, Roxin diz que o Direito Penal constitui a forma por intermdio da qual as proposies de fins politico criminais se vazam no modus da validade jurdica e, ainda, diz Figueiredo Dias, reforando, que a poltica criminal extra-sistemtica relativamente ao Direito Penal pois apresenta-se como padro crtico do direito constitudo, como do constituendo, dos seus limites e legitimao e intra-sistemtico relativamente concepo de Estado, ao sistema jurdico constitucional). Hoje, a questo da relao entre estes dois mundos (dogmtica jurdica e politica criminal), no a da introduo de um no mbito do outro, como afirmou Zipf, mas sim
Direito Penal
a da optimizao da colaborao entre ambos. H como que uma unidade cooperativa ou funcional entre as duas disciplinas. No que concerne criminologia, diz-se que a politica criminal se apresenta como um intermdio entre si e a dogmtica jurdico penal. No h, portanto, uma relao de cariz imediato entre criminologia e dogmtica jurdico penal. O aparecimento da chamada criminologia dos anos 60 (sc. XX trouxe a conscincia de que a Criminologia j no s uma cincia encerrada num paradigma estritamente etiolgico explicativo, mas , tambm, uma cincia compreensiva do fenmeno criminal na sua integridade, a qual assenta em pressupostos bsicos jurdico polticos e, por aqui, numa politica criminal. Passa a abranger a totalidade do sistema de aplicao da justia penal. Conclusivamente, Figueiredo Dias vem afirmar que Politica criminal, dogmtica jurdico penal e criminologia so assim, do ponto de vista cientfico, trs mbitos autnomos, ligados porm, em vista do integral processo da realizao do direito penal, numa unidade teleolgico funcional. Da que continue a convir a concepo de Liszt de cincia conjunta do Direito Penal: 1. A poltica criminal define os limites da punibilidade (no direito constitudo e constituendo); 2. A dogmtica jurdico penal no pode evoluir sem o trabalho prvio de ndole criminal, nem sem a mediao politico criminal (atenta s finalidades e efeitos que se esperam da aplicao do direito penal).
Funo do Direito Penal
4 Capitulo. FINALIDADES E LEGITIMAO DA PENA CRIMINAL
O Problema dos Fins das Penas: este um problema to velho quanto a propcia histria do Direito Penal, tendo sido discutido ao longo dessa mesma histria. Na verdade, esta problemtica assume um relevo indelvel, visto contender com as outras questes fulcrais: 1) Legitimao; 2) Fundamentao; 3) Funo da Interveno Penal Estatal. Vrias respostas tm sido dadas. As Teorias Absolutas (pena como instrumento de retribuio) vem a essncia da Pena Criminal na retribuio, expiao, reparao do mal do crime. Nisto se esgota a essncia da pena que no mais do que o justo equivalente do dano do facto e da culpa do agente: punitur qui a pecatum est (Pune-se porque se pecou), por isso, a medida concreta da pena com que deve ser punido um certo agente por determinado facto s pode ser encontrada em funo da correspondncia entre a pena e o facto. Pergunta-se qual ser o pensamento filosfico por detrs. Tendo arrancado da Lei de Talio (olho por olho, dente por dente), as Teorias Absolutas penetraram na Idade Antiga das representaes mitolgicas e na Idade Mdia de racionalizaes religiosas, louvando-se na Ideia de que a realizao da justia no mundo, como mandamento de Deus, conduz legitimao da aplicao da pena retributiva pelo juiz (representante terreno da justia divina). J na Idade Moderna e Contempornea, estas teorias encontram guarida na filosofia de Kant que, qualificando a pena como um imperativo categrico, dizia que quando a justia desaparece, no tem mais valor que os homens vivam na Terra e, ainda, que quando o Estado e a sociedade devessem desaparecer, teria o ltimo assassino que se encontrasse na priso de ser previamente enforcado, para que assim cada um sinta aquilo de que so dignos os seus actos (). Direito Penal 4
Ainda neste sentido, Hegel, que via na pena a negao da negao e, por isso, o restabelecimento do Direito. E qual seria a forma de igualar o mal do crime ao mal da pena? Se, na vigncia da Lei de Talio, nos reportvamos a uma igualao formal, posteriormente se compreendeu que tinha de ser, forosamente, uma igualao normativa. Apesar de alguma controvrsia, chegou a concluir-se que a compensao de que a retribuio se nutre s pode ser funo da ilicitude do facto e da culpa do agente, logo, porque esta doutrina reivindica, antes de tudo, as exigncias de justia, e porque est em causa o tratar o homem segundo a sua liberdade e dignidades pessoais. Aponta-se-lhe o mrito irrecusvel de ter erigido o princpio da culpa em princpio absoluto de toda a aplicao da pena e, assim, ter levantado veto incondicional aplicao de uma pena criminal que viole a dignidade da pessoa. Todavia, a primeira crtica decorre desse ponto. A tal bilateralidade da culpa no sustentvel. Para ns, a pena pressupe culpa, mas a culpa no pressupe necessariamente pena; a culpa pressuposto e limite da pena, mas no seu fundamento. No fundo, estas teorias no so verdadeiras teorias de fins das penas, uma vez que h aqui uma considerao da pena como entidade independente de fins (existe na sua Zeckgelste Majestt Maurach, na sua majestade dissociada de fins). (2) inadequada legitimao, fundamentao e sentido de interveno penal (o Estado dos nossos dias limita-se apenas a proteger bens jurdicos, no se pode servir de uma pena conscientemente ab-soluta, isto , des-ligada de fins). (3) Apresenta-se-nos como uma doutrina puramente social negativa, no fundo, inimiga de qualquer tentativa de socializao do delinquente ao esgotar-se no mal que faz sofre ao delinquente como compensao do mal do crime. J quanto s Teorias Relativas (pena como instrumento de preveno), no se pode negar que a pena constitua um mal (tal qual o que se considera nas teorias absolutas), contudo, ser um mal para alcanar a finalidade primria da poltica criminal: a preveno ou profilaxia criminal. Claro que, face a isto, surge a crtica geral de que estas teorias transformariam a pessoa humana em objecto e, nessa medida, violariam a sua eminente dignidade (Kant). Mas este criticismo destitudo de fundamento. A verdade que para o funcionamento da sociedade, cada pessoa tem de prescindir de direitos que lhe assistem e lhe so conferidos em nome da sua dignidade. A questo da preservao da dignidade , por isso, estranha questo das finalidades da pena e deve ser resolvida independentemente dela. A pena como instrumento de preveno geral (Feuerbach) Nas teorias preventivas h que comear por distinguir entre as doutrinas da preveno geral e da preveno especial ou individual. O denominador comum das Teorias de Preveno Geral a concepo da pena como um instrumento poltico criminal destinado a actuar (psiquicamente) sobre a generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prtica de crimes atravs da ameaa penal estatuda pela lei, pela realidade da sua aplicao e da efectividade da sua execuo A aludida actuao estatal assume uma dupla perspectiva. 1. A pena pode ser concebida como forma estatalmente acolhida de intimidao das outras pessoas atravs do sofrimento. Fala-se, aqui, de Preveno geral negativa ou de Intimidao. 2. A pena pode ser concebida como forma de reforar a confiana da comunidade na validade e fora das normas de tutela dos bens jurdicos, revelando a
Direito Penal
inquebrantibilidade da Ordem Jurdica. Fala-se de Preveno geral positiva ou de Integrao das normas. O ponto de partida das doutrinas de preveno geral prezvel, logo porque, 1. Ele se liga funo do Direito Penal de tutela subsidiria dos bens jurdicos. E nada vale contra-argumentar que os ndices crescentes de criminalidade por toda a parte mostram a inefectividade de se apontar pena uma finalidade de preveno geral. Logo por ser indiscutvel que uma tal finalidade acaba por se cumprir relativamente maioria da populao; depois porque o argumento s poderia provar alguma coisa contra a efectividade da pena e nada contra a finalidade que lhe assinalada. 2. Como argumento contra, invocam os crticos o da j referida violao da dignidade da pessoa humana. Se, quanto preveno geral negativa, de facto, o argumento pode ganhar alguma fora (pois a teoria, nesta ptica, levada ao extremo, pode conduzir a um Direito Penal do Terror directamente ligado desproporcionalidade e, portanto, violador daquele princpio mximo), quanto preveno geral positiva o argumento j no procede. Aqui, visa-se restaurar a paz jurdica, critrio este que permite encontrar uma pena justa e adequada. Em primeiro, este critrio permite que sua luz se encontre uma pena em princpio justa e adequada culpa do delinquente. Em 2, a medida concreta da pena deve ter limites inultrapassveis ditados pela culpa, que se inscrevem na vertente liberal do Estado de direito democrtico. A pena como instrumento da preveno especial / individual Para as doutrinas da Preveno Especial, o denominador comum j ser a ideia de que a pena um instrumento preventivo sobre a pessoa do delinquente, visando a preveno da reincidncia (expresso de Eser). Tambm aqui se cinde esta teoria em vertente positiva ou de socializao e negativa ou de neutralizao. 1. Para uns, a preveno especial s poderia dirigir-se intimidao individual: a pena visaria atemorizar o delinquente at um ponto em que ele no repetiria no futuro a prtica de crimes. Para outros, a preveno lograria alcanar um efeito de pura defesa social atravs da segregao do delinquente, assim procurando atingir-se a neutralizao da sua perigosidade social. Fala-se, em qualquer das hipteses, de preveno especial negativa ou de neutralizao. 2. Do que deve, em definitivo, tratar-se no efeito da preveno especial de, com respeito pelo modo de ser e concepes do delinquente, criar as condies necessrias para que ele possa, no futuro, continuar a viver a sua vida sem cometer crimes. Fala-se, ento, de doutrinas de preveno especial positiva ou de socializao, pois todas se imanam no propsito de lograr a insero social e a socializao do agente. Tal como se referiu relativamente preveno geral, tambm a preveno especial na sua vertente positiva revela particular sintonia com a funo do direito penal como direito de tutela subsidiria dos BJs. Ao que acresce que o Estado s se afigura instncia legtima para infligir ao delinquente uma pena que de todo o modo constitui um mal, quando a esse mal pode se assinalado um carcter social positivo. Alem disso, o Estado tem o dever de auxiliar os membros da comunidade colocados em situaes de maior carncia social, oferecendo os meios necessrios sua (re) insero. Todavia, tambm este pensamento de preveno no isento de reparos. Deve hoje recusar-se uma acepo da preveno especial no sentido da correco ou emenda moral do delinquente, assim como ligada a um paradigma mdico ou clnico quando tomado como tratamento coactivo das inclinaes e tendncias do delinquente para o crime (ex: Laranja Mecnica de Kubrick). S por isso o contedo mnimo de socializao a preveno de reincidncia pode passar aprova e fogo de
Direito Penal
um direito penal prprio do Estado de direito. Ademais, no pode ser a soluo integral dos problemas dos fins das penas. Pe-se, a este propsito, o problema dos agentes cuja perigosidade se protela no tempo: Ligar-se-iam penas absolutamente indeterminadas? No parece. Ainda se lembra a hiptese de o agente no se revelar carente de socializao (aqui s haveria lugar, se houvesse, a uma preveno especial negativa). Refere-se, hoje, cada vez mais insistentemente, como uma finalidade autnoma e nova da pena, o propsito de com ela se operar a possvel concertao entre o agente e a vtima atravs da reparao de danos (no s patrimoniais mas tambm morais). No ordenamento jurdico penal portugus, d-se abrigo a este pensamento poltico criminal de forma muito especial em normas como o 51/1, 74/1 b), do C.P., por exemplo. Esta concertao agente vtima s pode ter sentido de contributo para o restabelecimento da confiana e paz jurdicas abaladas pelo crime (= Preveno Geral Positiva), alm de conformar uma vertente decisiva para uma correcta avaliao in casu das exigncias de Preveno Geral Positiva. Teorias Mistas ou Unificadoras Nas ltimas dcadas, e ainda hoje, a maioria das doutrinas sobre os fins das penas j no se coaduna com posies extremistas mas sim com Teorias Mistas ou Unificadoras. Desse aglomerado podem iluminar-se dois grupos distintos. De um lado, mostram-se Teorias em que ainda entra a ideia de Retribuio, dentro das quais possvel descortinar duas correntes maioritrias: de um lado, notria uma concepo de pena retributiva no seio da qual se procura dar realizao a pontos de vista de preveno (geral e especial) e, de outro, uma ideia de pena preventiva atravs de justa retribuio. No fundo, no passam de diferentes formulaes da mesma ideia que acaba por ser a de que a pena vista como Retribuio da culpa e, subsidiariamente, como instrumento de intimidao da generalidade e, ainda na medida do possvel, de ressocializao do agente (Eduardo Correia e Zipf, por exemplo). Sero, porm, concepes inaceitveis. A retribuio da culpa no nem pode constituir uma finalidade da pena. Alm disso, ao misturar doutrinas absolutas com relativas, fica-se definitivamente sem saber qual o ponto de partida para se encontrar o fundamento teortico e a razo de legitimao da interveno penal. A pena uma instituio unitria em qualquer um dos momentos temporais da sua existncia e como tal deve ser perspectivada, mesmo no que respeita ao problema das suas finalidades. Ainda como teorias mistas, aponto a Teoria da Preveno Integral. O seu ponto de partida, em si correcto, o de que a combinao ou unificao das finalidades da pena s pode ocorrer a nvel de preveno (geral e especial). Mas, esta concepo deve ser globalmente recusada. Isto porque esquece a ideia da culpa, furtando interveno penal o seu pressuposto e o seu limite irrenunciveis. Falha, assim, a prpria questo das finalidades (preventivas) da pena. Desta teoria no passvel uma concepo como a de Roxin que conclui, em plena consonncia com o ponto de vista defendido pelo curso, que a pena serve exclusivamente finalidades de preveno geral e especial, mas nem por isso perde a clara conscincia de que recusar a interveno da retribuio na querela no significa nem abandonar, nem minimizar o pensamento e o princpio da culpa na construo do facto punvel e na legitimao da interveno penal. A culpa , com efeito, pressuposto da pena e limite indispensvel da sua medida. A Teoria defendida no curso acerca das finalidades e limites das penas criminais pode resumir-se a 4 vectores estruturantes.
Direito Penal
Em primeiro lugar, as penas tm finalidades exclusivamente preventivas, no natureza retributiva. O Direito Penal e o seu exerccio pelo Estado fundamenta-se na necessidade estatal de subtrair disponibilidade / autonomia de cada um o mnimo dos seus DLGs indispensvel ao funcionamento da sociedade, preservao dos seus bens jurdicos essenciais (No neste sentido milita Faria Costa). Em segundo plano, ressaltam as exigncias de preveno geral positiva (ou de integrao) como ponto de partida, isto , visa-se prima facie, a tutela necessria dos bens jurdicos penais no uso concreto. Tutela dos bens, note-se com um resultado prospectivo, traduzido na necessidade de tutela da confiana e das expectativas da comunidade na manuteno da vigncia da norma violada (restabelecimento da paz jurdica comunitria abalada pelo crime), o que d contedo ao princpio da necessidade da pena que o art. 18/2 CRP consagra. Todavia, a medida ptima de preveno geral positiva no fornece o quantum exacto da pena ao juiz, mas to s uma moldura de preveno (geral de integrao) cujo limite superior oferecido pelo ponto ptimo de tutela dos bens jurdicos e cujo limite inferior constitudo pelas exigncias mnimas de defesa do ordenamento jurdico, abaixo do qual comunitariamente insuportvel a fixao da pena. Bem pode assim dizer-se, a concluir, que a preveno geral positiva que fornece uma moldura de preveno, dentro de cujos limites podem e devem actuar consideraes de preveno especial; e no a culpa, que fornece uma moldura de culpa. A Preveno Especial actua dentro das balizas dadas pela Preveno Geral. E, foque-se, avultam aqui consideraes de preveno especial e no de culpa. A medida da pena encontrada, ento, em funo das exigncias de preveno especial, em regra positiva (de socializao) e, excepcionalmente, negativa (de advertncia individual ou de segurana). A medida da necessidade de socializao do agente , no entanto, em princpio, o critrio decisivo das exigncias de preveno especial, s entrando em jogo caso o agente se revelar carente de socializao. Se tal carncia no se verificar tudo se resumir em conferir pena uma funo de suficiente advertncia, o que permitir que a medida da pena desa at perto do limite mnimo da moldura de preveno. Por fim, teremos que aditar ao processo consideraes relativas culpa. A pena concreta limitada, no seu mximo inultrapassvel, pela medida da culpa do agente, sendo, tambm, seu pressuposto necessrio (no h pena sem culpa e a medida da pena no pode em caso algum ultrapassar a medida da culpa). Assim, a verdadeira funo da culpa ser uma incondicional Proibio do Excesso. Por outras palavras, a culpa estabelece o mximo de pena ainda compatvel com as exigncias de preservao de dignidade da pessoa e de garantia do seu livre desenvolvimento e a de, deste modo, constituir uma barreira intransponvel ao intervencionismo punitivo estatal. Conclui-se que, postas as coisas nestes termos, a legitimidade da pena (no a sua finalidade!) repousa substancialmente numa justificao cumulativa (Roxin), uma vez que encontra fundamento na Preveno e na prpria Culpa do agente. Isto pois a pena s seria legtima quando necessria de um ponto de vista preventivo e, para alm disso, justa (Roxin). Toda a pena que corresponda adequadamente s exigncias preventivas e no exceda a medida da culpa uma pena justa. Estas preposies acabadas de referir encontram expresso cabal no 18/2 CRP que vem precipitado no 40 / 1 e 2 do C.P.
Direito Penal
5 Capitulo. FUNDAMENTO, SENTIDO E FINALIDADES DA MEDIDA DE
SEGURANA CRIMINAL
O sistema de sanes jurdico criminais portugus assenta, j o sabemos, em 2 plos: o das penas e o das medidas de segurana. Enquanto as primeiras tm a culpa como limite e pressuposto, as segundas tm na base a perigosidade individual do agente. Logo neste sentido, o nosso sistema , pois, dualista. Talvez j existissem, nos ordenamentos penais anteriores, sanes que, em termos dogmticos modernos, devessem ser reconduzidas categoria das medidas de segurana; contudo, s se ganhou clara conscincia de que o sistema das penas (qualquer que fosse) deveria ser integrado por um sistema de medidas que possuam uma inteno poltico criminal e expresso dogmtica diversas das que presidem s penas aps os estudos legislativos do projecto do CP suo de Carl Stoos (1893) e contra-projecto de Von Liszt e Kahls (1911). A sua indispensabilidade faz-se, desde logo, sentir a dois nveis. Num primeiro plano, sente-se face ao tratamento jurdico a dispensar aos chamados agentes inimputveis [apesar de ser incapaz de culpa, um agente nestas condies no pode passar impune se se revelar gravemente perigoso, sob pena de no se atender defesa social]. Tambm so as medidas de segurana indispensveis quanto especial perigosidade que pode decorrer das particulares circunstncias do caso e / ou da personalidade do agente (mesmo que esta seja imputvel, i.e., susceptvel de culpa). Aqui coloca-se o problema de o limite mximo da pena determinado pela culpa do agente se revelar insuficiente, sendo necessrio recorrer-se aplicao complementar de uma medida de segurana, o que arrasta consigo a velha questo complexa da natureza monista ou dualista do sistema]. Apresentam-se duas finalidades: A sua finalidade primria (prevalente) a Preveno Especial. As medidas de segurana visam, aqui, obstar, no interesse de segurana da vida comunitria, prtica de factos ilcitos tpicos futuros pelo agente, atravs de uma actuao especial preventiva sobre o agente perigoso. Assim apresenta uma dupla funo: uma funo de segurana e uma funo de socializao. A doutrina de princpio parece ser a de que o propsito socializador deve, sempre que possvel, prevalecer sobre a finalidade de segurana (imposto pelos princpios da socialidade e humanidade). Por consequncia, a segurana s poder constituir finalidade autnoma se e onde a socializao no se afigure possvel. No impede, contudo, a existncia de casos excepcionais (ex: 4 L19/86). Claro que no quer isto dizer que a funo socializadora, como tal, justifica a aplicao da medida de segurana! O que a justifica , sempre s, a necessidade de preveno da prtica futura de actos ilcitos tpicos (a funo de segurana em sentido amplo). A partir daqui logo se torna indispensvel a verificao da perigosidade do agente, com base na prtica de um facto qualificado pela lei como ilcito tpico. Assim, descortinam-se dois fundamentos autnomos das medidas de segurana, onde reside o puctum saliens de uma concepo moderna de medida de segurana. Fundamento da aplicao de qualquer medida de segurana , pois, a perigosidade do agente apenas se e quando revelada atravs da prtica pelo agente de um facto ilcito tpico, constituindo, ento, facto ilcito tpico e perigosidade os dois fundamentos autnomos da medida de segurana criminal, de internamento ou outra.
Direito Penal
A finalidade secundria a Preveno Geral. A sua finalidade, neste domnio, no possui qualquer autonomia: ela s pode ser conseguida de uma forma reflexa e dependente, na medida em que a restrio de direitos em que a aplicao e execuo da M.S. se traduz possa servir para afastar a generalidade das pessoas da prtica de factos ilcitos tpicos. Nomeadamente, quando aplicada a inimputveis, as exigncias de preveno geral no se fazem sentir, pois a comunidade compreende que a reaco contra a perigosidade individual ali fruto exclusivo de condies endgenas anmalas, e que o homem normal no tende a tomar como exemplo o comportamento do inimputvel. Contudo, inegvel que, face a certas medidas de segurana, o legislador ter querido criar nelas o efeito de preveno geral negativa (pense-se na cassao de licena de conduo de veculo motorizado, 101 C.P.) ou mesmo positiva (quanto s medidas de segurana de internamento, 91 C.P.) Aquela ideia de que a medida de segurana (alm da perigosidade, agora focada) se liga prtica de facto ilcito tpico, trs consigo a presena de funo de tutela de bens jurdicos e das expectativas comunitrias. Foque-se que no se referem os factos ilcitos tpicos em geral, mas to s aqueles especificamente graves. A tnica posta no carcter da gravidade em nome do abalo social causado na comunidade e da necessria estabilizao das expectativas comunitrias na validade da norma violada (o que vem bem expresso no 91 / 2 C.P.). A concluso no pode deixar de ser a de que tambm no mbito das medidas de segurana a finalidade de preveno geral positiva cumpre a sua funo, e uma funo autnoma, se bem que no momento de aplicao se exija incondicionalmente a sua associao perigosidade. A diferena essencial entre pena e medida de segurana (a primeira supe culpa e a segunda perigosidade) vem reflectir-se na questo da legitimao. A legitimao das medidas de segurana deriva da aludida finalidade global de defesa social: a preveno de ilcitos tpicos futuros pelo agente perigoso que cometeu ilcito tpico grave. Devo, desde j, frisar que no ser este princpio da defesa social visto, aqui, do ponto de vista puramente fctico, naturalstico e programtico mas sim como princpio de ponderao de bens conflituantes (Nowakowski). Assim se compreende que a medida de segurana s possa ser aplicada para defesa de um interesse comunitrio preponderante e em medida que se no revele desproporcional gravidade do ilcito tpico cometido e perigosidade do agente (18/2 CRP); e que a medida de segurana (no sendo funo da ideia de culpa nem encontrando nesta o seu limite, constitua, ainda assim, uma reaco aceitvel no quadro de um Estado de Direito Democrtico respeitador da dignidade da pessoa humana. Afastamos, portanto, outras tentativas de legitimao como sejam uma (1) administrativizao das medidas de segurana, tornando-as puramente administrativas (o que encontrou algum apoio claro, em Portugal, na evoluo por elas sofrida no perodo do Estado Corporativista); ou uma (2) eficizao das mesmas (Welzel). Lembre-se que, apesar de se negar esta ltima concepo, por vezes, poder-se- falar de eticizar para dar a entender a ideia atrs mencionada de Nowakowski. O Relacionamento da pena com a medida de segurana. Monismo ou dualismo do sistema? A concluso a retirar de quanto fica exposto que, em matria de finalidades das reaces criminais, no existe diferena fundamental entre penas e medidas de segurana. Diferente , apenas, a forma de relacionamento entre as finalidades de preveno geral e especial.
Direito Penal
10
Na pena, a finalidade de preveno geral positiva assume o primeiro e indisputvel lugar, enquanto as finalidades de preveno especial de qualquer espcie s actuam no interior da moldura de preveno construda dentro do limite da culpa. Na medida de segurana, as finalidades da preveno especial assumem lugar determinante, no ficando, contudo, excludas, consideraes de preveno geral de integrao, sob uma forma que, a muitos ttulos, se aproxima das exigncias mnimas de tutela do ordenamento jurdico. na delimitao do quadro das finalidades que se suscita a diferena essencial entre penas e medidas de segurana: Com Roxin, diramos que, enquanto as penas se ligam ao princpio da culpa, no tem esta qualquer tipo de influncia na aplicao das medidas de segurana. Elas so determinadas, no pela medida da culpa, mas sim pela exigncia de perigosidade e, assim, estritamente ligada ao princpio da proporcionalidade. Com base nisto, este autor chega a uma certa aproximao ao sistema monista das sanes criminais, no sentido que as duas espcies de sanes, todavia existentes, seriam estabelecidas segundo as suas finalidades, num sentido nico e, s na sua delimitao, correriam vias distintas. Ora, daqui faz-se a ponte para a problemtica da clarificao do nosso sistema como Dualista ou Monista o que reflectir a relao vigente entre os dois tipos de sanes jurdico penais. Vrios entendimentos da distino foram sendo excogitados, adoptando-se o terceiro. 1 Fase: O sistema tem Penas ou Medidas (Monista) / Penas e Medidas (Dualista) Sistema portugus como Dualista. 2 Fase: O sistema s admite Penas para imputveis (Monista) / Penas e Medidas para imputveis (Dualista) Sistema portugus como Dualista. 3 Fase: Sistema aplica ao mesmo agente, pelo mesmo facto, s uma pena ou s uma Medida de Segurana privativas de liberdade (Monista) / Pena e Medida de Segurana privativa de liberdade (Dualista). A verdadeira alternativa Monismo / Dualismo s surge quando se pergunta se um sistema permite a aplicao cumulativa ao mesmo agente, e pelo mesmo facto, de uma pena e de uma medida de segurana. aqui que surge a problemtica: saber se ainda possvel, legtimo e conveniente estender o conceito de culpa e a medida da pena at um ponto em que a interveno de uma medida de segurana se torne indispensvel? Se a resposta for afirmativa, pode pensar-se na adopo de um sistema monista, com claras vantagens para a execuo da sano; se a resposta for negativa, a adopo de um sistema dualista parece impor-se em definitivo. Actualmente, qualquer sistema Dualista, na sua acepo, est sujeito a uma crtica pesada. Isto, porque se diz que no tem sentido aplicar uma Pena estritamente sujeita ao princpio da culpa, para depois se complementar com uma Medida de Segurana. Uma soluo deste tipo constituiria um desrespeito pelo princpio da culpa. Alis, continuar a afirmar-se o carcter intocvel do princpio da culpa constituiria um puro farisasmo (Eduardo Correia). Se bem que h, neste argumento, muito de verdade, no nos podemos olvidar que as prementes experincias de defesa social perante a criminalidade (que legitimam as Medidas de Segurana) so, tambm elas, um postulado do Estado de Direito e de uma politica criminal eficiente e racional. Ademais, sendo a culpa a forma ptima de limitao do poder sancionatrio do Estado, no , todavia, a nica: pense-se no
Direito Penal
11
princpio da proporcionalidade (que preside aplicao de qualquer Medida de Segurana) ou mesmo o da necessidade ou da subsidiariedade. Com isto, foroso concluir que o sistema dualista legtimo luz dos princpios do Estado de Direito e poltico criminalmente adequado s exigncias de uma defesa social racional. O problema do Dualismo est mais na articulao entre a Pena e a Medida de Segurana (ambas privativas da liberdade) sempre que cumulativamente aplicveis ao mesmo delinquente. Esta articulao realizada atravs de um equilibrado sistema de Vicariato na Execuo, isto , um sistema em que a execuo de ambas as sanes possa ser concebida como unidade de efeitos reciprocamente determinado. Como regra base (ncleo essencial, segundo Figueiredo Dias), apontam-se (ver art. 99 C.P.) 1. A Medida de Segurana deve ser executada ANTES da Pena de priso e nela DESCONTADA (por ser esta a soluo, em princpio, mais favorvel socializao do delinquente); 2. Na segunda sano a cumprir devem ser IMPUTADOS todos os efeitos teis que, com a execuo da primeira, tenham sido alcanados. 3. execuo no seu todo devem ser aplicadas MEDIDAS DE SUBSTITUIO e os incidentes de execuo que possam ser favorveis socializao (nomeadamente: suspenso da execuo e / ou libertao condicional). Deste modo, abrem-se vias de realizao aos sistemas Dualistas que, de outra forma, ficariam fechadas, ao mesmo tempo que se abre a possibilidade de consagrao de um sistema de Monismo prtico, que reage contra a criminalidade especificamente perigosa com instrumentos formalmente considerados como Penas mas que, substancialmente, so verdadeiras Medidas de Segurana. No C.P. portugus, prev-se a Pena Relativamente Indeterminada para punir a categoria dos delinquentes especialmente perigosos: uma pena que tem um mnimo correspondente a 2/3 da pena que concretamente caberia ao crime cometido e um mximo correspondente a esta pena acrescida de 6, 4 ou 2 anos (83 a 90 CP) e cuja durao concreta s durante a execuo ser determinada (90 e 509 CPP). Na verdade, trata-se de uma pena de natureza mista, pois Pena at ao limite da pena concreta do facto e Medida de Segurana depois, enquanto persistir a perigosidade do delinquente. esta uma soluo prefervel quela da mera adio de uma Pena a uma Medida de Segurana. Isto na medida em que permite alcanar as finalidades do sistema de Vicariato de forma ptima. Soluo que assim realiza aquele Monismo prtico que Beleza de Santos propunha e que justifica que o sistema portugus das sanes criminais possa ser considerado um sistema tendencialmente monista. O Vicariato na Execuo (99 C.P.) liga Pena e Medida de Segurana privativas de liberdade ao mesmo agente, porm, por factos diferentes, no transformando o novo sistema de reaces criminais num sistema Dualista (que aplicaria ao mesmo agente e pelo mesmo facto).
Direito Penal
12
6 Capitulo. O COMPORTAMENTO CRIMINAL E A SUA DEFINIO: O CONCEITO MATERIAL DE CRIME
A autonomizao do conceito material de crime face ao formal constitui uma antiga necessidade j sentida desde Beccaria (1764), estando presente, de forma acabada, com Von Liszt (1888). Vrias respostas tm sido dadas. Vejamos. 1. Na perspectiva positivista legalista, crime material equiparar-se- ao formal, uma vez que ser considerado como tudo o que o legislador referir como tal. Ser esta concepo intil, por no responder questo fulcral subjacente: a da legitimao do poder penal; e incapaz de ir ao cerne da questo: descortinar a funo e os limites do Direito Penal. Na verdade, esta problemtica s pode ser resolvida por apelo a um padro crtico dado por uma noo situada fora do direito legislado. 2. Para a perspectiva positivista sociolgica as foras viram-se para a tentativa de encontrar uma noo sociolgica que constituiria o ncleo essencial do conceito material de crime, noo essa que existiria na sociedade humana [como crime] independentemente das circunstncias e exigncias de cada poca ou concepo particular (Garofalo). H aqui, portanto, uma ligao (feita por Garofalo) com a noo de Delito natural. Se com este autor parecia patente uma concepo material (conduta socialmente danosa), com Durkheim concebeu-se uma caracterizao mais formal (o fulcral era, agora, serem os sentimentos violados comuns conscincia colectiva, fortes e precisos). Apontam-se aspectos positivos: (1) Foi possvel a distino de comportamentos axiologicamente relevantes e axiologicamente neutros por detrs dos crimes. Como estes ltimos apenas viam o seu ilcito fundado na lei, s os primeiros deveriam ser conduzidos ao conceito material de crime; (2) Mostrou-se o crime como uma unidade de sentido sociolgico, autnoma e anterior qualificao jurdico penal legal (ainda hoje, esta unidade vem expressa, por grande parte da doutrina italiana, como offensivit, ou, ainda, como harm principle, na concepo de Stuart Mill (1859); (3) S aqui, pela primeira vez, se procurou um verdadeiro conceito material de crime (pr legalidade). Todavia, apontam-se-lhes crticas: (1) Impreciso e (2) alargamento excessivo das concepes para uma lograda definio dos limites da criminalizao. 3. Correspondendo passagem do Estado de Direito formal para o material, surge uma nova perspectiva: a moral (tico) social, que v a essncia do conceito material do crime na violao de deveres tico sociais elementares e fundamentais (Welzel: misso do direito penal a proteco dos Bens Jurdicos mediante a proteco dos elementares valores de aco tico sociais; Jescheck: So os valores fundamentais da ordem social que ao direito penal cabe tutelar). Elevam-se algumas crticas: (1) Esta concepo corresponde a uma atitude enraizada no esprito da generalidade das pessoas para quem o direito penal constituiria a traduo terrena de noes de pecado e de castigo e, na verdade, no funo do direito penal tutelar a virtude ou a moral (o que vem lateralmente consagrado no princpio constitucional da liberdade religiosa do art. 41); (2) No se adequa ao pluralismo tico social das sociedades contemporneas. 4. Figueiredo Dias vem, por fim, lembrar a mais correcta perspectiva (actual) para a anlise deste problema: a perspectiva teleolgico funcional e racional que reclama a definio da noo de conceito material de crime, no das ideias vigentes, mas sim excogitada no horizonte de compreenso imposto pela prpria funo do Direito Penal.
Direito Penal
13
Desta feita, da funo de tutela subsidiria de bens jurdicos dotados de dignidade penal (dignos de Pena e com necessidade dela) resultar o conceito material que procuramos. Aproximao noo de Bem Jurdico Cumprir, ento, tecer alguns comentrios acerca da ideia de BEM JURDICO que constitui, assim, o elemento constitutivo mais relevante do conceito material de crime. Como ponto de partida, deve confessar-se no existir consenso quanto ao seu exacto recorte, mas to s relativamente ao seu ncleo essencial: expresso de um interesse (da pessoa ou da comunidade) na manuteno ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e, por isso, juridicamente reconhecido como valioso. (1) Surgiu, com Birnbaum, com um contedo assumidamente individualista (monlito jurdico corporizado, nas palavras de Rupp), atendendo aos interesses primordiais do indivduo: vida, corpo, liberdade e patrimnio (vemos alguma identificao com os direitos subjectivos fundamentais individualistas). (2) Na 2 dcada do sculo XX, como reaco ao positivismo legalista surge uma ideia de Bem Jurdico ligada a um conceito metodolgico que o via como mera forma interpretativa dos tipos legais de crime. Esta foi uma concepo fundada nos pressupostos neokantianos prprios da Escola de Baden (Windelband, Rickert, Lask), que acentua a vertente teleolgica e que, em suma, reduz os bens jurdicos a expresses da ratio legis que lhes preside (Schwinge). Esta funo puramente hermenutica de chumbar por significar um esvaziamento de contedo e a sua transformao num conceito legal formal (que nada adia formula da interpretao teleolgica da norma). (3) Hoje, perante uma concepo teleolgico funcional e racional do Bem Jurdico, impe-se a observncia de trs condies mnimas: 1. O conceito tem de traduzir um qualquer contedo material, para que seja um indicador til do conceito material de crime; 2. Tem que servir como padro crtico de normas constitudas ou a constituir, pois s assim ser critrio legitimador do processo de criminalizao; 3. Deve ser poltico criminalmente orientado (e, portanto, intra-sistemtico quanto ao sistema social e, mais concretamente, quanto ao plano constitucional). Ento, pergunta-se como se h-de definir Bem Jurdico respeitando estes trs vectores norteadores. Desde logo, negam-se as Teorias da sociedade ligadas a uma noo de danosidade social, aferida em funo do respectivo sistema. No , de todo, de perfilhar esta posio, visto haver (1) perigo de recurso directo destas teorias para a definio imediata dos termos de validade / legitimao jurdico penal (lembre-se que retira CRP o papel director, que materialmente lhe cabe, da ordem legal dos bens jurdicos penais). Ademais, mostra-se (2) insuficiente para os efeitos prticos da aplicao do Direito. Ainda que se confesse ser no sistema social como um todo que se deve ver a fonte legitimadora e produtora da ordem legal dos bens jurdicos (em ltimo termo), no pode deixar de se focar que um seu apelo directo no empresta ao conceito de Bem Jurdico a indispensvel concretizao. Partindo desta ltima crtica, dizemos, com Figueiredo Dias, que s atravs da ordenao axiolgica jurdico constitucional (3/2; 18/2, CRP), conseguimos atender noo de Bem Jurdico digno de tutela penal. Fala-se de uma relao de mtua referncia, de verdadeira analogia material. Deste modo, os bens ganham dignidade penal quando concretizam valores constitucionais ligados intimamente a Direitos e Deveres fundamentais e ordenao social, poltica e econmica.
Direito Penal
14
E esta forma de relacionamento da ordem constitucional axiolgica dos bens jurdicos dignos de tutela penal permite alcanar e fundamentar uma distino cada vez mais importante para a poltica criminal e para a dogmtica penal. 1. Direito Penal de justia, clssico ou primrio que, ligando-se aos DLGs das pessoas, protege a esfera de actuao pessoal; 2. Direito Penal Administrativo, secundrio ou extravagante que, por sua vez, trata o homem como membro da comunidade protegendo a sua esfera de actuao social. Liga-se aos direitos sociais e organizao econmica. Consegue-se, a partir das ideias expostas, concluir que esta proteco dos bens jurdicos (como preservao das condies fundamentais da realizao mais livre possvel da personalidade de cada um na comunidade) reflecte a funo do Direito Penal e traz uma resposta para a questo da Legitimao do ius punendi estatal: a garantia de paz em comunidade segundo o princpio de que s se retira o mnimo essencial (18/2 CRP) s liberdades pessoais (espelhando a regra do Estado de Direito democrtico. Roxin vem lembrar as consequncias que decorrem da adopo da tese realada (Direito Penal como protector de bens jurdicos): 1. As puras violaes morais no podem constituir, como tal, uma leso de um bem jurdico, logo, no integram o conceito material de crime. 2. As proposies (ou imposies de fins) meramente ideolgicas no conformam autnticos bens jurdicos. 3. A violao de valores de mera ordenao, subordinados a uma certa poltica estatal (e, por isso, de contorno claramente jurdico administrativo) no devem constituir objecto de criminalizao. Ademais, esta concepo mostra um grande interesse prtico. A norma incriminatria na base da qual no seja susceptvel de se descortinar um bem jurdico penal claramente definido nula, por ser materialmente inconstitucional. 5. Para efeitos de poltica de Criminalizao, so ento relevantes, no apenas as consideraes precedentes acerca do bem jurdico e da sua dignidade punitiva, como tambm a necessidade / carncia de tutela penal. Isto em ordem funo do Direito Penal: tutela subsidiria (em ltima ratio) de bens jurdico penais, assim como no respeito dos princpios da subsidiariedade e proibio do excesso. Da que no haja imposies jurdico constitucionais implcitas de criminalizao e vigore o princpio da no interveno moderada (trave mestra de todo um programa poltico criminal): o Estado e o seu aparelho formalizado de controlo do crime devem intervir o menos possvel e, intervindo, s na precisa medida requerida pelo asseguramento das condies essenciais de funcionamento da sociedade. Lancemos um olhar breve sobre o conceito social de crime. Na verdade, a realidade do crime no resulta apenas do conceito material mas tambm da construo social do crime, isto , da combinao de determinadas qualidades materiais do comportamento com o processo de reaco social quele, conducente estigmatizao dos agentes respectivos de reaco social, como criminosos ou delinquentes. aqui que ganha fora a ideia de processo de seleco do crime e do criminoso. No haja dvida que a sociedade, apesar de saber que o crime se reparte igualmente por todos os ncleos / classes sociais, tende a recrutar quem quer que seja tratado como criminoso.
Direito Penal
15
No falta hoje quem fale da crise actual do direito penal do bem jurdico. No fundo, questiona-se se ainda vale o paradigma do Direito Penal, consubstanciado na funo exclusiva de tutela penal subsidiria de bens jurdicos, com razes no pensamento filosfico ocidental de a partir do sc. XVII e expresso no pensamento cartesiano, na doutrina jurdico poltica do individualismo liberal e na mundividncia antropocntrica e humanista, numa sociedade do risco como a hodierna (ligada s problemtica da ps modernidade e da globalizao). Diz-se que o direito penal de vertente liberal no est preparado para a tutela destes riscos globais emergentes, havendo necessidade de procurar uma poltica criminal nova que foque mais a aco humana na vida comunitria: nasce a necessidade de uma nova dogmtica jurdico penal, dizem. Ao longo do tempo, vrias propostas surgiram: - Posies extremas 1. Escola de Frankfurt defende que o direito penal nada tem que ver com esta nova realidade, mas to s com o bem jurdico de carcter individual. Dizem ainda que, caso se albergasse, o direito penal perderia a sua essncia de aplicao em ltima ratio. 2. Outros falam de uma funcionalizao intensificada da tutela penal, abandonando o direito penal do bem jurdico em prol de um direito penal do risco. A legitimao do direito penal seria procurada na eficincia do sistema. 3. Stratenwerth pe a tnica na proteco das geraes vindouras que, face aos problemas do sc. XVIII v o direito penal como tutelador das relaes de vida como tais. H, portanto, um afastamento da categoria de bem jurdico, substituda pela tutela de relaes ou contextos de vida enquanto tais. Fala-se de um direito penal do comportamento. - Posies Intermdias 4. Silva Sanchez Opta pela ideia de Direito Penal a duas velocidades pois, ao lado do ncleo duro atinente ao direito penal clssico, haveria um outro especificamente dirigido proteco contra estes novos riscos. 5. Augusto Silva Dias, Srgio Moreira, C. Bisadolo Falam de bens jurdicos dotados de referente pessoal, visto admitir-se apenas o abrigo penal queles novos perigos que tenham, de algum modo, um referente pessoal. Assim, proteger-se-iam bens individuais e supra-individuais (distintos dos colectivos que, segundo esta doutrina, no tm aquele referente e pertencem ao Estado) 6. A. M. Almeida Costa Diz-se que o campo de actuao do Direito Penal por excelncia contende com os bens valores fins (que tm valor em si mesmos). Todavia, h bens valores meios (caracterizados por terem um valor deduzido ou emprestado) que, apesar de terem o campo da mera ordenao social como rea de eleio, ganham relevo penal exactamente por actuarem com esse valor meio. Parecem ganhar os novos riscos lugar no mundo jurdico penal. Foquemos, agora, a concepo adoptada no curso. Antes de mais, cumpre referir que a funo exclusiva do direito penal a tutela subsidiria dos bens jurdicos no implica, necessariamente, limitar a sano jurdico penal efectiva leso do bem jurdico protegido. Da que se puna a tentativa, que existam os crimes de perigo (138, C.P.) e os de perigo abstracto (292, C.P.). Figueiredo Dias comea por negar a tese da Escola de Frankfurt (por ser extremamente antropocntrica), a tese de Silva Sanchez (pois agregaria dois plos muito distintos: o penal e o administrativo) e a tese de Silva Dias (pois traria uma subordinao hierrquica dos bens jurdicos supra-individuais dos individuais). Diz,
Direito Penal
16
quanto tese de A. M. Almeida Costa e quanto de Stratenwerth que, apesar de no responderem questo, auxiliam na almejada soluo. Adopta uma ideia de Bens Jurdicos Colectivos. - O axioma do Direito Penal deve considerar-se o conceito de bens jurdico instrumentais de A. M. Almeida Costa. Na verdade, nesses domnios, a criminalizao legtima e pode afigurar-se necessria. - Os bens jurdicos colectivos so vistos como autnticos bens jurdicos, porque o carcter colectivo no exclui a existncia de interesses individuais que com ele convergem. Isto vem bem frisado nos contornos da ideia colectivo de bem com possibilidade de gozo por todos, sem que ningum deva ficar excludo desse gozo; e que, portanto, se liga a uma relao difusa entre os usurios (o que no significa o carcter difuso do bem jurdico unilateral como tal!). Assim, tem de se reconhecer uma certa funcionalizao da noo de bem jurdico (quando comparada com aquele monlito jurdico corporizado da Escola de Frankfurt). - Face ao seu carcter vago e duvidoso quanto sua corporizao, muitos objectam que poder-se- perder a determinabilidade do delito colectivo e, por conseguinte, violar-se, de forma insuportvel, o princpio da legalidade. Figueiredo Dias, lembra, em forma de refutao, que o contedo do ilcito dos direitos colectivos , a maioria das vezes, expresso em funo de normas extra-penais, nomeadamente administrativas. Assim, tem de se encontrar sujeito a uma clusula de acessoriedade administrativa. Deste modo, tero uma natureza anloga aos delitos de perigo abstracto, legtimos desde que sejam respeitados como padres mnimos de determinabilidade do tipo de ilcito e haja referncia ao bem jurdico que em ltima instncia se pretende proteger. Da outra parte, muitas vezes s so relevantes no quadro dos tipos aditivos ou cumulativos. A sua punio s se revelar legtima se as condutas que venham a somarse s do agente (e contribuam, assim, para a leso) forem indubitavelmente previsveis e muito provveis, para no dizer certas. Com isto, Figueiredo Dias mantm a fidelidade ao paradigma jurdico penal iluminista que nos acompanha e se espera poder continuar a ser fonte de desenvolvimento e progresso. Aproximando-se, de certo modo, da ideia de Stratenwerth, segundo a qual a tutela dos grandes riscos e das geraes futuras poder passar pela assuno de um direito penal de comportamento, Figueiredo Dias no defende, porm, uma alternativa ao direito penal do Bem Jurdico. Ainda aqui a punio imediata de certas espcies de comportamento feita em nome da tutela de Bens Jurdicos Colectivos e s nesta medida se encontra legitimada.
7 Capitulo. OS LIMITES DO DIREITO PENAL
Os limites materiais do Direito Penal derivam da sua funo (a saber: tutela subsidiria de bens jurdico penais e da especifica natureza da sua funo). Quanto a este ultimo ponto, surgem zonas de fronteira com outros ramos do Direito, por estes tambm utilizarem Penas, se bem que no criminais. Vejamos: A primeira distino dedicada ao Direito de mera ordenao social. Apontarei, primeiro, alguns pontos da sua evoluo. A administrao surgiu na era do Estado Polcia, tendo-se juridificado com a Revoluo Francesa. A actividade policial concentrava-se na proteco antecipada dos perigos indeterminados para a consistncia dos direitos subjectivos do cidado (direitos esses que tambm demarcavam a funo protectiva do direito penal).
Direito Penal
17
Depois das 2 grandes guerras, a administrao aparece como conformadora, assumindo funes pertencentes a crculos mais amplos do cuidado com a existncia (de acordo com o prprio tratado social). Tais tarefas pretendiam-se cumpridas, na medida do possvel, sem estorvos, de forma dinmica. Para tal finalidade serviam as penas criminais, dotadas de particular eficcia. Digamos que o legislador se deixou seduzir pela ideia de pr o aparato daquelas sanes ao servio dos mais diversos fins da poltica social: deu-se o fenmeno da super-criminalizao e, com ele, nasceu o Direito Penal Administrativo. Posteriormente, procedeu-se a uma distino no seu seio, entre Direito Penal secundrio quando as condutas proibidas eram consideradas relevantes luz de qualquer valorao prvia de cariz tico social e Direito de mera ordenao social distinto do Direito Penal reportava-se a condutas tico socialmente neutras. Assim, surgiram as contra-ordenaes que conformavam, no seu conjunto, o Direito de mera ordenao social (pela primeira vez, na Repblica Federal Alem, em 1949). Em Portugal, apesar das tentativas para eliminao das contravenes e substituio por contra ordenaes (pela primeira vez com o DL 232 / 79 de 14 de Junho, ainda na vigncia do C.P. 1886), estas s desapareceram em 2006. Sendo assim, subsistiram as contravenes a par do ilcito de mera ordenao social legalmente institucionalizado o que se mostrava contraditrio e sem sentido, pois um comportamento possui dignidade punitiva e deve constituir um crime ou no a possui e deve ser descriminalizado e sair da rbita do Direito Penal (primrio ou secundrio). Alm disso, tal realidade poderia conduzir ao aniquilamento prtico da categoria das contra-ordenaes, se o legislador continuasse seduzido pelos fenmenos de hiper-criminalizao. Mas at conseguimos compreender a opo do legislador de 1982, por ter receado os efeitos prticos nocivos que poderiam ligar-se a uma global e automtica transformao das milhentas contravenes data ainda vigentes em contra-ordenaes. Daqui resultam duas condies imperativas para que lograsse nessa tarefa: no poderia criar nem mais uma contraveno; teria que proceder a um levantamento sistemtico das contravenes ainda subsistentes e decidir quais deveria revogar, quais deveria transformar em contra-ordenaes e quais deveria transformar em crimes. E assim foi com os diplomas L25/2006, 30.06 E L28/2006, 11.07. Eb. Schmidt foi o primeiro autor a elevar os fundamentos para a autonomizao do direito de mera ordenao social e para a sua considerao consubstancial como direito administrativo. De um ponto de vista conceitual formal, diz-se que constitui contraordenao todo o facto ilcito e censurvel que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima (1/1, DL 433/82). Do prisma material, salienta-se a autonomia do ilcito e a autonomia da sano. 1. Quanto Autonomia do Ilcito, dizemos que o direito penal se liga a uma conduta tico socialmente relevante, tendo um suporte imediato de valorao (seja social, moral ou cultural); enquanto o direito de mera contra-ordenao, apesar de tambm proteger bens jurdicos, f-lo assente num suporte mediato, pois acresce a proibio legal da conduta lesiva para que sejam os comportamentos punveis relevantes. Liga-se, portanto, a condutas tico-socialmente neutras (esta distino cabe ao legislador ordinrio, se bem que observando o critrio fundamental de distino a partir da ordem jurdico constitucional, o que controlvel atravs de fiscalizao constitucional). 2. Quanto autonomia da sano, por um lado, temos as penas criminais s quais se ligam consideraes acerca da personalidade do agente (e da sua atitude interna) e
Direito Penal
18
consideraes de preveno positiva; por outro, as coimas s quais apenas assistem as funes de especial advertncia ou reprimenda. 3. Claro que no significa tudo isto que no existam perigos provenientes das duas fontes: podero surgir sanes formalmente administrativas, mas substancialmente mais pesadas que as coimas, se se alargar o mbito de incidncia do ilcito administrativo custa do direito penal para fazer face aos riscos da sociedade ps-industrial; o Governo pode furtar-se ao custoso e demorado processo parlamentar criando contra-ordenaes com coimas que, na sua essncia, so sanes criminais. Curemos agora do Direito Disciplinar. Apesar de haver um ponto de aproximao ao Direito Penal (tambm se liga a comportamentos no axiologicamente neutros), so ramos distintos por vrias razoes: o ilcito disciplinar reporta-se a uma relao interna (diferente do ilcito penal dos crimes cometidos no exerccio de funes pblicas, constitudo s quando h leso ou perigo de leso daquela autoridade); sancionam-se comportamentos que violam deveres, mas que no se mostram graves o suficiente para serem campo de actuao do Direito Penal (princpio da subsidiariedade) Negamos outras distines como sejam aquelas fundadas nas finalidades tico retributivas das sanes disciplinares (pois tambm h finalidade de preveno especial); ou aquelas outras que apontam a caracterstica do direito disciplinar como sendo referido ao agente (se bem se orienta, em maior medida que o direito penal, para o agente, no se pode esquecer que direito sancionatrios e, como tal impe que sejam respeitados os princpios garantsticos que presidem ao direito penal); ainda de chumbar a distino assente na violao do dever jurdico, por parte do direito disciplinar e do bem jurdico por parte do Direito penal (isto porque nem o ilcito disciplinar nem, muito menos, o ilcito penal exclusivamente fundado no desvalor do resultado, abrangendo, tambm, o desvalor de aco que, muitas vezes, se reporta violao de um dever). Refira-se ainda que, apesar de ter sido questionvel entre ns, hoje no se vem entraves para a cumulao da pena criminal com a sano disciplinar. Todavia, pode questionar-se a bondade poltico criminal. J quanto ao direito processual, tenho que comear por referir que as suas sanes / medidas se reportam inobservncia de trmites processuais que tm a mera finalidade de intimidao (diferente da preveno geral ou especial positiva das sanes penais). O princpio de subsidiariedade tambm revela importante aqui, visto ser inadequada uma interveno penal face ao ilcito em apreo. Coisa diferente destas sanes processuais so as medidas de coaco processual. No apontam quaisquer dificuldades de distino, visto serem mero carcter cautelar preventivo (196, 204 CPP). Finalmente, curemos do Direito Privado. Trata-se do domnio por excelncia da actuao dos princpios da subsidiariedade e da necessidade de tutela penal. Aqui, a relevncia primria (diga-se mesmo, exclusiva), dada ao desvalor do resultado. Se todas as sanes at agora tratadas revestem carcter jurdico publico (em que os agentes esto numa posio de subordinao ou infra-ordenao), nas penas privadas so fundadas na submisso voluntria no quadro de uma relao paritria. Lembre-se o exemplo clssico da clusula penal em que as partes podem fixar por acordo o montante de indemnizao exigvel (180 CC).
Direito Penal
19
A Lei Penal e a sua aplicao
8 Capitulo. O PRINCPIO DA LEGALIDADE DA INTERVENO PENAL
O Princpio do Estado de Direito conduz a que a proteco dos DLGs seja levada a cabo no apenas atravs do direito penal mas tambm perante o direito penal, at porque uma eficaz preveno do crime s pode pretender xito se interveno estadual forem levantados limites escritos perante a possibilidade de uma interveno estadual arbitrria ou excessiva pelo que se submete a interveno penal a um rigoroso princpio de legalidade, cujo contedo essencial se traduz em que no pode haver crime, nem pena que no resultem de uma lei prvia, escrita, estrita e certa (nullum crimen, nulla poena sine lege). No fundo, so 3 as traves mestras: a) Ningum pode ser punido por uma conduta que no esteja prevista na lei por mais socialmente nocivo e reprovvel que se afigure um comportamento, tem o legislador de o considerar como crime para que ele possa como tal ser punido. Esquecimentos ou lacunas funcionam sempre, por isso, contra o legislador e a favor da liberdade. Apesar de tal condio abrir caminho para o agente dotado de maior capacidade de aco, este um razovel preo a pagar para que possa viver-se numa democracia que proteja minimamente o cidado do arbtrio e dos excessos em que, doutro modo, o poder estadual incorreria. b) Ningum pode ser alvo de uma pena que no esteja prevista na lei Esta exigncia de lei prvia corresponde doutrina internacional dominante. Tambm a reviso constitucional feita pela L 3/71 transformo em direito e garantia dos cidados portugueses no sofrer medida de segurana fora dos casos previstos em lei anterior, entendimento este perfilhado e reforado pela CRP de 1976 que permite a aplicao retroactiva de lei penal no favorvel ao arguido (29/3 e 4 CRP). Assim se v que o pr. da legalidade e retroactividade que dele decorre tm, assim, perante o C.P. e a CRP incidncia igual sobre as penas e sobre as medidas de segurana privativas da liberdade. c) Ningum pode ser objecto de uma pena sem que seja seguido um processo justo e equitativo A consagrao deste princpio da legalidade, em termos modernos, feita com a Constituio dos E.U.A. (1776) apesar de j ter estado de qualquer forma presente na Magna Charta (1215) e, de forma particular, no Bill of Rights (1689). Pode-se dizer que conta como fundamentos: 1. Externos: 1.1. Princpio Liberal Toda a interveno estatal na esfera dos DLGs requer a existncia de uma lei (entre ns, geral, abstracta e prvia). 1.2. Princpio Democrtico 1.3. Princpio da separao de Poderes S ser legtima a interveno penal se, em ltima instncia, se fundar o ius punendi na vontade do Povo (lei formal da A.R. ou do Governo com autorizao 165 / 1 / c). 2. Externos: 2.1. Preveno Geral (positiva /negativa) No tem sentido a norma querer cumprir a funo motivadora dos comportamentos se, previamente, no estabelece a fronteira entre o punvel e o no punvel. 2.2. Princpio da Culpa No se pode censurar algum por um dado comportamento se esse algum no puder saber de antemo o que censurvel e o que no . 2.3. Preveno Especial Positiva Confirma a exigncia deste princpio pois o comportamento que indicia a perigosidade no apenas sintoma de carncia de socializao (e ensejo para que esta intervenha), mas tambm teve de ser co-fundamento e limite da interveno criminal.
Direito Penal
20
De outra perspectiva, diremos que existem: 1. Fundamentos materiais pela lgica da separao de poderes num Estado de Direito Democrtico que garante os DLGs dos cidados (proteco dos DLGs assim levada a cabo no apenas atravs do Direito Penal mas tambm perante o Direito Penal Roxin). 2. Fundamentos Formais por se garantir certeza e segurana em prol da proteco do particular contra o arbtrio do julgador. Deste modo, Feuerbach afirma que no pode haver crime nem pena que no resultem de uma lei prvia, escrita e certa (nullum crimen, nulla poena sine lege apesar da conhecida expresso latina, este princpio no se remonta Roma Antiga). Decorrem deste princpio, outros: Pr. da legalidade dos crimes Pr. da legalidade das penas e medidas de segurana Pr. da nulla poena sine vidicium) Hoje, o princpio da legalidade reporta-se tanto s penas como s medidas de segurana. Antes no era assim: no C.P. de 1886, uma vez que as medidas de segurana se ligam ao modo de ser do agente (perigosidade) e visavam a preveno geral, eram medidas de pura defesa social. Este seu fundamento, cria-se, devia conduzir a que se pudesse aplicar a medida de segurana vigente ao tempo de aplicao, pois isso seria sinal de um melhor entendimento do legislador. Tal ideia foi chumbada pela CRP (29) e, consequentemente, pelo C.P. 1982 (1/2). Embora materialmente correcta, no nos podemos apegar a esta ideia paternalista de que ao legislador pertenceria dizer o que seria melhor para o agente. Isto, porque, facilmente se abrem portas ao perigo de burla de etiquetas (o legislador apenas do ponto de vista formal, do nomen, chamar medidas de segurana a autenticas penas, por exemplo) e a uma violao da irretroactividade da lei (desfavorvel). Da que se elevem razes de certeza e segurana que contendem com a proteco do particular. II) Repercusses no plano da aplicao O princpio da legalidade no cobre, segundo a sua funo e sentido (e ao arbtrio do legislador) proteger DLGs f toda a matria penal, mas apenas aquela que se traduza em fundamentas ou agravar a responsabilidade do agente. III) Reflexo no plano da fonte Neste plano, o princpio da legalidade prende-se com o problema da separao dos poderes e com a Reserva dos parlamentos. Isto , com a lei formal (da A.R. ou Governo autorizado - 165 / 1 / c). Colocam-se questes: - Normas Penais em Branco: So normas penais (e, portanto, formais) que, ao descreverem o regime, remetem para conceitos de outros ramos do direito para a definio da correspondente fattispecie (hiptese). Como se v, estas normas no penais podem at estar em primeira-mo atribudas ao Governo. Ora, o conceito que a se ir buscar tem de se bastar com a observncia dos pressupostos exigidos no ramo do direito para o qual se remeteu. Tambm a nvel interpretativo no h restries maiores das que se sentirem para a lei remetida, ainda que da resulte agravamento. - As normas favorveis (causas de excluso de ilicitude e de atenuao da culpa ou da pena), ou seja, a actividade de descriminalizao ou de atenuao, tambm esto
Direito Penal
21
subordinadas ao princpio da lei formal, ou o Governo possui competncia concorrente com a A.R)? Figueiredo Dias defende que a razo para o princpio da legalidade se traduzir na exigncia de lei formal para a criminalizao ou agravao contende com a ideia de proteco do arguido face a um eventual arbtrio do legislador. Assim, no v razo para no reconhecer a competncia concorrente do Governo (ao lado da A.R.) para a descriminalizao ou atenuao. Porm, no isso que se verifica e que o T.C. segue. afirmao de Figueiredo Dias de que talvez seja assim (e no como ele julga que deveria ser), porque, de outra forma, abrir-se-o as portas para possveis conflitos institucionais. A esta ideia juntase outra de teor mais substancial: no h verdadeiramente uma distino entre tipo incriminador e justificador (desfavorvel e favorvel, respectivamente). H muito de convencional na discrio do tipo, o que, face ao entendimento originrio de Figueiredo Dias, poderia dar azo a solues materialmente contra a teleologia do princpio da legalidade (A. M. Almeida Costa). IV) Exigncia de determinabilidade do tipo legal O tipo (incriminador) legal deve ser determinado (ou determinvel) em ordem ao respeito pela segurana, certeza e garantia do agente. Schnemann refere que neste ponto que reside o verdadeiro cerne do princpio da legalidade. Claro que no poderemos afastar totalmente os elementos normativos, os conceitos indeterminados, as clusulas gerais e as frmulas gerais de valor, conexionando-nos apenas a conceitos descritivos, pois facilmente a lei tornar-se-ia obsoleta (perigo essencialmente no plano do Direito Penal secundrio). O que necessrio que tais elementos sejam determinveis e certos, segundo um juzo racional norteado por valores aceites na comunidade em geral, isto , o juzo deve ser passvel de avaliao. V) Proibio da analogia legis Esta proibio da analogia pressupe a resoluo do problema dos limites da interpretao admissvel em direito penal. Aceita-se, hoje, que praticamente todos os conceitos utilizados na lei so susceptveis e carentes de interpretao. Deste modo urge saber o que pertence ainda interpretao permitida e o que pertence j analogia proibida em direito penal. No curso, defende-se a posio teleolgica e funcionalmente imposta pelo contedo de sentido prprio do princpio da legalidade. Pois, se o agente vir a sua responsabilidade agravada numa qualquer base que caia fora do quadro de significaes possveis das palavras da lei, no v os seus DLGs protegidos perante uma inferncia, ilegtima, do poder estadual na sua esfera jurdica. Ao invs, se o caso couber num dos sentidos possveis das palavras da lei, nada h a acrescentar ou a retirar aos critrios gerais da interpretao jurdica (pode ser restritiva, declarativa ou extensiva). Resta, ento, que a interpretao seja Teleologicamente Comandada determinada luz do fim almejado pela norma e Funcionalmente Justificada adequada funo que o conceito assume no sistema. No atinente escolha entre uma interpretao objectivista ou subjectivista, a doutrina diverge: Almeida Costa defende uma vertente objectiva, guiada pela poltica criminal e pelas directrizes do sistema; Eduardo Correia propende para uma perspectiva subjectivista, dirigida procura da vontade do legislador histrico e Figueiredo Dias prope uma interpretao histrica actualista, na qual, por um lado, o interprete est indissoluvelmente ligado aos juzos de valor ou ao Thelos do legislador mas, por
Direito Penal
22
outro, pode (e deve) ele tomar em conta novas realidades, novas descobertas e mesmo novas concepes que poderiam no ter estado no campo de representao do legislador histrico, desde que isso no implique ultrapassar o teor liberal da regulamentao. Tambm no atinente analogia o penalista no sofre uma capitis diminutio relativamente aos demais juristas. Toda a analogia, dentro dos limites interpretativos, permitida, com uma excepo: que seja desfavorvel ao arguido. A proibio vale, pois, contra reum ou in malem partem, no favore reum ou in bonam partem. Concretamente, a proibio abrange (art. 1/3 C.P.) 1. Fundamentao da responsabilidade (alargamento do Tipo). 2. Agravao (circunstancias excepcionais que agravam a responsabilidade) 3. Pressupostos do Estado de Perigosidade 4. Medidas de Segurana VI) Traduo no princpio da aplicao da lei penal no Tempo: Proibio da retroactividade da lei penal (desfavorvel) 29, CRP; 2 C.P. O plano mais significativo de refraco do princpio de legalidade e aquele que origina problemas mais complexos o da proibio da retroactividade in malem partem. Atravs dele se satisfaz a exigncia constitucional e legal de que s seja punido o facto descrito e declarado passvel de pena por lei anterior ao momento da prtica do facto. Noutras palavras, a lei penal competente a do momento da prtica do facto (2 / 1 C.P.). Atravs do artigo 3, conclui-se que tal momento se reporta ao da conduta (e no do resultado), seguindo um critrio unilateral (Tempus delicti). Isto porque no momento da conduta que h carncia de proteco dos DLGs (funo do princpio da legalidade). H, porm, uma excepo a este princpio da irretroactividade da lei penal para os casos em que a lei nova seja mais favorvel ao agente. Tal excepo funda-se na ideia de que se de uma nova ponderao das coisas pelo legislador (em princpio melhor) se concluir que o bem jurdico seria protegido atrs de um regime punitivo mais leve, no h razo (pois no somos tico-retributivos) para manter a sano anteriormente estabelecida para os mesmo comportamentos. Assim, a proibio da irretroactividade s vale se a favor do agente, consubstanciando-a no princpio da aplicao da lei penal mais favorvel (lex mellior). Problema especial configurado por todos aqueles crimes em que a conduta se protela no tempo, de tal modo que uma parte ocorre no domnio da lei antiga e uma parte no da lei nova. exemplo paradigmtico o dos Crimes Duradouros ou Permanentes (ex: sequestro) que se distinguem dos crimes de execuo imediata, por serem praticados e consumados a todo o tempo. O problema do princpio da no retroactividade da lei penal no se coloca se a lei posterior for mais favorvel, mas e se for mais severa? 1. Taipa de Carvalho O crime divide-se em dois sequestros, dando azo a concurso de crimes (77,78,C.P.), um punvel com a lei velha (mais favorvel, 2/4) e outro com a lei nova (desfavorvel). 2. Figueiredo Dias Segue esta ideia de Taipa de Carvalho: qualquer aprovao s pode valer para aqueles elementos tpicos do comportamento verificados aps o momento da modificao legislativa. E soluo paralela parece defender-se para o chamado crime continuado.
Direito Penal
23
3. A. M. Almeida Costa O agente ser sempre punido pela lei nova, ainda que mais severa, pois, considera-se que aceitou as regras do jogo. Na verdade, poderia pr termo ao sequestro e no o fez. No h aqui qualquer problema, visto que no domnio da lei nova foram praticados actos integradores de crimes, por vontade do agente. Se, porm, a incriminao foi estabelecida pela lei nova, o agente s responder pelos factos posteriores sua entrada em vigor. 1. Hipteses de Descriminalizao (2 / 2) Cessam a execuo dos seus efeitos penais, sem qualquer respeito pelo caso julgado. 1.1. Problema I: O crime passou a ser considerado Contra-ordenao (ex: consumo de estupefacientes). Taipa de Carvalho Como o 1/2, CP diz que se desaplica a lei penal e o 3, DL 433/82 no admite a aplicao retroactiva da norma contra-ordenacional, conduzimonos a um vazio de punio (este autor v no 1/2 a descriminalizao pura e aquela em que o crime se transforma em contra-ordenao), defendendo o autor que nestes casos o facto deixa de ter relevncia jurdica. A. M. Almeida Costa Partindo tambm desta ideia de que o comportamento no deixou de ser censurvel, funda-se, ao invs, no 1/4 para justificar uma aplicao da contra-ordenao retroactivamente, por se mostrar como mais favorvel. Na verdade, este artigo no refere leis penais posteriores mas sim leis posteriores o que faz com que faz com que nesta expresso caiba, perfeitamente, tanto a ideia de leis penais, como leis contra-ordenacionais posteriores. (Assim: 1/2 descriminao pura 1/4 despenalizao ou descriminalizao em contra-ordenao). Figueiredo Dias Chega s concluso da doutrina supra explicitada mas coloca o problema puramente no campo da mera ordenao social dizendo que no momento da prtica do facto no existiam razoes para que o agente pudesse esperar ficar impune, acabando, sim, por beneficiar de um regime contra-ordenacional ais favorvel (caso o seja). Defende, ento, uma interpretao mais elstica do princpio da irretroactividade (desfavorvel) das contra-ordenaes, pois no se pode admitir um vazio de punio face a um comportamento que, apesar de no ser j crime, considerado como sancionvel e reprovvel. 1.2. Problema II: Lei nova mantm a incriminao de uma conduta concreta, ainda que sob um novo ponto de vista poltico criminal, mesmo que se traduza numa alterao do bem jurdico protegido. Taipa de Carvalho descriminalizao seguida de neo-criminalizao. Vigora o art. 2 / 2, resultando isto num vazio de punio. Figueiredo Dias Diz estar errado o que defende Taipa de Carvalho visto no haver, no fundo, descriminalizao, mas sim mudana do bem jurdico protegido (ex: crime de violao). Na verdade, no h descontinuidade do crime pelo facto do BJ ter mudado. H uma nova concepo tico social, que no determina, per si, a desconsiderao (rectius, a descriminalizao) das condutas antes tomadas em violao do respectivo bem. Hipteses de Despenalizao: atenuao da pena (2/4). Trata-se de um juzo concreto feito pelo juiz. Este, analisa o caso luz dos 2 regimes em ordem a escolher o que mais favorea o agente. 2.
Direito Penal
24
O C.P. 1982 no abria a excepo aos casos julgados (ao contrrio do que sucede na descriminalizao). Face a isto, muitos autores (como Canotilho e Taipa de Carvalho) viam aqui fundamento para inconstitucionalidade da norma por violao do princpio da igualdade. Figueiredo Dias no aceitava aquela posio, com base num argumento de razoabilidade no seria exequvel que a totalidade das condenaes penais tivesse de ser reformada todas as vezes que uma lei nova viesse atenuar uma qualquer consequncia jurdico penal ligada ao facto. Alm disso, alegando os defensores da inconstitucionalidade que a restrio no constava do 29/4 CRP, este autor foca, e bem, que compete CRP deixar ao legislador ordinrio o seu mbito prprio de actuao, devendo limitar-se a regular os limites deste mbito, definindo os requisitos a que devem submeter-se as leis restritivas de direitos fundamentais (art. 18). O C.P., na sua verso de 2007, em princpio, respeita o caso julgado, porm, abre uma excepo se o delinquente j tiver cumprido o mximo de pena que a lei nova estabelece. de louvar tal soluo visto ir ao encontro da praticabilidade no trfico processual. Aqui, desta forma, operar a automaticidade e no haver necessidade de reponderao concreta do caso (escusado ser dizer que o legislador no se ficou por aqui. Ele veio emanar a norma 371-A CPC, que veio, na prtica, frustrar a praticabilidade conseguida pela reforma de 2007). 3. As leis intermdias So leis que entram em vigor posteriormente ao momento da prtica do facto, mas j no vigoram ao tempo da apreciao judicial deste. Todas as leis so aplicveis, pelo que se deve aplicar o regime que concretamente seja mais favorvel ao agente. Esta soluo est coberta tanto pela letra do art. 29/4, 2 parte CRP como pela do art. 2/4 CP. 4. As leis de emergncia (2/3) ou leis temporrias Estas leis reportam-se a situaes, ou melhor, a pocas de especial crise, trazendo maior censurabilidade a certas condutas. Elas so consideradas ultra-activas, consubstanciando uma excepo excepo, isto , uma excepo ao princpio da retroactividade de leis penais mais favorveis ao arguido. Este punido pela lei de emergncia vigente data da prtica do facto, mesmo que na altura da sentena (ou no hiato temporal at l) vigorar uma lei mais favorvel (2/3). Mas isto estar correcto se se contar que a tal lei mais favorvel no de emergncia. Na verdade, se depois de uma nova ponderao (melhor) das coisas pelo legislador, ele considerar que o comportamento punvel (o bem jurdico protegido) por uma sano menos severa, esta que se aplica. Por isso, perante uma sucesso de leis temporrias, temos de verificar se ela ocorreu devida alterao das circunstncias fcticas ou se s graas a novas valoraes legislativas. Neste ultimo caso, devemos fazer uma aplicao analgica do 2/4, permitida, porque analogia para favorecer (a contrario, 1/3). Deste modo, o 2/3 apenas quer diferenciar as situaes normais de outras ditas de emergncia, sendo que, na relao entre estas ultimas, rege a regra geral do 2/1. Contudo, apesar de tudo o que se disse, no devemos esquecer que o verdadeiro fundamento de uma lei de emergncia uma situao de facto excepcional. Pelo que, se Lei x sucede a Lei y porque, imagine-se, a crise de seca amainou, independentemente de a Lei y ser mais favorvel, a Lei x que se aplica isto porque, o que mudou foi a situao de facto e no s a opo valorativa do legislador. Quer dizer: esta veio por arrasto diminuio da situao de crise.
Direito Penal
25
9 Capitulo. MBITO DE VALIDADE ESPACIAL DA LEI PENAL
1. O sistema de aplicao da lei penal no espao e os seus princpios constitutivos. O conjunto das disposies sobre o mbito de validade espacial das normas que um C.P. contm vulgarmente chamado de direito penal internacional, analisando-se o seu contedo em regras ou critrios de aplicao da lei penal no espao. Daquele direito distingue-se o direito internacional penal, enquanto ramo do direito internacional pblico que tem por objecto a matria penal. Assim, distinguem-se, no s pelo critrio da fonte, mas tambm pelo facto do D.I. Penal ter um objecto muito mais lato (toas as normas de direito internacional que versam sobre matria penal). No nosso O.J., as normas de direito penal internacional encontram-se nos artigos 4 a 6 do C.P. O princpio base do nosso sistema o da Territorialidade, segundo o qual o Estado aplica o seu direito penal a todos os factos penalmente relevantes que tenham ocorrido no seu territrio, com indiferena por quem ou contra quem foram tais factos cometidos. A par deste princpio base existem princpios acessrios ou complementares: 1) Pr. Nacionalidade o Estado pune todos os factos praticados pelos seus nacionais, com indiferena pelo lugar onde eles foram praticados e por aquelas pessoas contra quem o foram. 2) Pr. Defesa dos Interesses Nacionais O Estado exerce o seu poder punitivo relativamente a factos dirigidos contra os seus interesses nacionais especficos. 3) Pr. Universalidade Manda o Estado punir todos os factos contra os quais se deva lutar a nvel mundial ou que internacionalmente ele tenha assumido a obrigao de punir. Este um princpio de importncia crescente no mundo actual, no s devido crescente preocupao internacional com certo tipo de infraces, como tambm por fora do carcter global de certos riscos dotados de potencial lesivo transnacional em matria de ambiente, manipulao gentica, criminalidade altamente organizada. 4) Pr. da Administrao Supletiva da Justia Penal Foi introduzido pela reviso de 1998 pondo termo a uma lacuna. A lei portuguesa passa a ter competncia para conhecer dos factos que, no se encontrando sujeitos s regras anteriores, foram praticados no estrangeiro por estrangeiros que se encontram em Portugal e cuja extradio, tendi sido requerida, no pode ser concedida. 2. Contedo e sistema de combinao de princpios 2.1. O princpio base da Territorialidade aceite como princpio basilar, na generalidade dos sistemas legislativos, ao que Portugal no excepo. Nesta preferncia convergem razes de ndole interna ou prprias de direito penal e politica criminal e razoes de ndole externa ou de direito internacional e politica estadual. O princpio encontra-se, entre ns, consagrado no art. 4 a), o qual, quando chamado colao, exige sempre a determinao do locus delicti. Para este problema rege o art. 7 que, diferentemente do que acontece com a determinao do tempus delicti, abrange um critrio plurilateral (tanto o lugar onde o agente actuou como aquele em que o resultado se tenha produzido). Esta opo fundamenta-se dada a circunstncia de diversos pases poderem assumir nesta matria critrios diferentes (uns o da conduta; outros o do resultado), do que derivariam insuportveis lacunas de punibilidade que uma poltica criminal minimamente concertada no poderia admitir.
Direito Penal
26
O artigo, na sua actual redaco, abrange os casos de comparticipao, relativamente aco, e os crimes de perigo, de atentado e agravados pelo resultado, no atinente ao resultado. O art. 7/2 representa um alargamento da competncia da lei penal portuguesa, ainda que ficcionadamente: local do facto , tambm, em caso de tentativa, o local onde o resultado deveria ocorrer segundo a representao do agente. Esta soluo acompanha a lei alem, posto que mais restrita do que ela; sobrando ainda espao para perguntar se, plano dogmtico, no estranho considerar-se como local da prtica do facto o lugar onde o facto no chegou efectivamente a praticar-se. Este princpio sofre uma extenso que se contm no art. 4 b) e parifica com os factos cometidos no territrio portugus os que tenham lugar a bordo de navios ou aeronaves portuguesas. Fala-se, a este propsito, de um critrio do pavilho, justificado pela considerao tradicional de que aqueles navios e aeronaves so ainda territrio portugus. Parece, todavia, dever entender-se que, sempre que o navio ou aeronave esteja em porto ou aeroporto de parte diferente do do pavilho, isso no retira competncia lei do lugar em nome do princpio base da territorialidade. Quando tal suceda dar-se-, no mximo, um conflito positivo de competncias. O DL 254/2003 prev nos seus artigos 3 e 4 uma extenso de competncia de lei penal portuguesa, que passa a poder aplicar-se aos crimes contra a vida, integridade fsica, liberdade pessoal, liberdade e autodeterminao sexual, honra ou propriedade, que sejam praticados: 1. a bordo de aeronave alugada a um operador que tenha a sua sede em territrio portugus; 2. a bordo de aeronave cujo local de aterragem seguinte prtica do facto for o territrio portugus e o comandante da aeronave entregar o presumvel infractor s autoridades portuguesas. 2.2. O princpio complementar da Nacionalidade A complementaridade do princpio da nacionalidade relativamente ao da territorialidade justifica-se porque se reconhece casos perante os quais, se tudo repousasse no princpio portugus da territorialidade, poderiam abrir-se lacunas de punibilidade indesejveis para uma politica criminal concertada e eficiente. E isto porque existe uma mxima de direito internacional comummente seguida: a da no extradio de cidados nacionais. Se o pas no extradita, ento, uma vez regressados ao pas da nacionalidade, o Estado deve puni-los dedere aut punire. Originalmente, e com base no fundamento que foi apontado ao princpio, ele apareceu como princpio da Personalidade Activa: o agente um portugus. Fala-se, hoje, tambm, a justo ttulo, de um princpio da Personalidade Passiva: a vtima um portugus. Esta vertente radica num fundamento e numa teleologia que nada tem que ver com aqueles em que assenta o princpio da personalidade activa. Aqui, o fundamento o da necessidade sentida pelo Estado Portugus de proteger os cidados nacionais, o que identifica o princpio da personalidade passiva com o da defesa de interesses nacionais sob a forma de proteco pessoal daqueles interesses. O princpio da nacionalidade na forma normal do seu aparecimento encontra-se consagrado no art. 5/1/e). Ele aplica-se sob uma trplice condio: 1) Que o agente seja encontrado em Portugal 2) Que o facto seja tambm punvel pela legislao do lugar em que tiver sido praticado esta a condio materialmente mais importante de aplicao do princpio
Direito Penal
27
da nacionalidade e que mais claramente o converte em princpio subsidirio. Na verdade, no , em regra, razovel estar a submeter ao poder punitivo algum que praticou o facto num lugar onde ele no considerado penalmente relevante e onde, por isso, no se fazem sentir quaisquer exigncias preventivas quer sob a forma de tutela das expectativas comunitrias na manuteno da validade da norma violada (que no existe), quer sob a forma de uma socializao. 3) Que o facto constitua crime que admita extradio e esta no possa ser concedida Trata-se, aqui, claramente da reafirmao da concepo do legislador segundo a qual o princpio da territorialidade deve, no apenas no conspecto nacional, mas no internacional, constituir o princpio base e o princpio da nacionalidade o complemento. Se a extradio fosse jurdica e facticamente possvel, ela deveria ser concedida: do ponto de vista do princpio da Territorialidade antes dedere que punire. Se estiver em causa o princpio da personalidade activa, a extradio s possvel nos apertados limites do regime previsto no art. 33/3 CRP e no 32/2 L144/99, ao contrrio do que acontece nos sistemas de Common Law. Com a LC/97, o Estado portugus optou por abrir o seu direito extradio de nacionais em certos casos contados e taxativamente descritos. Podem, ento, ser extraditados nacionais desde que verificados os seguintes requisitos cumulativos: a) Existncia de reciprocidade de tratamento por parte do Estado requerente; b) Consagrao dessa reciprocidade em conveno internacional c) Tratar-se de casos dessa reciprocidade ou criminalidade internacional organizada; d) Consagrao de garantias de um processo justo e equitativo. No caso do pas requisitante contar com penas tidas em Portugal como inadmissveis (ex: Pena de morte), apenas se houver garantia de que tal pena no aplicada como sano (33/4) haver extradio. Previamente h, porm, que saber quais os crimes que admitem extradio. Encontramos resposta, a contrario, no art. 7 L144/99: crime que admita extradio qualquer um excepo da infraco de natureza poltica e do crime militar. Se o crime , pela sua natureza, passvel de extradio, pode acontecer que esta no seja concedida, seja porque, pura e simplesmente, no foi requerida, seja por efeito das normas existentes em matria de extradio: a) As que vedam a extradio por crimes a que correspondam certas reaces criminais segundo o direito do Estado requerente: a pena de morte e a pena de que resulte leso irreversvel da integridade fsica (33/4 CRP); b) Bem como a pena ou medida de segurana privativa da liberdade de carcter perptuo ou de durao indefinida (35 / CRP). A alnea b) do n1 do art. 5 consagra uma extenso do princpio da nacionalidade, segundo o qual a lei penal portuguesa , tambm, aplicvel a factos cometidos fora do territrio nacional contra portugueses, por portugueses que viverem habitualmente em Portugal ao tempo da sua prtica e aqui forem encontrados. Aqui, no se exigem os 2 ltimos requisitos exigidos na alnea e). Se estes casos ainda que excepcionalmente no fossem previstos, o agente adquiriria um verdadeiro direito impunidade atravs de uma fraude lei penal. A sua justificao passa, pois, pela ideia de fidelidade do agente e da vtima aos princpios fundamentais de uma comunidade a que pertencem e onde o agente habitualmente vive, pois o facto no punvel segundo a lei do lugar (difere da alnea e) que exige que o facto seja tambm punvel pela legislao do lugar onde foi praticado).
Direito Penal
28
2.3. O princpio complementar da Defesa dos interesses nacionais Trata-se aqui (art. 5, al. A)) da especfica proteco que deve ser concedida a BJs portugueses, independentemente da nacionalidade do agente, de os crimes terem sido cometidos no estrangeiro e mesmo do que a seu respeito disponha a lei do lugar. O bom fundamento de uma tal extenso do ius puniendi nacional reside em que o prprio agente estabeleceu a relao com a O.J. penal portuguesa ao dirigir o seu facto contra interesses especificamente portugueses. Alm disso, o Estado em cujo territrio o crime foi praticado pode no se encontrar em condies de seguir os infractores ou no ter vontade de o fazer, pelo que o Estado portugus deve munir-se dos instrumentos necessrios defesa dos seus interesses. A lei traz uma enumerao taxativa relativamente aos factos em que vale a aplicao do princpio em exame. Assinale-se que, num certo sentido, o princpio da proteco real prefere do princpio da personalidade activa quando ambos sejam convocados no caso concreto, uma vez que no se torna necessrio para a aplicao da lei penal a verificao dos requisitos de que o art. 5 e) e b) fazem depender o princpio da nacionalidade 2.4. O princpio complementar da Universalidade Jescheck aponta como fundamento deste princpio a solidariedade do mundo cultural face ao delito e a luta contra a delinquncia internacional perigosa. Visa permitir a aplicao da lei penal portuguesa a factos cometidos no estrangeiro que atentam contra BJs carecidos de proteco internacional ou que, de todo o modo, o Estado portugus se obrigou internacionalmente a proteger. Trata-se, aqui, de reconhecimento do carcter supranacional de certos BJs e que, por conseguinte, apelam para a sua proteco a nvel mundial. Neste sentido vo as alneas c) e d). Submetem, todavia, a aplicao da lei penal portuguesa a uma dupla condio: 1) Que o agente seja encontrado em Portugal 2) Que no possa ser extraditado 2.4. O princpio complementar da Administrao supletiva da justia penal Introduzido no nosso Ordenamento Jurdico para evitar conflitos negativos de competncia. Obsta ao vazio punitivo exactamente por representar um grande guardachuva que colmata todos os vazios que os outros princpios no conseguiram preencher. Do que se trata com este princpio de permitir a actuao do juiz nacional em vez ou em lugar do juiz estrangeiro mas nem por isso deixando de aplicar a O.J. penal nacional. A lei portuguesa aplicvel a factos cometidos no estrangeiro por estrangeiros: 1) Quando o agente seja encontrado em Portugal 2) Quando a sua extradio haja sido requerida 3) E o facto constitua crime que admita a extradio e esta no possa ser concedida 2. Condies gerais de aplicao da lei penal portuguesa a factos cometidos no estrangeiro O princpio da complementaridade dos princpios referidos reflecte-se exemplarmente no art. 6/1. Trata-se, aqui, antes de mais, de respeitar o princpio jurdico constitucional Ne bis in idem (29/5 CRP; 6/1, CP). Mas trata-se, tambm, de traduzir a ideia segundo a qual o critrio da territorialidade deve constituir efectivamente o princpio prioritrio e todos os outros assumirem a veste de princpios
Direito Penal
29
meramente complementares. Trata-se, em suma, e s, de prevenir a impunidade que poderia resultar de conflitos negativos de jurisdio. O art. 6/1 s se aplica aos factos praticados fora do territrio portugus, pelo que so requisitos da sua aplicao: 1) Que Portugal no assente a sua competncia no princpio da territorialidade; 2) Que a competncia estrangeira assente na territorialidade 3) Agente tenha cumprido toda a pena J o art. 6/2 permite a aplicao da lei penal estrangeira pelo Tribunal Portugus. Esta soluo encontra o seu fundamento no princpio da aplicao do regime concretamente mais favorvel e constitui, em ltimo termo, uma decorrncia da ideia segundo a qual a aplicabilidade da lei portuguesa subsidiria. So, desde logo, requisitos negativos da aplicao do regime do art. 672 os requisitos do 6/3: que no se trate dos crimes previstos nas alneas do n1 do art. 5. Alm disso, necessrio que o facto tenha sido praticado fora do territrio nacional e, por conseguinte, que a lei estrangeira fundamente a sua competncia no princpio da territorialidade, para prevenir conflitos negativos de jurisdio. Princpio do Desconto (82) Hipteses: a) Competncia portuguesa fundada no princpio da territorialidade, ainda que tenha cumprido a pena na totalidade no estrangeiro b) Competncia portuguesa assente no 5, se cumpriu parte da pena ou se ainda no a cumpriu HIERARQUIA segundo a fora do vnculo do caso com a Ordem Jurdica portuguesa 1 Princpio da Territorialidade 2 Princpio da Proteco dos Interesses Nacionais 3 Princpio da Nacionalidade na formulao especifica 4 Princpio da Nacionalidade na formulao geral 5 Princpio da Universalidade 6 Princpio de administrao supletiva de justia penal Possibilidade de APLICAO DE LEI ESTRANGEIRA pelos Tribunais portugueses (6/2,3). Surgiu pela primeira vez esta possibilidade no Cdigo Suo de 1930. Requisitos (6/2,3): 1. Lei portuguesa no pode ser competente na base do princpio da territorialidade, 2. Nem no principio da defesa de interesses nacionais 3. Nem no princpio da nacionalidade na sua formulao especifica da alnea b) 4. A lei estrangeira tem de ser competente na base do princpio da territorialidade. 5. Lei estrangeira tem de se mostrar concretamente mais favorvel
Direito Penal
30
PARTE II A DOUTRINA GERAL DO CRIME
A Construo da Doutrina do Crime (do Facto Punvel)
10 Capitulo. QUESTES FUNDAMENTAIS
Todo o direito penal direito penal do facto, no direito penal do agente. Isto num duplo sentido: por um lado, toda a regulamentao jurdico penal liga a punibilidade a tipos de factos singulares e sua natureza, no a tipos de agentes e s caractersticas da sua personalidade. Por outro, as sanes aplicadas ao agente constituem consequncias daqueles factos singulares e neles se fundamentam, no so formas de reaco contra uma certa personalidade ou tipo de personalidade. Assim, pode-se dizer que a construo dogmtica do conceito de crime , em ltima anlise, a construo do conceito de facto punvel. Ora, a tentativa de apreenso dogmtica deste conceito jurdico penal do facto constitui uma das mais ingentes tarefas a que at hoje se dedicou a dogmtica jurdica. E essa tentativa ocorreu, quase sempre, durante os dois ltimos sculos, na base de um procedimento metdico Categorial Classificatrio, atravs do qual se toma como base um conceito geral, o de aco, susceptvel de servir de pedra angular de todas as suas predicaes ulteriores. Tal, significa alcanar uma sua compreenso unitria, atravs da considerao sucessiva dos seus elementos constitutivos, que so cinco: a aco, depois qualificada como tpica, ilcita, culposa e punvel. 1. Evoluo histrica da doutrina geral do facto punvel 1.1. A concepo clssica (positivista naturalista) [2 metade sc. XIX 1900] A concepo desta escola, onde Liszt e Beling saltam vista, assenta numa viso do jurdico decisivamente influenciada pela Escola Moderna e, de forma geral, pelo positivismo que caracterizou o Monismo cientfico prprio de todo o pensamento da 2 metade do sc. XIX. Tambm o direito teria como ideal a exactido cientfica prpria das cincias da natureza e o facto punvel haveria de ser constitudo por realidades empiricamente comprovveis. Ficava prxima uma bipartio do conceito de crime numa vertente objectiva (aco tpica e ilcita) e numa subjectiva (aco culposa). Aco movimento corporal determinante de uma modificao do mundo exterior, ligada causalmente vontade do agente, axiologicamente neutra. Tipicidade A aco tornar-se-ia tpica sempre que fosse lgico formalmente subsumvel num tipo legal de crime, i.e., numa descrio puramente externo objectiva, alheia a valores e sentidos. Ilicitude A aco tpica seria ilcita se, no caso, no interviesse uma causa de justificao que a tornasse lcita. Nesta hiptese, a aco estava, em definitivo, em contrariedade com a Ordem Jurdica. Culpa A aco tornar-se-ia culposa sempre que fosse possvel demonstrar a existncia de um vnculo psicolgico entre o agente e a conduta (concepo psicolgica da culpa), susceptvel de legitimar a imputao do facto ao agente a ttulo de dolo ou de negligncia.
Direito Penal
31
Crticas: 1) O conceito de aco restringia logo, de forma inadmissvel, a base de toda a construo. No albergava a omisso nem o problema do concurso de crimes; 2) Reduzir a tipicidade a uma operao lgico formal de subsuno, esquecendo as unidades de sentido social, levaria a igualar o acto de um faquista ao de um cirurgio; 3) Reduzir a ilicitude ausncia de uma causa de justificao constitui uma viso pauprrima do que seja a contrariedade Ordem Jurdica; 4) No atinente culpa, no se concebia que tambm o inimputvel pode agir com dolo ou negligncia; que na negligncia inconsciente no existe qualquer relao psicolgica agente facto, antes ausncia dela; e que existem certas circunstncias que devem excluir a culpa, nomeadamente, a falta de conscincia do ilcito e a inexigibilidade. No fundo, a concepo da Escola Neoclssica foi abandonada quando caram os pressupostos ideolgicos e filosficos em que assentava. 1.2. A concepo Neoclssica (normativista) Afunda-se, essencialmente, na Filosofia dos valores de origem neokantiana, tal como foi desenvolvida entre 1900 1930 pela Escola de Baden (Windelband, Rickert e Lask). Ela pretendeu retirar o direito do mundo do puro ser e coloc-lo numa zona intermediria entre aquele mundo e o do puro dever ser, mais concretamente, num amplo referencial, no mundo das referencias da realidade a valores e, portanto, da axiologia e dos sentidos. Aco Descontados os exageros naturalistas, a aco continuou a ser concebida como comportamento humano causalmente determinante de uma modificao do mundo exterior ligada causalmente vontade do agente. Tipicidade Importava v-la como unidade de sentido socialmente danoso, como comportamento lesivo de bens juridicamente protegidos. Ilicitude Conglomerado de elementos objectivos mas, nalguns casos, tambm subjectivos, indispensvel para, a partir dele, se concluir pela contrariedade do facto O.J. (exemplo: ilcita, no sentido de tipo de furto, a subtraco de coisa mvel alheia com inteno de apropriao). Culpa Traduz-se, agora, num juzo de censurabilidade (concepo normativa da culpa), pelo que se enriquecem com a compreenso de imputabilidade, do dolo ou da negligncia como graus de culpa e da exigibilidade. Crticas: 1) Os seus fundamentos ideolgicos e filosficos devem considerar-se largamente ultrapassados, sobretudo na parte em que a essncia do direito se no considerar mais compatvel com a profunda ciso entre o mundo do ser e o mundo do dever-ser. 2) Relativamente prpria construo do sistema do facto punvel, a principal crtica dirigiu-se ao conceito mecnico causalista da aco, de modo que todos os erros subsequentes teriam a a sua origem radical: o ilcito continuava a constituir uma entidade fundamentalmente heterognea de objecto da valorao e de valorao do objecto. 3) Como sistema de passagem, foi de todas as contradies. No fundo, limitou-se a receber o sistema causal e a cobri-lo com o manto da referencialidade a valores.
Direito Penal
32
1.3. A concepo finalista (ntico fenomenolgica) a seguir II G.M. que se assiste passagem do Estado de direito formal para o de direito material, ficando prxima a tentativa de limitar toda a normatividade por leis estruturais determinadas do ser, as quais, uma vez estabelecidas, serviriam de fundamento vinculante s cincias do Homem. Foi a Hans Welzel que coube o mrito de verter para o direito penal este patrimnio ideolgico sobre o jurdico e o seu mtodo. Aco um conceito pr-jurdico que teria de ser ontologicamente determinado e que, uma vez aceite pelo legislador, no poderia ser por ele reconformado. A verdadeira essncia da aco humana foi encontrada por Welzel na verificao de que toda a aco humana a supra determinao final de um processo causal, ou seja, o homem distingue-se dos outros animais porque a sua aco final, o fim de um projecto que ele assumiu mentalmente e agora vai realizar na prtica. Tipicidade O tipo sempre constitudo por uma vertente objectiva e uma outra subjectiva: o dolo ou eventualmente a negligncia. Ilicitude S da conjugao daquelas duas vertentes pode resultar o juzo de contrariedade da aco ordem jurdica, ou seja, o juzo de ilicitude. Este ilcito , todavia, pessoal: o ncleo do ilcito est no desvalor da aco. No fim de contas, o ilcito pessoal uma unidade objectivo subjectiva que pode assumir natureza dolosa ou negligente, mas que valorado como acto da pessoa humana em geral e no como acto do concreto agente. Culpa Continua a concepo normativa da culpa mas subtrai o objecto de valorao da culpa (juzo de censura). O facto, em si, doloso ou negligente. Agora, s h que apurar se o agente responsvel ou no e por que facto. Crticas: 1) O pretenso ontologismo que estava na base do sistema acabou por redundar num inflexvel conceitualismo, pelo que a postura metodolgica que da resultou inaceitvel (semelhante do direito natural clssico); 2) A determinao finalista do conceito de aco insusceptvel de oferecer uma base unitria a todo o actuar humano que releva para o direito penal; 3) A afirmao de que a culpa mero juzo de desvalor no compatvel com a funo poltico criminal que o princpio da culpa deve exercer no sistema. Se este princpio da culpa um princpio politico criminal verdadeiramente essencial do sistema penal e se as sanes para o mesmo tipo de crime so distinguidas em funo do dolo ou da negligncia, ento estas tm de ter significado, tambm, em matria de culpa. J no que respeita concepo do ilcito pessoal, apresenta-se, ainda hoje, cheio de valor. Na verdade, todo o ilcito ilcito pessoal e dele fazem parte o dolo, como representao e vontade de realizao de um facto, e a negligncia, como violao do cuidado objectivamente imposto. 2. Fundamento de uma construo teleolgico funcional e racional do conceito de facto punvel A posio que agora se apresenta vem participar de um sistema emergente, comandado pela convico de que o sistema e os seus conceitos integrantes so formados por valoraes fundadas em proposies poltico criminais imanentes ao quadro axiolgico e s finalidades jurdico constitucionais. Este sistema arranca das concepes avanadas por Roxin em 1970, a propsito das relaes entre a poltica criminal e o sistema do facto punvel.
Direito Penal
33
2.1. A discusso roda do conceito de aco Muitas concepes continuavam a subscrever, no obstante terem abandonado a procura por conceitos puros de aco, a ideia tradicional do conceito de aco como base autnoma e unitria de construo do sistema, capaz de suportar as posteriores predicaes da tipicidade, ilicitude, culpa e punibilidade sem, no entanto, as prdeterminar. Para que assim possa ser, devem ser exigidas ao conceito geral de aco 3 funes (Jescheck): 1) Uma funo de classificao o conceito tem de assumir o carcter de conceito superior, abrangendo todas as formas possveis de aparecimento do comportamento punvel e representando o elemento comum a todas elas; 2) Uma funo de definio e ligao o conceito tem de possuir a capacidade de abranger todas as predicaes posteriores, sem, todavia, as pr-determinar; 3) Uma funo de delimitao o conceito tem de permitir que, com apelo a ele, logo se excluam todos os comportamento que, ab initio, e independentemente das predicaes posteriores, no podem nem devem constituir aces relevantes para o direito penal. Analisando o conceito social de aco, o conceito final de aco, o conceito negativo de aco e o conceito pessoal de aco, o que Figueiredo Dias tenta demonstrar que as exigncias funcionais supra-assinalas parecem, em definitivo, contraditrias, no sentido em que mutuamente se excluem. Com efeito, prefervel que a doutrina do crime renuncie a encontrar a sua base nos resultados de uma excessiva abstraco generalizadora e classificatria que vai implicada na aceitao de um qualquer conceito pr jurdico geral de aco. Tal significa que deve renunciar-se a colocar como elemento bsico do sistema um conceito geral de aco; deve antes a construo ocupar-se da compreenso das concretas aces e omisses dolosas e negligentes que se apresentam como jurdico penalmente relevantes e, por conseguinte, tal como so dadas nos tipos de ilcito. Isto vale por dizer que a doutrina da aco deve ceder primazia doutrina da realizao do tipo de ilcito. Daqui resulta que a prpria funo de delimitao deve ser desempenhada por vrios conceitos de aco tipicamente conformados. O conceito de aco perde a autonomia e capacidade para se arvorar em pedra base do sistema, pelo que no sistema teleolgico, ele desempenha um papel secundrio, essencialmente correspondente funo negativa de excluir de tipicidade comportamentos jurdico penalmente irrelevantes, enquanto a primazia h-de ser concedida ao conceito de realizao tpica do ilcito. 2.2. As categorias dogmticas Sendo este sistema comandado de forma decisiva por proposies poltico criminais fundamentais, as categorias da dignidade punitiva e da carncia de pena tm necessariamente que entrar no jogo: a 1, reduzindo os bens penalmente tutelveis queles que encontram refraco jurdico constitucional e tornando-os, assim, em Bens jurdicos penais; a 2, introduzindo o critrio base da necessidade sem alternativa da sua proteco atravs dos instrumentos sancionatrios penais. Aquelas categorias no deixam de reflectir-se, em larga medida, no tipo de ilcito, no tipo de culpa e na punibilidade, conceitos estes que devem considerar-se os elementos constitutivos do facto punvel.
Direito Penal
34
2.2.1. O tipo de Ilcito Num sistema autenticamente teleolgico funcional e racional, a prioridade no pode deixar de caber categoria material do ilcito, concebido como ilcito tpico. A funo do direito penal (proteco subsidiria de bens jurdico penais) e a justificao da interveno penal (estabilizao das expectativas comunitrias na validade da norma violada) irmanam-se na determinao funcional da categoria do ilcito. A esta advm o primado na construo teleolgica funcional do crime. a qualificao de uma conduta concreta como penalmente ilcita que significa que ela , de uma perspectiva tanto objectiva como subjectiva, desconforme com o ordenamento jurdico penal e que este lhe liga um juzo negativo de valor. A ilicitude define o mbito do penalmente proibido e d-lo a conhecer aos destinatrios potenciais das suas normas, motivando tais destinatrios a ter comportamentos de acordo com a O.J. penal. No se diga, portanto, que ao tipo individualmente considerado pertence logo a funo de motivar a omisso de aces proibidas ou a realizao de aces impostas. Por isso, todo o tipo tipo de ilcito. A concretizao do tipo serve-se, porm, de dois instrumentos diferentes ou mesmo de sinal contrrio mas, em todo o caso, funcionalmente complementares: 1) Tipos incriminadores conjunto de circunstncias fcticas que directamente se ligam fundamentao do ilcito e onde assume papel primordial a configurao do B.J. protegido e as condies sob as quais o comportamento pode ser considerado ilcito. Estruturalmente, delimitam o ilcito por forma concreta e positiva. 2) Tipos justificadores assumem o carcter de limitao dos tipos incriminadores, delimitando o ilcito por forma geral e negativa. Mas, para alm do desvalor do resultado do comportamento, importa sempre tomar em considerao os elementos configuradores do desvalor da aco, atravs do qual esta surja como obre de uma pessoa: todo o ilcito penal ilcito pessoal, Assim, o ilcito tpico doloso no qual o agente previu e quis um resultado e o ilcito tpico negligente o agente violou um dever de cuidado e criou um risco no permitido so os domnios onde possvel a reconduo da realizao tpica pessoa do autor. Conclui-se, pois, que o dolo e a negligncia so os elementos constitutivos do tipo (subjectivo) de ilcito. 2.2.2. O tipo de Culpa Sem a categoria de culpa nunca poder falar-se de facto punvel com uma pena criminal. Necessrio se torna sempre que o facto possa ser pessoalmente censurado ao agente, por aquele se revelar expresso de uma atitude interna juridicamente desaprovada e pela qual ele tem, por isso, de responder perante as exigncias do dever scio comunitrio. A funo que cabe ao conceito de culpa no sistema do facto punvel de limitao do intervencionismo estatal; uma funo que reconduz o conceito de culpa a uma valorao poltico criminal fundamental. O seu fundamento irredutvel , pois, o respeito pela eminente dignidade da pessoa humana, podendo afirmar-se que o princpio da culpa no h pena sem culpa e a medida da pena no pode ultrapassar a medida da culpa deve constituir um princpio de direito constitucional prprio de todos os ordenamentos jurdicos dos estados democrticos. Ora, prevendo a lei diferentes molduras penais para o mesmo facto, consoante ele tenha sido praticado com dolo ou s com negligncia, importa reconhecer que se trata aqui de entidades que revelam diferentes contedos materiais de culpa. Uma
Direito Penal
35
conduta considera-se culposa quando revela uma atitude pessoal ou posio ntima do agente perante o dever-ser jurdico penal: 1) O dolo expresso de uma atitude pessoal de contrariedade ou indiferena; 2) A negligncia expresso de uma atitude pessoal de descuido ou leviandade. Do que se trata , lembre-se, de algo autnomo relativamente s formas do tipo de ilcito, que as completa, tornando-as cada vez mais prximas do momento decisivo de aplicao das molduras penais respectivas. 2.2.3. A punibilidade A ideia mestra que reside a esta categoria a da dignidade penal. Ela permite que, nalgumas hipteses, apesar da realizao integral do tipo de ilcito e do tipo de culpa, a imagem global do facto uma tal que, em funo de exigncias preventivas, o facto concreto fica aqum do limiar mnimo da dignidade penal. A punibilidade, de resto, no significa ainda que, uma vez ela presente, ter inevitavelmente lugar a aplicao de uma reaco criminal. Melhor se dir que assim se perfecciona o Tatbestand, que faz entrar em jogo a consequncia jurdica e a sua doutrina autnoma. Pode depois acontecer que a punio acabe por no se efectivar por razoes que j nada tm que ver com a doutrina do facto punvel, mas autonomamente com a doutrina da consequncia jurdica (ex: dispensa de pena, art. 75. C.P.)
11 Capitulo. O TIPO OBJECTIVO DE ILCITO
A. Questes Gerais de Tipicidade I. 1. Tipo de Garantia: Conjunto de elementos, exigido pelo art. 29 da CRP e pelo art. 1 C.P., que a lei tem de referir para que se cumpra o contedo essencial do Pr. nullum crimen, nulla poena sine lege. Trata-se de um conjunto de elementos que se distribuem pelas categorias da ilicitude, da culpa e punibilidade, cumprindo-se, assim, a funo da lei penal como Magna Charta dos cidados. 2. Tipo de Erro: Conjunto de elementos que se torna necessrio ao agente conhecer para que possa afirmar-se o dolo do tipo, dolo do facto ou dolo natural. Dele fazem parte os pressupostos de uma causa de justificao ou de excluso de culpa. 3. Tipo de Ilcito: a figura sistemtica de que a doutrina penal se serve para exprimir um sentido de ilicitude, individualizando uma espcie de delito e cumprindo, deste modo, a funo de dar a conhecer ao destinatrio que tal espcie de comportamento proibido pela O.J II. 1. Desvalor de Aco: conjunto de elementos subjectivos que conformam o tipo de ilcito (subjectivo) e o tipo de culpa, nomeadamente a atitude interna do agente que ao facto preside e a parte do comportamento que exprime facticamente este conjunto de elementos. Perspectivar toda a construo da dogmtica do facto punvel a partir simplesmente do desvalor da aco, redundaria nas seguintes concluses: 1. A tentativa dever ser to punida como a consumao; 2. A negligncia dever ser punida logo na base da observncia da violao de um dever de cuidado.
Direito Penal
36
2. Desvalor de Resultado: Criao de um estado juridicamente desaprovado e, assim, conjunto dos elementos objectivos do tipo ilcito que perfeccionam a figura do delito. A tentativa de construir toda a dogmtica do tipo a partir do desvalor do resultado foi ensaiada pelo sistema clssico-positivista, que pretendia distinguir o ilcito da culpa, fazendo daquele a totalidade dos elementos objectivos e desta o campo de convergncia da totalidade dos elementos subjectivos. Posio do curso: A constituio de um tipo de ilcito, por regra, tanto um desvalor de aco como um desvalor de resultado, sem prejuzo de casos haver em que o desvalor de resultado predomina (maxime nos crimes de negligncia) ou em que, inversamente, o desvalor da aco que predomina (casos de tentativa). Em toda esta matria so, uma vez mais, decisivas as opes legislativas de conformao dos tipos de ilcito, comandadas pelas proposies poltico criminais que na regulamentao se pretendem vazar. III. 1. Elementos tpicos descritivos: so aqueles apreensveis atravs de uma actividade sensorial, ou seja, os elementos que referem aquelas realidades materiais que fazem parte do mundo exterior e que, por isso, podem ser conhecidas, captadas de forma imediata. Acrescem os elementos que exigem j uma actividade valorativa, mas em que ainda preponderante a dimenso naturalstica. 2. Elementos tpicos normativos: S podem ser pensados e representados sob a lgica pressuposio de uma norma ou de um valor. No so sensorialmente perceptveis, mas podem ser espiritualmente compreensveis ou avaliveis. IV. 1. Tipos Abertos: Fica a dever-se a Welzel a chamada de ateno para os tipos abertos, a partir de cujo teor se no lograria deduzir por forma completa, mas apenas parcial, os elementos constitutivos do ilcito respectivo. Ou seja, tipos existiriam em que os elementos definidores da espcie de delito teriam de ser completados, para determinao da matria proibida, por uma valorao autnoma levada a cabo pelo aplicador; valorao que, deste modo, se encontraria j fora do tipo e constituiria uma pura regra de ilicitude. 2. Elementos valorativos globais: A considerao dos tipos abertos teve como efeito chamar a ateno para a existncia de elementos tpicos que, possuindo embora uma base fctica individualizvel, todavia, se revelam simultaneamente configurados como juzos de valor gerais ou elementos valorativos globais e que, nessa medida, possuem um cunho de tal modo normativo que praticamente arrastam consigo um juzo de valor global sobre a ilicitude da conduta. 3. Adequao social: Todos os tipos incriminadores tm de ser interpretados como contendo uma clusula restritiva (implcita) de inadequao social, a qual conduziria a excluir do tipo de ilcito todas as aces que, embora formal e contextualmente o preenchessem, todavia no caem notoriamente fora da ordenao tico-social da comunidade. Ver apreciao critica pag. 292 294.
Direito Penal
37
B. A construo dos tipos incriminadores Em qualquer tipo de ilcito objectivo possvel identificar: 1. Elementos que dizem respeito ao autor 2. Elementos relativos conduta 3. Elementos relativos ao Bem Jurdico 1. O autor individual. Crimes comuns e crimes especficos. Autor de um crime pode ser, em regra, qualquer pessoa: estamos neste caso perante os chamados crimes comuns, de que so exemplos o homicdio ou o furto. Por vezes, porm, a lei leva a cabo nesta matria uma especializao, no sentido de que certos crimes s podem ser cometidos por determinadas pessoas, s quais pertence uma certa qualidade ou sobre as quais recai um certo dever especial. Deparamo-nos a com os crimes especficos, nos quais se fala, com propriedade, de elementos tpicos do autor. No seio destes, distingue-se entre crimes especficos prprios nos quais a qualidade especial do autor ou o dever que sobre ele impende fundamentam a responsabilidade e crimes especficos imprprios, nos quais a qualidade ou o dever servem s para agravar a responsabilidade (ex: 378 - Violao de domicilio por funcionrio). Cr-se que m todos estes crimes especficos, decisivo , em ltimo termo, o dever especial que recai sobre o autor, no a posio do autor de onde este dever resulta. Porm, se na maior parte dos casos a tipicizao do autor feita pela atribuio a este de um dever especial, casos h e que ela levada a cabo atravs de um relacionamento interpessoal. 2. A conduta. Crimes de resultado e crimes de mera actividade neste sede que cabe determinar quais as aces penalmente irrelevantes, de acordo com a funo de delimitao ou negativa de excluir da tipicidade comportamentos jurdico penalmente irrelevantes. necessrio que se trate de comportamentos humanos, o que exclui a capacidade de aco das coisas inanimadas, mas no a dos entes colectivos. Exige-se ainda que o comportamento seja voluntrio (presidido por uma vontade), o que exclui os puros actos reflexos, os cometidos em estado de inconscincia ou sob o impulso de foras irresistveis. Tambm no so aces penalmente relevantes os sonhos ou pensamentos. Importa, a nvel da conduta, distinguir entre: Crimes de Resultado (ou materiais): O tipo pressupe a produo de um evento como consequncia da actividade do agente. S se d a consumao quando se verifica uma alterao externa espacio temporalmente distinta da conduta (131; 143, 217). Crimes de Mera Actividade (ou formais): O tipo incriminador preenche-se atravs da mera execuo de um determinado comportamento (190-1; 163). Neste contexto, importa acentuar que, diversamente do que sucede na distino entre desvalor da aco e desvalor de resultado, no est em causa a mera tranquilidade ou intranquilidade do Bem Jurdico provocada pela conduta mas a exigncia tpica de que aco acresa ou no um efeito sobre o objecto da aco e deste distinto espacio temporalmente. Ainda a nvel da conduta deve distinguir-se entre: Crimes de Execuo Vinculada: o iter criminis vem descrito no tipo Crimes de Execuo Livre: O modo de execuo no assume qualquer relevncia para a forma como o resultado se verificou.
Direito Penal
38
Esta distino assume os seus efeitos prtico normativos mais relevantes a nvel do erro. 3. O Bem Jurdico 3.1. Bem Jurdico e Objecto da aco Estes dois conceitos no se confundem (se A furta um anel a B, objecto da aco o anel, Bem Jurdico a propriedade alheia). O Bem Jurdico definido como a expresso de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manuteno ou integridade de um certo estado, ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso. Ao nvel do tipo objectivo de ilcito, o objecto da aco aparece como manifestao real desta noo abstracta, a realidade que se projecta a partir daquela ideia genrica e que ameaada ou lesada com a prtica da conduta tpica. 3.2. Crimes de Dano e de Perigo Esta distino atende Forma como o BJ posto em causa pela actuao do agente. Assim: 1. Realizao do tipo incriminador tem como consequncia uma leso efectiva do bem jurdico. 2. A realizao do tipo basta-se com a mera colocao em perigo do Bem Jurdico. Podem ser: 2.1. Crimes de perigo concreto o perigo faz parte do tipo, isto , o tipo s preenchido quando o bem jurdico tenha efectivamente sido posto em perigo (138; 272; 291). 2.2. Nos crimes de perigo abstracto, o perigo simplesmente motivo de proibio. Quer dizer, so tipificados certos comportamentos em nome da sua perigosidade tpica para um BJ, sem que ela precise de ser comprovada em concreto: h como que uma presuno iuris et de iure de perigo pela lei, pelo que a conduta do agente punida, independentemente de ter criado ou no um perigo efectivo para o BJ (292; 262, 275). Tem sido questionada, tambm, entre ns, a constitucionalidade dos crimes de perigo abstracto, pelo facto de poderem constituir uma tutela demasiado avanada de um BJ, pondo em srio risco quer o princpio da legalidade quer o da culpa. A doutrina maioritria e o T.C. pronunciam-se, porm, pela negativa, quando 1. Visarem a proteco de BJs de grande importncia 2. For possvel identificar claramente o BJ tutelado 3. A conduta for descrita de uma forma o mais minuciosa possvel. Ainda no mbito de discusso acerca da constitucionalidade deste tipo de crimes surgiram posies que preconizaram a no punio de condutas que configurem a prtica de um crime abstracto quando se comprove que, na realidade, no existiu, de forma absoluta, perigo para o BJ ou que o agente tomou as medias necessrias para evitar que o BJ fosse colocado em perigo. A este propsito comeou a falar-se dna doutrina de crimes de perigo abstracto concreto. Neles, o perigo abstracto no s critrio interpretativo e de aplicao mas deve tambm ser momento referencial da culpa e, por isso, admitem a possibilidade de a perigosidade ser objecto de um juzo negativo. Substancialmente, porem, do que verdadeiramente se trata de crimes de aptido, no sentido em que s devem revelar tipicamente as condutas apropriadas a desencadear o perigo proibido no caso de espcie.
Direito Penal
39
3.3. Crimes Simples e Complexos Se, na maior parte dos tipos de crime, est em causa a proteco de apenas um BJ, com os tipos complexos pretende-se alcanar a proteco de vrios bens. O relevo normativo prtico desta distino reside em que ela pode mostrar-se essencial para uma correcta interpretao (e aplicao do tipo). 3.4.As dicotomias crimes de mera actividade e de resultado e crimes de dano Os primeiros referem-se conduta (ou ao efeito ou no que ela teve sobre o objecto da aco) enquanto os segundos se referem forma como o BJ foi posto em perigo pela actividade do agente. Estas dicotomias mantm a sua autonomia conceitual teleolgica, maxime, por a primeira se referir, em princpio, ao objecto da aco e a 2 se reportaro estado do BJ. So, pois, possveis 4 combinaes: 1. Crimes de mera actividade que so crimes de dano (ex: violao de domiclio) 2. Crimes de resultado que so crimes de dano (ex: homicdio) 3. Crimes de mera actividade que so de perigo (ex: condues em estado de embriaguez) 4. Crimes de resultado que so de perigo (exposio e abandono). 4. Grupos de tipos e figuras tpicas de estrutura especial 4.1. Crimes fundamentais, qualificados e privilegiados Os crimes fundamentais contm o tipo objectivo de ilcito na sua forma mais simples, constituindo, por assim dizer, o mnimo denominador comum da forma delitiva, conformando, ainda, o tipo base. Frequentemente, na verdade, o legislador, partindo do crime fundamental, acrescenta-lhe elementos, respeitantes ilicitude e / ou culpa, que agravam (crimes qualificados) ou atenuam (crimes privilegiados) a pena prevista no crime fundamental. Claro exemplo destes grupos de tipos de crime o homicdio (131, 132 e 133). 4.2. Crimes Instantneos, duradouros e habituais O crime instantneo quando a sua consumao se traduz na realizao de um acto ou na produo de um evento cuja durao seja instantnea, esgotando-se num nico momento. O crime ser duradouro quando a sua consumao se prolongue no tempo, por vontade do autor. Assim, se um estado antijurdico tpico tiver uma certa durao e se estender no tempo enquanto tal for vontade do agente, que tem a faculdade de pr termo a esse estado de coisas. Nestes crimes, a consumao ocorre logo que se cria o estado antijurdico; s que ela persiste at que um tal estado cesse (ex: 158) Crimes habituais so aqueles em que a realizao do tipo incriminador supe que o agente pratique determinado comportamento de uma forma reiterada, at ao ponto de poder dizer-se habitual (ex: lenocnio). 4.3. Crimes de Empreendimento (crimes de atentado) Aqueles em que verifica uma equiparao tpica entre tentativa e consumao; por conseguinte, a tentativa de cometimento do facto equiparada consumao e como tal jurdico penalmente tratada (ex: 308/a; 325; 327). A relevncia prtico normativa da identificao desta espcie de crimes reside no facto de para eles no dever valer a atenuao especial da pena prevista para a tentativa (23/2), nem o disposto no art. 24, que consagra a no punibilidade da tentativa quando houver desistncia.
Direito Penal
40
4.4. Crimes Qualificados (agravados) pelo resultado So, nos termos do art. 18, aqueles tipos cuja pena aplicvel agravada em funo de um resultado que da realizao do tipo fundamental derivou. A qualificao em virtude do resultado tem de estar universalmente consagrada num qualquer preceito da parte especial. Exemplo clssico o do art. 145. O regime consignado no art. 18 tem como ponto nuclear a estatuio de que a agravao prevista da pena s ter lugar se for possvel imputar o resultado agravante ao agente pelo menos a ttulo de negligncia. Com esta soluo, o que se pretendeu foi fazer valer neste domnio, integralmente, o princpio da culpa, em detrimento de uma responsabilidade objectiva ou pelo resultado. Historicamente, os crimes agravados pelo resultado tiveram a sua origem no aforismo do direito cannico quem pratica um ilcito, responde pelas consequncias, mesmo causais, que dele promanem. Na codificao penal do sc. XIX, a agravao do crime em funo do resultado assumiu a forma do chamado crime preterintencional. A sua estrutura tpica assentava na conjugao de um crime fundamental doloso, com um resultado mais grave no doloso, que teria como consequncia jurdica uma especial agravao da pena cominada. Simplesmente, a relao entre o resultado agravante e o comportamento bastava-se com um nexo de imputao objectiva, nomeadamente sob a forma de uma relao de causalidade adequada. Ficou entre ns a dever-se a Ferrer Correia a 1 tentativa importante de fazer valer aqui o princpio da culpa. Para o autor, o que podia explicar, segundo o modelo da culpa, a agravao prpria do crime preterintencional era a circunstncia do resultado agravante ficar a dever-se a uma negligncia do agente, tornada fsica e psiquicamente possvel pelo dolo de crime fundamental. Repensando esta doutrina e aceitando o ncleo essencial, defendeu em 1961 Figueiredo Dias (ao que aderiu Eduardo Correia) que uma total compatibilidade com as exigncias do princpio da culpa exigia ir ainda mais longe, fundamentando o cerne da agravao na circunstncia de ao dolo do crime fundamental se ligar um perigo tpico de produo do resultado agravante, pelo que este s deveria ser imputado ao agente quando ficasse a dever-se a uma negligncia qualificada, derivada da violao de um dever particularmente forte de omitir uma conduta qual se liga o perigo tpico de produo de resultados especialmente graves (completar com pag. 318 e 319).
12 Capitulo.
A IMPUTAO OBJECTIVA DO RESULTADO ACO
I) 1 Degrau: A categoria da causalidade Pelas mos de Glaser e V. Buri, em meados do sculo XIX, surge a Teoria das condues equivalentes que teve o mrito de libertar o Direito Penal dos resqucios medievais do estabelecimento da imputao atravs de prticas mgicas e supersticiosas e de juzos metafsicos: a aco h-de, ao menos, ser causa do resultado. Na sua primeira formulao (conditio sine qua non), o juiz era obrigado tarefa de suprir mentalmente as condies que levaram ao resultado e, caso pudesse afirmar que este no teria existido sem uma dada condio, significava que tal concluso era relevante para efeitos de estabelecimento de nexo de causalidade. Ora, fcil concluir que tal frmula levava a uma espcie de regressum ad infinitum, abrangendo a mais longnqua condio (ex: se C no tivesse feito a arma do crime, A no lha tinha comprado para matar B; a C seria imputado o resultado). Mesmo com as correces que lhe foram feitas, no conseguia compreender os casos de
Direito Penal
41
causalidade virtual (A dispara tiro a B que no exacto momento tem um enfarte do miocrdio mortal), os casos de dupla causalidade ou causalidade alternativa (A e B ministram dois venenos diferentes em C, qual deles o mata?) ou ainda os casos, por exemplo, de atentados ao ambiente, de manipulao gentica ou de responsabilidade pelo produto to frequentes no seio da sociedade de risco. Pela insuficincia e inutilidade da conditio sine qua non, surge um outro critrio (que j ganha alguns contornos normativos): condio conforme s leis naturais, segundo a qual o estabelecimento da causalidade depende de saber se uma aco acompanhada por modificaes no mundo exterior que normalmente se encontram vinculadas a essa aco de acordo com as leis da natureza e so constitutivas de um resultado tpico (Jescheck). Apela-se, portanto, s leis da experiencia, de base probabilstica ou estatstica. Conclui-se que uma comprovao conforme as leis cientficas, ainda que de base cientfica, bastante como degrau ineliminvel, em certos casos, da imputao jurdico penal. Todavia, no se lhe d o papel de mximo denominador comum de toda a categoria da imputao (desde logo pois o seu defeito principal liga-se exagerada extenso que confere ao objecto da valorao jurdica). Assim, se bem que se conclui ser a relao de causalidade um dado necessrio, no , de todo, suficiente. Importa subir ao nvel da valorao jurdica. II) 2 Degrau: A Causalidade Jurdica sob a forma da teoria da adequao Ainda sob o signo da causalidade (ainda que no puramente causal e j se apresentando verdadeiramente como teoria da imputao) surge, em finais do sculo XIX, por V. Kries, a Teoria da Adequao ou Teoria da Causalidade Adequada, vista como critrio complementar da das condies equivalentes: a imputao penal no pode nunca ir alm da capacidade geral do homem de dirigir e dominar os processos causais. Visa-se concluir a responsabilidade do agente. H que frisar, prima facie, que parece ter o C.P. portugus adoptado este critrio bsico para a imputao objectiva, face letra do seu 10/1, na medida em que considera como relevantes jurdico penalmente no todas as condies, mas to s aquelas segundo as quais geralmente previsvel serem idneas para produzir o resultado. A tarefa do juiz ser conduzida a um juzo de prognose pstuma (pela qual se afere o concreto nexo de adequao ex ante): o juiz tem de se deslocar mentalmente ao passado (rectius: ao concreto momento da prtico da conduta) e ponderar, objectivamente se, segundo as regras gerais de experincia comum e o normal acontecer dos factos, a aco em causa teria como consequncia aquele resultado. Este juzo no atende s aos conhecimentos correspondentes s regras de experincia comum, mas tambm, igualmente, os especiais conhecimentos do agente. Um ltimo ponto que merece especial ateno diz respeito necessidade da adequao se referir a todo o processo causal (e no s ao resultado). Suscitam-se, aqui, os problemas da interveno de terceiros e da chamada interrupo do nexo causal. A actuao de terceiro poder assumir relevo para efeitos de excluso da imputao (salvo se tal interveno for previsvel e provvel). Eduardo Correia apontava, todavia, casos em que a interveno de 3 no revestia qualquer interesse para a questo da interrupo do nexo causal. Sero casos como este: A d uma pancada a B, adequada a produzir-lhe a morte mas, antes desta se verificar, C desfecha um tiro sobre B que o mata imediatamente. Eduardo Correia sugeria uma correco da teoria em estudo para que
Direito Penal
42
no se imputasse a A um crime de homicdio consumado. Porm, Figueiredo Dias refere que, se se provar que o resultado se deve conduta de C (e que, portanto, excludo do processo causal posto em marcha for A), conclui-se estarmos defronte uma actuao autnoma ao processo causal (A). Deste modo, fica excluda a imputao em relao a A. De todo o modo, esta teoria mostra-se insatisfatria sobretudo face quelas actividades que, embora comportando riscos considerveis para bens jurdicos, so permitidas (ou, pelo menos, no proibidas). Por exemplo: intervenes mdicas arriscadas (mas necessrias), circulao rodoviria, etc. No possvel proibir tais condutas (o que paralisaria a vida social), mas a aco no se revela adequada produo do resultado tpico, sendo necessrio que este degrau seja completado por um terceiro. III) 3 Degrau: A Conexo de Risco Com Stratenworth pe-se em evidncia o tal perigo idneo de produo do resultado que a teoria da adequao foca como limite da imputao do resultado conduta. Assim, mesmo que preencha os 2 ltimos degraus, o resultado s dever ser imputvel aco quando o agente, com a sua aco, 1) tenha criado um risco no permitido ou 2) tenha aumentado um risco, tendo, depois, esse risco 3) conduzido produo do resultado concreto (tpico). 1) Criao de Risco no permitido Apesar dos esforos doutrinais, o problema que emerge aqui (a saber: determinao daquele crculo de riscos que devem considerar-se juridicamente desaprovados e, ento, no permitidos) eminentemente casustico. H que atender a 4 possveis formas de subtraco da observncia deste requisito (logo, inimputabilidade). 1.1. Hipteses em que a aco do agente diminui ou atenua um perigo que recai sobre o ofendido Ser exemplo de escola o caso em que A empurra B, causando-lhe leves leses, para que este no fosse atropelado. Mesmo luz da Teoria da Adequao, a responsabilidade penal seria excluda (por ter actuado ao abrigo de uma clusula de excluso de ilicitude (34)); todavia, isso significaria aceitar que o agente, com a sua aco, realizou uma leso tpica do bem jurdico (quando, na verdade, o que o agente fez foi melhorar a situao desse bem jurdico em perigo). 1.2. O resultado foi produzido por uma aco que no ultrapassou o limite do risco juridicamente permitido. Pela sua caracterstica de interveno m ultima ratio, o Direito Penal no pode sancionar comportamentos que tenham produzido leso de bens jurdicos em virtude da materializao de riscos que so tolerados de forma especial pela sociedade. Como exemplo, pense-se no caso de A conduzir um automvel com respeito a todas as regras rodovirias e de manuteno e conservao do veculo e, por causa da chuva ter perdido o controlo do carro devido a um inesperado lenol de gua, acabando por matar B a sequncia de um acidente. Face Teoria da Adequao, conduta de A seria imputado o resultado; face teoria da Conexo com o Risco, atendendo ao Risco Permitido, j no seria assim.
Direito Penal
43
1.3. O resultado foi produzido por uma aco que se manteve dentro do Risco geral de vida, segundo uma avaliao do que normal. Por exemplo, um mdico receita um antibitico ao doente X. Partindo do pressuposto que o mdico no tem que se informar sobre se h alguma razo para supor que o paciente X possa ser hipersensvel ao medicamento, conclui-se que o mdico no tem de condicionar a receita execuo de todos os exames complementares para a despistagem de uma eventual hipersensibilidade. Se, na hiptese descrita, o paciente vem a morrer de choque anafiltico, a morte no se pode afirmar como objectivamente imputada ao mdico. Stratenworth diz que os riscos gerais da vida so socialmente adequados, furtando-se, assim, s hipteses de criao de um risco no permitido. 1.4. Casos em que se verifica co-actuao da vtima ou de terceiro. Por invocao do princpio da auto-responsabilidade da vtima ou de terceiro, conclui-se no ser, em princpio, imputvel o resultado a certas aces, como seja, por exemplo aquele caso em que A, portador de sida, mantm contactos sexuais com B, conhecedor da situao, criando este ltimo risco de infeco. Exceptuam-se casos em que, em concreto, altamente provvel a conduta posterior da vtima ou de terceiro, sendo o resultado j objectivamente imputado aco do agente (ex: A deixa uma poro de droga ao alcance de B que, em concreto, muito provavelmente, consumir. B acaba por morrer por overdose). 2) Potenciao / Agravamento do Risco Embora j existindo, antes da actuao do agente, um risco que ameaa o bem jurdico protegido, o resultado ser imputado conduta do agente se essa mesma conduta haja aumentado ou potenciado o risco existente a priori, piorando a situao do bem jurdico ameaado. Exemplos: Condutor de ambulncia, devido a uma manobra errada, causa um acidente. Na ambulncia estava um paciente que j se encontrava em pssimo estado, em virtude de um enfarte macio do miocrdio. Com o acidente, o paciente morre. 3) Concretizao do Risco no permitido no Resultado tpico Reportemo-nos para um juzo ex post para saber se o perigo acabou por determinar o resultado, isto , s lograremos nessa tarefa com o conhecimento de todas as circunstncias relevantes para a verificao do resultado. Nesta epgrafe, Figueiredo Dias lembra o caso dos comportamentos lcitos alternativos, cujo exemplo pode ser ligado quela situao real em que, numa fbrica o director no procedeu desinfeco dos materiais. Posteriormente, vrios operrios morreram. luz desta nuance da Teoria da conexo do risco, a morte dos trabalhadores no ser imputada (objectivamente) conduta do director, visto que esse resultado foi accionado por uma bactria desconhecida na Europa e resistente a qualquer desinfeco. Ora, luz da Teoria da Adequao, a resposta seria contrria, visto que seria normal e previsvel que, segundo um juzo de prognose pstuma (ex ante), o resultado se produziria. Distinguem-se as seguintes hipteses:
Direito Penal
44
3.1. Se o resultado teria tido seguramente lugar ainda que a aco ilcita no tivesse sido levada a cabo, isto , mesmo com a realizao do comportamento lcito, conclui-se que a imputao objectiva deve ser negada. 3.2. Se, ao invs, o resultado era simplesmente provvel ou possvel se tivesse realizado o comportamento alternativo lcito, a resposta outra. Herzberg diria que haver imputao nestes casos significaria fazer funcionar a dvida e, portanto, violar o princpio do in dubio pro reo (consagrado no 32/2, CRP). Mas o que nos interessa do prisma da conexo do Risco ser, nesta hiptese, provar a potenciao do risco (2). 3.2.1. Se, quanto a este ponto, o juiz fica em dvida quanto conexo desta potenciao do risco com a materializao no resultado tpico, exclui-se a imputao, a favor do arguido (in dubio pro reo). 3.2.2. Uma vez demonstrada a potenciao do Risco, aquele comportamento alternativo lcito torna-se irrelevante e ao comportamento do agente imputado o resultado. 4) Produo dos resultados no cobertos pelo fim (4.1.) e pelo mbito de proteco da norma (4.2.) 4.1. Roxin foi pioneiro na exaltao da ideia de que ainda necessrio, para que o resultado seja imputado conduta, que esse mesmo resultado seja um daqueles em vista dos quais a aco for proibida; ter, portanto, que corresponder ao fim de proteco da norma de cuidado. Apesar de ser o seu campo de actuao, por excelncia, o da negligncia, nada obsta a que ocorra, igualmente, no mbito das aces dolosas. Ex: a X no ser imputado o resultado da morte de Y a ttulo de homicdio negligente por ter ultrapassado a velocidade mxima numa ultrapassagem (que culminou em acidente). Isto porque, naquela situao concreta, a norma que proibia a ultrapassagem de um dado limite mximo se devia proximidade de travessia de pees. O acidente e causa nada teve que ver com esse escopo da norma. Aliado ao facto de X ter cumprido todas as demais regras rodovirias, o Tribunal proferiu a sua absolvio. [Ateno que estamos a focar a norma de cuidado (negligencia), carente de interpretao neste ponto, no a que preside ao ilcito tpico penal! 4.2. Roxin afirma que o ilcito criao de um risco no permitido dentro do mbito do tipo: Quer isto dizer que o resultado ter que constar no mbito do tipo para que haja imputao (j no curamos, como perceptvel, da norma de cuidado). Para o mesmo autor, devem entrar neste enquadramento, pelo menos, trs grupos de casos: 4.2.1. Colaborao na Autocolao em Risco Dolosa A e B lanam-se numa corrida perigosssima, a ttulo de aposta, na qual, devido a um erro de conduo, B despista-se e vem a sofrer leses fsicas graves. 4.2.2. Heterocolao em perigo livremente aceite Quando A pede a B para conduzir a alta velocidade (conduta proibida); depois de um despiste, o prprio A sofre leses graves. 4.2.3. Imputao a um mbito de responsabilidade alheio A provoca incndio na sua casa; B um dos bombeiros chamados para salvar C (habitante da casa) sofre leses fsicas graves. Crtica de Figueiredo Dias: Apesar das solues prtico-normativas dadas por Roxin merecerem um certo aplauso, julga redutor e at equivoco serem tratadas sob a epgrafe
Direito Penal
45
de um critrio adicional de imputao objectiva do resultado conduta. A questo deixa, em ultimo termo, de pertencer doutrina da Parte Geral do Direito Penal para constituir antes um tema da parte especial (neste sentido tambm parece militar Costa Andrade). Este problema, alem de apresentar implicaes dogmticas autnomas a nveis diversos do da imputao do resultado aco (autoria e cumplicidade face comparticipao da prpria vtima, negligncia, omisso), no pode esquecer a vigncia do princpio da auto responsabilidade, como mxima definidora e delimitadora dos mbitos de responsabilidade, o que evitar a difcil questo da distino entre 4.2.1. e 4.2.2., por exemplo. Por fim, no se deve minimizar que o acordo com o Risco (ou a livre aceitao do mesmo) aqui um elemento decisivo e incontornvel da situao e da soluo). Conclui-se, ento, que o apelo rea de proteco da norma parece meramente consequencial e de restrita capacidade hermenutica. IV) A questo da Causalidade Virtual ou Causalidade Hipottica So casos em que, apesar do agente ter criado um perigo no permitido atravs da sua aco, e este se ter materializado no resultado tpico, no h razoes para por em dvida que este deva ser objectivamente imputado quele. Est em questo o facto do agente ter produzido um resultado numa hiptese em que, se no tivesse actuado, o resultado surgiria em tempo e sob condies tipicamente semelhantes, por fora de uma aco de terceiro ou de um acontecimento natural (distingue-se, assim, de comportamentos lcitos alternativos 2 agentes em 2 condutas idnticas visam produzir o mesmo resultado). A causa virtual aqui em foco no chega, na realidade, a actuar, e, portanto, nem sequer a concorrer realmente para a produo do resultado (afasta-se da chamada causalidade dupla ou ainda de potenciao do risco em caso de concurso de riscos caso em que o comportamento arriscado do agente que criam mais perigo afecta uma situao que, por sua vez, j est ameaada por um outro risco). Ex: Ainda que A no tivesse feito explodir o avio X para matar B, o aparelho ter-se-ia igualmente despenhado por fora da falta de combustvel e todos os passageiros acabariam por morrer. Figueiredo Dias lembra que a doutrina largamente dominante responde negativamente questo de saber se se deve conferir algum relevo jurdico penal causa hipottica ou virtual. Todavia, diz tambm que a resposta a dar no deve esquecer que, mesmo luz de uma funo de tutela subsidiria de bens jurdicos, continua a ter sentido no abandonar o bem jurdico apreenso do agente s porque aquele j no pode, em definitivo, ser salvo. Porm, este princpio deve ser temperado, na sua consequncia final para a responsabilizao do agente, em hipteses bem delimitadas de direito de necessidade.
Direito Penal
46
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Acções Possessórias e ReivindicaçãoDokument21 SeitenAcções Possessórias e ReivindicaçãoInês Sofia100% (13)
- CV Currículo Vitae DireitoDokument13 SeitenCV Currículo Vitae DireitoAlberto Oliveira100% (1)
- Lenio Luiz Streck - Tribunal Do Juri - Simbolos e Rituais - Ano 2001Dokument181 SeitenLenio Luiz Streck - Tribunal Do Juri - Simbolos e Rituais - Ano 2001felipebnbastosNoch keine Bewertungen
- Guião de Correcção Do Exame Nacional de Acesso 11 03 2016 PDFDokument6 SeitenGuião de Correcção Do Exame Nacional de Acesso 11 03 2016 PDFCélio Jec Jr.100% (1)
- Ea 11 OposãopenhoraDokument4 SeitenEa 11 OposãopenhoraInês SofiaNoch keine Bewertungen
- Penal III ApontamentosDokument75 SeitenPenal III ApontamentosInês SofiaNoch keine Bewertungen
- CC 1Dokument26 SeitenCC 1Inês SofiaNoch keine Bewertungen
- TGCP 2014Dokument39 SeitenTGCP 2014s126gsNoch keine Bewertungen
- Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4a RegiãoDokument1.787 SeitenDiário Eletrônico da Justiça Federal da 4a RegiãoRivaldoCabralNoch keine Bewertungen
- Sentença sobre roubo no estacionamento de shoppingDokument12 SeitenSentença sobre roubo no estacionamento de shoppingJoão Portela0% (1)
- Aula 15 - Roteiro - DP Sociologia e Teoria Do CrimeDokument3 SeitenAula 15 - Roteiro - DP Sociologia e Teoria Do Crimedelfinacastrewill01Noch keine Bewertungen
- Do Controle Judicial Da Tortura Institucional No Brasil HojeDokument397 SeitenDo Controle Judicial Da Tortura Institucional No Brasil HojeDiego BayerNoch keine Bewertungen
- Artigo - Discursos SediciososDokument23 SeitenArtigo - Discursos SediciososBruno Cortez Castelo BrancoNoch keine Bewertungen
- STF Arquiva Investigação Contra Bolsonaro Sobre Atos No 7 de SetembroDokument14 SeitenSTF Arquiva Investigação Contra Bolsonaro Sobre Atos No 7 de SetembroMetropolesNoch keine Bewertungen
- Diario Oficial Eletrnico MPPE - 03.06.2019Dokument38 SeitenDiario Oficial Eletrnico MPPE - 03.06.2019viny20Noch keine Bewertungen
- Defensoria 2Dokument1 SeiteDefensoria 2dilojurNoch keine Bewertungen
- Racismo e Justiça no BrasilDokument474 SeitenRacismo e Justiça no BrasilRonaldo SalesNoch keine Bewertungen
- STJ Revista Eletronica 1990 - 12 - Capjurisprudencia PDFDokument442 SeitenSTJ Revista Eletronica 1990 - 12 - Capjurisprudencia PDFMaila MartinsNoch keine Bewertungen
- SImuladoDokument12 SeitenSImuladoJuniorNoch keine Bewertungen
- Codigo de Normas Da Corregedoria Ma-Atualizado Ato o Prov 36-2015 - em 1o-06-2016 24112016 1030Dokument203 SeitenCodigo de Normas Da Corregedoria Ma-Atualizado Ato o Prov 36-2015 - em 1o-06-2016 24112016 1030Dyego MoraesNoch keine Bewertungen
- 1a Rodada de Simulacao Com GabaritoDokument13 Seiten1a Rodada de Simulacao Com GabaritoAdemarjr JuniorNoch keine Bewertungen
- Aula 01 - OCRIM Lei 12.850-13Dokument7 SeitenAula 01 - OCRIM Lei 12.850-13Ramon Maciel MachadoNoch keine Bewertungen
- Dir PenalDokument291 SeitenDir PenalEctor ViniciusNoch keine Bewertungen
- Edital 019 - Lista de Habilitados 27 ConcursoDokument7 SeitenEdital 019 - Lista de Habilitados 27 ConcursoMateus BrazilNoch keine Bewertungen
- Aula Prática - Ficha 1 - Fases Do Processo PDFDokument3 SeitenAula Prática - Ficha 1 - Fases Do Processo PDFRute FerreiraNoch keine Bewertungen
- Assistência Jurídica Aos Nacionais E Estrangeiros Encarcerados em Presídios Federais. Aspectos Polêmicos E Atuação Da Defensoria Pública Da UniãoDokument33 SeitenAssistência Jurídica Aos Nacionais E Estrangeiros Encarcerados em Presídios Federais. Aspectos Polêmicos E Atuação Da Defensoria Pública Da UniãoPauloNoch keine Bewertungen
- Mod 1 - Introdução Ao Direito PenalDokument26 SeitenMod 1 - Introdução Ao Direito PenaleainforNoch keine Bewertungen
- Conceitos Basicos Da Ciencia PoliticaDokument101 SeitenConceitos Basicos Da Ciencia PoliticaPaulo Souza SantosNoch keine Bewertungen
- E BOOK Prazos Penais e Processuais Penais Na Prática Da Advocacia Criminal IDPB Cris Dupret - CompressedDokument12 SeitenE BOOK Prazos Penais e Processuais Penais Na Prática Da Advocacia Criminal IDPB Cris Dupret - CompressedWanderson SilvaNoch keine Bewertungen
- Trabalho Pronto Segurança PublicaDokument17 SeitenTrabalho Pronto Segurança Publicawefwef efef4g t5htrtrtrt0% (1)
- Lei de Drogas Lei N° 11.343, de 23 de Agosto de 2006Dokument28 SeitenLei de Drogas Lei N° 11.343, de 23 de Agosto de 2006triciane bragaNoch keine Bewertungen
- Acórdão Do Caso Chute Na Santa - Pastor Sérgio Von Helde Luiz.Dokument10 SeitenAcórdão Do Caso Chute Na Santa - Pastor Sérgio Von Helde Luiz.Leonardo F MartinsNoch keine Bewertungen
- Artigos de OpiniãoDokument3 SeitenArtigos de OpiniãoJANETE FEDERICONoch keine Bewertungen
- HC coletivo questiona decreto prisional genéricoDokument31 SeitenHC coletivo questiona decreto prisional genéricoMadson Santana100% (5)