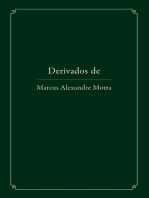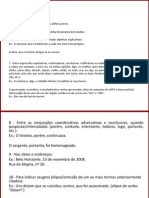Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Leitura Terapêutica: Biblioterapia
Hochgeladen von
Nilson BenevidesOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Leitura Terapêutica: Biblioterapia
Hochgeladen von
Nilson BenevidesCopyright:
Verfügbare Formate
CLARICE FORTKAMP CALDIN
LEITURA E TERAPIA
Tese apresentada como requisito parcial para obteno de ttulo de Doutora em Literatura no Curso de PsGraduao em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, linha de pesquisa Filosofia e Cincia da Literatura, rea de concentrao Teoria Literria. Prof. Orientador: Dr. Marcos Jos Mller-Granzotto
Florianpolis, 2009
CLARICE FORTKAMP CALDIN
LEITURA E TERAPIA
Tese de Doutorado apresentada ao Curso de Ps-Graduao em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, linha de pesquisa Filosofia e Cincia da Literatura, rea de concentrao Teoria Literria, Professor Orientador Dr. Marcos Jos Mller-Granzotto.
BANCA EXAMINADORA
Professor Dr. Marcos Jos Muller-Granzotto (PGL/UFSC) PRESIDENTE
Professora Dra. Anita Prado Koneski (CEART/UDESC)
Professora Dra. Gisela Eggert Steindel (FAED/UDESC)
Professora Dra. Ida Mara Freire (CED/UFSC)
Professora Dra. Ursula Blattmann (CED/UFSC)
Professora Dra. Tnia Regina Oliveira Ramos (Coordenadora do Curso de PsGraduao em Literatura da UFSC) SUPLENTE
Dedico esse trabalho aos meus queridos pais, Edgard e Yolita.
AGRADECIMENTOS
H tanto e tantos a agradecer!
Antes de tudo, ao Deus Altssimo, criador do cu e da terra. Quando minhas foras se esvaam e meu nimo se abatia, eu me reportava s palavras do apstolo Pedro na sua primeira carta, captulo cinco, versculo sete: ao passo que lanais sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vs. Deus ouviu minhas oraes. E cuidou de mim. Obrigada, meu Deus! E ao meu mentor, Professor Marcos. Quando parecia que o caminho estava ngreme demais, ele me apontava atalhos; quando eu me sentia perdida, ele indicava o rumo. Sem sua orientao segura eu no teria conseguido chegar ao fim do percurso. Ele cuidou do bom andamento da tese. Obrigada, Professor! E s professoras Ursula Blattmann e Marlia Maria Damiani Costa, do Departamento de Cincia da Informao da UFSC. Quando parecia impossvel conseguir a licena de um ano para formao, elas lutaram por mim. Sem o seu apoio teria sido muito mais difcil. Elas cuidaram da professora aflita. Obrigada, amigas! E aos meus familiares: meu marido Luiz, meus pais, Edgard e Yolita, meus filhos, Alexandre e Aline, meu genro, Jnior, minha nora, Elisandra, minha irm, Janice. Quando precisei de ajuda nos momentos delicados de doena e cirurgia, eles estiveram sempre ao meu lado. Meus queridos: jamais esquecerei o cuidado amoroso de vocs. Obrigada, meus amores! E aos meus alunos que, junto comigo, executaram atividades de biblioterapia com crianas, jovens, adultos e idosos. Quando partilhava com eles os momentos felizes de ler, narrar ou dramatizar uma histria, senti que precisava escrever uma tese sobre a leitura como terapia. Foram eles minha fonte de inspirao. Eles cuidaram em alimentar o desejo da pesquisa. Obrigada, amados!
Era uma vez um livro. Muito teso na prateleira, protegido dos outros por uma capa dura, parecia um castelo inexpugnvel a guardar tesouros. Com toda sua pose, entretanto, sentia-se solitrio e aguardava ansiosamente que algum aventureiro dele se aproximasse. Um ser humano, bem entendido, pois as traas, que constantemente o assediavam, eram pssima companhia. Um belo dia certa av se acercou da estante, viu a camada fina de poeira sobre ela e, com um pano, comeou vigorosamente a se livrar dela. O livro ficou aflito. E se a av resolvesse se livrar dele tambm? Afinal, j era velho, cheio de histrias da carochinha, que so histrias de antigamente. Mas a av ficou curiosa e abriu o livro. Quando fez isso, percebeu que a dureza da capa cedera lugar a macias folhas amareladas, cheias de linhas por onde tresloucavam frases e personagens travessas. Essa av, como era de esperar, tinha netos, crianas sempre atrs de novas brincadeiras. Com a sabedoria das avs, logo percebeu que livro e crianas se dariam bem, poderiam ser companheiros de folguedos. Ento pegou o livro, chamou os netos, sentou-se na sua poltrona preferida, ajeitou os culos e comeou a ler. E algo mgico aconteceu: de repente nem a av nem os netos estavam na sala. Tinham adentrado em um pas maravilhoso, sedutor, onde fadas, reis, princesas, cavaleiros valentes, camponeses, bruxas, drages, ogros e animais falantes circulavam, se amavam, se odiavam, coexistiam. A av percebeu que as crianas estavam to envolvidas na narrativa ficcional, toda ela girando em torno de situaes assustadoras, mas com um final feliz, que simplesmente estavam perdendo o medo do medo. Alm disso, percebeu tambm como seus olhinhos brilhavam com as peripcias das personagens; como, no seu imaginrio, compartilhavam dessas peripcias e como pareciam felizes nesses momentos! Assim, sempre que os netos a visitavam, ela retirava o livro da estante e recomeava uma sesso de histrias. O interessante que as histrias eram as mesmas, eles j sabiam tudo o que ia ocorrer, mas mesmo assim se deliciavam. Ela queria entender o porqu disso. Falou, ento, com uma bibliotecria, sua amiga, que explicou direitinho: Minha cara, quando as crianas amam muito uma histria, isso um indicativo de que essa histria teraputica. E no que a bibliotecria tinha razo? De fato, a linguagem metafrica permitia s crianas deslizarem com segurana nos dramas e conflitos das personagens, e assim, aprendiam a lidar com seus prprios dramas e conflitos. Sem cobranas, sem ameaas, a metfora era um remdio poderoso: cuidava brincando. Mas as crianas crescem. E aprendem a ler. E gostam de ler. E lem. E ento, sempre que crianas, jovens, adultos ou idosos lem uma histria, so felizes para sempre. Pelo menos no momento da leitura.
RESUMO
Essa pesquisa, do ponto de vista de sua natureza, se configura como bsica; do ponto de vista da forma de abordagem do problema, qualitativa; do ponto de vista de seus objetivos, exploratria e descritiva; do ponto de vista dos procedimentos tcnicos, bibliogrfica. Utiliza-se o mtodo fenomenolgico, que permite o estudo das essncias, a descrio das vivncias, a interpretao do mundo. Leitura, na presente tese, apresentada como um fenmeno corporal, temporal, descentrado, intersubjetivo, transcendental. um ato de comunicao que ultrapassa o corpo do autor e atinge o corpo do leitor ou do ouvinte. Proust priorizou a leitura solitria; Sartre, o leitor; Merleau-Ponty, a experincia da leitura, e Iser, a interao do texto literrio com o leitor. Em que pesem as divergncias de opinio, todos eles concordam que a atividade criadora do leitor ativada no ato de ler. A partir da teoria da linguagem de Merleau-Ponty, especificamente a respeito da fala falante, credita-se leitura possibilidades teraputicas. O envolvimento com o livro, o preenchimento dos vazios do texto literrio, a interao entre texto e leitor, a significao como continuidade e retomada do texto permitem que se pense na terapia por meio de livros, a biblioterapia. Entende-se por terapia o cuidado com o ser, e a biblioterapia, um cuidado com o desenvolvimento do ser mediante a leitura, narrao ou dramatizao de histrias. A biblioterapia preocupa-se em mobilizar a atividade dos leitores de modo a favorecer o surgimento das emoes e a produo ficcional a partir dessas emoes. Esse, de fato, o escopo da biblioterapia: que a leitura, narrao ou dramatizao de um texto literrio produza um efeito teraputico ao moderar as emoes, permitir livre curso imaginao e proporcionar a reflexo seja pela catarse, identificao ou introspeco. Tais componentes biblioteraputicos so ativados no receptor do texto literrio pelo carter mpar da literatura: fico, funo esttica, linguagem metafrica, intemporalidade, universalidade, engajamento e literariedade. Palavras-chave: Leitura. Leitor. Terapia. Biblioterapia. Texto literrio. Literatura.
RSUM
Cette recherche, sous le point de vue de sa nature, est-elle configure comme basique; sous le point de vue de la forme de lapproche du problme, qualitative; sous le point de vue de ses objectifs, exploratrice et descriptive; sous le point de vue de ses procdures techniques, bibliographique. On utilize la mthode phenomenologique, qui permet ltude des essences, la description des expriences de vie, linterpretation du monde. La lecture, dans cette thse, est prsente comme un phnomne corporel, temporel, dcentralis, intersubjectif, transcendantal. C est un acte de communication qui dpasse le corps de lauteur et qui touche le corps du lecteur ou de lauditeur. Proust a prconis la lecture solitaire; Sartre, le lecteur; Merleau-Ponty, lexprience de la lecture, et Iser, linteraction du texte littraire avec le lecteur. Malgr les divergences dopinion, tous ces auteurs conviennent que lactivit cratrice du lecteur est active dans lacte de lire. Daprs la thorie du langage de Merleau-Ponty, en ce qui concerne spcifiquement la parole parlante, des possibilits thrapeutiques sont crdites la lecture. Le lien avec le livre, le remplissage des vides du texte littraire, linteraction entre le texte et le lecteur, la signification comme continuit et reprise du texte permettent de penser la thrapie travers les livres, la bibliothrapie. Par thrapie on entend le soin de ltre et par bibliothrapie, le soin du dveloppement de l tre face la lecture, la narration ou la dramatisation dhistoires. La bibliothrapie soccupe de mobiliser lactivit des lecteurs de faon favoriser le surgissement des motions et la production fictionnelle partir de ces motions-ci. Ceci est, en fait, lobjet de la bibliothrapie: que la lecture, la narration ou la dramatisation dun texte littraire produise un effet thrapeutique, modrant les motions, permettant le libre afflux de limagination et rendand possible la rflexion soit par la catharsis, par lidentification ou par lintrospection. De tels composants bibliothrapeutiques sont activs chez le rcepteur du texte littraire, par le caractre impair de la littrature: fiction, fonction esthtique, langage mtaphorique, intemporalit, universalit, engagement et littrarit. Mots-cls: Lecture. Lecteur. Thrapie. Bibliothrapie. Texte littraire. Littrature.
RESUMEN
Esta investigacin, del punto de vista de su naturaleza, se configura como bsica; del punto de vista de la forma de abordaje del problema, calitativa; del punto de vista de sus objetivos, exploratoria y descriptiva; del punto de vista de los procedimientos tcnicos, bibliogrfica. Se utiliza el mtodo fenomenolgico, que permite el estudio de las esencias, la descripcin de las vivencias, la interpretacin del mundo. La lectura, en la presente tesis, es presentada como un fenmeno corporal, temporal, descentrado, intersubjetivo, transcendental. Es um acto de comunicacin que traspasa el cuerpo del autor y alcanza el cuerpo del lector o del oyente. Proust prioriz la lectura solitaria; Sartre, al lector; Merleau-Ponty, la experiencia de la lectura, e Iser, la interaccin del texto literario com el lector. Pese a las divergencias de opinin, todos ellos estn de acuerdo en que la actividad creadora del lector se pone en marcha en al acto de leer. A partir de la teora del lenguaje de MerleauPonty, especficamente respecto al habla hablante, se le otorga a la lectura posibilidades teraputicas. El involucrarse con el libro, el llenado de los vacos del texto literario, la interaccin entre texto y lector, la significacin como continuidad y el acto de retomar el texto permiten que se piense en la terapia por medio de libros, la biblioterapia. Se entiende por terapia el cuidado del ser, y por biblioterapia, el cuidado com el desarrollo del ser mediante la lectura, narracin o dramatizacin de historias. La biblioterapia se preocupa en movilizar la actividad de los lectores de modo de favorecer el surgimiento de las emociones y la produccin ficcional a partir de esas emociones. se, de hecho, es el objetivo de la biblioterapia: que la lectura, narracin o dramatizacin de un texto literario produzca un efecto teraputico al moderar las emociones, permitir el libre curso de la imaginacin y posibilitar la reflexin - ya sea por la catarsis, la identificacin o la introspeccin. Tales componentes biblioteraputicos son activados en el receptor del texto literrio por el carcter tan particular de la literatura: ficcin, funcin esttica, lenguaje metafrico, intemporalidad, universalidad, compromiso y literaridad. Palabras-claves: Lectura. Lector. Terapia. Biblioterapia. Texto literario. Literatura.
SUMRIO
1 INTRODUO.10 2 A TEORIA MERLEAU-PONTYANA DA LINGUAGEM E A BIBLIOTERAPIA....................................................................................18 3 LINGUAGEM E TERAPIA......................................................................39 O binmio sade/doena.....................................................................40 Terapia e terapeutas.............................................................................46 O dilogo como terapia........................................................................65 4 LEITURA E TERAPIA............................................................................76 Leitura: fenmeno e ato corporal, temporal e descentrado.............79 A leitura segundo Proust.....................................................................85 A leitura segundo Sartre......................................................................93 A leitura segundo Merleau-Ponty......................................................100 A leitura segundo Iser........................................................................109 A leitura como terapia........................................................................117 5 LITERATURA E BIBLIOTERAPIA.......................................................127 Literatura.............................................................................................132 Emoo................................................................................................141 Imaginao..........................................................................................144 Biblioterapia........................................................................................149 Catarse............................................................................................153 Identificao...................................................................................167 Introspeco..................................................................................185 6 O QUE FALTOU DIZER.......................................................................200 REFERNCIAS...................................................................................209
10
1 INTRODUO
Em particular, existe um objeto cultural que vai desempenhar um papel essencial na percepo de outrem: a linguagem. (MERLEAU-PONTY)
Leitura e terapia? O que leitura? O que terapia? Pode a leitura ser teraputica? Essas perguntas perpassam pelo que se chama biblioterapia, que, de acordo com a etimologia, significa terapia por meio de livros. A intuio da capacidade teraputica do livro remonta s antigas civilizaes egpcia, grega e romana, que consideravam suas bibliotecas um espao sagrado, repositrio de textos cuja leitura possibilitaria um alvio das enfermidades e, assim, medicina e literatura sempre foram parceiras no cuidado com o ser. Na Grcia antiga e na ndia recomendava-se a leitura individual como parte do tratamento mdico e, desde o sculo XIX, nos Estados Unidos da Amrica se utiliza leitura individual em hospitais como coadjuvante no processo de recuperao do doente. Entretanto, com o nome especfico de biblioterapia a partir do sculo XX, ficou conhecida a leitura compartilhada e a posterior discusso em grupo. Isso implica o uso de materiais de leitura que nutram a sade mental, a presena de um profissional que atue como mediador da leitura e um pblico-alvo que aceite participar de um programa de leitura. Isso implica, tambm, a ampliao do local de atuao e a diversidade de participantes. Inicialmente confinada aos hospitais e, preferencialmente, a doentes mentais, a biblioterapia se estendeu a creches, escolas, orfanatos, prises, casas de repouso, asilos e centros comunitrios, sendo direcionada a todas as pessoas e faixas etrias, com a inteno de auxiliar na soluo de pequenos problemas pessoais. A produo bibliogrfica no Brasil tem apontado a Biblioteconomia como rea atuante na biblioterapia, seguida pela Psicologia. Grosso modo, a biblioterapia dividida em duas categorias: biblioterapia de desenvolvimento e biblioterapia clnica, sendo a primeira desenvolvida por bibliotecrios e a segunda, por psiclogos clnicos.
11
Desde o ano de 2001 a biblioterapia de desenvolvimento uma prtica na minha vida profissional, efetuada como trabalho de extenso universitria e, assim, faz parte de minhas vivncias. Por esse motivo, a esta que me refiro ao longo da tese. Conquanto haja quem defenda na biblioterapia de desenvolvimento o uso de materiais informacionais ou didticos, utilizo, sempre, textos literrios por acreditar no potencial teraputico do material ficcional. Alm disso, esclareo que enfatizo constantemente a colaborao de profissional da rea da sade quando a biblioterapia realizada em hospitais, casas de repouso e asilos; de profissional da educao quando executada em creches, escolas e orfanatos; e de assistente social quando se d em prises e centros comunitrios. Tal parceria reala a importncia de um trabalho interdisciplinar, cujo objetivo transformar a leitura em um exerccio de fruio esttica benfazeja. Proust considerou a leitura solitria uma disciplina curativa. No nego o potencial teraputico do encontro entre livro e leitor, sem intermedirios. Considero, entretanto, a terapia por meio de livros mais eficaz quando se processa em grupo, ou, ento, entre duas pessoas uma prtica solidria que mescla intersubjetividade, intercorporeidade, descentramento, e complementada pela imaginao, pelas expectativas e pelas lembranas de todos os que tomam parte nessa atividade. Ao articular o literrio com a biblioterapia, parto do pressuposto que o ser humano se envolve emocionalmente com o texto ficcional. Assim, a leitura (narrao ou dramatizao, por extenso) pode proporcionar: a catarse, na medida em que libera emoes; a identificao com as personagens, no momento em que o sujeito assimila um atributo do outro ficcional; e a introspeco, ou seja, a educao das emoes. A biblioterapia admite a possibilidade de terapia por meio de textos literrios haja vista que no se configura apenas como uma leitura (narrao ou dramatizao), mas contempla, ainda, os comentrios advindos dessa leitura nascidos das vivncias do ouvinte mescladas com a interpretao das palavras do autor. Isso significa que a atividade consiste no somente em ler o texto escrito, mas tambm em ouvir o novo texto que foi criado por cada um dos envolvidos na sesso de leitura (narrao ou dramatizao), quer dizer, significa uma troca de experincias sem perder de vista a individuao do sujeito, ou seja, um dilogo. Tambm: a leitura no entendida como mera decodificao de signos, mas sim
12
como um fluxo temporal, uma sntese de significaes, uma expresso, uma criao, enfim. Cumpre frisar que a biblioterapia torna indispensvel a utilizao de um texto como suporte da atividade: se o texto for lido, haver um distanciamento entre autor e leitor de modo que tanto este ltimo como seus ouvintes, valendo-se da liberdade de interpretao, criaro um novo texto; se o texto for narrado, caber ao narrador, por meio de sua capacidade de memorizao, performance gestual e da inflexo da voz, cativar o ouvinte, fazer um apelo a este; se o texto for dramatizado, o corpo e a voz das personagens, aliados ao cenrio, conduziro o espectador ao prazer esttico. Em todas as modalidades, h que se dar primazia ao estmulo imaginao, conquanto implique, tambm, em permitir ao texto se apossar do leitor/ouvinte/espectador. Ser a imaginao a propiciadora de novos significados que transformaro o texto lido, narrado ou dramatizado em expresso. Como se d, ento, na prtica, o processo de leitura a que chamamos biblioterapia? Seleciona-se uma instituio, e com a apresentao de um pr-projeto de atividades, entra-se em contato com o responsvel pela mesma. Obtida a autorizao, realiza-se um diagnstico do local, verificando as preferncias de leitura do pblico-alvo, seja por meio de questionrios, seja por meio de entrevistas. Em seguida, prepara-se o projeto definitivo em que consta: autoria, identificao do local e dos participantes, natureza do projeto, perodo de realizao, carga horria alocada, justificativa, objetivos, metodologia a ser adotada, recursos humanos, oramento, cronograma de execuo, forma de avaliao e bibliografia de apoio. Aps a escolha de textos literrios que atendam ao gosto do pblico-alvo, procede-se atividade que tanto pode ser configurada como leitura quanto narrao ou dramatizao de uma histria, quase sempre seguida de atividades ldicas complementares, mas sempre, do dilogo. Aqui entra o potencial curativo da linguagem, da fala compartilhada, pois os pensamentos que se achavam adormecidos, despertados pela biblioterapia, ganham corpo na palavra e permitem a percepo do outro, conduzindo certeza de que no estamos sozinhos no mundo e, assim, temos capacidade de vencer obstculos reais ou imaginrios, posto que dispomos de parceiros para tal enfrentamento. Descreverei, nos captulos subseqentes, vrios projetos de atividades biblioteraputicas (consistindo alguns em um trabalho de equipe em que acadmicos, sob minha orientao e coordenao, realizam a biblioterapia e, em
13
outros, eu mesmo a desenvolvo), sempre partindo dos conceitos de Husserl (a subjetividade transcendente), de Sartre (o prazer esttico do leitor mexer com a imaginao), de Merleau-Ponty (o descentramento a partir da fala do outro produz expresso de sentido) e de Iser (entre as protenses e retenes o leitor vai construindo o texto), a fim de provar que a multiplicidade de parceiros envolvidos nesse processo transforma a leitura coletiva em um exerccio teraputico de cuidado com o ser, de cuidado com o outro. Como alia intercorporeidade com intersubjetividade, a biblioterapia, valendose da linguagem metafrica, transcendental do texto escrito e da linguagem cotidiana do dilogo, transforma a leitura coletiva em um ato fenomnico. Ento, a fim de dar continuidade pesquisa sobre a leitura como funo teraputica (que venho desenvolvendo h anos), decidi, no doutorado, aprofundar o conhecimento sobre a mesma valendo-me de uma abordagem fenomenolgica. Tal escolha valeu-se do fato de ser a fenomenologia um retorno s coisas mesmas, o estudo das essncias. Preocupa-se com as essncias vividas, as quais so totalidades de sentido temporalmente constitudas. Assim, a fenomenologia uma descrio do vivido, uma narrativa das experincias da conscincia no decorrer da histria; preocupa-se com a descrio do fenmeno, a universalidade das essncias, o questionamento do conhecimento das cincias, a valorizao do conhecimento intuitivo das vivncias, a intencionalidade da conscincia, a interpretao do mundo, a intersubjetividade e o contexto cultural dos sujeitos; estuda os sentimentos, os pensamentos e as aes. Trata-se de uma narrativa transcendental, o que significa dizer que leva em conta o modo, ou forma temporal segundo a qual o ser humano se constitui na natureza e na cultura. O mtodo fenomenolgico permitir estudar a leitura enquanto fenmeno: significar por a leitura a descoberto, ir alm da aparncia que a cincia insiste em mostrar e compreender tal fenmeno a partir da compreenso do vivido do sujeito. Assim, a presente tese de doutorado no consistir apenas em uma descrio da leitura, mas, tambm, em uma interpretao da mesma, um decifrar do sentido aparente, um desdobrar de significao, um desvendar da essncia do ato de ler com possibilidades teraputicas. Intenta desvelar o ato de ler na sua essncia, compreender o que pertinente, significativo e relevante sobre o fenmeno da leitura. Isso significa colocar entre parnteses o conhecimento consolidado e cristalizado pela cincia e deixar-se guiar pela intuio, permitindo uma reflexo do
14
fenmeno. Dessa feita, investigar a natureza da leitura perpassa pela investigao sobre a linguagem, haja vista que somente por meio desta pode-se descrever, sistematizar e comunicar os significados dos fenmenos, pois tudo comea na e pela linguagem. Do ponto de vista da sua natureza configurar-se- como uma pesquisa bsica, pois pretendo realizar uma reflexo de cunho terico sobre a leitura. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema ser uma pesquisa qualitativa, haja vista que considero indissocivel o mundo objetivo e o mundo subjetivo, no sendo possvel valer-se de critrios de mensurabilidade. Do ponto de vista de seus objetivos apresentar caractersticas de pesquisa exploratria devido ao inacabamento da fenomenologia que permite um recomear incessante, e de pesquisa descritiva, pois intento descrever o fenmeno da leitura. Do ponto de vista dos procedimentos tcnicos ser uma pesquisa bibliogrfica porque, para a construo de uma nova teoria, busquei apoio terico em material publicado de autores conceituados e consagrados pela Academia em Filosofia, Literatura, Psicologia e reas afins. Partindo do pressuposto de que a fala um desdobramento do corpo e o corpo um desdobramento do mundo, objetivo estudar o ato da leitura luz da teoria merleau-pontyana da linguagem, uma das principais preocupaes do filsofo, que tem a linguagem como pea fundamental na existncia humana, pois, para ele, a linguagem opera, constri e faz o pensamento. Segundo Merleau-Ponty, os atos espontneos ou operativos fundam os reflexivos, de sorte que a fala no a mera representao do pensamento ela se processa junto com o pensamento. Assim, os pensamentos no so as palavras, mas no existem sem elas, pois delas necessitam para solidificar-se. Para Merleau-Ponty, a fala um dentre os nossos muitos atos operativos, e ele quer resgatar a prevalncia da experincia falante no processo de constituio de sentido, o que o indisps s teorias psicolgicas clssicas da fala que se dividem, segundo ele, entre o modelo empirista e o modelo intelectualista. As teorias da fala de orientao empirista afirmam que a fala no diz nada; os intelectualistas afirmam que a fala diz o pensamento. Merleau-Ponty condena essas duas vises e argumenta que a fala a prpria carne dos pensamentos d vida, alimenta os pensamentos.
15
Alm de se preocupar com a linguagem, Merleau-Ponty desenvolveu uma fenomenologia da percepo baseada nas descobertas da psicologia contempornea a ele, principalmente a psicologia da Gestalt e a psicanlise freudiana, pois acreditou haver uma espontaneidade de nossa insero corporal no mundo da percepo que desempenha papel fundamental na produo humana, seja ela artstica, literria, cientfica ou filosfica. Defendeu a interao entre o sentir e o entender, nutrindo a preocupao de atrelar percepo e conscincia. Desenvolveu a filosofia do corpo, pois por meio do corpo que se estabelece a existncia humana no mundo o corpo se movimenta entre as coisas, tendo uma relao no apenas mecnica, mas tambm imaginria com o mundo. Assim, o filsofo priorizou os sentidos (contrariando Edmund Husserl, o criador da fenomenologia) e argumentou que o ser humano um ser-no-mundo. Para MerleauPonty, h sincronia entre a conscincia e o corpo e essa viso holstica que caracteriza a existncia humana. Ento, a partir da teoria da linguagem de Merleau-Ponty que a mesma no um conjunto de significantes puros ou puros signos a que o pensamento recorra, no a codificao e decodificao de pensamentos j elaborados, e a partir de sua concepo do mundo-envolvente da experincia primado da experincia sobre a conscincia, a proposta apresentar um novo enfoque leitura, qual seja, como ato e como fenmeno corporais em que os sentidos se exprimem no descentramento que o corpo sofre a partir da fala do outro e inclui no apenas o corpo cifrado, o corpo do autor, mas tambm o corpo do leitor e o do ouvinte. Esclarecendo: a pretenso descrever a leitura como corporal, temporal, intersubjetiva e uma experincia teraputica, ou seja, de cuidado com o ser no domnio da literatura. Cumpre explicitar o sentido da palavra terapia, que, em termos restritivos possui um sentido curativo, mas que, na realidade, envolve muito mais do que a cura: significa velar pelo prprio ser, cuidar do ser. Para isso se torna necessrio discutir a diferena entre os termos thrapeuticos (aquele que presta cuidados a um deus ou a um mestre) e kliniks (mdico que assiste ao leito) no intuito de elucidar a capacidade teraputica da leitura. Torna-se necessrio, tambm, explicitar a importncia da intercorporeidade e do descentramento no ato da leitura como propiciadores de efeitos teraputicos, verificar o que os tericos entendem por leitura, e, alm disso, destacar que a leitura
16
s tem sentido na vivncia, que no existe objeto leitura em si, somente enquanto objeto percebido, sentido, pensado. No poderia deixar de ser mencionada e estreita ligao entre as doenas e as emoes, posto que o ser humano uno. Sabe-se que as emoes intensas ocasionam, alm de falhas no sistema imunolgico, sofrimento real e, que ele, mesmo sem causas orgnicas definidas, merece cuidado. No o caso de dizer que toda doena tem origem nos sentimentos, e, sim, de verificar como minimizar, pela leitura, os efeitos nocivos dos problemas psico-fsicos, pois o descompasso entre corpo e mente quebra a harmonia necessria ao bem-estar. Alm disso, assim como comportamentos violentos demais so uma doena social, comportamentos contidos demais causam danos fsicos e psicolgicos. Assim, o dilogo posterior leitura do texto literrio fundamental no processo biblioteraputico so os poderes curativos da voz. Mas como nem sempre fcil traduzir os sentimentos em palavras, s vezes a msica, a dana e o desenho, linguagens alternativas verbal, so to vlidas para os efeitos teraputicos quanto esta ltima. mister, ainda, esclarecer o que entendo por texto literrio e, assim, um embasamento terico se faz necessrio, com algumas definies sobre o que se considera literatura; lembrar que no existe, de fato, um abismo entre o que literatura e o que no , haja vista que a problemtica de sua natureza abordada de forma diferente dependendo das circunstncias, poca ou ponto de vista. A fim de cumprir os objetivos propostos, quais sejam: apresentar a relao entre linguagem e biblioterapia, verificar o papel da fala na terapia, validar como salutares a intercorporeidade e o descentramento no fenmeno da leitura, descrever as potencialidades teraputicas do texto literrio e a importncia das emoes e da imaginao no ato da leitura, a tese foi estruturada em seis captulos. O primeiro captulo, Introduo (este que estamos lendo), fornecer uma noo geral do que ser apresentado; o captulo dois, A teoria merleau-pontyana da linguagem e a biblioterapia, servir como abertura para as discusses posteriores; o captulo trs, Linguagem e terapia, versar sobre o binmio sade/doena, terapia e terapeutas, e, ainda, dar destaque ao dilogo como terapia; o captulo quatro, Leitura e terapia, mostrar a leitura como fenmeno e ato corporal, temporal e descentrado, descrever a leitura segundo Proust, Sartre, Merleau-Ponty e Iser e enfocar a leitura como terapia; o captulo cinco, Literatura e biblioterapia, expor,
17
especialmente, o papel da literatura, emoo e imaginao na biblioterapia (e em seus desdobramentos: catarse, identificao e introspeco). O captulo seis, o ltimo da tese, recebeu o nome: O que faltou dizer, sabendo-se que no ser dito tudo. No tocante s Referncias, como no corpo do texto ser utilizado o sistema autor-data, as mesmas sero listadas em ordem alfabtica; no caso de vrios trabalhos de um mesmo autor o critrio adotado ser list-los por ordem crescente de data de publicao segundo a acessibilidade da pesquisadora. Destaco que a pretenso descrever o ato da leitura segundo Merleau-Ponty (e s vezes contra ele), mas sempre a partir dele. Aparecer, portanto, um impensado de Merleau-Ponty que ser pensado e discutido, traando-se um paralelo entre as suas e as idias de Husserl, e comparando-as com as de Proust, de Sartre e de Iser. Cumpre ressaltar que, no decorrer da tese, outros autores que no os j citados, fornecero embasamento terico sobre a leitura e teoria da catarse. Lembrando que, segundo Husserl, a pesquisa comeo continuado, e, segundo Merleau-Ponty, a fenomenologia fornece uma nova concepo do ser da linguagem, pretendo, com esse trabalho, dar um novo enfoque ao ato da leitura, sabendo, de antemo, que o assunto no se esgotar em si mesmo, mas proporcionar o debate que, espero, frutifique e gere discusses e futuras pesquisas a respeito do mesmo tema. enriquecero as argumentaes que se fizerem necessrias. Entre esses, destaco Aristteles, com a
18
TEORIA
MERLEAU-PONTYANA
DA
LINGUAGEM
BIBLIOTERAPIA
Pensar a linguagem no mais buscar uma lgica da linguagem aqum dos fenmenos lingsticos mas redescobrir um logos j engajado na palavra, redescobrir a linguagem que eu sei porque eu a sou. (MERLEAU-PONTY)
Merleau-Ponty, em sua trajetria filosfica, respaldou-se em Husserl no tocante linguagem. No que admitisse na ntegra o pensamento do filsofo, mas pode-se dizer que o utilizou como alavanca para aprofundar seus estudos e expressar a nova forma de entender a linguagem. Assim, cumpre verificar de que forma Husserl tratou o problema da linguagem como forma de investigao fenomenolgica: na 4a. das Logische Untersuchungen Husserl prope a idia de uma eidtica da linguagem e, em contrapartida, em textos mais recentes, a linguagem aparece como uma maneira original de visar certos objetos como o corpo do pensamento; a primeira proposta supe que a linguagem seja um dos objetos que a conscincia constitui soberanamente, e desempenharia papel de acompanhante ou substituto do pensamento; na Formale und Tranzendentale Logik, por outro lado, Husserl considera a linguagem uma operao pela qual pensamentos, que sem ela permaneceriam fenmenos privados, adquiriram valor intersubjetivo e, finalmente, existncia ideal. (MERLEAUPONTY, 1991, p. 89, 90, grifo do autor). Nota-se uma mudana significativa no pensamento husserliano de objeto, a linguagem passa a ser encarada como operao. Em outras palavras, de passiva passa a ser ativa, de coisa se transforma em ao. Essa nova feio da linguagem (de essncia de uma gramtica universal para corpo do pensamento) vista com bons olhos por Merleau-Ponty, que defende a primazia da linguagem como meio por excelncia de comunicao. Dessa feita, condena o cientista por obliterar a expresso considerando a linguagem apenas um resqucio de atos de significaes j acontecidos, o que transformaria a linguagem em algo pronto e esttico. Por seu
19
turno, Merleau-Ponty admite a linguagem como pululante de significado, como um sistema que obedece a uma lgica visando, acima de tudo, a expresso. Ao estudar o fenmeno da linguagem, Merleau-Ponty (1991, p. 91) discorda de Saussure, pois segundo ele, Saussure distinguia uma lingstica sincrnica da palavra e uma lingstica diacrnica da lngua1, e, argumenta Merleau-Ponty, diacronia e sincronia deixam-se envolver mutuamente. Explicitando: o passado da linguagem, conquanto esteja presente nela, no exclusivo dela, pois se a linguagem sistema, est em movimento e, como tal, desenvolve-se continuamente; sendo flexvel, ela aceita contribuies, mudanas, inseres e permite elaboraes trazidas pelo acaso. Culler (1979, p. 32) observa que Saussure est assaz consciente do entrelaamento dos fatos sincrnicos e diacrnicos, pois para ele toda a dificuldade consiste em separar esses elementos quando esto misturados, porque s dessa maneira pode a anlise lingstica alcanar coerncia e observa tambm que Saussure considera os signos como de natureza arbitrria, e que, do ponto de vista lingstico, os fatos importantes so os sincrnicos. Culler (1979, p. 22, 23) ainda expe as idias de Saussure a respeito de langue e parole: a langue seria o sistema de uma lngua, a lngua como um sistema de formas, um sistema gramatical, um produto social, algo que o indivduo assimila quando aprende uma lngua; por seu turno, parole consistiria nos atos da fala, a fala real, o lado executivo da lngua, o desempenho lingstico. Cumpre, portanto, ir fonte e verificar o que realmente disse Saussure ([197-], p. 163) a respeito da lingstica sincrnica e da lingstica diacrnica: a primeira estuda as relaes entre os termos coexistentes de um estado da lngua e a segunda estuda as relaes entre termos sucessivos que se substituem uns aos outros no tempo. Para Saussure ([197-], p. 24) a lngua um sistema de signos que exprime idias. Cumpre, tambm, verificar o que disse Saussure ([197-]) a respeito da langue e da parole: a langue seria sistema e a parole seria realizao. A langue configurarse-ia como essencial, social, psicolgica, um sistema abstrato e formal e um
Sabe-se que Saussure no fala de uma sincronia/diacronia da fala, apenas estudou a lngua. Mas esta falha de Merleau-Ponty tem uma razo de ser. Merleau-Ponty est atrs da corporeidade da fala, a qual eminentemente sincrnica.
20
testemunho coletivo. A parole seria contingente, material, tendo a ver com o som e com a liberdade individual. Como visto, Saussure ([197-]) considera a linguagem como tendo um lado individual e um lado social, consistindo a fala em individual e a lngua, em social. Justamente por acreditar que a lngua independente do indivduo e pertence coletividade, considera seu estudo essencial, colocando o estudo da palavra como secundrio. Isso posto, retorno a Merleau-Ponty que, diferentemente de Saussure, concede primazia ao estudo da fala e apresenta sua concepo da linguagem, em que o signo reflete a cultura, ou seja, as diferenas de significao acontecem porque nascemos em lugares diversos e nossa lngua se apresenta para ns como mais expressiva do que as outras. Muito embora admita a presena da morfologia, da sintaxe e do lxico na lngua, no a tem como a soma dessas significaes. A lngua comporta uma significao linguageira, um certo estilo de linguagem e, assim, minhas palavras me surpreendem a mim mesmo e me ensinam o meu pensamento; dessa forma, o sentido imanente dos signos organizados no se prende ao penso, mas ao posso. (MERLEAU-PONTY, 1991, p, 94). Para que as palavras me surpreendam, ento, elas adquirem certa corporeidade mediante uma intencionalidade corporal que se manifesta pelos gestos, e, assim, a significao acontece porque forneo corpo a uma inteno que se quer grvida de palavras e todo esforo para pegar na mo o pensamento que habita a palavra no deixa entre os dedos seno um pouco de material verbal. (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 95). Dessa feita, o material verbal a palavra expressa uma significao condizente com o gesto, com a intencionalidade corporal. Muito embora a inteno significativa no prescinda do pensamento, solidifica-se na palavra. Por esse motivo, Merleau-Ponty (1991, p. 96) afirma que a inteno significativa cria um corpo para si e conhece a si mesma ao procurar um equivalente seu no sistema de significaes disponveis. Dito de outra maneira: compreendo o que me familiar, o que a cultura me proporcionou como signos lingsticos estabelecidos, mas sou aberto a um novo mundo de significaes desde que exista o desejo e a inteno de ir alm do j dito e consolidado. Baseado nas significaes que possuo, posso, no apenas retomar falas j faladas, como as posso recriar de modo que exprimam novos significados. O novo incorporado na cultura e torna-se disponvel a mim e ao outro. Tambm, fora
21
da frase, fora do contexto, a palavra torna-se vazia de significado, estril, no frutifica, no tem expressividade. A palavra no pode ser rf, necessita de uma famlia, ou seja, meio, corpo e pensamento. Para Merleau-Ponty (1999, p. 241), a fala no pressupe o pensamento, pois se falar fosse em primeiro lugar unir-se ao objeto por uma inteno de conhecimento ou por uma representao, no se compreenderia porque o pensamento tende para a expresso como para seu acabamento e porque o prprio sujeito pensante est em um tipo de ignorncia de seus pensamentos enquanto no os formulou para si mesmo ou mesmo disse e escreveu. Isso no significa que o pensador considere que o pensamento seja a palavra, o que ele afirma que o pensamento no existe sem a palavra. Segundo o filsofo, ns temos a experincia de ns mesmos, dessa conscincia que somos e, continua: a partir desta experincia que se medem todas as significaes da linguagem, justamente ela que faz com que a linguagem queira dizer algo para ns. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 12). Nesse sentido, Merleau-Ponty ultrapassa tanto o intelectualismo quanto o empirismo, pois ambos no do valor conscincia perceptiva. De acordo com Merleau-Ponty (1999), a fala no mais do que uma modalidade dessa conscincia perceptiva. Ela uma das variantes desse poder de expresso que pertence ao nosso corpo. Merleau-Ponty (1999, p. 253), ao afirmar que o gesto lingstico, como todos os outros, desenha ele mesmo o seu sentido, reconhece que essa idia surpreende, pois parece impossvel dar s palavras, assim como aos gestos, uma significao imanente. Ento, por que creditar sentido ao gesto lingstico? Ora, se a percepo natural acontece pelo gesto corporal, a cultura fornece significaes aos sujeitos falantes. Dito de outra maneira: os atos de expresso fazem parte do mundo da cultura no qual estamos inseridos; assim, compreendemos a fala, mesmo que ela vise uma paisagem mental, visto que o mundo lingstico compartilhado por ns e as significaes tornam-se disponveis, pois concebe-se que a fala possa, como um gesto, significar sobre o fundo mental comum. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 253, 254). O que seria esse fundo mental comum? Seriam as convenes? Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 254), as convenes so um modo tardio de relao entre os homens, elas supem uma comunicao prvia. Dessa feita, conquanto a fala
22
seja considerada por alguns como um signo convencional, Merleau-Ponty (1999, p. 255) argumenta que rigorosamente, no existem signos convencionais, simples notao de um pensamento puro e claro para si mesmo, pois a fala faz parte da histria do homem. Tanto assim que, segundo ele, impossvel traduzir o sentido pleno de uma lngua para outra. Sempre existiro enganos, erros e impreciso nas tradues, uma vez que para assimilar completamente uma lngua, seria preciso assumir o mundo que ela exprime, e nunca pertencemos a dois mundos ao mesmo tempo. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 255). Para o filsofo, o sentido da frase no se deve apenas histria da lngua, como acreditam os lingistas. A linguagem possui o seu prprio sentido, que se manifesta ora pelas representaes conceituais, ora pelas expresses emocionais, atreladas ao contexto cultural do sujeito. Mas no basta pertencer mesma cultura para os sujeitos expressarem, de uma mesma forma, seus anseios ou emoes. A individuao acontece no domnio da linguagem, assim como acontece, tambm, nos demais domnios humanos. Isso corroborado por Merleau-Ponty (1999, p. 256) quando ele diz: no basta que dois sujeitos conscientes tenham os mesmos rgos e o mesmo sistema nervoso para que em ambos as mesmas emoes se representem pelos mesmos signos. Portanto, o equipamento psicofisiolgico no o fator determinante da linguagem, o ser humano no apenas um ser biolgico colocado em uma forma padro devendo apresentar semelhanas na forma de se expressar. Ele dotado do equipamento da fala, est inserido no mundo da cultura, mas possui seus prprios desejos e atitudes que lhe so peculiares formas distintas de expressar suas necessidades e aspiraes. Os instintos, bem como os comportamentos socialmente produzidos, se imbricam no homem levando-o a expressar-se dessa ou daquela maneira. Assim como o gesto corporal indica amor ou clera, a fala, ela tambm, pela entonao da voz, indica se o sujeito est feliz ou irado. A fala , ento, um modo a mais que o sujeito possui para perceber o mundo e para expressar-se nele. Como os gestos, as palavras so inventadas. o sujeito que determinar o uso que far deles. O equipamento biolgico fornece suporte para ambos, mas no os escraviza. Como disse Merleau-Ponty (1999, p. 257): os comportamentos criam significaes que so transcendentes em relao ao dispositivo anatmico; a fala, ento, se configura como um caso particular da potncia irracional que cria significaes e que as comunica.
23
Se para Husserl a reflexo acontece no pensamento, para Merleau-Ponty a reflexo acontece no corpo, que serve como condutor tanto da objetividade quanto da subjetividade. Nessa mesma linha de pensamento, a leitura ocorre porque temos um corpo que executa o ato de ler. Para Husserl (apud MERLEAU-PONTY, 1990, p. 162, grifo do autor), a reflexo [...] um esforo para extrair o sentido de uma experincia vivida. justamente sobre o Lebenswelt (mundo vivido), uma das preocupaes filosficas de Husserl em seus ltimos escritos, que Merleau-Ponty tece uma srie de consideraes. Acompanhando o pensamento de Merleau-Ponty (1991, p. 99, grifo do autor),
Se a volta ao Lebenswelt, e em particular a volta da linguagem objetivada palavra, considerada absolutamente necessria, isso quer dizer que a filosofia deve refletir sobre o modo de presena do objeto ao sujeito, sobre a concepo do objeto e a concepo do sujeito tais como se mostram na revelao fenomenolgica, em vez de substitu-los pela relao do objeto com o sujeito tal como concebida numa filosofia idealista da reflexo total
pode-se dizer que o Lebenswelt, ou seja, o mundo vivido, o mundo humano, o mundo que vivemos intuitivamente, no pode ser reduzido conscincia pura. Portanto, o mundo vivido exige a presena de um sujeito-corpo que se vale da palavra e no de uma pura conscincia. Processa-se, ento, uma mudana no sujeito, mediada pela palavra. A conscincia constituinte cede lugar ao sujeito encarnado, que admite infinitas possibilidades com o outro. Eu falo com minha boca e o outro me escuta com seus ouvidos; gesticulo e ele me v; toco-o e ele se sente tocado tudo isso indica um corpo em contato com outro corpo, pois a pura conscincia no fala, ouve, v ou se toca, a no ser metaforicamente. Mas esse no o caso quando se trata da linguagem. Quer-se que a comunicao de fato acontea, que o sujeito encarnado expresse-se e seja compreendido pelo outro. Dessa feita, o sujeito eu no mais a conscincia husserliana, o eu incorpreo cartesiano, mas um indivduo corpreo que no se encontra sozinho no mundo da vida: ele est rodeado de outros indivduos falantes e pensantes, que se valem da linguagem e, por extenso, da palavra, para a convivncia com o outro, para o entendimento do outro e para a adoo consciente e plena do outro na sua vida prenhe de signos e de significados.
24
Se a palavra possui uma potncia significante e utiliza o corpo como meio de expresso de mim para o outro e do outro para mim, a fenomenologia da linguagem merleau-pontyana implica aceitar a encarnao do pensamento na palavra, a espontaneidade ensinante do corpo o eu posso e a experincia do outro a transgresso intencional. (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 99, 101). Alm disso, Merleau-Ponty (1991, p. 101) afirma que o corpo e a palavra podem me dar mais do que coloquei neles. Como isso possvel? Ele explicita: como admitimos a experincia do outro, como admitimos a transgresso intencional, admitimos tambm o Cogito e, assim, as significaes adquiridas somam-se s significaes que vamos construindo ao longo da vida. Na sua filosofia, o pensamento no foi excludo, apenas ganhou a parceria da palavra na carne. A conscincia adquiriu corpo nada perdeu. Tal unio, pensamento e palavra corporificada, garantem no apenas a formao, mas a continuidade da expresso, seu desenvolvimento. Portanto,
Todo ato de expresso literria ou filosfica contribui para cumprir o voto de recuperao do mundo que foi pronunciado com o aparecimento de uma lngua, isto , de um sistema finito de signos que em princpio se pretendia capaz de captar qualquer ser que se apresentasse. (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 102).
Dito de outra maneira: conquanto o sistema de signos seja finito, o sistema de significaes configura-se como infinito, pois se vale de pensamentos j pensados, palavras j ditas e pensamentos que surgiro, palavras que sero acrescentadas. A captao de novos significados faz parte da tentativa humana de buscar a verdade. Cumpre lembrar que Husserl, em seus ltimos escritos, j admitia a possibilidade de a palavra fundar a verdade quando permitiu sua abertura multiplicidade de sujeitos que se querem carne. Mller-Granzotto (2000, p. 213) sintetizou da seguinte maneira o pensamento de Husserl acerca da encarnao do pensamento e seu efeito em Merleau-Ponty:
A tese de Husserl segundo a qual, os signos (expressivamente empregados) haveriam de encarnar nossos pensamentos forneceu o ponto de partida ao projeto merleau-pontyano de restituio filosfica de nosso contato com o mundo da percepo. [...] A interpretao merleau-pontyana da teoria fenomenolgica da expresso mostrou que, tal como os pensamentos, a conscincia de ns mesmos seria tributria da experincia sensvel.
25
Ao abolir o homem interior, Husserl defendeu que a subjetividade intersubjetividade. Assim, diferentes sujeitos trocam opinies, gostos estticos, experincias. Esses sujeitos precisam da carne para relacionar-se entre si. Uma conscincia pura jamais poderia conversar, discutir ou argumentar com outra conscincia pura. Disse Merleau-Ponty (1999, p. 9): para que o outro no seja uma palavra v, preciso que minha existncia nunca se reduza conscincia que tenho de existir, ao contrrio, ela deve envolver tambm a conscincia que dele se possa ter e, portanto, minha encarnao em uma natureza [...]; dessa forma, a experincia sensvel est frente dos pensamentos, pois sou, acima de tudo, um ser no mundo. Como ser no mundo, valho-me da percepo e das palavras para alcanar o outro, compreend-lo, influenci-lo, atingi-lo, e, qui, modificar seu comportamento. E, visto que estamos tratando da linguagem, cumpre resgatar o status da palavra, coloc-la em evidncia no presente estudo investigatrio. A palavra a realizao por excelncia dos pensamentos e da comunicao desses mesmos pensamentos, pois como asseverou Merleau-Ponty (1999, p. 229, 249), a fala exprime o pensamento e o pensamento no nada de interior, ele no existe fora do mundo e fora das palavras. Nos ltimos escritos de Husserl (apud MERLEAU-PONTY, 1990, p. 170) j se delineia uma nova concepo da linguagem, pois o filsofo considera que falar visar um certo sujeito com palavras e no traduzir um pensamento em palavras. A esse respeito, Mller-Granzotto (2000, p. 215, grifo do autor) afirma que na avaliao de Merleau-Ponty, quando Husserl reconheceu que ao exprimir nossas palavras corporificam nossos pensamentos ele admitiu para a fala e para os pensamentos uma relao interna, muito semelhante quela que haveria de existir entre os fenmenos percebidos e a experincia perceptiva. Assim, Merleau-Ponty valeu-se da teoria husserliana da expresso para alicerar sua prpria teoria da expresso. No que isso tire o mrito de MerleauPonty. Nesse sentido, vale retomar o modo como Merleau-Ponty empregou o termo impensado, que ele tomou de emprstimo a Heidegger para pensar o legado da obra husserliana. Como para Heidegger, para Merleau-Ponty a grandeza de uma obra no est no nmero de pginas, mas sim naquilo que ela deu a pensar mais alm do que ela mesma pensou.
26
Conquanto reconhea a presena marcante de Husserl em seu pensamento, Merleau-Ponty no segue as pegadas do filsofo, ao contrrio, caminha ao seu lado e, s vezes, em outra direo. Isso significa dizer que Merleau-Ponty no se apossou integralmente das idias husserlianas, mas buscou o impensado em Husserl. Isso significa, tambm, que a obra husserliana propicia ir alm do que o filsofo disse, sem, contudo, obliterar o que o mesmo pensou. Trata-se de dar continuidade quilo que, no obstante no haver sido pensado, insinua-se nas entrelinhas como um ainda a pensar. Argumenta Merleau-Ponty (1991, p. 176): pensar no possuir objetos de pensamento, circunscrever atravs deles um domnio por pensar, que portanto, ainda no pensamos. Assim, o ainda no pensado no vem do vazio, vem do reflexo ou da sombra do j pensado e a ele se une. Esse impensado no uma traio ou interpretao arrogante que Merleau-Ponty tenha feito a Husserl. Na realidade, configura-se como uma homenagem, como um dilogo pstumo com um filsofo a quem no conheceu em vida. Para consolidar o impensado como reverncia e no como ofensa ao filsofo, Merleau-Ponty (1991, p. 178) raciocina que Husserl, em Ideen I considerou refletir como sendo desvelar um irrefletido que est distncia. Portanto, o prprio Husserl, intencionalmente ou no (como saber?) permitiu que se refletisse sobre suas meditaes e, dessa maneira, possibilitou um irrefletido, um impensado de sua obra. Tome-se, por exemplo, a reduo fenomenolgica2. Husserl reconhece haver problemas nela, pois, muito embora conteste a atitude natural3, concedendo natureza um valor relativo e conscincia um valor absoluto, transforma a filosofia do esprito em um paradoxo, visto que nas palavras de Merleau-Ponty (1991, p. 179): quando Husserl diz que a reduo supera a atitude natural, para logo acrescentar que essa superao conserva o mundo inteiro da atitude natural. Essa ambigidade husserliana permite a Merleau-Ponty (1991, p. 178-179) inferir que talvez no seja segundo a bifurcao da Natureza e do esprito que devamos pensar o mundo e ns mesmos. Dessa feita, apresenta um impensado em
Por reduo fenomenolgica entende-se a purificao do fenmeno de tudo o que inessencial; isso significa colocar entre parnteses a realidade tal como a concebe o senso comum, isto , como existindo em si, independentemente de todo ato da conscincia. 3 Por atitude natural entende-se o senso comum, isto , acreditar que o ser humano est no mundo como uma coisa entre as coisas.
2
27
Husserl: uma terceira dimenso, a dimenso da carne, vestgios da idia husserliana do sujeito puro e das coisas puras uma idealizao que, na concepo de Merleau-Ponty seria mais apropriado chamar de homem encarnado e ambiente uma abertura ao mundo natural. Husserl (apud MERLEAU-PONTY, 1991, p. 181) j dizia que a realidade da alma fundada na matria corporal. Merleau-Ponty (1991, p. 181) considera essa afirmativa como uma verdade da atitude natural e no a condena, ao contrrio, a reafirma, pois afinal de contas, a fenomenologia no nem um materialismo nem uma filosofia do esprito. A conscincia reduzida husserliana cede lugar ao corpo merleau-pontyano, pois para Merleau-Ponty (1991, p. 183), o corpo no apenas um objeto visado pela conscincia, o corpo a prpria conscincia encarnada, o campo onde se localizam os meus poderes perceptivos. Esse campo seria a relao entre o esprito e as coisas. Tal relao permite que meu corpo aja como um vnculo entre o eu e as coisas. Segundo Merleau-Ponty (1991, p.184, 185), quando toco-me tocante, meu corpo efetua uma espcie de reflexo, visto que o tato est espalhado em meu corpo, que o corpo coisa que sente, sujeito-objeto; isso acontece porque sou esse animal de percepes e de movimentos que se chama corpo. Ora, ao admitir o corpo como coisa sensvel e senciente, Merleau-Ponty admite tambm o corpo do outro, e, com isso, a intercorporeidade. A experincia do outro, para Husserl, conquanto seja mediada pelo pensamento, est ligada s sensaes, e, por esse vis, Merleau-Ponty desenvolve sua fenomenologia da percepo. Esse impensado de Husserl explorado por Merleau-Ponty no alavancar a idia da intercorporeidade. Quando Merleau-Ponty (1991, p. 188) afirma que se o outro deve existir para mim, preciso que comece a existir aqum da ordem do pensamento, enfatiza a presena do corpo e retira a soberania da conscincia. Existe, portanto, no apenas a minha percepo e a percepo do outro, mas uma co-percepo. Eu me percebo e percebo o outro. O outro se percebe e me percebe. Eu e o outro percebemos as coisas, o mundo circundante. Sem a corporeidade, tal percepo seria impossvel. No podemos perceber pensamentos. S sabemos o que o outro pensa quando seu pensamento verbalizado, quando o som de sua voz atinge nossos ouvidos. Da mesma forma s o vemos e sabemos que ele nos v porque eu e ele temos olhos.
28
E, ainda, s o tocamos e ele nos toca porque dispomos dos equipamentos tteis fornecidos pelo corpo. Dito de outra maneira: o ser humano est no mundo e o pensamento, fora do mundo, pois as coisas se oferecem a um corpo. Para reafirmar essa idia, cito Merleau-Ponty (1999, p. 14): o mundo aquilo que ns percebemos e, o mundo no aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo: eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas no o possuo, ele inesgotvel. Assim, minha encarnao implica na reflexo do sensvel, implica aceitar a corporeidade do outro e implica tambm admitir a natureza como o lugar onde eu e o outro nos encontramos e compartilhamos as mesmas coisas. Ser que Husserl chegou perto de pensar assim? Merleau-Ponty (1991, p. 189) afirma que sim, visto o filsofo ter reconhecido que um esprito absoluto deveria ter tambm um corpo, o que restabeleceria a dependncia para com os rgos dos sentidos, e que o esprito absoluto deveria ver as coisas como os nossos fenmenos podem ser trocados entre ns, homens. Assim, muito embora Merleau-Ponty tenha se apoiado na tese de Husserl segundo a qual o pensamento adquire carne na fala, criou, ele prprio, uma teoria fenomenolgica da linguagem. Isso posto, cabe ressaltar em que sentido MerleauPonty difere de Husserl no tocante expresso. Em Husserl h a distino entre aqueles signos que simplesmente indicariam outro estado-de-coisas e aqueles signos que expressariam, neles prprios, uma significao; mas tal distino no se quer imperiosa, se quer prtica, pois um signo indicaria algo quando servisse para compreender o surgimento de outra coisa sem a preocupao de verificar a inteno de quem o apresentasse; por seu turno, o signo expressivo mostraria a inteno do sujeito falante, seria aquele que revelaria o que o sujeito falante quisesse-dizer; dessa feita, para Husserl a expresso vai alm da indicao, visto exigir a inteno de um sujeito animando o signo, consistindo o signo em uma extenso corporal do sujeito (MLLER-GRANZOTT0, 2000, p. 216, 217). Em Merleau-Ponty essa distino uma abstrao intil, pois:
A operao de expresso, quando bem sucedida, no deixa apenas um sumrio para o leitor ou para o prprio escritor, ela faz a significao existir como uma coisa no prprio corao do texto, ela a faz viver em um
29
organismo de palavras, ela a instala no escritor ou no leitor como um novo rgo dos sentidos, abre para nossa experincia um novo campo ou uma nova dimenso. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 248).
Dito de outra maneira: para Merleau-Ponty o corpo e a significao sempre esto presentes na expresso e no texto. Ambos tm vida, animam a expresso. De uma forma dinmica, agem no sujeito, quer seja ele leitor, quer escritor. Corpo e significao se valem de palavras no processo da expresso e a inteno significativa no prescinde de um corpo. Como a linguagem sempre possui significado e sempre visa a expresso, a fala subentende uma intencionalidade corporal que se mostra na gestualidade e nos insere no mundo. Portanto, o sujeito no precisa animar o signo: o signo faz parte do sujeito, est inserido no contexto cultural do sujeito, est imbricado na vida do sujeito. Como apontado na epgrafe do captulo, eu sou a linguagem. Assim, h que se preocupar menos com o signo e mais com a palavra, pois ela contm um sentido, ela um gesto, ela me abre infinitas possibilidades de comunicao, ela me mostra que estou engajado no mundo falante. A teoria merleau-pontyana da expresso admite duas linguagens:
a linguagem de depois, a que adquirida e que desaparece diante do sentido do qual se tornou portadora, e a que se faz no momento da expresso, que vai justamente fazer-me passar dos signos ao sentido a linguagem falada e a linguagem falante.[...] A linguagem falada aquela que o leitor trazia consigo, a massa das relaes de signos estabelecidos com significaes disponveis, sem a qual, com efeito, ele no teria podido comear a ler, que constitui a lngua e o conjunto dos escritos dessa lngua. [...] Mas a linguagem falante a interpelao que o livro dirige ao leitor desprevenido, aquela operao pela qual um certo arranjo dos signos e das significaes j disponveis passa a alterar e depois transfigurar cada um deles, at finalmente secretar uma significao nova [...] No se far idia do poder da linguagem enquanto no se tiver reconhecido essa linguagem operante ou constituinte que aparece quando a linguagem constituda, subitamente descentrada e privada de seu equilbrio, ordena-se de novo para ensinar ao leitor e mesmo ao autor o que ele no sabia pensar nem dizer. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 32, 3435, 36).
Ora, da fala falante, produtora de significados, que me ocuparei na presente tese, pois a terapia por meio da leitura somente acontece quando se pode inferir novos sentidos ao lido, quando o texto permite uma recriao.
30
Aps essa digresso, retomo o pensamento acerca da corporeidade da fala. Merleau-Ponty (1991, p. 20) afirma que o movimento da palavra e do pensamento exige a presena de um corpo, pois em toda parte h sentidos, dimenses, figuras para alm daquilo que cada conscincia poderia ter produzido, e, contudo so homens que falam, pensam, vem. Justamente por acreditar nisso Merleau-Ponty (1991, p. 17) argumenta: quebramos a linguagem quando a transformamos num meio ou num cdigo para o pensamento, h uma necessidade de falar to logo pensemos, visto que as palavras tm o poder de suscitar pensamentos, e, portanto, no existe pensamento que seja completamente pensamento e no solicite a palavras o meio de estar presente a si mesmo; isso significa que pensamento e palavra contam um com o outro, estimulam-se reciprocamente, pois todo pensamento vem das palavras e volta para elas, toda palavra nasceu nos pensamentos e acaba neles. Dito de outra maneira: pensamentos e palavras so intercambiveis e no lutam pelo privilgio de se destacar como principal na intrincada rede de comunicaes. So parceiros que se completam, se desdobram e assim, andam juntos, a palavra fazendo-se pensante e o pensamento, falante. A palavra deixou sua condio servil de atuar como instrumento do pensamento. Adquiriu um novo status, o de gesto significativo. Segundo Merleau-Ponty (1990, p. 170), o problema da linguagem deve ser resolvido se existe o desejo de compreender a existncia, no mundo, das idias e dos objetos culturais: os livros, os museus, as partituras, os escritos colocam e inserem as idias no mundo. O mesmo pensava Saussure ([197-], p. 14), quando afirmou que na vida dos indivduos e das sociedades, a linguagem constitui fator mais importante que qualquer outro, e, seria inadmissvel que seu estudo se tornasse exclusivo de alguns especialistas, pois toda a gente dela se ocupa pouco ou muito. O problema da linguagem, ento, no apenas dos filsofos. um problema de todos: literatos, escritores, poetas, psiclogos, professores, bibliotecrios, intelectuais e gente comum. Quem fala e quem ouve? O ser humano, independente de raa, sexo, credo, profisso, gostos e interesses. As idias circulam no mundo nossa volta, circulam nos romances, nos ensaios, nos artigos cientficos, mas tambm no burburinho das feiras e dos mercados e na intimidade das casas. Disseminam-se por meio do papel impresso, do rdio, da televiso e da mdia
31
eletrnica. Espalham-se com mais vigor, entretanto, nas ocasies informais, sejam elas uma festa ou um intervalo de um evento cultural, artstico, literrio ou cientfico. Quando a linguagem perde a postura de austeridade e rigor da cincia, adquire a flexibilidade de um corpo que, como a bailarina ou o malabarista, nos fascinam porque se movem com graciosidade. No tocante s palavras, pode-se dizer que elas nos seduzem se forem harmoniosas e nos convencem se forem arguciosas. Assim, a linguagem deve ser temperada com a leveza das palavras e a consistncia das idias. As palavras podem ferir e podem curar. Porquanto age, se movimenta, se modifica, a linguagem necessita de um agente o corpo4. justamente a capacidade de cura e a intercorporeidade da linguagem, que envolve os vestgios corporais do autor no texto, o corpo annimo e impessoal do texto e, enfim, um corpo que a este se empresta: o do leitor (narrador ou dramatizador), o foco investigativo da biblioterapia. Cito, como exemplo, o Programa de Leitura Teraputica que desenvolvi, como projeto de extenso, de maio a dezembro de 2002 com 30 alunos na faixa etria de 14 a 24 anos, da classe matutina de acelerao5 de uma escola da rede pblica estadual no interior da Ilha de Santa Catarina (CALDIN, 2003). Esses adolescentes e jovens mal sabiam ler e tinham ndice elevado de repetncia e evaso escolar. Em virtude da situao de desvantagem no tocante ao aprendizado, mostravam-se inseguros e agressivos frente s demais turmas, com dificuldade de socializao. A preocupao da Escola era incentivar a leitura, impulsionar o uso da biblioteca, viabilizar a elaborao de textos, aguar a criatividade, desenvolver o senso de responsabilidade, fomentar o trabalho em equipe e desenvolver nos alunos a competncia de gerenciar e superar seus conflitos. A preocupao do Programa de Leitura Teraputica era despertar o gosto pela leitura, estimular o dilogo, facilitar a socializao pela participao em grupo, diminuir a timidez e aumentar a auto-estima desses alunos valendo-se de textos literrios infantis e juvenis diversificados que fossem prazerosos e benficos. Isso significava apresentar a leitura como um exerccio de fruio, sem cobranas
O corpo no entendido como rgo da imanncia, mas como rgo do mundo da intersubjetividade. O Projeto Classe de Acelerao, implantado pela Secretaria de Estado da Educao e do Desporto de Santa Catarina em 1998, teve como objetivo acelerar os estudos de alunos que se encontravam defasados em relao idade cronolgica/srie escolar.
5
32
pedaggicas e sem inteno didtica. Tendo em vista a especificidade da turma, era um desafio e tanto. Quando apresentei o Projeto (por meio de transparncias) ao corpo docente da Escola, senti certa desconfiana por parte de alguns professores: afinal a proposta era realizar as atividades trs vezes por semana, com a durao de uma hora/aula cada dia, sem remunerao. Assim, antes de conquistar os alunos, urgia transformar os docentes em aliados e assegurar que as atividades fossem realizadas sem interrupo. Os maiores parceiros no Projeto, o Diretor da Instituio, a Orientadora Educacional e a Professora de Lngua Portuguesa, me propiciaram as condies necessrias para o bom andamento dos trabalhos. Muito embora tenha distribudo um questionrio aos alunos, tal instrumento pareceu-me insuficiente para diagnosticar o tipo de leitura que poderia agrad-los, haja vista que suas respostas indicavam como prtica leitora apenas os textos dos livros didticos estudados em sala de aula, no havendo histrico de leituras ou de outros livros em casa. Assim, aps realizar a leitura de textos juvenis e perceber que havia pouco envolvimento dos alunos, como que certa resistncia em participar das atividades e uma grande dose de timidez, resolvi adotar um proceder diferenciado. Levei para a Escola duas caixas grandes contendo livros de contos de fadas, animais, mistrio, crnicas, humor e poesia. A reao dos alunos foi melhor que a esperada: o interesse suscitado pela novidade os fez sair da letargia habitual e com frenesi vasculhavam as caixas, folheavam os livros e selecionavam o que desejavam ler. Nesse dia, em vez da leitura em voz alta efetuada por mim e seguida por esparsos comentrios dos alunos, sugeri que cada um lesse em voz baixa o material escolhido. Como o nvel de leitura no era o mesmo para todos, alguns passaram os cinqenta minutos da aula lendo apenas um livro, ao passo que outros conseguiram ler mais textos. A grande surpresa foi o interesse pelos contos de fadas e de animais. Seja por no ter feito parte de suas vivncias na infncia, seja por apresentar pouco texto e vocabulrio fcil, o fato que a grande maioria dos rapazes optou por esse tipo de leitura. Nas meninas, as poesias e crnicas agradaram mais. Livros de mistrio e humor no tiveram grande aceitao. A maior alegria foi quando, ao final da aula, alguns solicitaram emprstimo para continuar a leitura em casa.
33
Na sesso seguinte, propus a elaborao de uma histria maluca: iramos construir uma histria baseada nas leituras realizadas e na imaginao de cada um. Peguei o giz e incentivei a escrita da primeira frase no quadro. Esse dia foi deveras mpar: os alunos comearam a participar com entusiasmo. Mudou sua atitude corporal, ficaram mais relaxados, mais atentos, os olhos brilhando. Perderam a rigidez caracterstica de sentar-se retos na carteira olhando para a frente; comearam a vergar o corpo para o lado, olhando os colegas, rindo das sugestes oferecidas, complementando as frases com outras provocativas. Ficamos os cinqenta minutos montando a histria que se configurava cada vez mais como maluca e irreverente, posto que interessante. De incio, observei que as frases eram retiradas dos livros lidos, mas aos poucos os alunos foram dando asas imaginao e comearam a criar um novo texto. Eu ia escrevendo no quadro medida que eles iam organizando o enredo, em uma competio cmica e prazerosa. Disso infere-se que, como Merleau-Ponty afirmara, a linguagem , de fato, um comportamento, gesto e faz parte do mundo da experincia. At ento os alunos agiam como que tolhidos, bloqueados, sem interesse pelas leituras efetuadas, como se a histria apresentada fosse algo estranho s suas vidas. Ao adentrarem no universo ficcional, permitiram que o texto se apossasse deles. Assim, a leitura deixou de ser uma abstrao, tornou-se algo vivo, uma extenso do seu corpo, comeou a fazer parte de suas vivncias. Percebe-se que deveras a palavra fala, ou seja, ultrapassa o que emissor tencionava dizer, d margem a novas idias, pois as falas faladas nos livros foram retomadas e recriadas, corroborando que o sistema de significaes infinito. Tambm, infere-se que no pensamos antes de falar, visto que as frases iam surgindo espontaneamente e de chofre, com uma rapidez inesperada. Alm disso, a linguagem no ficou restrita s frases, expandiu-se gestualidade corporal que se manifestou de forma diferenciada nos alunos e ocasionou a expresso. Houve dilogo, houve a experincia do outro, houve descontrao e alegria. Aquela sesso de criao coletiva de um novo texto baseada nas leituras solitrias efetuadas anteriormente foi um exerccio teraputico haja vista que, alm de eliminar o acanhamento dos alunos, favoreceu a socializao e a comunicao entre eles. Mesmo os comentrios adversos s frases sugeridas pelos colegas eram em tom jocoso, sem a hostilidade costumeira. A partir desse dia as leituras coletivas foram prazerosas, acompanhadas de comentrios voluntrios, troca de idias, apresentao de experincias similares s
34
dos textos. Os sentidos escondidos nas histrias vieram tona, as obras se mostraram abertas, propiciaram o excesso, ou seja, suscitaram mais pensamentos do que os contidos nelas. E, gradativamente, a fala falada foi cedendo lugar fala falante. A expresso aconteceu. Entretanto, ciente de que a fala apenas um modo a mais de o sujeito expressar-se, de que existe a espontaneidade ensinante do corpo passvel de enriquecer-se com a experincia do outro, sugeri, em outro encontro, aps a leitura da histria O aguilho do rei 6, a construo coletiva de uma maquete, o que seria um passo a mais no processo de socializao da turma. A narrativa, uma adaptao de Mowgli, o menino-lobo, versa sobre as runas de uma cidade abandonada na selva, cujo tesouro encontra-se protegido por uma naja branca. Ao presentear Mowgli com um aguilho de elefante confeccionado com pedras preciosas, a naja adverte-o de que tal instrumento significa dor para os animais e morte para os homens. Percebendo, pela ponta afiada, o potencial de machucar seus amigos elefantes, Mowgli joga o aguilho na selva. O objeto torna-se alvo de disputa entre os homens causando inmeras mortes, at, por fim, retornar, s mos de Mowgli, para seu esconderijo inicial, a salvo da cobia humana. Levei para a classe as gravuras necessrias montagem do cenrio com a descrio pormenorizada das paredes em runas do poro do palcio abandonado, do tesouro, da trilha na selva, das personagens e dos adereos, um pedao de isopor que serviria de base ao cenrio, alguns bichinhos de plstico, retalhos coloridos, agulha e linha, bijuterias e cola. Entretanto, a maior parte da maquete foi confeccionada pelos alunos com material oriundo do ptio da escola. Assim, utilizouse barro e gua para moldar as personagens, gravetos, flores e folhas verdes para o fundo, e muita imaginao e criatividade aliadas com cartolinas e lpis coloridos. A turma, voluntariamente, dividiu-se em duas equipes, por conta de interesses comuns. Nesse dia foram alocadas duas horas-aula de Portugus e duas horas-aula de Educao Artstica, ou seja, passamos toda a manh entre o ptio e a sala de aula, entre risos e labuta prazerosa. Foi despertado o coleguismo, encorajada a criatividade e respeitada a individualidade. A leitura adquiriu um novo sabor, posto
6
A narrativa, bem como os recursos necessrios para a elaborao da maquete, encontram-se no livro Tcnicas de contar histrias, de Vnia D Angelo Dohme, nas pginas 63 a 66 e 114 a 125, editado pela Informal em 2000.
35
que ganhou vida. Partindo do contexto cultural dos alunos, das suas vivncias, das suas formas distintas de expressar a individuao, a maquete no era mais da histria, mas deles, sua interpretao do mundo. A fim de valorizar os trabalhos da classe de acelerao, a Orientadora Educacional solicitou que as maquetes fossem expostas de sala em sala e a histria contada por representantes das duas equipes. Aconteceu um desabrochar: a fala falada da histria transformou-se em fala falante. Os alunos surpreenderam, pois as palavras, acompanhadas de gestos espontneos, propiciaram a expresso. As narraes, assim como a elaborao das maquetes se valeram do descentramento, da intercorporeidade e da intersubjetividade do trabalho realizado em conjunto. O revezamento das vozes, a gestualidade dos corpos e a ebulio das emoes transformaram o que seria uma simples leitura em uma leitura teraputica, posto que a mesma proporcionou bem-estar a todos os envolvidos. O sucesso da experincia foi um convite para se tentar algo mais arrojado: uma dramatizao. Sugeri a montagem de uma pea teatral e voluntrios se ofereceram para dela participar. A escolha incidiu no texto O mgico de Oz7, com sete personagens: Dorothy, fada, bruxa, espantalho, homem de lata, leo e Mgico de Oz. A fala maior cabia ao Mgico de Oz, protagonizado pelo aluno com mais dificuldade de leitura e timidez, que fez questo de desempenhar tal papel como forma de superar seus bloqueios cognitivos e emocionais; os demais papis foram desempenhados por mocinhas. Para a preparao da pea as leituras coletivas foram suspensas e substitudas pelos ensaios com os sete participantes. Esses momentos foram valiosos para melhorar comportamentos socialmente indesejveis, abolir ressentimentos e favorecer a interao dos alunos envolvidos com a dramatizao. Os alunos encarnaram as personagens com seriedade e responsabilidade, estudaram o texto com afinco e ajudaram-se mutuamente, chegando mesmo a reunir-se fora da escola para aperfeioar a atuao. Confeccionei os adereos da maneira mais econmica possvel: o chapu da fada era um funil de cartolina cor-de-rosa, com um tule na ponta; o homem de lata ganhou uma roupa cinza e uma lata amarrada na cabea; o leo e o Mgico receberam mscaras correspondentes; de cartolinas coloridas foram feitos o diploma
Retirado do livro Tcnicas de contar histrias, de Vnia DAngelo Dohme, p. 77a 84 e p. 145 a 158, editado pela Informal em 2000.
7
36
de Doutor em Pensamentologia para espantalho, a medalha de 1. Lugar em Coragem para leo e o Corao para o homem de lata. Os alunos participantes contriburam com as vestimentas mais apropriadas ao papel: o mgico vestiu-se de preto; a fada, de um vestido cor-de-rosa; Dorothy, de azul e branco; o espantalho usou um chapu de palha e um colete que imita retalhos; o homem de lata trajou cala jeans com tnica cinza e o leo, uma camiseta amarela. Todos auxiliaram a montar os cenrios com cartolinas: o cenrio 1, a apresentao, quando se abrem as cortinas at quando a ventania tira Dorothy de cena; o cenrio 2, o caminho dos tijolos amarelos, utilizado entre a cena em que aparece a fada at a cena em que o leo encontrado e todos saem de cena; o cenrio 3, o caminho dos tijolos amarelos avistando-se o castelo, utilizado entre a cena em que Dorothy avista o castelo at a cena em que o leo abre passagem aos urros; o cenrio 4, interior do castelo, utilizado entre a cena em que o Mgico aparece de mscara at o final. Ensaios concludos, procedeu-se apresentao no ptio da Escola, para todas as turmas, professores e funcionrios assistirem, a pedido da Orientadora Educacional. E ento, a gratificao com o trabalho realizado: os alunos surpreenderam, seja pela performance, seja pela preocupao com a integridade do texto, seja pela tranqilidade com que agiram em cena. Foi possvel observar que, como afirmara Merleau-Ponty, o corpo coisa que sente, comportamento; a corporeidade fundamental para a co-percepo e a percepo do mundo circundante; a inteno significativa no prescinde de um corpo; a palavra gesto significativo; a leitura um ato corporal; a espontaneidade de nossa insero corporal no mundo da percepo desempenha papel fundamental na produo artstica. A apresentao da pea foi benfazeja de vrias maneiras: os alunos da classe de acelerao sentiam-se valorizados perante as demais turmas, os alunos que contracenaram tiveram a auto-estima aumentada, o Diretor e a Orientadora Educacional ficaram satisfeitos com a mudana comportamental da classe de acelerao, toda a Escola usufruiu momentos estticos. Faltam palavras que exprimam o que senti, posso apenas afirmar que foi uma sensao muito boa, a sensao que tem uma me ao ver seus filhos despertarem para o belo, apreciarem a leitura e aprenderem a conviver em harmonia. Como foi teraputico o espetculo teatral!
37
Tendo em vista que um elo havia sido criado com os alunos, resolvi, de outubro a dezembro, realizar as atividades de biblioterapia de forma a contemplar a leitura de textos com um aluno de cada vez, em sala alocada e cedida gentilmente pela Escola para esse fim. Abriu-se, assim, a oportunidade para, por meio das leituras e dos comentrios posteriores a ela, fortalecer o lao de amizade e afeto criado no decorrer do ano entre aplicadora do Programa de Leitura Teraputica e alunos. Vrios livros de gneros literrios diversos foram expostos sobre a mesa em cada sesso de leitura, e o aluno selecionava o que mais lhe chamasse a ateno. A leitura, ento, era efetuada pelo discente, se o mesmo se sentisse vontade, ou por mim, caso ele se sentisse constrangido. Aps a leitura, a conversa informal. Mostrou-se ser a ocasio ideal para abrir os coraes, expor os anseios, partilhar a dor, para a intercorporeidade, a intersubjetividade e o descentramento. Dependendo do aluno, de seu envolvimento com a leitura e do dilogo posterior a ela, cada sesso tinha durao diferenciada, mas, em mdia, levava-se trinta minutos entre ler e trocar idias. Respeitados o contexto cultural dos sujeitos, a individuao e a experincia do outro, as significaes inferidas nas leituras somaram-se s significaes que j faziam parte de suas vivncias e, assim, pela fala, pelo corpo e pelas expresses emocionais, foi notrio o valor teraputico das leituras efetuadas, manifestado nas demonstraes de apreo que aconteceram em forma de depoimentos verbais ou escritos em um caderno reservado para essa finalidade, e em forma de abraos carinhosos. Um caso, em especial, chamou minha ateno: foi o de uma jovem que, aps a leitura individualizada confidenciou-me que, at o momento, no tivera amigas, mas agora sentia-se reconfortada por poder desabafar as angstias com algum de confiana, com uma pessoa que realmente se importava com ela. Essa experincia de leituras propiciou dar vazo ao impensado em MerleauPonty: jamais o filsofo mencionou a biblioterapia. Sua teoria da linguagem de que a fala, sendo gesto expressivo, tanto pode criar (fala falante) quando repetir um pensamento j falado (fala falada); h nela espontaneidade ensinante que faz dela um fenmeno de campo (totalidade dos eventos possveis) eminentemente subjetivo. Ora, a linguagem uma caracterstica humana, por meio dela o ser humano estabelece objetivos comuns e expressa seus anseios. Uma das prioridades humanas manter a sade: visto que o ser humano no aceita a
38
doena, busca sempre um tratamento para ela. Em um tratamento tradicional, o primeiro contato com o mdico se d pela fala. Poderia o mesmo suceder em um tratamento alternativo e despretensioso como a biblioterapia? Poderia a fala, na leitura, narrao ou dramatizao, agir como uma teraputica? A descrio das diferentes estratgias biblioteraputicas mostrou que, se bem empregada, a fala pode curar, a linguagem tem o poder de ao de uma terapia, boa, barata e indolor. No prximo captulo detalharei o significado de terapia, indispensvel para a perfeita compreenso do alcance da biblioterapia.
39
3 LINGUAGEM E TERAPIA
O corpo, o imaginal, o desejo, o outro estamos na presena de um quatrnio para o qual os Terapeutas no tempo de Flon de Alexandria dirigiam a sua ateno e os seus cuidados. (Jean-Yves Leloup)
O ser humano uma totalidade. De acordo com o conceito leibnitziano, o homem uma mnada, ou seja, indivisvel se dividido, perderia suas caractersticas de homem. Isso significa que qualquer parte do corpo que for afetada afetar as demais. Isso significa, tambm, a impossibilidade de separar o homem fsico do homem psicolgico, pois so, na verdade, apenas um. Tal afirmativa implica no separar corpo e alma, pois o homem no tem uma alma, ele uma alma. Alma, n-fesh (em hebraico) e psy-kh (em grego), recebeu interpretaes diferentes dos filsofos. Por exemplo, para Anaxmenes e Digenes de Apolnia, a alma ar; para os pitagricos, a alma harmonia; para Herclito, fogo; para Demcrito, se compe de tomos redondos que penetram no corpo e o movem; para Plato, a causa da vida; para Aristteles, substncia do corpo, a entelechia, a potncia do corpo; para Epicuro, os esticos e Tertuliano, considerada um sopro; para Plotino, o movimento de introspeco; para Descartes, uma realidade que se vale do cogito; para Spinosa, a idia de um corpo singular; para Leibniz a alma uma mnada, sem partes e indecomponvel; Kant reduz a alma conscincia e dessa forma que os filsofos modernos a consideram (ABBAGNANO, 2003, p. 2733, grifo do autor). No cabe aqui detalhar o que pensava cada um deles a respeito da alma, pois isso acarretaria a escrita de um trabalho investigativo parte deste. Cabe, isso sim, explicitar o que se considera alma no texto em tela, pois essa compreenso necessria para entender a terapia por meio da leitura, ou seja, a biblioterapia. Alm disso, torna-se necessrio estabelecer a diferena entre sade e doena, esclarecer o que se entende por terapia, oferecer algumas informaes
40
sobre os terapeutas antigos em paralelo aos atuais, descrever o cuidado na atuao dos aplicadores de biblioterapia e, acima de tudo, mostrar que pela especialmente pela linguagem, mas tambm pela intercorporeidade e pelo descentramento que acontece a terapia.
3.1 O binmio sade/doena
Na presente tese, considera-se alma a totalidade de nossa experincia vivente, aquilo que faz dela algo prprio, o prprio campo de possibilidades que se abre como horizonte em torno de nossos gestos e, ento, percebe-se a alma como material, tangvel e visvel, mas tambm como horizonte de inatualidade que faz nossa materialidade, nossa tangebilidade e nossa visibilidade valerem como dimenses finitas. Assim, a alma no se configura como uma parte do homem, mas o homem inteiro um ser vivente, consciente, um ser que respira, um ser de emoes e desejos e, portanto, consagrado a um tempo que j se foi ou a um tempo por vir. Esse tempo para o homem mesmo uma fora, ou hormao (hormnio), um excitamento, aquilo que o faz ir mais alm de seus atos e inserir-se no mundo da vida, entendido como um campo de inatualidades que se doa a cada instante nossa ao e ao nosso pensar. Nesse sentido, concordo com Merleau-Ponty (1991, p. 158) que no admite a distino entre a alma e o corpo, pois concebe o sujeito como alma, ao afirmar: somos nossa alma. Muito embora os animais tambm sejam almas, pois so criaturas viventes que respiram e tm sangue, o homem um animal diferenciado, pois possui qualidades morais e consciente de sua finitude. Ou, como diria Gadamer (2006, p. 67), o ser humano no um animal inteligente, mas um ser humano. Visto que o ser humano o ser que tem a fala como expressou Gadamer (2006, p. 64), pode-se dizer que a linguagem uma caracterstica eminentemente humana; por meio dela o ser humano estabelece objetivos comuns e expressa seus anseios e necessidades. Uma das inquietaes humanas manter ou restabelecer a sade.
41
Como destaca Gadamer (2006, p. 8, 20, 21) a preocupao com a prpria sade um fenmeno primordial do ser humano e nenhum outro ser vivo refaz seu prprio meio ambiente em um mundo cultural como o ser humano e, ainda: o ser humano caracterizado por se comportar em relao a seu prprio corpo e [...] por poder transcender de modo desejante e atuante a formao natural de sua vitalidade. Destarte, a educao uma experincia humana; o homem se educa para enfrentar a vida e a morte. Na luta para manter ou restabelecer a sade, o homem vale-se tanto das experincias cientficas quanto de suas prprias experincias e as experincias do outro alia, portanto, objetividade com intersubjetividade. Assim que media saberes mdicos com saberes leigos. Gadamer (2006, p. 27) elogia o socilogo americano Freidson por este ter destacado que a cincia mdica pura como tal no competente para a prtica aplicao de seus conhecimentos e isso porque nessa aplicao contam outras coisas bem diferentes, como representaes de valores, hbitos, preferncias e at mesmo interesses prprios; afirma, ainda, que o socilogo considera autoritria a atitude do mdico que tenta impor seus saberes sem levar em considerao o direito do doente (considerado leigo) de contestar o juzo do mdico o que causa tenso na relao paciente/mdico. Ao delinear um paralelo entre o ofcio do mdico e o ofcio do arteso, Gadamer (2006, p. 29, 41, 42) explicita que o ltimo realiza um produto, sua obra demonstrvel; o primeiro, ao contrrio, conquanto se preocupe com a sade do paciente, ela no propriamente feita pelo mdico, e faz parte, antes, da essncia da arte de curar que sua capacidade de produo seja uma capacidade de restabelecimento, pois o que produzido pela cincia mdica no um ergon, algo novo que surge no ser e comprova o ser-capaz-de-fazer, mas sim o restabelecimento da sade do doente, e no possvel ser evidenciado se ele resultado do sucesso do saber e do ser-capaz-de-fazer mdico, e, dessa forma, fica aberta a pergunta at que ponto um sucesso de cura se deve ao tratamento especializado do mdico e at que ponto a prpria natureza contribui para tal sucesso. Essa argio focaliza, de um lado, a medicina como uma arte e no como uma tcnica, pois o produto a sade restabelecida no obra prpria do mdico, mas sim um produto do paciente; por outro lado, aponta a natureza como
42
colaboradora no processo de recuperao da sade. Dessa feita, saber mdico e natureza contribuem para que a perturbao desaparea, conduzindo ao estado de equilbrio natural. De fato, por considerar a sade como um estado de equilbrio natural, Gadamer (2006, p. 45) v toda a interveno mdica como uma tentativa de restabelecimento de um equilbrio perturbado. Ora, a arte mdica no produz esse equilbrio, no constri uma nova situao de equilbrio, mas fortalece os fatores formadores do equilbrio. Assim, a medicina, seja pelo profissional competente, seja pelo uso de medicamentos, age como um coadjuvante no processo de restabelecimento do equilbrio oscilante, pois o ator principal o corpo do doente. o corpo (natureza) quem ditar as normas acatar ou no a interveno mdica. Cabe, aqui, mostrar a passagem do Fedro de Plato, de que Gadamer (2006, p. 48, 49, 50) se vale, e apresentar, em seguida, sua argumentao a esse respeito:
E ento Scrates pergunta ao seu jovem amigo, deslumbrado pela retrica: Acreditas que se possa entender a natureza da alma, sem entender a natureza do todo?, ao que o jovem responde: Se acreditarmos em Hipcrates, o asclepitano, sem esse processo no se pode sequer entender alguma coisa sobre o corpo. [...] Scrates no admite qualquer observao isolada dos sintomas e exige, exatamente com isso, a verdadeira cincia, ultrapassando, assim, aquilo que a cincia mdica moderna reconhece como seu fundamento metodolgico. A natureza do todo, da qual se trata aqui, no apenas o todo unificado do organismo. Da medicina grega dispomos de um rico material ilustrativo de como clima e estao do ano, temperatura, gua e alimentao, em suma, como todos os fatores climticos e ambientais contribuem para a concreta constituio do ser, de cuja recuperao se trata. [...] A medicina comparada com a verdadeira retrica, a qual deve permitir que os discursos corretos, na forma correta, atuem sobre a alma. [...] Nessa medida, o paralelo entre a arte do discurso e arte de curar tambm correto no sentido de que a situao do corpo passa a integrar a situao do ser humano como um todo. [...] Doena, perda de equilbrio, no significa apenas um fato mdico-biolgico, mas tambm um processo histrico de vida e um processo social.
Essas palavras implicam conceber a doena como uma experincia do doente e, para compreend-la, deve a cincia mdica ver essa perturbao no como um acontecimento isolado, mas dentro de um contexto cultural, social e histrico. Somente com esse enfoque holstico: homem total, homem como ser-nomundo, pode o mdico ajudar na restaurao do equilbrio perdido, participar no
43
balano da vida. Se o mdico tiver a humildade de reconhecer que ele constata a doena, mas o doente a vivencia, sua interveno perder o carter de cientificidade objetiva e ganhar, a seu turno, um carter mais humano, ou, em outras palavras, levar em conta as emoes do paciente, que, justamente por se encontrarem em desequilbrio, esto oscilando. Nesse encontro mdico/ paciente, a intercorporeidade desempenha papel fundamental. a presena fsica do mdico que permite a instaurao da relao de confiana necessria ao tratamento. E pela linguagem, pela retrica, pela fala do mdico, o doente se tranqiliza. Portanto, apenas medicamentos no so suficientes para que se recupere o equilbrio perdido. O corpo e a fala do mdico se fazem necessrios no delicado processo de restabelecimento da sade o dilogo se configura como pea-chave na ao mdica. De acordo com Gadamer (2006, p. 80), o ser total o ser so visto que o ser integral do todo e o ser sadio da pessoa s, a sua sade, parecem estar estreitamento ligados; tanto assim que quando estamos doentes, tambm dizemos que algo nos falta. Isso que nos falta Gadamer (2006, p. 83) chama de harmonia, e toma de emprstimo a fala de Herclito: a harmonia que no aparece mais forte que a que aparece. Explicita Gadamer (2006, p. 121):
Pensa-se logo no efeito de satisfao ligado harmonia na msica, no desenlace feliz de enredos sonoros ou na sbita realizao de uma experincia mental. Mas a frase somente se torna bem evidente quando se pensa na harmonia dos humores, como a antiga medicina o designava. Pois a harmonia da sade comprova seu verdadeiro vigor ao no aturdir ningum como acontece com a dor lancinante ou a loucura paralisante da embriaguez, as quais evidenciam e produzem, na realidade, perturbao.
Isso significa que, muito embora a doena, a perturbao, seja percebida com mais facilidade (pois o perigoso, o que ameaa nosso bem-estar), a sade mais forte do que a doena, pois conta com um valioso aliado: a natureza. Tanto assim que o sistema orgnico de nosso corpo, sem alarde, movimenta-se para preservar ou restaurar o equilbrio. Colaboram nessa luta da natureza a ajuda do outro e a auto-ajuda esta ltima na forma sublime do esquecimento. Lembra Gadamer (2006, p. 94-95): os enigmas da doena atestam o grande milagre da sade, o de
44
todos vivermos e o de sermos novamente presenteados com a felicidade do esquecimento, com a felicidade do bem-estar e da leveza da vida. Gadamer (2006, p.118) esclarece que a sade no , de maneira alguma, um sentir-se, mas estar-a, estar-no-mundo, estar-com-pessoas, sentir-se ativa e prazerosamente satisfeito com as prprias tarefas da vida. Essa definio me parece satisfatria e a aceito como vlida. Aceito tambm o pensamento de Capalbo (2004, p. 57-58) que afirma: viver conviver, ou seja, no possuir to-somente clulas vivas, ter um organismo biolgico, estruturas neurofisiolgicas e qumicas em funcionamento, pois na vivncia humana h outros elementos tais como o relacionamento interpessoal, o compartilhamento de idias, de emoes e sentimentos, isso que Husserl chamara de vida espiritual. Por que concordo com a definio de sade fornecida por Gadamer e a definio de viver dada por Capalbo? Porque, como apontado na introduo da presente tese, parto da fenomenologia de Merleau-Ponty, que se centrou no outro como meu semelhante, no homem situado, no homem concreto que divide seu tempo e espao com o outro. Sendo assim, o homem no estaria completo sem o outro. Isso implica dizer que o ser-so o ser que convive com o outro, pois sozinho ele estaria doente, ou seja, algo lhe faltaria. Capalbo (2004, p. 54-55) destaca que o outro abordado na fenomenologia existencial de Merleau- Ponty no como um objeto externo, mas como outrem, ou seja, um outro eu que um ser pessoal e, assim, por meio de meu corpo prprio, com sua sensibilidade e mobilidade, que apreendo o outro eu no horizonte de seu mundo, primordial, e continua: por meio do corpo prprio como poder, como um eu posso, que eu ajo no mundo de uma certa maneira, adquirindo hbitos e modos de meu ser; inferindo que s ento ser possvel entender a constituio do mundo comum, do mundo partilhado com os outros, do mundo histrico-social da intersubjetividade em ao, mas esclarece que somente a apercepo do outro no suficiente, faz-se necessrio compreend-lo e isso requer a palavra, ou seja, o campo de abertura de um horizonte de compreenso e interpretao pela mediao da linguagem. Portanto, para viver preciso do outro, da sua presena fsica e da sua fala. O corpo e a fala do outro me asseguram que no estou sozinho no mundo da vida, me garantem que tenho parceiros na luta diria contra as intempries, as ideologias, as
45
epidemias, enfim, os males que acometem a humanidade. H aqui, entretanto, um paradoxo: conquanto eu necessite do outro e ele de mim, muitas vezes esse fato esquecido e o outro se assume no mais como amigo, mas sim como inimigo e o mesmo fao eu. Existe, ento, uma relao interpessoal originria, fundante que se d sob a forma da amizade, raiz de toda comunidade e sociedade e que no entanto, Merleau-Ponty no deixa de mostrar que ela pode se dar sob a forma no fundante da no amizade que se apresenta como a agressividade, o dio ou outros elementos destrutivos de carter conflitante na relao interpessoal. (CAPALBO, 2004, p. 56). Visto que o convvio entre eu e o outro admite a relao no-fundante, h que se fortalecer a relao fundante. Para isso colaboram a linguagem, o comportamento e a afetividade. Se no pretendo me isolar, mas, ao contrrio, viver em sociedade, necessrio no apenas constatar a presena do outro, mas viver com a presena do outro. Isso implica dividir meu campo fenomenal, me descentrar, permitir a proliferao da intersubjetividade, aceitar o outro na minha vida. Assim, tudo o que fazemos, exprimimos e vivenciamos em funo do outro, porque o outro nos observa, est atento a tudo o que nos acontece, parte ativa do espetculo da vida. Tal assertiva vale para a sade e a doena. Merleau-Ponty (1999, p. 581) j atentara para o fato de que quando nos pensamos doentes, sempre em comparao ao outro ou pelo olhar do outro, quando temos de ns mesmos uma viso estatstica e objetiva, e argumenta: freqentemente nos espantamos de que o enfermo ou o doente possam suportarse; isso se d porque para si mesmos eles no so enfermos ou moribundos, pois at o momento do coma, o moribundo habitado por uma conscincia e a conscincia nunca pode objetivar-se em conscincia-de-doente ou conscincia-deenfermo. Como no aceitamos a doena, queremos, a todo custo, ser saudveis, continuar fazendo parte da vida, participar com o outro nas atividades que nos do prazer, enfim, exercer o direito de ser no mundo, de estar-a; assim que buscamos sempre um tratamento para a falta de sade. Cumpre, assim, explicitar o que entendo por tratamento ou terapia.
46
3.2 Terapia e terapeutas
Entendo por terapia a arte de cuidar do ser, respaldando-me no conceito de holon (o todo) com capacidade regenerante, no benefcio do esquecimento e na participao do outro. No , ento, uma cura, no sentido restritivo da palavra, mas no sentido alargado de busca do equilbrio e da harmonia do ser total, uma preocupao com o bem estar do ser humano. Tal afirmativa encontra eco nas palavras de Ouaknin (1996, p. 12, 13, grifo do autor), para quem terapia tem essencialmente um sentido curativo, ou seja, uma medicina preventiva, na qual o mdico tem sobretudo o papel de educador e de professor que ensina os outros como cuidar de si mesmos, como cuidar do ser e o primeiro sentido da palavra terapeuta [...] : aquele que cuida, de onde o sentido de servo e adorador de um deus, aquele que cuida de alguma coisa, do corpo, etc. e de onde vem o sentido de aquele que cuida dos doentes, o mdico. Citando Flon de Alexandria, Ouaknin (1996, p.13, grifo do autor) revela que o projeto dos filsofos terapeutas no sculo I era cuidar do psiquismo,
Vtima dessas doenas terrveis e difceis de curar que so o apego ao prazer, a desorientao do desejo, a tristeza, as fobias, as invejas, a ignorncia, o desajuste em relao ao que existe e a multido infinita das outras patologias [pathon] e sofrimentos.
Quem foram estes filsofos terapeutas? Quem era Flon? Entre o lago Mareotis e o mar Mediterrneo, em Alexandria, no Egito, no primeiro sculo de nossa era vivia um grupo de judeus que se chamavam Terapeutas, visto que pela orao, pelo dilogo ou, simplesmente por escutar o outro, cuidavam da sade do prximo. Assim, utilizavam a palavra (na fala ou audio) como um instrumento de tratamento das doenas. Um estudo profundo do texto de Flon sobre os Terapeutas realizado por Leloup (1996) que aponta Alexandria como o encontro das civilizaes ocidental e oriental, ou seja, entre as culturas grega e judaica, lugar de sincretismos grecojudaicos; Flon, cuja data de nascimento pode ser, quando muito, precisada entre 20
47
d. C. e 10 a.C., era judeu, filsofo, embaixador no tempo de Calgula, pertencente a famlia de grandes posses e com envolvimento na poltica. A situao de Flon, portanto, era ambgua. Embora filsofo judeu, como diplomata circulava entre os polticos da poca e, assim, conciliaria suas crenas religiosas com os interesses do governo. At que ponto o contexto histrico e cultural influenciou no apenas Flon, mas tambm os Terapeutas de Alexandria? No seria o comportamento extremo dos Terapeutas idealizado por Flon? Cabe lembrar que esse perodo (chamado helenstico), era o da decadncia dos deuses gregos e dos valores ticos, permeado por lutas externas e internas, predomnio da Macednia e, depois, de Roma, sobre a Grcia, ocupao do espao poltico por estrangeiros. Nessa situao, a busca pela salvao e felicidade pautava-se na imperturbabilidade e no isolamento da realidade. A comunidade dos Terapeutas, conforme apresentada por Flon em Leloup (1996) era composta por filsofos, homens e mulheres adeptos da vida contemplativa, cujo projeto era realizar uma medicina superior, posto que a contempornea a eles preocupava-se apenas com o corpo, ao passo que sua inteno era cuidar, alm do corpo, do psiquismo abalado por enfermidades e, por isso mesmo, por sofrimentos que teriam de ser atenuados para se chegar sade. Tais Terapeutas seriam adoradores do Ser, do Criador de todas as coisas e seres, abominando os dolos de madeira e pedra dos gregos e os deuses dos egpcios, prendendo-se vida espiritual em detrimento vida material. Tanto assim que se despojavam de seus bens ainda em vida, legando-os a parentes e amigos. Viviam frugalmente, em casas singelas, morando em lugares afastados que garantiam tanto a solido e o silncio necessrios meditao e orao, quanto a segurana e o ar puro proporcionados pelas colinas do lago Mareotis; vestiam-se de tnicas simples que protegiam o corpo do frio ou calor e alimentavam-se de gua fresca e po salgado. Alm das oraes individuais, realizavam assemblias nas quais ancios tomavam a palavra tendo como critrio de hierarquia no o tempo de vida, mas o tempo devotado comunidade; nessas ocasies, filosofavam, oravam, cantavam hinos e partilhavam da refeio em conjunto, homens de um lado, mulheres de outro. O autodomnio, a ausncia de orgulho, a alegria serena, a sensatez e a virtude faziam parte de seu modo de vida, considerado feliz uma vez que era pautado na amizade com Deus e no respeito natureza. Hermeneutas,
48
interpretavam as Escrituras, os sonhos, os acontecimentos e as enfermidades. Acreditavam que cabia a eles cuidar, mas natureza, curar. Esticos, demonstravam atitude serena diante das adversidades, da decadncia moral e espiritual da poca, e buscavam, na filosofia, uma sada para a crise existencial e poltica, um conforto, enfim, para suportar a dor e o mal. Levar uma vida de virtude significava seguir a natureza e assim, para atingir o alvo mais elevado, qual seja, a felicidade, o ser humano devia usar seu raciocnio para entender as leis que governam o universo e harmonizar-se com elas. As virtudes eram consideradas o bem absoluto, posto que negativas: apatia e indiferena universal obtidas pela libertao de toda perturbao. Destarte, as paixes, os sentimentos, os desejos e os prazeres deveriam ser eliminados, pois atuariam como fatores perturbadores da serenidade, entendida na filosofia estica como um bem necessrio virtude. Consideravam que, assim como os animais so guiados pelo instinto, os seres humanos so guiados pela razo, cabendo Razo divina reger o mundo de forma perfeita, de maneira que a razo humana apenas coordenaria as aes necessrias obteno da virtude. Conquanto Leloup (1996) considere com certa reserva o texto de Flon sobre os Terapeutas, acreditando que grande parte foi idealizada pelo tempo e pela saudade do primeiro aps visita aos ltimos, assegura-nos que sua leitura proveitosa, pois se no corresponde realidade, pelo menos fornece um indicativo do que Flon considerava uma vida ideal de sabedoria, contemplao e cura. Ao analisar detalhadamente o texto grego no que tange s doenas da psique, Leloup (1996, grifo do autor) esclarece: o apego ao prazer era considerado uma ameaa ao equilbrio, harmonia da pessoa, posto que, sendo temporrio, o prazer agiria como fonte de infelicidades, expectativas no cumpridas, escravido aos sentidos; a desorientao do desejo teria efeito malfico visto que o nico desejo bom o desejo de voltar-se para o Ser, para o On e, assim, o desejo s realidades cotidianas e seculares deveria ser cuidado, depurado, reorientado para Deus; a tristeza, tida como oposto da alegria e, por conseqncia, como oposto da sade, envolvia o afastamento da pessoa ao Ser e, para ser corrigida, urgia faz-la voltar a Deus; as fobias, medos especficos em circunstncias particulares, esgotavam o fbico que necessitava de algum, no caso, o Terapeuta, para escutar e matizar suas angstias e seus medos; as invejas seriam cuidadas com amor, pela aceitao do outro na sua individualidade, abolindo o cime doentio e a cupidez
49
malfazeja; a ignorncia, ou seja, a falta de sabedoria, o desconhecimento do Ser, ocasionaria a injustia que produz danos sade mental. Assim, esses primeiros terapeutas, conquanto tivessem uma idia bem diferente do que hoje consideramos doenas da psique e fossem dotados de grande religiosidade, se valiam da palavra para cuidar das patologias. Filosofando, dialogando, interpretando, orando, cantando a linguagem estava presente no seu ofcio. Isso significa que, na cura, terapia e doente intermediavam a fala. Mas a linguagem era mediada pelo corpo. A juno dos corpos e a juno das vozes propiciavam um exerccio de transcendncia em que o outro era visto, ouvido, tocado, e, portanto, cuidado. Destaco que na poca de Flon a psique era entendida misticamente; o termo terapia (therapia) significava o cuidado religioso e o termo terapeutas (thrapeuticos) significava aquele que presta cuidados a um deus ou a um mestre; diferenciava-se de medicina (iatrik) e de mdico anatomista (iatrs), de sorte que nada tinha a ver com kliniks, ou seja, mdico que assiste ao leito. Terapeuta tinha, ento, o sentido de servir, render culto, orar pela sade do outro, tratar, cuidar. O cuidado envolvia o corpo (mudana de roupa e de alimentao); o imaginal coletivo (os valores como o Belo, o Verdadeiro e o Bom); o desejo (reorientao das pulses); o outro (diminuindo seu sofrimento pela orao). Pela palavra e vida contemplativa o terapeuta cuidava de si e do outro, sempre voltado ao Ser, Causa Primeira, Realidade Absoluta, para quem as demais realidades so relativas. Tais esticos, com uma viso de sade pautada nas dimenses corporal (soma), psquica (psy-kh), racional (nous) e espiritual (pneuma), consideravam o ser humano uma totalidade e, assim, a sade plena s seria obtida se articuladas e cuidadas todas as dimenses. Acreditavam que para atingir a felicidade o ser humano deveria, com o uso a razo, entender as leis que regem o universo; mostravam-se indiferentes dor e ao prazer, cabendo natureza e ao destino governar os assuntos e, aos homens, se conformar com as adversidades. Outra corrente filosfica da poca helenista, os epicuristas, salientavam o prazer como fonte de felicidade, e, para consegui-la, o ser humano necessitava de liberdade e amizade, alm de tempo para meditar. A ausncia de dor e de aflies como a fome e o aborrecimento garantiam o prazer, o principal bem da vida. Esse prazer, entretanto, deveria ser exercido com moderao, pois, se excessivo, produziria sofrimento, e, assim, o prazer deveria ser buscado com prudncia,
50
sabedoria e reflexo. No se confunde com o prazer hedonista de licenciosidade, posto que, muito embora Epicuro tenha valorizado as sensaes, considerando que todo prazer basicamente um prazer corpreo, preocupou-se tambm com os prazeres esttico e intelectual. Conquanto o conhecimento, segundo os epicuristas, seja emprico, pois a origem do conhecimento reduzida experincia sensvel e o ser humano vivencia a dor em um corpo sensvel, podemos, pela liberdade, escapar da dor presente por meio de lembranas de prazeres passados ou pela expectativa de prazeres futuros, ou, dito de outra maneira, o prazer pode advir de recordaes e de esperanas. Ser feliz independentemente das circunstncias exigia autodomnio, to necessrio frente crise poltica da poca helenista. Isso explica a procura do que bom para a vida do indivduo, do bem individual em detrimento do bem coletivo da extinta plis grega. A filosofia epicurista era prtica: no se devia violar a lei porque a punio ocasionaria a perda do prazer; a virtude s teria valor como meio de obter felicidade; a reciprocidade compensava; as amizades resultavam em prazer. Alm disso, tinha o mrito de libertar o homem dos temores da morte, das supersties e dos deuses. Como, para os epicuristas, os deuses habitavam em mundos diferentes dos homens, os primeiros no nutriam pelos ltimos preocupao alguma e, assim, os deuses no precisavam ser temidos; como os homens e, consequentemente, a alma, so compostos de tomos, perecem, ficando excludo, dessa maneira, o medo do alm tmulo, comum a muitos gregos. Sendo materialistas, davam nfase ao atomismo, ou seja, concebiam todos os elementos da realidade (coisas, homens, deuses) como corpsculos indivisveis tomos e entendiam o livre-arbtrio a partir do desvio (clinamen) dos tomos em seus percursos. Lembram Mller-Granzotto e Mller-Granzotto (2007, p. 21, 22, grifo dos autores):
Clinamen o que vem romper, no plano da fsica, com a idia de pura necessidade, estendendo direito de cidadania contingncia. Mas os epicuristas no se limitavam a empregar o termo clinamen ao campo da fsica. Esta noo tambm mereceu um uso tico (no sentido de thos, com eta). Se tudo o que h formado de tomos, inclusive o homem, e se todo tomo est sujeito a um desvio, a
51
noo de clinamen explica em que sentido podemos reconhecer a liberdade humana, a espontaneidade da alma, a autonomia da vontade. [...] De onde se segue enfim, que com a noo de clinamen, o epicurismo designa a espontaneidade que habita os diversos estratos de combinao atmica que constituem a existncia, desde as ligaes fsicas mais simples s condutas humanas mais complexas.
Os Autores enfatizam a diferena no uso do termo tico grafado como thos com a letra inicial eta, do grafado como thos com a letra inicial pisilon. O primeiro diz respeito morada, abrigo, refgio, lugar onde o ser abandona suas defesas e pode acolher o outro; o segundo significa obedincia a uma regra ou a um padro de comportamento exigido pela sociedade (MLLER-GRANZOTTO; MLLERGRANZOTTO, 2007). Pode-se dizer, ento, que a espontaneidade ou clinamen, tem a ver com a caracterstica humana de, por vontade prpria e no pelas leis reguladoras da sociedade, cuidar de si e do outro. Isso implicaria conceber a doena no apenas como competncia de um kliniks, ou seja, algum que administre seu saber frmaco ao doente restrito ao leito, mas tambm como uma experincia individual em que contam a liberdade humana, a amizade e a meditao na busca de um novo modo de vida, prazeroso, pacfico e bom que conduziria felicidade e, consequentemente, sade. Removendo o sofrimento, satisfazendo as necessidades, fortalecendo os laos de amizade, exercendo a liberdade, defendendo a experimentao de sensaes na formao do conhecimento, a filosofia epicurista influenciou significativamente a medicina romana do sculo I. Mesmo partidrios de doutrinas filosficas opostas que trilhavam caminhos diferentes, esticos e epicuristas visavam o bem e a sade do indivduo. Tinham alguns pontos em comum: atingir a felicidade, eliminar a perturbao, transformar o contexto cultural, social e histrico em propcio ao bem-estar do ser humano, cultuar a natureza como propiciadora da cura e considerar o corpo como ator principal no processo da cura, seja ele a juno de foras fsicas, psquicas, racionais e espirituais, seja ele formado por tomos. De toda maneira, intercorporeidade e linguagem faziam parte do seu dia-a-dia. Mesmo sendo comunidades restritas, o isolamento no era total, posto que, como confrarias, intercambiavam organismos biolgicos e relacionamentos interpessoais. De fato, no se sentiam completos sozinhos, precisavam da presena do outro, e, ento, no descentramento e na
52
intersubjetividade fortaleciam o equilbrio necessrio sade. Religiosos ou materialistas, indiferentes dor ou agindo para acabar com ela, buscavam, nada mais nada menos, do que a felicidade e, com ela, a sade. Se a Filosofia o uso do saber em proveito do homem, pode-se consider-la como o uso do saber para a conservao da sade. Para os esticos, a filosofia consistia no esforo em alcanar a virtude, pois somente por meio dela era possvel o bem-viver; para os epicuristas, a vida boa dependia da atividade prazerosa; os dois sistemas filosficos compartilhavam, todavia, a preocupao com o equilbrio como fundamental sade. Na atualidade, existem tambm diversas filosofias que pregam a moderao, a eliminao dos excessos, e buscam na natureza os remdios para os males fsicos e psquicos. So as chamadas terapias alternativas, algumas com fundo mstico, outras no, e os terapeutas modernos visam o bem-estar do ser total e a otimizao da qualidade de vida assim como faziam os terapeutas antigos e os epicuristas. Posto que utilizam tcnicas naturais, tais terapias de abordagem holstica no so consideradas cincia. Assim que esta ltima tem ocupado seu lugar de direito no cuidado com o ser. A esse respeito Carvalho (2004, p. 82) explicita: cuidar envolve atos humanos no processo de assistir a pessoa, dotado de sentimento e fundamentado em conhecimento e, ainda, cuidar envolve relacionamento interpessoal que originado no sentimento de ajuda e de confiana, de empatia mtua e desenvolvese com base em valores humansticos e em conhecimento tcnico-cientfico. Conquanto a Autora estivesse versando sobre a arte de cuidar no enfrentamento da morte e tenha destacado a necessidade de preparar o profissional da sade para um cuidar sensvel do doente terminal, tal conceito de cuidado estende-se para doentes com possibilidades de recuperao, haja vista que o tratamento humanizado resgata a dignidade da pessoa e produz um sentimento de bem-estar. H que se destacar, na citao, a necessidade de conhecimento, que, para a cincia, o domnio de tcnicas especficas pelas quais o profissional desempenha de maneira cabal seu ofcio. Isto significa dizer que, para tratar o doente, mister algum cuja posse de conhecimento seja reconhecida pela sociedade, cuja profisso seja regulamentada por Lei. De fato, no tocante cura efetiva de uma doena fsica ou psquica necessria a presena de saberes tericos consolidados pela experincia.
53
Entretanto, lembra Josgrilberg (2004, p. 35): a cincia concebida desde os incios da poca moderna coisificou a subjetividade e a vida e, portanto, o cuidado deixou de ser uma categoria essencialmente existencial e passou a ser uma categoria de preocupaes em torno de problemas que devem ser solucionados com alguma estratgia ou algum recurso tecnolgico; dessa feita, esqueceu-se a dimenso do cuidado como a existncia voltada para a existncia de forma que o cuidado tornou-se algo objetivvel em toda a sua extenso de tal modo que a subjetividade assim apenas um acidente. Ora, se terapia for considerada uma prestao de servio cuja preocupao o cuidado com o ser, outras formas de conhecimento so igualmente vlidas: a sensao, a percepo, a imaginao, a memria, a linguagem, o raciocnio e a intuio intelectual. Tais modalidades de conhecimento permitem que qualquer pessoa, dotada de sensibilidade, pleno gozo de suas faculdades mentais e boa vontade, arvore-se em ouvinte atento, sempre disposto a ouvir os problemas alheios, a conversar sobre eles, fornecendo, assim, a certeza de que no estamos sozinhos no mundo da vida. Escutar, falar, tocar trs aes que, se voltadas para o cuidado com o ser, so teraputicas. Se a doena a perda do equilbrio e no se configura apenas como um fato mdico e biolgico, mas tambm como um processo social; se o ser humano no est completo sem o outro; se viver conviver, ou seja, implica o compartilhamento de idias, emoes e sentimentos, ento, na biblioterapia, pela linguagem, pelo comportamento e pela afetividade, presta-se, de fato, um servio ao outro. preciso, entretanto, frisar que a biblioterapia, conquanto seja rotulada como uma terapia alternativa, nada tem do misticismo dos antigos Terapeutas de Alexandria, do conceito negativo de prazer dos epicuristas ou do esoterismo de algumas terapias holsticas modernas. No e nunca se pretendeu estica, epicurista, ou esotrica. Mas vale-se da crena de que a atividade teraputica tem efeito emancipador (ou catrtico) na vida das pessoas que a ela se submetem. A biblioterapia aposta nas propriedades da atividade de fico para promover essa emancipao e, para tanto, aos conhecimentos cientficos adquiridos na universidade alicerados em teorias biblioteconmicas, literrias, filosficas e da psicologia, alia outras formas de conhecimento. Pelos sentidos (viso, audio, tato, olfato, paladar) o ser humano tem a capacidade de sentir, compreender e apreciar o outro; pela percepo (reunio de
54
vrios sentidos atuando em conjunto), interage com outro, com as coisas. De acordo com a fenomenologia, no h como separar sensao de percepo posto que as sensaes no agem de forma parcial como se necessitassem da conscincia para organiz-las, mas os sentidos so dotados de significao desde que os mesmos se configurem como formas, ou seja, como totalidades estruturadas e, assim, percebemos pelo corpo, temos uma vivncia corporal que permite a experincia de objetos e pessoas no mundo da vida. A biblioterapia vale-se dos sentidos e, por conseqncia, da percepo, para cuidar do outro, prestar um servio ao outro, visto que a intercorporeidade , reconhecidamente, teraputica. Um olhar afetuoso, um ouvido atento, um toque carinhoso, cheiros e sabores partilhados eis alguns dos instrumentos utilizados pelos aplicadores da biblioterapia. Com a imaginao (entendida como um ato deliberado da conscincia), trafega-se entre o real e o imaginrio sempre com uma inteno. No caso da biblioterapia, intenta-se trazer o ficcional, que se reveste de grandes atrativos, para a realidade cotidiana inspida. Essa transposio permite vivenciar situaes por vezes impossveis na vida real, mas desejadas consciente ou inconscientemente. Ao estimular a imaginao do outro, o aplicador da biblioterapia presta, deveras, um servio, uma vez que proporciona a vivncia, ao menos momentnea, de emoes que causam prazer, que produzem bem-estar. Junto com a imaginao, a memria (aqui destacada a dimenso individual e introspectiva da percepo), permite ao passado adentrar no presente. Se boas reminiscncias produzem alegria e alegria produz sade, na biblioterapia explora-se a memria como recurso altamente teraputico. Por meio da linguagem, do dilogo, manifestamos nossas sensaes ao outro. A fala tanto pode expressar amor quanto dio; pode curar e pode ferir. Na biblioterapia existe a preocupao em utilizar a fala de modo a visar o bem e o bom. Sabedores da fora da linguagem, os aplicadores da biblioterapia se valem de conversas informais que deixam o pblico-alvo vontade para expressar sentimentos, desejos e lembranas, e da linguagem encantatria dos textos ficcionais que produzem fruio. Consideram a linguagem (que tambm pode ser entendida como narrativa), fonte de prazer e meio por excelncia de cuidar do outro. A faculdade de pensar logicamente, de formular idias, de pensamento introspectivo, de teorizar e abstrair conceitos e o uso de metodologias no pode faltar no rol de atributos indispensveis aos aplicadores de biblioterapia. Assim que
55
buscam intermediar o conhecimento cientfico com os outros tipos de conhecimentos citados, sempre com a inteno de tratar o outro. Tambm, partindo do princpio que a conscincia no pode conhecer tudo, recorrem, por meio de leituras, psicanlise freudiana no objetivo de cuidar do ser total. Os Terapeutas de Alexandria se isolavam e levavam uma vida asctica. No o caso dos aplicadores da biblioterapia. Oriundos de camadas sociais, credos e ideologias diferentes, vivem em sociedade, gostam do conforto, do bom, do agradvel e do belo. Tambm, diferentes dos primeiros, no aceitam a doena e no vem as paixes com desconfiana, posto que entendem a doena como inimigo a ser vencido, as paixes como o tempero da vida e consideram que as emoes devem ser estimuladas e a apatia e a indiferena, eliminadas. Alm disso, no pretendem dominar os sentidos acreditando que os mesmos, ao gerar o prazer, causam a alienao do ser humano, como pensavam os Terapeutas de Alexandria; ao contrrio, advogam o prazer como partcipe da alegria e esta como fonte da sade. Entretanto, assim como os antigos Terapeutas, os aplicadores da biblioterapia nutrem o respeito ao comportamento religioso e ao papel da religiosidade na cura das doenas; entendem que a tristeza faz mal sade, que os medos esgotam a pessoa a qual necessita de ouvidos atentos, fala amiga e toque carinhoso; aceitam o outro sem fazer julgamento de valor e abominam a injustia, ou seja, pela linguagem (seja ela verbal ou corporal), manifestam sua preocupao ao outro. No que diz respeito aos epicuristas, pode-se dizer que, ao viverem isolados do mundo vulgar, com refinamento; ao considerarem o prazer de forma negativa, ou seja, ausncia de sofrimento, quietude, insensibilidade, sono, morte; ao pregarem a vigilncia contra as surpresas irracionais do sentimento, da emoo e das paixes, diferenciam-se sobremaneira dos aplicadores da biblioterapia que procuram desenvolver as atividades em lugares onde o vulgo prevalece, pois entendem que a escassez de recursos (mdicos, psicolgicos, afetivos) dessa populao torna necessria sua atuao; alm disso, nas atividades biblioteraputicas explora-se o prazer e as paixes de forma positiva, como algo bom a ser sentido e partilhado por todo o grupo. Mas assim como nos epicuristas, no se trata de ceder s teses da atitude natural (como diriam os fenomenologistas) e, sim, de resgatar aquilo que, por vezes, as teses encobrem, a saber, a liberdade criativa presente na fico e sua fora
56
transformadora no cotidiano de todos ns. Como para os epicuristas, para os aplicadores da biblioterapia a noo de liberdade, de livre-arbtrio muito forte: tanto assim que a participao nas leituras, narraes, dramatizaes, dilogos, danas, jogos, brincadeiras sempre voluntria. Tambm, como nos primeiros, nestes ltimos destaca-se a importncia da amizade, do conhecimento baseado nas sensaes, do potencial curativo das boas lembranas e expectativas agradveis e no prazer como fonte de felicidade. Resumindo: a biblioterapia no se encontra, de maneira alguma, filiada doutrina estica ou doutrina epicurista; contudo, expressa o cuidado com o ser total e credita valor aos ensinamentos do cotidiano. Fica a pergunta, no entanto: estariam os aplicadores da biblioterapia aptos para desempenhar o papel de cuidadores (no sentido de prestar um servio cuja preocupao o bem-estar do ser na sua totalidade)? Na qualidade de psiclogo, Silva (2005) questiona a legitimidade de bibliotecrios atuarem como agentes aplicadores da biblioterapia, porque segundo ele, os mesmos no dispem do conhecimento e da capacitao necessrios para intervir nos fenmenos psicolgicos; reconhece, no entanto, que das fontes documentais sobre biblioterapia no Brasil, no perodo compreendido entre 1975 e 2004, 70% so de autoria de bibliotecrios ligados a instituies de ensino superior, seja em trabalhos de concluso de Curso de Graduao, seja em dissertaes de Mestrado de Cursos de Ps-Graduao, seja em relatos de extenso universitria de pesquisadores-docentes da rea de conhecimento Biblioteconomia. Cumpre, aqui, resgatar as palavras de Sunderland (2005, p. 12)8 , dirigidas aos leitores sem treinamento profissional para ajudar crianas a trabalhar sentimentos problemticos:
Muito aconselhamento excelente, informal e no profissional acontece no bar, no porto de casa, no playgrond da escola. Se os poucos terapeutas profissionais fossem as nicas pessoas com autorizao para ouvir os sentimentos [das crianas], haveria muito mais sofrimento e solido neste mundo. No entanto, um pouco de cautela vital. A manifestao emocional, em qualquer nvel, tem de ser tratada com o mximo respeito.
Margot Sunderland fundadora e diretora do Centro de Sade Mental Infantil, sediado em Londres, e chefe do Departamento de Crianas e Jovens da Associao de Aconselhamento Teraputico do Reino Unido.
57
mister lembrar que os aplicadores da biblioterapia no podem ser considerados leitores sem treinamento algum. De fato, antes de se envolverem nesta atividade, adquirem conhecimento especfico na Disciplina Biblioterapia, optativa da grade curricular do Curso de Biblioteconomia, do Departamento de Cincia da Informao, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ministrada a partir do primeiro semestre de 2003, com duas horas/aula semanais e trinta e seis horas/aula semestrais, seu contedo programtico contempla uma parte terica e uma parte prtica. Na teoria, estudam: o conceito, o histrico, o fundamento filosfico, os objetivos, as metodologias e as aplicaes da biblioterapia. Na prtica: organizam um projeto de atividades biblioteraputicas que executam em instituio previamente selecionada. Para avaliao da Disciplina, elaboram um Relatrio Final e relatam as atividades em sala de aula. Durante todo o perodo em que cursam a Disciplina, realizam leituras de textos das reas de Biblioteconomia, Literatura, Filosofia e Psicologia. Assim, os aplicadores tm uma viso transdisciplinar da terapia por meio da linguagem e, em especial, por meio da leitura. Isso significa dizer que quando lem, contam ou dramatizam uma histria para um pblico-alvo, com alguma inteno, porque se importam com o outro, porque pretendem, com a leitura, apaziguar as emoes do outro. Como visto, a biblioterapia tem, implcita, a inteno de ouvir o outro e de falar com ele, ou seja, incentiva o dilogo; de fato, essa sua essncia. O bibliotecrio que pretende desenvolver atividades de biblioterapia deve, antes de tudo, nutrir interesse pelo aspecto humano da profisso, esquecendo-se, nesses momentos, dos servios tcnicos para os quais tambm se preparou na Graduao. indispensvel demonstrar empatia, interesse e preocupao com o bem-estar do outro, saber escutar os problemas alheios e ser flexvel no programa de atividades que planejou a fim de contemplar os gostos de todos os envolvidos no programa. Estabilidade emocional, boa sade fsica, bom carter, domnio de textos literrios e embasamento terico so pr-requisitos para o aplicador da biblioterapia, que em momento algum se intitula terapeuta. Lembra Witter (2004, p.181) que muito embora os psicanalistas e fenomenologistas tenham se interessado pelas possibilidades clnicas da biblioterapia, as tcnicas educacionais de que se valem os aplicadores da biblioterapia de desenvolvimento, por meio de um trabalho sistemtico de leituras, voltam-se para o desenvolvimento do ser em aspectos os mais variados que vo do
58
conhecimento de si mesmo ao desenvolvimento de competncias e habilidades especficas tais como cidadania, cognio, memria, afetividade. Destarte, os aplicadores das atividades de biblioterapia deixam ao cargo dos psicanalistas o modelo mdico com suas tcnicas psicoterpicas e utilizam o cuidado com enfoque educacional dando nfase no desenvolvimento do ser total valendo-se da leitura como fonte de prazer em creches, escolas, orfanatos, asilos, presdios e hospitais, entre outros espaos institucionais. Cumpre, ento, mostrar a diferena entre patologia psquica e cuidado, a fim de estabelecer a competncia a quem de direito. De acordo com Roudinesco e Plon (1998, p. 616-617) o termo psicopatologia foi utilizado, no fim do sculo XIX, pela medicina, psicologia, psiquiatria e psicanlise, para designar os sofrimentos da alma e, em termos mais amplos, os distrbios do psiquismo humano, a partir de uma distino ou de um deslizamento dinmico entre o normal e o patolgico, varivel conforme as pocas. Se medicina a cincia que tem por objeto a conservao e o restabelecimento da sade (mediante tecnologia farmacolgica), se psicologia a cincia que trata dos fenmenos psquicos (atos ou fatos que dependem da personalidade do sujeito e s podem ser atingidos pela conscincia dela mesma), se psiquiatria a cincia que trata das psicoses (loucuras divididas em esquizofrenia, parania e psicose-depressiva), se psicanlise um mtodo de tratamento de certas doenas mentais, de interpretao de sintomas (terapia da fala e da escuta por meio da conversao), a patologia psquica est relacionada cincia que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenas da psique. A patologia sempre um desejo de uma normalidade, medida por um padro. J o cuidado pode ser entendido como o acolhimento do ser, o acolhimento daquilo que se manifesta nas relaes sem julgamento do que normal. Segundo Hasse (2004, p. 42), enquanto a arte da Biblioterapia tem uma abordagem no diretiva na soluo de pequenos problemas pessoais, a cincia trata das patologias, ou seja, focaliza o tratamento daqueles que sofrem de problemas de ajustamento, emocionais ou mentais mais srios e devem estar sob a direo de um profissional da sade. No seu estudo, Hasse (2004) enfoca a biblioterapia clnica como cincia coadjuvante na medicina psicoterpica, cujo facilitador ou terapeuta (profissional da rea mdica) utiliza uma abordagem psicolgica para, aps um diagnstico clnico,
59
planejamento e conhecimento mdicos, selecionar leituras como instrumentos teraputicos, quer dizer, o analista intervm de maneira diretiva fazendo interpretaes ao paciente. No o caso dos aplicadores da biblioterapia que, longe de se arvorarem em terapeutas, deixam ao cargo do leitor, do ouvinte, ou do espectador, a interpretao de textos literrios de acordo com as emoes, a necessidade ou o interesse individuais do pblico-alvo. E aqui est a questo fundamental. A biblioterapia, como as terapias no psquicas (como a ludoterapia, arteterapia, danaterapia, por exemplo) e a brincadeira9, limita-se a mobilizar a criatividade dos leitores de modo a favorecer o surgimento de emoes e a produo ficcional a partir dessas emoes. No se trata de analisar estruturas ou hipteses psquicas que estejam envolvidas ou possam explicar a produo ou o surgimento daquelas emoes. Nesse sentido, a biblioterapia no concorre com as psicoterapias, pois tm finalidades diversas. A biblioterapia fundamentalmente catrtica, no necessariamente produz um saber de si; as psicoterapias so analticas, destinam-se construo de um discurso sobre si (da parte dos analisados). Esclarecido esse ponto, chamo a ateno para o fato de os aplicadores da biblioterapia recorrerem s leituras, no entanto, no apenas como um exerccio de entretenimento e comunicao, mas acima de tudo, como um exerccio teraputico. A narrao e a dramatizao de histrias, filmes, vdeos, msica, jogos e brincadeiras fazem parte, tambm, das sesses de biblioterapia, pois o ludismo que acompanha o texto literrio tem ao teraputica. Cumpre lembrar que antes de ser integrada ao currculo como disciplina optativa do Curso de Biblioteconomia, o contedo terico e a aplicao da biblioterapia foram aprovados pelo Colegiado em Reunio do Departamento de Cincia da Informao da Universidade Federal de Santa Catarina para ser ministrados na forma de Curso de Biblioterapia. Com carga horria de 4 h/a semanais e 80 h/a semestrais, s quartas-feiras, das oito horas e vinte minutos s onze horas e cinqenta minutos, professora e acadmicos reuniam-se no
Destaco, aqui, Brinquedoteca Hospitalar: projeto de recreao em enfermaria peditrica, coordenado pela Professora Lecila Duarte Barbosa Oliveira, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, desde agosto de 2006. Segundo a Professora, a brincadeira estimula a criatividade e constitui-se em estado de sade, imprescindvel na vida de qualquer pessoa, criana ou adulto e oferece oportunidades de descobertas, aprendizagens, desenvolvimento da criatividade, sociabilidade, da ateno e expresso. (OLIVEIRA, 2008, p. 2).
9
60
Laboratrio de Tratamento da Informao no Centro de Cincias da Educao. Inicialmente previsto para ser executado no perodo compreendido entre quinze de agosto a quinze de dezembro de 2001, devido greve dos docentes e funcionrios da Universidade Federal de Santa Catarina, foi interrompido em 2001 e retomado em janeiro de 2002. Registro, a seguir, alguns trabalhos de alunos e professora do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina em atividades de biblioterapia, como extenso universitria da professora e prtica biblioteraputica dos acadmicos. O primeiro deles, fruto do Curso de Biblioterapia, foi desenvolvido em agosto de 2001 e de maro a maio de 2002, na ala peditrica do Hospital Universitrio. Na ocasio, a ala peditrica contava com vinte e oito leitos, sendo doze para lactentes, doze para pr-escolares e doze para escolares, crianas de ambos os sexos com 30 dias a quatorze anos de vida, tempo mdio de internao de sete a dez dias, com direito a acompanhante; alm disso, dispunha de cinco leitos para crianas em observao por vinte e quatro horas. Utilizou-se, como metodologia, a leitura em grupo, leitura individual para crianas restritas ao leito, contao, dramatizao de histrias, e recursos ldicos tais como msica, gravuras em cartolinas ou em isopor, figuras fixadas em palitos, dedoches, desenhos, mscaras, bales coloridos, bonecos, e bichinhos de pelcia. Os textos literrios selecionados possuam forte apelo esttico, depurados de excesso dramtico, configurando-se como histrias de enredo curto, sendo algumas humorsticas e outras narrativas leves e agradveis, tendo sido contemplados os contos de fadas, contos de animais e contos modernos (CALDIN, 2002). Ressalto que antes do incio das atividades biblioteraputicas, professora e acadmicos assistiram palestra proferida pela psicloga da Diviso Peditrica apontando as dificuldades que encontraramos: a baixa condio scio-econmica das famlias, o que implicava a internao, na maioria das vezes, por falta de higiene no lar (lembro o caso de um beb com risco de cegueira, visto a me ter colocado o bero debaixo da gaiola de passarinho); alguns casos graves que talvez nos deixassem desconfortveis (destaco o caso de uma menina em idade escolar com a face deformada, exalando um cheiro ftido, praticamente cega, em quarto de isolamento, e o de um menino em idade pr-escolar com malformao congnita nas mos e nos ps com feridas pelo corpo todo em virtude de pele extremamente
61
fina e sensvel ao toque); o estado emocional abalado tanto das crianas quanto dos acompanhantes (saudade de casa, angstia, tdio, irritao e, sobretudo, tristeza); o medo que as crianas maiores sentiam por pessoas vestidas de roupas brancas (o que sinalizava medicamentos, injees, tubos, dor). O desenvolvimento da biblioterapia em ambiente hospitalar foi um desafio aos aplicadores, no apenas pelo convvio com crianas portadoras de diversas doenas, mas tambm pela rotatividade dos pacientes e pela diferena de faixa etria, pois nem sempre a histria selecionada era a adequada para a sesso do dia. Tornava-se necessrio, ento, preparar antecipadamente mais de uma histria para atingir os objetivos propostos: ajudar as crianas a superar o medo, a angstia, a tristeza, o desalento e a ansiedade que acompanham a doena; proporcionar momentos de fruio esttica comunidade infantil; diminuir o estresse dos acompanhantes. Durante os meses da atividade no hospital buscou-se parceria com a psicloga da ala infantil, pois se entendeu que o envolvimento das duas reas distintas, mas afins, como Biblioteconomia e Psicologia, proporcionaria a todos os envolvidos no processo o aprimoramento do esprito de equipe necessrio execuo das sesses, bem como conduziria a uma melhor avaliao da leitura como procedimento teraputico. Constatou-se que a leitura, contao ou dramatizao de textos literrios infantis tiveram efeito teraputico, pois humanizaram o processo de tratamento de crianas hospitalizadas. Constatou-se, tambm, a importncia do riso e da msica nas atividades como recursos altamente teraputicos. A sesso de biblioterapia que mais agradou as crianas foi executada por um acadmico que efetuou a narrao da histria O flautista de Hamelin10 ao mesmo tempo em que tocava flauta; o encantamento foi geral: dos pequenos pacientes, dos acompanhantes e das enfermeiras. A equipe preocupou-se sempre em apresentar o ldico como aliado ao teraputico e verificou que seus esforos no foram em vo, pois as crianas aguardavam com ansiedade a hora da histria, o que se configura como um indicativo do quanto o ficcional, quando no pende para o didatismo, pode atenuar a dor e proporcionar momentos felizes. O cuidado dos aplicadores da biblioterapia com o pblico-alvo, em forma de aconchego, acolhimento, carinho, amizade, afeto, permitiu no apenas proporcionar alegria e conforto aos pequenos, mas tambm contribuiu no processo de
10
A histria faz parte do livro 365 Histrias da Vovozinha, editado pela Girassol Brasil, c Girassol Portugal.
62
socializao, no estmulo imaginao e criatividade. A passagem da apatia vivacidade nas crianas pelas leituras, contao, dramatizao e brincadeiras, foi salutar. Torna-se necessrio ressaltar outros cuidados dos aplicadores ao longo do trabalho: no demonstrar, em momento algum, compaixo, repulsa ou medo de contgio; usar roupas coloridas; respeitar as restries alimentares das crianas jamais levando doces ou balas (e isso era bastante difcil haja vista que muitas crianas internadas em virtude de desnutrio solicitavam constantemente tais itens); policiar-se no tocante aos seus prprios sentimentos de desnimo frente aos problemas enfrentados no decorrer das atividades. Em 2004, acadmicos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina, matriculados na Disciplina Biblioterapia, desenvolveram atividades de leitura com propsito teraputico em vrias instituies e com pblicoalvo de diversas faixas etrias. Foram, ao todo, executados oito projetos: cinco deles direcionados a crianas, um a jovens e adultos, e dois a idosos. Como metodologias ao pblico infantil (meninos e meninas de creches e escolas, com idade entre quatro e doze anos) foram utilizadas a leitura, a contao de histrias e filme de desenho animado, complementados por msica, dana, brincadeiras, bales coloridos, desenhos e bichos de pelcia. O projeto executado aos jovens e adultos (dependentes qumicos do sexo masculino com idade entre dezesseis e sessenta anos), valeu-se de textos motivacionais e exibio de um filme que apresentava a histria verdica de um homem sem mos que dirigia seu prprio negcio e provia o sustento da famlia (com o intuito de despertar nos internos da instituio de reabilitao a fora para vencer obstculos e dificuldades). Nos projetos aos idosos (sendo um em asilo de cunho assistencial com dez internos e vinte internas, e, outro, em clnica particular, com trs homens e doze mulheres, ambos acomodando pessoas de sessenta a noventa e cinco anos), os objetivos foram de promover, por meio da biblioterapia, lazer, bem-estar, alvio das tenses dos idosos e amenizao da carncia afetiva. Alm da leitura, encenou-se pea teatral, organizou-se jogos, brincadeiras e danas. No caso da instituio particular, houve acompanhamento da recreadora e da gerontloga da Instituio no desenrolar das atividades, e, para surpresa dos aplicadores, conquanto os internos apresentassem deficincias decorrentes de patologias tais como Parkinson, Alzheimer e Arteriosclerose, quando uma componente do grupo declamou poesias de Olavo Bilac, alguns se lembraram de partes delas e aplaudiram com entusiasmo; cumpre lembrar que so pessoas de
63
nvel alto de escolaridade, provindas de famlias privilegiadas scio-economicamente (CALDIN, 2005). O cuidado foi demonstrado de diversas maneiras: nos projetos direcionados s crianas, preocupou-se em proporcionar o riso, a catarse, a identificao com as personagens ficcionais, a socializao, desenvolver a imaginao, diminuir a timidez, verbalizar sentimentos incmodos, e, para ajudar os pequenos a entenderem melhor suas limitaes, reaes, conflitos, frustraes, abordou-se temas como o medo do desconhecido, o preconceito, o companheirismo, o afeto, a coragem, as exigncias maternas; nos projetos direcionados aos jovens e adultos, a preocupao incidiu sobre a auto-estima e a introspeco necessrias mudana comportamental; nos projetos direcionados aos idosos, evitou-se temas nostlgicos que induzissem ao choro, e tambm cuidou-se em desenvolver atividades de curta durao para evitar exausto do pblico-alvo, visto a idade avanada dos mesmos. Em 2005 foi desenvolvido um estudo exploratrio, em forma de estudo de caso, da aplicabilidade da biblioterapia. Foram realizados treze encontros com um grupo de vinte e duas crianas de ambos os sexos com idade mdia de quatro anos, matriculadas em perodo integral em creche pblica. A pesquisadora, formanda do Curso de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, executou as atividades biblioteraputicas sob a superviso de uma professora do Curso de Biblioteconomia de sua Universidade e de uma professora do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina. A acadmica valeu-se de atividades diversificadas, ora realizando a leitura de textos literrios, ora contando histrias, ora dramatizando. Beneficiada com um dom natural de espontaneidade e expressividade, a mesma transformou as sesses de biblioterapia em exerccio teraputico: explorou o imaginrio e o ldico, desenvolveu a sociabilidade, e, pelo contato fsico e afetivo, proporcionou momentos salutares onde imperava a descontrao, a alegria e o bem-estar (LUCAS; CALDIN; SILVA, 2006). Antes da preparao das atividades, por meio de conversa informal com as crianas, a acadmica preocupou-se em verificar o que elas mais gostavam nas histrias, e, de posse dessas informaes, planejou cada sesso de biblioterapia de forma a contemplar o interesse literrio e as necessidades estticas das mesmas. No primeiro encontro j cativou o pblico-alvo ao levar uma grande bolsa e informar que dentro dela havia um objeto mgico auxiliar da histria; ao ser retirado da bolsa tal objeto teria o poder de conceder vida histria; com essa estratgia de mistrio e
64
encantamento, despertou a ateno dos pequenos e o desenrolar das atividades deu-se de forma instigante, participativa, prazerosa. O mesmo recurso foi utilizado nos demais encontros: chapu de bobo da corte, narizes de palhaos, livro, espelho, estrelinhas e varinha de condo saltavam da bolsa para as mos das crianas, que, maravilhadas, se envolviam totalmente com a histria. Sabedora da carncia afetiva e cognitiva das crianas (que ficam na instituio desde as sete horas at as dezoito horas e trinta minutos), no poupou esforos no sentido de minimizar essa situao. Assim, demonstrou o cuidado ao longo de todo o trabalho, de, com dedicao e carinho, dar ateno individual s crianas (que a solicitavam em um canto da sala aps as atividades); proporcionar a intercorporeidade (com brincadeiras de beijos e abraos); vencer a timidez de algumas (incentivando o dilogo posterior leitura, contao ou dramatizao) e despertar o gosto pelo literrio. Cumpre ressaltar que em todos os trabalhos citados, a biblioterapia, conquanto se valesse sempre de um texto literrio, no prescindiu de ludismo. Dessa feita, aliou intercorporeidade e descentramento seja em exerccios configurados como brincadeiras, danas e jogos, seja no dilogo posterior histria. Tal dilogo se apresentou em forma de desenho (no caso de crianas), em forma de depoimentos (no caso de jovens e adultos) e em forma de uma conversa informal (no caso de idosos). Assim, cuidou-se em ouvir o outro, em escutar suas manifestaes de angstia e mostrar empatia, em zelar pelo seu bem-estar. Cumpre ressaltar, tambm, o uso freqente da msica nas atividades biblioteraputicas. Isso corrobora a idia grega de catarse, que agrega texto ficcional e msica para produzir o prazer. Em todas as atividades buscou-se, pela linguagem com inteno teraputica, interferir positivamente no comportamento, nos sentimentos e nas emoes do pblico-alvo. Cumpre, agora, retornar a Merleau-Ponty, ponto de partida para essa investigao. Ao contrrio do filsofo, epicurista, que rejeita a idia da causalidade, sem ser estica, defendo a idia de um Ser Supremo, Causador de todas as coisas. Sem mais restries ao pensamento merleau-pontyano, resgato suas palavras registradas no final do subtpico O binmio sade/doena, a respeito do doente que se v doente apenas pelo olhar do outro, quer dizer, temos sempre o olhar do outro em ns e esse olhar se manifesta de forma diferente na sade e na doena. Explicitando: quando nos deparamos com algum saudvel, podemos nos
65
dar ao luxo de ter um olho insensvel; entretanto, se a mesma pessoa doente, nosso olhar compassivo. Nas atividades de biblioterapia existe a preocupao em manter sempre o olhar cuidadoso, quer dizer, focado na pessoa como um todo, independente do estado de suas funes fsicas ou mentais, pois tanto a sade quanto a doena, alm de um processo psico-fsico, configura-se, tambm, como um processo social. Dessa feita, entendendo que doentes ou saudveis precisamos do outro (pois no estamos sozinhos no mundo da vida) e nos valemos da linguagem e da percepo do outro para entabular um dilogo que demonstre cuidado nas atividades biblioteraputicas, necessrio se torna detalhar a noo de intercorporeidade e de descentramento aventadas pelo filsofo e retomar, de passagem, sua teoria da linguagem, uma vez que a mesma j foi explicitada no captulo A teoria merleupontyana da linguagem e a biblioterapia.
3.3 O dilogo como terapia
A palavra, a percepo do outro, o dilogo e a totalidade do ser foram estudados exaustivamente por Merleau-Ponty. Valho-me de suas idias, entretanto, para apresentar algo que ele no pensou, mas me proporcionou pensar: a noo de cuidado com o outro, de prestao de servio ao outro, s possvel porque somos corpo e no apenas conscincia, pois, de acordo com Merleau-Ponty (2002, p. 178): sou tambm fala, quer dizer, a conscincia no teria o poder de se comunicar com o outro, preciso um corpo para tanto; por esse motivo ouso afirmar que o cuidado d-se pelo dilogo, pela intercorporeidade e pelo descentramento. Disse Merleau-Ponty (2002, p. 167): falemos portanto do dilogo e primeiro da relao silenciosa com o outro , se queremos compreender o poder mais prprio da fala. Qual seria a relao silenciosa com o outro? Para entender essa relao, tenho de ver o outro como um segundo eu, explica Merleau-Ponty (2002, p. 167-168, grifo do autor):
66
O corpo do outro est diante de mim mas, quanto a ele, leva uma singular existncia: entre mim que penso e esse corpo, ou melhor, junto a mim, ao meu lado, ele como uma rplica de mim mesmo, um duplo errante, ele antes freqenta meus arredores do que neles aparece [...]. O outro, a meus olhos, est portanto sempre margem do que vejo e ouo, est a meu lado ou atrs de mim, no est nesse lugar que meu olhar esmaga e esvazia de todo interior. Todo outro um outro eu mesmo.
Cumpre, aqui, fazer algumas ponderaes. A citao, por um lado, d a entender que o outro um ser fugidio, que no se apresenta de frente. O que teria ele a esconder? Por que o outro usa uma mscara? E eu? Por acaso no uso, como o outro, uma mscara? Tambm escondo meus erros do outro? Seria por isso, talvez, que no gosto de olhar o outro de frente com medo de ver em mim ou no outro algo que no aprecio ou at mesmo condeno? Por outro lado, a citao pressupe uma abertura de meu territrio ao outro, pois consinto que ele freqente meus arredores. Ora, dessa feita, o corpo do outro e meu corpo se entrelaam, se unem, se aproximam; eu no apenas permito, como possibilito e at incentivo a experincia do outro a transgresso intencional, na fala de Merleau-Ponty (1991, p.101). Isso compreensvel, pois se o outro est no corpo que no o meu, de uma maneira misteriosa ele faz parte do meu corpo. Ou seja, o outro est um pouco em mim e eu estou um pouco nele, mas nem por isso eu o prefiro a mim a ponto de sacrificar-me por ele. O outro existe junto a cada clula minha, mas no se restringe a ela, pois o outro est em todos os lugares para onde vou, o encontro. Ele no me persegue, assim como eu no o persigo. Simplesmente nos encontramos no Lebenswelt, como parceiros e como cmplices no espetculo da vida. Essa parceria e cumplicidade implicam aceitar que o outro habite em mim de forma genrica e que eu possa assumi-lo no meu corpo. Na verdade, preciso do outro, posto que s me conheo por causa do outro. Necessito do testemunho, da confirmao do outro. seu olhar, seu toque, sua fala que me atingem e me mostram que estou vivo. Por outro lado, preciso tomar cuidado para no esmag-lo com meu olhar; para enxergar o outro sem feri-lo, tenho que focar o nada somente assim o outro ter a chance de aparecer, de se mostrar para mim, qui sem a mscara. A, quem sabe, tambm eu criarei coragem de mostrar minha verdadeira face. Ou ser que a usamos por tanto tempo que ela
67
aderiu minha e pele do outro de tal forma que no conseguimos tir-la? Ou seria o caso de estarmos to acostumados a ver no espelho essa face que no verdadeiramente a minha e no verdadeiramente a do outro, mas o hbito, o comodismo, o conforto de permanecer escondido mais forte que o desejo de a desvelar, de, por fim, deixar aparecer toda a feira, crueza, tristeza, indignao, decepo essas marcas, esses sulcos que a fadiga da vida deixa entrever ao longo dos anos? De qualquer maneira, mesmo que mascarados eu me mostro ao outro e o outro se mostra para mim, com tanta intensidade e persistncia que minha individualidade e a individualidade do outro abdicam do singular e cedem lugar universalidade. Tal acontece justamente porque se d o acoplamento, ou seja, quando o outro entra no campo da minha percepo quer dizer, aceito o alter ego, concebo o outro na minha vida (HUSSERL, [19--], p. 144). Ao realizar as atividades de biblioterapia, entende-se que o outro no se apresenta de frente, quer dizer, ele no mostra sua verdadeira face, receia no ser amado pelo que , posto que tem defeitos e idiossincrasias. O cuidado se manifesta, ento, na preocupao em tranqilizar o outro, em mostrar que no se est fazendo julgamento de condutas nem impondo uma norma de comportamento. Isso fica perfeitamente claro para o pblico-alvo com as brincadeiras aps a leitura, contao ou dramatizao das histrias. A princpio um pouco perplexos (no caso das crianas acostumadas a cobranas pedaggicas ps-histrias), um pouco desconfortveis (no caso de adolescentes que receiam parecer infantis), um pouco tmidos (no caso de adultos e idosos cuja tenso diria prejudica a descontrao), todos, gradativamente, vo soltando as amarras que prendem e esmagam a espontaneidade. Isso vlido, tambm (e principalmente) para os aplicadores da biblioterapia. Muitas vezes necessrio fazer alguns ajustes no temperamento antes de enveredar nessa atividade: para os fleumticos o desafio muito grande. Somente estabelecendo um ambiente propcio ao relaxamento e descontrao, somente eliminando o acanhamento natural que tolhe os movimentos e impede o ldico de manifestar-se plenamente, pode-se dizer que as atividades de biblioterapia obtm sucesso no cuidado com o ser, pois em tal ambiente que eu me desarmo e o outro se desarma cada um de ns mostra sua verdadeira face. Quando isso acontece permitimos que o outro nos veja travesso, ridculo, ou desengonado, mas isso no tem importncia, pois o outro est se mostrando da
68
mesma forma para ns e tambm ele no se importa! O momento mgico aquele que no sei mais quando sou eu e quando o outro estamos to envolvidos um com o outro que como se fssemos a mesma pessoa, um s sujeito, uma s voz, um s corpo. Nesse instante, abdiquei de minha individualidade e permiti a coexistncia (assegurada pela universalidade do sentir), isto , consenti em repartir com o outro o prazer de estar vivo, de brincar, de rir, de cantar, de danar, enfim, de ser feliz. Mas, a co-existncia surge tambm pelas vias do desdobramento a que me proponho assumir para permitir que o outro tenha voz. No descentramento de meu corpo no corpo de outro produzo novas significaes, aceito o testemunho do outro, divido o mundo com o outro, acolho o outro em meu campo de percepo, proporciono uma universalidade de sentir, generalizo meu corpo no corpo de outro, pois,
nosso corpo -, tese subentendida por todas as nossas experincias, priva nossa existncia da densidade de um ato absoluto e nico, faz da corporeidade uma significao transfervel, torna possvel uma situao comum e, finalmente, a percepo de um outro ns mesmos, se no no absoluto de sua existncia efetiva, pelo menos no desenho geral que dele nos acessvel.(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 173).
O que seria, ento, o descentramento? Cumpre lembrar que o filsofo afirma que eu e o outro somos como dois crculos quase concntricos, e que se distinguem apenas por uma leve e misteriosa diferena. (MERLEAU-PONTY, 2002, p.168, grifo do autor). Ora, para entender o que Merleau-Ponty considerou como descentramento, necessrio, verificar o que ele considerou como crculo. Tudo indica que o crculo matemtico. Explicito: como figura plana, limitada por uma circunferncia e cujos pontos se encontram todos a igual distncia do centro, a comparao do eu e do outro com o crculo tem a ver com as constantes referncias do filsofo cincia matemtica. Nesse sentido, seramos dois crculos praticamente unidos pela interseco e separados pelo sutil deslocamento do centro. No seria, ento, um crculo vicioso, que se fecha em si mesmo, mas um crculo que se abre para infinitas trocas de centro, que se move em direo contrria
69
do centro: que se descentra. Isso significa que eu transito pelo crculo do outro e que o outro passeia pelo meu crculo. Isso implica em renovao e propagao de idias, e, conseqentemente, em comunicao, ou, como diria o filsofo de forma mais apropriada, em expresso. Existe, pois, uma invaso de mim sobre o outro e do outro sobre mim, pois, alm da fala, ou seja, do dilogo, existe uma relao silenciosa com o outro, ou seja, a percepo. Como se d essa invaso? D-se na medida em que o outro me tira do centro do palco da vida, pois h um eu que outro, que se encontra alhures e me destitui de minha posio central e no mais ntimo de mim que se produz a estranha articulao com o outro. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 167, 169, grifo do autor). Conquanto o outro no seja, de fato, eu mesmo, permito que ele seja um segundo espectador do mundo nascido de mim, pois a experincia do outro sempre a de uma rplica de mim, de uma rplica minha; o que o filsofo chama de estranha articulao com o outro, afirmando que o mistrio de um outro no seno o mistrio de mim mesmo. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 169). Como se d, na biblioterapia, essa relao silenciosa com o outro? Cuidando em no permitir que uma s pessoa seja o centro das atenes, certificando-se de que todos os envolvidos nas atividades possam se expressar livremente pela fala, pela gestualidade, pelo desenho, ou mesmo pelo silncio. Visto ser um exerccio de generosidade permitir que o outro possa expressar-se, necessrio abdicar de minha fala para aceitar a fala do outro. Entra em cena, ento, o papel de pacificadores dos aplicadores da biblioterapia: nem todos do pblico-alvo esto naturalmente dispostos a tal empreendimento, ainda mais no meio de brincadeiras e jogos, associados competio; assim, existe a preocupao em transformar as atividades ldicas em um ato coletivo, plural, descentrado. Isso no fcil, pois, para haver o descentramento, tenho de perceber o outro, ou, em outras palavras, tenho de admitir o corpo do outro, permitir que ele ocupe um lugar que poderia ser o meu, que realize uma atividade que poderia ser a minha, que experencie algo que eu poderia experenciar. Segundo Husserl ([19--]) o corpo, alm de ser o domnio da pertena, , ainda, o stio do transcendental, porque a pertena o no-estranho, o ego o eu; e meu eu, se for reduzido ao ego absoluto, puro, no permitir o contato com os outros ego. Isso incorreria aceitar o solipsismo, ou seja, acreditar que, alm de ns,
70
s existem nossas experincias. Dessa feita, o outro, o alter ego estaria eliminado de nossas vidas. H que se considerar, conforme a leitura que Merleau-Ponty faz de Husserl, que o outro real, existe de fato, uma alteridade com a qual precisamos conviver. O outro, assim como ns, possui um corpo que se faz presente no mundo da vida e se vale desse corpo para exprimir-se. Na biblioterapia, considera-se a fala corts, o olhar gentil, o toque carinhoso e o abrao amigo como altamente teraputicos para esse corpo sofrido que o nosso. Para Husserl (apud MERLEAU-PONTY, 1991, p. 184) o corpo coisa que sente, sujeito-objeto. Merleau-Ponty (1980, p. 89) concorda com esse pensamento husserliano pois afirma que:
um corpo humano a est quando, entre vidente e visvel, entre tateante e tocado, entre um olho e outro, entre a mo e a mo, faz-se uma espcie de recruzamento, quando se acende a centelha do senciente-sensvel, quando esse fogo que no mais cessar de arder pega, at que tal acidente do corpo desfaa aquilo que nenhum acidente teria bastado para fazer...
Assim, o corpo sensvel e senciente, visvel e vidente, imbricado no mundo, participante do espetculo da vida, pois, como disse Husserl (apud MERLEAUPONTY, 1991, p. 183): quando minha mo direita toca minha mo esquerda, sinto-a como uma coisa fsica, mas [...] eis que a mo esquerda tambm comear a sentir a mo direita. Isso possvel visto que o corpo fsico, como estrutura, conecta as partes entre si, pois as falanges da mo, os ossos metacrpicos, os ossos crpicos, o rdio, a ulna, o mero, a escpula, a clavcula possuem junes entre si e esta ltima interliga-se com a primeira vrtebra torcica que se liga stima vrtebra cervical e assim por diante, at os ossos zigomtico, frontal, occipital, parietal e temporal. Como sistema, o corpo no isola o esqueleto este se encontra imbricado com msculos e enervaes. Entretanto, nosso corpo no apenas a soma dos rgos, no funciona como uma mquina, e a organizao anatmica do nosso corpo no o mais importante. Muito embora Merleau-Ponty (1999, p. 562, 578) concorde que um gesto envolve todas as contraes musculares que so necessrias para realiz-lo, esclarece que
71
a cincia que nos habitua a considerar o corpo como uma reunio de partes. Afirma tambm que a cincia manipula as coisas e renuncia a habit-las. (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 85). Nosso corpo fenomenal envolve mais que msculos, ossos e rgos. Tampouco se configura como um instrumento do esprito. Menos ainda como escravo de hbitos. Nosso corpo fenomenal admite o homem como uma alma vivente um ser total. Aceitar a totalidade do ser implica abdicar de pensamentos filosficos j consolidados e correr o risco de receber crticas e contestaes. Mas essa a funo da filosofia indagar sempre. Por isso os filsofos discordam um do outro com a eterna pretenso de descobrir a verdade pois, acreditam, descobrindo-a, descobriro tambm a arte de bem viver. Destarte, a atitude filosfica admite mudana de paradigmas e permite investigaes contnuas. Permite, inclusive, conceber a percepo como acesso verdade. Portanto, na presente tese, quando falo em corpo fenomenal, no penso no orgnico e no psquico como partes avulsas que se completam na formao do ser humano. Penso no ser humano como um campo de generalidades, em que desnecessrio fazer a diferena do para si (psquico) e do em si (fisiolgico). Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 129, 143,147), o fisiolgico e o psquico esto ligados entre si de tal forma que eles no se distinguem mais como a ordem do em si e a ordem do para si, e de que ambos so orientados para um plo intencional ou para um mundo e, assim, meu corpo inteiro no para mim uma reunio de rgos justapostos no espao, existe um esquema corporal que exprime que meu corpo est no mundo. O que entendo por esquema corporal? Merleau-Ponty (1999, p.196) explicita: o que chamamos de esquema corporal esse sistema de equivalncias, esse invariante imediatamente dado pelo qual as diferentes tarefas motoras so instantaneamente transponveis. Dito de outra maneira: as diferentes partes de meu corpo no necessitam de algo exterior que coordene suas aes, elas possuem um sistema de equivalncias de modo a interagirem umas com as outras, o que torna o esquema corporal o campo de presena que me permite perceber o mundo, pois a teoria do esquema corporal implicitamente uma teoria da percepo. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 278).
72
A respeito das partes de nosso corpo que se encontram envolvidas de tal forma que no necessitem de um agente exterior que as coordene, lembra MllerGranzotto (2001, p. 29), Husserl chama de fundao, ou seja, um fenmeno central que caracterstico das partes que formam um todo em sentido rigoroso. Em outras palavras: o que Husserl considera fundao, Merleau-Ponty considera experincia. Os dois filsofos, conquanto apresentem divergncias sobre a primazia da conscincia ou do corpo na apreenso do mundo, concordam que, no tocante ao corpo, fundamental a questo da no-independncia dos seus rgos. Isso corrobora o pensamento de homem unificado e elimina o pensamento de homem fragmentado pela cincia, como se fosse um mosaico de partes que se encaixariam em um quebra-cabeas. Ao aceitar o ser como um todo, acredita-se que os elementos emocional, mental, espiritual e fsico de cada pessoa no podem ser separados, pois formam um sistema. Nesse sentido, a biblioterapia se configura como uma abordagem holstica, quer dizer, no necessita de uma viso especializada, mas de uma viso humana que se importe com a pessoa. Uma das maneiras de mostrar a preocupao com o outro o dilogo, pois isso indica que eu me importo com o que ele tem a dizer, eu abdico de meu tempo para ouvir suas opinies, fanfarrices, lamrias, enfim o que ele queira me comunicar porque precisa da minha aprovao. Como visto no captulo A teoria merleau-pontyana da linguagem e a biblioterapia, a fala (parole) primordial lngua; as palavras me surpreendem e adquirem corpo pelo gesto; a cultura proporciona signos lingsticos estabelecidos, mas eu e o outro incorporamos o novo na cultura de modo que criamos e exprimimos novos significados. Temos, portanto, um fundo mental comum, o contexto cultural que eu e o outro partilhamos. Alm disso, a reflexo acontece no corpo, que se configura tanto como o canal para a objetividade quanto para a subjetividade. Dessa feita, o Lebenswelt , de fato, o mundo vivido por mim e pelo outro. Como me comunico com o outro? Pela linguagem, d-se ela em forma de expresso corporal, toque, olhar, pintura, desenho, msica, silncio, ou, principalmente, palavra. E a palavra compartilhada , nada mais, nada menos, do que o dialgo, que significa: eu falo e o outro me escuta, o outro fala e eu o escuto. Implica sair de mim, me descentrar e permitir que o outro ocupe a posio central. Sem o descentramento, no h dilogo, apenas monlogo.
73
Os aplicadores da biblioterapia, sabedores da expressividade da fala, valemse dela, ento, para que os participantes das atividades em questo exprimam o que sentem, partilhem o fundo mental comum, aceitem novos significados em suas vivncias, e, se a faixa etria assim o permite, realizem uma introspeco. Muito embora esta ltima acontea no pensamento, todo o processo comea na carne, pois nos valemos da boca para falar, dos ouvidos para escutar e da pele para tocar. Resgato, aqui, o que disse Merleau-Ponty (2002, p. 40): o falar e o compreender so os momentos de um nico sistema eu-outrem, posto que no existe o eu puro que se coloca frente ao pensamento; o eu se coloca diante do outro e ambos somos corpos portanto, por minha linguagem e por meu corpo, sou acomodado ao outro ou, em outras palavras, a intercorporeidade aliada fala que permite o dilogo; tal dilogo acontece justamente pelo descentramento, visto que projeto-me no outro, introduzo-o em mim, nossa conversao assemelha-se luta de dois atletas nas duas pontas da nica corda. Ora, conquanto eu ceda lugar fala do outro e o outro ceda espao minha fala, isso no realizado com tanto desprendimento quanto a princpio se nos parecia. Entabulo, no apenas uma conversao, mas uma disputa com o outro. J que nos encontramos em situao de fragilidade, como em uma corda-bamba, tento comover o outro com minha fala, procuro segurana e apoio na fala do outro, haja vista que, segundo Merleau-Ponty (2002, p. 41, grifo do autor), se eu tiver tato, minha fala ao mesmo tempo rgo de ao e de sensibilidade e o silncio me aniquila, pois sou [...] atravs da fala, posto em presena de um outro eu mesmo que recria cada instante de minha linguagem e me sustenta igualmente no ser. Dessa feita, tento sustentar o outro, e o outro, de sua parte, ensaia fazer o mesmo. Para evitar sofrimento, utilizamos uma estratgia: fingimos tranqilidade, quando, na verdade, estamos mascarando no apenas nossa face, mas nosso prprio medo. Ento, uma boa opo seria tomar a iniciativa pois leva vantagem quem se adianta como sujeito encarnado, estou exposto ao outro , assim como o outro est exposto a mim mesmo, e me identifico a ele que fala diante de mim. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 40, grifo do autor). Quando me identifico ao outro, saio do meu centro e do meu singular. Forneo margem a que o outro tambm se identifique e saia do seu centro. Dessa maneira, a individuao cede lugar universalidade. Porventura no compartimos temores, expomos nossas fraquezas e lidamos com a finitude? Como fazer isso
74
sozinho? Necessito da fora do outro, e, por esse motivo, valho-me no apenas da fala, mas tambm da compreenso que tm o poder de deixar-se desfazer e refazer por um outro atual, por vrios outros possveis e, presumivelmente, por todos. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 42). Os aplicadores da biblioterapia esmeram-se em sair do seu centro a fim de desenvolver a habilidade de ouvir, de gerenciar os momentos em que todos querem falar ao mesmo tempo, de conceder espao para que cada indivduo expresse seus sentimentos sem receio de ser ridicularizado por mostrar sua verdadeira face. Por isso, tomam a dianteira em expor alguns de seus temores, quebrando, dessa forma, certas resistncias de participantes tmidos ou inseguros. Alm disso, cuidam em respeitar as limitaes fsicas de todos, em demonstrar interesse pelos problemas do pblico-alvo, em oferecer uma palavra amiga aos deprimidos, em apontar a universalidade dos problemas como um inimigo comum a ser vencido com o apoio da coletividade pelo relato das experincias individuais, pois como bem disse Merleau-Ponty (2002, p. 173-174), a fala prolonga e transforma minha relao com o outro visto que, na experincia do dilogo, a fala do outro vem tocar em ns nossas significaes, e nossa fala, vai, como atestam as respostas, tocar nele suas significaes. Sabe-se que a fala hospeda-se no homem fsico, na terceira circunvoluo do lobo frontal do crebro, mais conhecida como rea de Broca. , portanto, tambm fsica. Mas tambm intersubjetiva, pois quando falamos estamos realizando uma troca entre corpos falantes. Talvez seja o caso de falar de uma intercorporeidade. Mas o sentido profundo dessa intercorporeidade no o espao material, fsico, tampouco o tempo como medida de movimento. O sentido profundo da intecorporeidade o tempo vivido. E, de fato, a concepo husserliana do tempo vivido j exigia a intercorporeidade, pois o tempo no s meu; existe um vnculo entre a minha histria e a histria do outro. O pensamento merleau-pontyano mantm-se fiel a essa assertiva, pois confirma que no posso resgatar a essncia a no ser pelo outro, por meio da linguagem do outro. Pelo exposto, pode-se dizer, ento, que o dilogo, desde que efetuado com tato e sensibilidade, agente teraputico da intercorporeidade e da intersubjetividade; conquanto privilegie a universalidade no oblitera, contudo, a individualidade mostra um cuidado com o ser.
75
Cumpre lembrar, ainda, que a biblioterapia tem sempre como suporte de suas atividades um texto literrio, ponto de partida para o dilogo e, assim, a linguagem metafrica estar firmemente amalgamada com a linguagem cotidiana, uma vez que os ouvintes valer-se-o das estratgias textuais para inserir nelas suas vivncias de um modo que no cause dano sua vulnerabilidade, pois ao falar o que sente o ser humano expe suas fraquezas e inseguranas e, inconscientemente, tenta ludibriar o ouvinte e qui, a si mesmo, porque, na maioria das vezes, a verdade nua e crua di e, como j mencionado, abolir a dor um dos quesitos da sade. Dessa maneira, matizada e diluda com as verdades que o texto enseja pelas projees e introjees que cada um constri a partir de identificaes com esta ou aquela personagem ficcional, a verdade de cada um fica mais suportvel de ser comunicada. Resumindo: ao valer-se de leitura, narrao, dramatizao, brincadeiras, jogos, msica, dana e dilogo, a preocupao dos aplicadores da biblioterapia com o bem-estar do ser total, com o fortalecimento dos fatores formadores do equilbrio e com a eliminao das perturbaes (que no so acontecimentos isolados, mas se encontram em um contexto cultural, social e histrico). Destarte, quem l em voz alta para outro, conta ou dramatiza uma histria, presta, de fato, um servio a esse outro, haja vista que nutre a inteno de contribuir para o bem-estar do outro, o apaziguamento das suas emoes, o esquecimento das suas dores e seus problemas, a melhoria da relao eu-mundo. Alm disso, estando a arte de cuidar na biblioterapia baseada no relacionamento interpessoal de ajuda e confiana, ela vlida tanto para o doente efetivamente diagnosticado como doente (internado ou no em um hospital), como para o ser que no percebe, de fato, como seu equilbrio est comprometido, mas sente que lhe falta algo essa falta indica que no est so e, portanto, necessita recuperar o equilbrio, pois somente o ser so est completo. Nos dois casos a leitura se configura como um tratamento, uma terapia, ou seja, uma maneira de promover a sade o que apresentarei no prximo captulo.
76
4 LEITURA E TERAPIA
[...] esse poder de ultrapassar-me pela leitura, devo-o ao fato de ser sujeito falante, gesticulao lingstica, assim como minha percepo s possvel por meu corpo. (MERLEAU-PONTY)
Recordando que a fenomenologia um retorno s coisas mesmas, e, portanto, um retorno s coisas onde elas so vividas, a investigao a respeito da terapia, no presente caso, implica uma aproximao com a leitura, ou, explicando melhor, implica investigar como a leitura pode ser teraputica. Ora, na terapia por meio da leitura se faz uso do livro, que, muito embora seja fruto de tecnologia, segundo Josgrilberg (2004, p. 42, grifo do autor), uma realidade humana capaz de liberar (de lber lat., livro e livre) idias, pensamentos, discursos, imagens, uma realidade cultural e espiritual da tradio humana. Destarte, a leitura de um livro pode ser teraputica, pois a dimenso do cuidado se volta para o leitor ou o ouvinte do texto literrio, que, singulares em sua existncia, podem abrir-se para o mundo. A leitura facilitaria essa abertura ao mundo visto que criaria condies de interpretar o mundo e, por extenso, levaria a uma compreenso do ser humano. Tal conhecimento de si mesmo perpassa pela subjetividade e se alicera na experincia de existir, pois o conhecimento cientfico no supre a necessidade de abertura ao mundo. Nesse pormenor, a leitura se configura como uma experincia de mltiplos saberes: o consolidado pela tradio, o desejado pela crena, o real em forma de fico, o criado pela motivao do leitor ou do ouvinte. De fato, a motivao o principal fator de uma leitura pelo vis teraputico: inseridos como estamos em uma sociedade extremamente tecnolgica e competitiva em que os valores de barganha para o sucesso consistem em tripudiar os concorrentes (considerados como adversrios), foi escamoteado o sentido primrio de cuidado com o ser. Assim, cuida-se apenas quando a doena comprovada e, para tratar dela, existem os especialistas que, com seus aparatos tecnolgicos, minimizam ou eliminam o mal fsico ou psicolgico. Como as exigncias da vida cotidiana impedem um acompanhamento sistemtico de tais
77
males, o ser humano vai se distanciando do ideal de sade, est, permanentemente, em desequilbrio. Ora, para prevenir que a sade se desintegre com mais rapidez do que o tolerado, pode-se buscar, na leitura, um suprimento de estratgias para vencer os ais. Tais estratgias no se configuram como uma fuga da realidade, mas consistem na utilizao de certos mecanismos de enfrentamento da realidade, tais como a catarse literria, a identificao com as personagens ficcionais e a introspeco, que sero explicitados mais adiante. Por meio de tais mecanismos o ser humano procura restabelecer o precrio equilbrio de sua existncia, pois ao envolver-se na leitura esquece-se do rolo compressor da tecnologia e volta-se para si mesmo como fonte de conhecimento (pela introspeco); procura harmonizar-se com a essncia de existir (pela identificao com as personagens) e se libera (pela catarse). Ao assim fazer, cuida de si. Se a leitura for coletiva, isto , se houver um mediador de leitura, um bibliotecrio, por exemplo, tal mediador agir como um cuidador, ou, em outras palavras, se preocupar com o cuidar do ser. Configura-se a leitura solitria tambm como teraputica? Sabe-se que muitos buscam na leitura individual conforto para suas angstias e, de fato, sentemse aliviados e revigorados depois de tal exerccio. Segundo Pereira (1996, p. 64, 65, grifo da autora), a leitura reflete as experincias humanas de todas as pocas e lugares, portanto, d acesso aos registros de vidas, atitudes e sentimentos e, assim, ao ler e aprender que um problema no nico, o problema parece menos amedrontador; acrescenta ainda: a leitura tem uma vantagem sobre a comunicao direta, pois um livro muito menos ameaador, muito menos exigente, e ainda assim pode oferecer muito no sentido de comunicar situaes humanas e permitir ao leitor aplic-las sua prpria realidade. Conquanto a Autora valorize o objeto livro como instrumento teraputico, e o mesmo fao eu, no se pode negligenciar a figura de um mediador de leitura, pois, como visto, a arte de curar, tem, implcita, a intercorporeidade e o descentramento, e no apenas as emoes aliadas linguagem. Dessa feita, a interveno biblioteraputica se d em forma de leituras coletivas em que participam, no mnimo, duas pessoas (leitor e ouvinte). J foi visto, tambm, que necessito do outro, que no sou completo sem o outro. s vezes, entretanto, no disponho da presena fsica do outro para me dar
78
alento. s vezes, necessito de vrios outros, posto que apenas um no supriria minha pattica carncia. Recorro, ento, ao livro esse objeto encantado cheio de personagens, de vrios outros que me visitam e me completam. Dessemelhante do algoritmo, a expresso literria nos arrebata, nos emociona, nos torna cmplices por meio das palavras. Na literatura, a fala usurpa, transgride, transcende o sentido da palavra que o dicionrio tenta, teimosamente, definir. Dessa maneira, a expresso literria uma fala que renova sem cessar a mediao entre o mesmo e o outro e minha relao com um livro comea pela familiaridade fcil com as palavras de nossa lngua, com as idias que fazem parte de nossa bagagem. (MERLEAUPONTY, 2002, p. 176). Como acontece essa relao com o livro? Pela leitura. Na leitura, ultrapassamos os limites entre o eu que fala e o outro que escuta, posto que falam: o texto, o autor e o leitor. A escritura implica um suporte de registro (o texto), um produtor de idias (o autor) e um co-produtor dessas idias (o leitor). Na leitura, h, ento, descentramento, intercorporeidade, intersubjetividade, transcendncia. Pela leitura desvelamos o mundo: o mundo do texto, o mundo da imaginao, o mundo exterior, o mundo sensvel somos comovidos, instigados e sentimos o impacto do mundo, esse reservatrio inesgotvel de onde as coisas so tiradas. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 460). E, como disse Husserl (2000, p. 92, grifo do autor): toda a arte consiste em deixar a palavra puramente ao olho que v e em desligar o visar (Meinen) que, entrelaado com o ver, transcende. Dessa feita, a leitura da palavra passa pelos olhos do homem encarnado, que, alm de ver o que simplesmente est escrito, v tambm alm do escrito, aquilo que sua fantasia permite interpretar o que no poderia deixar de acontecer visto a obra de arte incentivar a liberdade tanto do artista quanto de seu receptor e, portanto, a leitura consiste em desvelar o mundo exterior descrito no texto e o mundo ficcional apresentado no texto, ambos acalentados e nutridos pela imaginao criadora. Antes de exemplificar os efeitos teraputicos da leitura (tanto a individual quanto a coletiva) e sua extenso (em forma de narrao e dramatizao), cabe esclarecer o que entendo por leitura e descrever o que pensam alguns tericos a respeito do ato de ler.
79
4.1 Leitura: fenmeno e ato corporal, temporal e descentrado
A leitura fenmeno e ato. Como fenmeno, o advento espontneo de essncias (ldicas, romanescas, poticas, entre outras) e como ato ela diz respeito s representaes com as quais podemos refletir aquelas essncias. Como fenmeno, a leitura implica a configurao de uma totalidade temporal a qual, por sua vez, implica nossa historicidade retida e retomada na atualidade de um evento material que o texto e que, dessa forma, muito mais do que um fato emprico, um campo de presena. A formao desse campo supe o rastro de um lido que se prolonga no presente e estende-se no horizonte de expectativas do leitor, conferindo um sentido de totalidade ao texto. Pode-se dizer que a leitura, ao se valer no apenas do tempo presente, mas tambm do passado, e, porque no dizer, do futuro, acompanha o fluxo da memria e, assim, a leitura movimento pode transformar passado em presente e futuro em presente circula pelo tempo com desenvoltura. Se o espao fsico da leitura restrito um quarto, uma sala, uma cela o espao temporal no admite fronteiras. Alm disso, mesmo que o corpo fsico se encontre confinado a uma cama de hospital, a uma cadeira de rodas, a um presdio, o corpo fenomenal livre, deixa-se levar pelas palavras lidas. Nesse sentido, a leitura tambm transcendental, pois excede o que est inserido no texto, admitindo possibilidades, alteridades, indo alm da lgica e da experincia sensvel, alcanando o impensado. Portanto, a coisaleitura no imanente conscincia ou percepo transcendental como o so tambm a conscincia e o conhecimento. Se, como afirma Husserl (2000, p. 31, 39 - 40, 102, grifo do autor), o agora do som apenas um ponto numa durao sonora e inferimos o no experimentado a partir do directamente experimentado (do percepcionado e do recordado), podese dizer que o agora da leitura tambm um ponto em uma durao leitora e o recordado do texto lido permite inferir e experimentar generalizaes, transferir o conhecimento universal para casos particulares, pois na conscincia da
11
11
, assim
Transcendental, no presente contexto, no se resume a designar o mtodo de investigao que despreza os objetos em favor do modo como conhecemos os objetos. Transcendental tambm a investigao do carter sensvel implicado naquele como. Ou, como prefere Merleau-Ponty (1999), trata-se de um transcendental encarnado.
80
universalidade, edificada sobre a percepo ou a fantasia, constitui-se o universal e na fantasia, e tambm na percepo, constitui-se, prescindindo da posio de existncia, o contedo de intuio de sentido da essncia singular. Como ato, a leitura a representao especular ou imaginria de nossas vivncias fenomnicas. Estas so condensadas pelo ato em uma sorte de idealidade objetiva como se, por um instante, o fluxo de nossas emoes, movimentos e intuies categoriais pudesse ser amalgamado em uma nica presena em um nico objeto. Para Merleau-Ponty os atos no so prerrogativas de uma conscincia pura, eles esto sempre apoiados na corporeidade fenomnica das intuies, o que significa dizer: os atos so reflexes encarnadas. Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 244, grifo do autor), h portanto, tanto naquele que escuta ou l como naquele que fala e escreve, um pensamento na fala, que o intelectualismo no suspeita. O que se infere disso? Que a fala no repousa em um conceito e que a palavra tem um sentido. Tal assertiva contraria tanto o empirismo quanto o intelectualismo, cujos seguidores consideram a palavra um invlucro vazio. E, ainda, significa crer que a fala capaz de sedimentar os pensamentos, ou seja, os pensamentos necessitam da fala para ser institudos. A fala, portanto, contm uma significao gestual, e, assim, a linguagem uma modalidade do corpo. Seria possvel dizer o mesmo da leitura? Sim, pois alm de fenmeno e ato, a leitura fenmeno corporal e ato corporal, haja vista que, enquanto gesto, vale-se do corpo. Se, enquanto pensamento, a leitura propiciadora de sentidos ao eu psico-fsico, enquanto corpo a leitura acomoda a conscincia. Conscincia pura e puros atos cederam lugar ao corpo fenomenal que imbrica pensamento e carne. Um no prescinde do outro. Como sujeitos pensantes, utilizamos o crebro, e, conseqentemente, a conscincia para inferir sentidos ao lido. Como j visto, o corpo a res extensa cartesiana interage com o mundo visvel, pois o corpo no existe sem o meio, ou, em outras palavras: no existe homem interior, o homem est no mundo, no mundo que ele se conhece e temos a percepo como acesso verdade, visto que o mundo aquilo que ns percebemos. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 6, 14). No se pretende menosprezar a res cogitans o pensamento, mas sim proceder como Merleau-Ponty que, destacou Mller-Granzotto (2001a, p. 9),
81
vislumbrou na inexorvel gestualidade do pensamento, o ponto de tangncia entre a reflexo e as demais experincias de nossa existncia. Ora, a experincia da leitura est alicerada em um corpo que no objeto cientfico, um corpo que possui poder de significao, um corpo que une carne e pensamento. Sabe-se que Merleau-Ponty considera o corpo como a casa da expresso e da intencionalidade. Mas ser que Husserl aceita o corpo? Segundo Merleau-Ponty (1991, p. 179, 183) Husserl admite a carne, visto: ter deixado aparecer nas Ideen II uma terceira dimenso" a dimenso da carne, a reflexo husserliana tenha se esquivado do dilogo entre o sujeito puro e as puras coisas e revelado um entrelaamento de implicaes no qual j no sentimos a pulsao da conscincia constituinte, ou seja, realmente preciso que meu corpo por sua vez esteja entrosado com o mundo visvel. Isso posto, reforo: somos a extenso do mundo, pois o mundo feito do prprio estofo do corpo, quer dizer, nosso corpo acolhe as coisas que se apresentam diante de ns, aceitando-as como um anexo ou prolongamento dele mesmo, como complemento captado pela percepo e, em especial, pela viso que realiza a inspeo do mundo. (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 89). Se, de acordo com Merleau-Ponty (1999, p. 40), a funo essencial da percepo de fundar ou de inaugurar o pensamento, o filsofo permanece fiel ao conceito de homem unificado, homem corpo/pensamento. Assim que afirma no haver viso sem o pensamento; contudo, explicita que no basta pensar para ver: a viso um pensamento condicionado; nasce por ocasio daquilo que sucede no corpo, excitada a pensar por ele; e a viso, sendo pensamento unido a um corpo, por definio ela no pode ser verdadeiramente pensamento. (MERLEAUPONTY, 1980, p, 98, 99, grifo do autor)12. Mas como se daria a viso sem o movimento dos olhos? Assim, a viso no pode ser concebida como uma operao do pensamento, pois pende do movimento e meu movimento no uma deciso de esprito, necessitando, portanto, de um corpo operante. (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 88). Ora, fato que um esprito no pode ler. H que ter um corpo carnal que execute movimentos. No ato da leitura o leitor usa seu corpo: os olhos para decifrar
12
O sentido da viso aqui apresentado no o modelo cartesiano do tato, mas o modelo merleaupontyano dos olhos de carne comparados a computadores do mundo, que tm o dom do visvel como se diz que o homem inspirado tem o dom das lnguas. (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 90).
82
o cdigo escrito, as mos para segurar o livro e manusear suas folhas, as pernas e os ps para ir at a estante e apanhar o compndio, glteo-femoral para acomodarse na poltrona, as costas para respaldar-se. Tudo isso implica em movimento e movimento exige um corpo atuante. Tal corpo no um autmato, contudo. Vinculase a uma conscincia. Em vista disso, pode-se dizer: minha conscincia tem um corpo e meu corpo tem uma conscincia. Corpo e conscincia so inseparveis e interdependentes no mundo visvel e no mundo dos projetos motores, que, como diz Merleau-Ponty (1980, p. 88), so partes totais do mesmo Ser. Tal conceito de homem unificado, homem corpo/pensamento no prerrogativa dos filsofos. Assim que consta na Declarao dos direitos da criana leitora, artigo 12: Ns, crianas, lemos com todo o nosso corpo, no s com nossos olhos. Por isso, consideramos um desrespeito nossa intimidade sermos obrigados a ler sentados ou em p. (VSQUEZ RODRIGUES, 1993, p. 2). Nessa Declarao se reconhece que a leitura um ato corporal e no apenas um ato intelectual, que implica movimento no somente dos olhos, mas tambm do corpo e que admite arranjos corporais diversificados de acordo com o gosto do leitor. Outros trechos interessantes da mesma Declarao merecem ser transcritos. Assim, no artigo 1, l-se: Ns, crianas, no somos adultos pequenos. Nessa medida, somos diferentes em nossos gestos, preferncias e, certamente, em nossas leituras. E, no artigo 13: A ns, crianas, encanta-nos a ao e o movimento. Gostamos do que salta e pula e do que sonha e brilha. Se tem um livro que nos atrai aquele que pode fazer parte de nossas brincadeiras. E, ainda, no artigo 17: Ns, crianas, lemos de muitas maneiras e vrios tipos de livros. A televiso, por exemplo, um desses. Ns, crianas, somos multileitores e tal qualidade deve ser respeitada pelos adultos. (VSQUES RODRIGUES, 1993, p.1, 2). Tais afirmativas indicam que o texto literrio participa das vivncias no apenas psquicas ou intelectuais, mas tambm corporais e ldicas. Alm disso, mostra que a leitura no apenas viso, mas tambm audio. Assim, na leitura, seja de um livro, seja de um episdio passado na televiso, entrelaam-se os dados da fonao e os dados acsticos. Recorrendo a Saussure ([197-], p. 42) busco na fonologia, segundo ele a fisiologia dos sons, uma definio do aparelho vocal e seu funcionamento. De acordo com Saussure ([197-], p. 52, 53, 54), fazem parte do aparelho vocal a cavidade nasal, a cavidade bucal e a laringe; na boca, os lbios, a lngua, os dentes
83
superiores, o palato e a vula; na laringe, a glote, formada pelas cordas vocais e, na cavidade nasal, a vula atua permitindo ou impedindo a passagem do ar; o canal nasal [...] no desempenha [...] nenhum papel como produtor de som ao contrrio da cavidade bucal que acumula as funes de gerador e ressoador de som, mas na produo do som so fatores decisivos a expirao, a articulao bucal, a vibrao da laringe e a ressonncia nasal; o pulmo tambm age na produo dos sons, visto que o ar expulso dos pulmes passa primeiramente pela glote, onde h uma produo possvel de um som larngeo pela proximidade das cordas vocais. No tocante audio, Saussure ([197-].p. 49, grifo do autor) afirma que a impresso produzida no ouvido nos dada to diretamente quanto a imagem motriz dos rgos, e, tambm, ela a base de toda a teoria da fonologia, pois o dado acstico existe j inconscientemente quando se abordam as unidades fonolgicas, pelo ouvido, sabemos o que um b, um t etc. Tudo isso ressalta que a leitura, tanto a apenas lida com os movimentos dos olhos, quando a executada em voz alta, um ato corporal desempenhado pelo leitor, escritor, ou, enfim, por quem se ocupe do texto. Essa corporeidade, entretanto, no uma resposta mecnica a um estmulo, seja ela sensvel ou inteligvel. Essa corporeidade antes a contrao de um tempo pessoal e impessoal em um instante, ao qual chamamos de pensamento, imagem, enfim, leitura e que posso compartilhar com o outro, me descentrando, pois o corpo, no ato da leitura, o prprio processo de temporalizao do espao, a reunio dos instantes, que, de outra feita, se perderiam na contingncia do ser material. Se meu corpo e o corpo de outro podem ser considerados como expresso e se comunicam entre si, pode-se dizer, ento, que a leitura ato e fenmeno corporal, temporal e descentrado perpassa pelo meu corpo e pelo corpo do outro, o que implica aceitar a intencionalidade e o carter transcendental do ato de ler. Ento a leitura, fenmeno intercorporal, configura-se, tambm, como intersubjetiva, pois assim como a fala a abertura de meu corpo ao corpo do outro, a leitura uma troca consentida de idias, pensamentos, conhecimentos e emoes entre o corpo do escritor e o corpo do leitor ou do ouvinte. Dito de outra maneira: tanto a cumplicidade entre autor e leitor/ouvinte quanto o acasalamento da linguagem implicam em generosidade, descentramento, o sair de si, o permitir que o outro tenha voz, ou seja, autoriza a ruptura da fronteira entre a fala do autor e a fala do leitor/ouvinte.
84
s vezes essa fronteira no tem contornos bem definidos, s vezes um invade o espao do outro, s vezes h uma disputa por territrio. Essa competio acontece porque no somos somente conscincia, mas tambm corpo (assim como a fala possui um corpo), e a leitura um confronto entre os corpos gloriosos e impalpveis de minha fala e da fala do autor; como apontado na epgrafe, esse poder de ultrapassar-me pela leitura, devo-o ao fato de ser sujeito falante, gesticulao lingstica, assim como minha percepo s possvel por meu corpo. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 35, 36). Visto que o homem natural somos eu e o outro, mantendo relaes permanentes com os sujeitos e com os objetos, um afetando o outro, o objeto leitura afeta o escritor e o leitor, mesmo que sejam, como de fato o so, sujeitos autnomos. Isso acontece porque no corpo do leitor que as palavras do outro (do autor) adquirem sentido o que confirma o carter intersubjetivo do ato de ler. Assim, a corporeidade da leitura garante a construo da intersubjetividade. Se para Husserl a subjetividade transcendental e a leitura, sendo ato subjetivo, configura-se, tambm, como transcendental, como uma experincia do ego transcendental, em que o outro o escritor confunde-se com o eu-leitor, cabe a pergunta: quem afeta e quem afetado? A resposta pode ser encontrada no que Husserl ([19--], p. 144) chama de acoplamento, que se d quando o outro entra no campo da minha percepo. Como o outro pode entrar no campo de minha percepo? Justamente por ser carne, por possuir um corpo, por admitir a possibilidade de no apenas ver, sentir e tocar, mas de ser visto, fazer o outro sentir e ser tocado pelo outro. O corpo esse objeto uno sente no apenas as dores e alegrias fsicas, mas tambm as dores e alegrias emocionais que a leitura do texto proporciona. Assim que nos emocionamos, surpreendemos, lamentamos ou extasiamos com a leitura. No ato de ler o texto adquire vida: permite que, entre as palavras e as frases, escritor e leitor/ouvinte conversem, discutam, ou seja, adentrem no universo ficcional sem a menor cerimnia. A leitura, no h como negar, um ato de comunicao que ultrapassa o corpo do autor atingindo o corpo do leitor/ouvinte. Portanto, assim como meu corpo percebe o mundo em que vivemos, percebe tambm o mundo do livro, os acontecimentos da narrativa ficcional, e os organiza de modo a fazerem sentido. Tanto o autor quanto o leitor/ouvinte, valendo-se da linguagem constituda (a fala falada), a transformam em linguagem constituinte (fala
85
falante). essa linguagem operante, produtora de significaes, que, pelas vias do descentramento, permeia todo o processo, toda a experincia da leitura. Pela linguagem, ela mesma significao, posso reunir a minha histria e a do outro, posso entrar em um sistema de relaes com o outro, posso abrir-me ao outro, apresentar minha vulnerabilidade ao outro, posso, pela intercorporeidade e pelo descentramento, acomodar-me ao outro. Destarte, a obra literria no apenas do autor, tambm do leitor/ouvinte, haja vista que se configura como uma experincia intercorporal e descentrada, pois leio no corpo do texto um corpo que no o meu. Resta, entretanto, saber: quem o sujeito desse corpo? O leitor? O escritor? Ou a prpria experincia de leitura? E ainda: por que se pode afirmar que a leitura possui possibilidades teraputicas? O que dizem os tericos sobre isso?
4.2 A leitura segundo Proust
pertinente, no presente estudo, verificar o que pensava Proust a respeito da leitura, visto ter sido um literato que antecedeu Sartre e Merleau-Ponty, no sendo, portanto, por eles influenciado, mas sendo, por ambos, citado. Alm disso, a obra proustiana tem sido objeto de estudos, seja pela poesia da qual se acha impregnada, seja pela fecundidade das emoes da qual se encontra permeada, seja pelo efeito que causa nos leitores pela descrio de suas reminiscncias que transcendem tanto o tempo quanto o Autor. A temporalidade proustiana circula pelos meandros da memria e recria um outro tempo: o tempo da leitura, o tempo do agora, o tempo presente, esttico e potico (conquanto amalgamado com o passado vvido e marcante), que se quer desvendado no ato de ler, e, por esse motivo, tem sido exaustivamente analisada. Proust, nas lembranas, passeia pelo tempo, principalmente em A la recherche du temps perdu13 considerada por Benjamin (1994, p. 36) a maior realizao literria das ltimas dcadas. A respeito do tempo em Proust, Benjamin (1994, p. 45) o chama de tempo entrecruzado, visto que o fluxo do tempo se manifesta com clareza na reminiscncia (internamente) e no envelhecimento
13
Ttulo em Portugus: Em busca do tempo perdido.
86
(externamente) e o mundo proustiano se configura como o universo dos entrecruzamentos. Nesse mundo, ento, se cruzam o passado e o presente, pois o tempo em Proust no o tempo universal, mas sim o pessoal, o de suas rememoraes, rastros do vivenciado e observado na sociedade da Terceira Repblica francesa 14. Segundo Caldas (2001, p. 2), a Madeleine proustiana a passagem, o caminho entre o consciente e o inconsciente, ou seja, a coisa exterior que faz ligao entre o percebido presente e aquele percebido esquecido por vivncias mais fortes e presentes. Isso pode ser observado em Proust (1982, p. 31, 32):
[...] levei aos lbios uma colherada de ch onde deixara amolecer um pedao de madalena. Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta com as migalhas do bolo, tocou o meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinrio em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noo da sua causa. [...] Por certo, o que assim palpita no fundo de mim deve ser a imagem, a recordao visvel que, ligada a esse sabor, tenta segui-lo at chegar a mim. [...] Aquele gosto era o do pedao de madalena que nos domingos de manh em Combray [...] minha tia Lencia me oferecia, depois de o ter mergulhado no seu ch da ndia ou de tlia [...]
A leitura da Recherche faz pensar em Proust, no tempo de Proust: o de suas lembranas da infncia em Combray; mas a leitura da Recherche desperta em cada um seu prprio tempo, suas prprias reminiscncias, seu prprio Combray. Por isso tal obra transcende o tempo, por isso sua leitura permite esquecer as contingncias e ultrapassar as mediocridades da vida. De acordo com Freire (2001, p.8), a Recherche configura-se como uma obra atemporal, pois transcende o tempo (cronolgico) e no envelhece. Ao estabelecer um confronto entre as leituras de Benjamin, Adorno e Deleuze acerca da Recherche, Freire (1999) concluiu que o tempo em Benjamin e Adorno seria o da memria, das imagens e dos fatos, e, em Deleuze, o de signos com os quais Proust brindou seu processo criativo valendo-se de sua subjetividade.
A Terceira Repblica (1870-1940) foi criada aps a captura e o exlio de Napoleo III e a derrota francesa na guerra franco-prussiana.
14
87
Por outro lado, Beckett (2003, p. 13) descreve o tempo proustiano como algoz de suas personagens em que as mesmas sofrem um processo de decantao do recipiente contendo o fluido do tempo futuro, indolente, plido e monocromtico, para o recipiente contendo o fluido do tempo passado, agitado e multicolorido pelo fenmeno de suas horas. Dessa feita, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos proustianos alternam-se entre as lembranas e as expectativas, em uma mobilidade mesclada de ansiedades, hbitos e memrias, em que o tempo se configura como uma condio de ressurreio, porque um instrumento de morte; o hbito, um castigo, na medida que impede a exaltao perigosa da primeira e uma beno, na medida que ameniza a crueldade da segunda; e a memria, um laboratrio clnico com estoques de veneno e medicamento, de estimulante e sedativo. (BECKETT, 2003, p. 35). Como visto, Benjamim (1994) destacou a rememorao em Proust, o que transformaria os treze volumes da Recherche em autobiografia. Por outro lado, Caldas (2001) considerou o romance proustiano como um ensaio memria e ao tempo. J Freire (2001) viu apenas a temporalidade proustiana na Recherche. A seu turno, Beckett (2003) confinou a obra de Proust no trip: tempo, hbito e memria. No nego a importncia do tempo em Proust, pois facilmente observvel que o tempo proustiano passeia pelo texto seja em imagens, seja em fatos, seja em signos. A imagem literria, a narrao dos fatos, os signos que descortinam as semelhanas e as correspondncias no ficam congelados por um tempo esttico. Concordo que no dinamismo da verbosidade proustiana que o tempo age como o vento farfalhando as folhas da memria e ativa as emoes fazendo-as borbulhar como se as mesmas sassem de uma chvena de ch quente e fumegante. E, muito embora o tempo em Proust seja o tempo de Proust, pela leitura da Recherche ns nos apossamos dele, ns nos movimentamos por entre as pginas, ns seguimos o rastro fantasmagrico de suas personagens que permanecem retidas nas lembranas, vestgios das reminiscncias de um passado que se quer presente. Muito embora o tempo seja a marca registrada da Recherche, atrevo-me a apontar, nessa obra, a corporeidade da leitura, pois nela encontram-se trechos que mostram a leitura como corpo e como gesto. Ao narrar os carinhos roubados me, Proust (1982, p. 29, grifo do autor) detalha: minha me sentou-se junto a meu leito:
88
tomara Franois le Champi, cuja capa avermelhada e incompreensvel ttulo lhe emprestavam, para mim, uma personalidade distinta e um misterioso atrativo. Descreve a leitura em voz alta da me como um gesto de carinho:
[...] dava toda a ternura natural, toda a ampla doura que exigiam, quelas frases que pareciam escritas para a sua voz e que, por assim dizer, cabiam inteiras no registro de sua sensibilidade. Para atac-las no devido tom, sabia encontrar o acento cordial que lhes preexiste e que as ditou, mas que as palavras no indicam: graas a ele, amortecia de passagem toda rudeza nos tempos dos verbos, dava ao imperfeito e ao pretrito perfeito a doura que h na bondade, a melancolia que h na ternura, encaminhava a frase que ia findando para aquela que ia comear, ora acelerando, ora retardando a marcha das slabas para faz-las entrar, embora diferissem de quantidade, num ritmo uniforme e insuflava quela prosa to comum uma espcie de vida sentimental e contnua. (PROUST, 1982, p. 30).
Nessa passagem, fica evidente que a palavra tem um sentido e que as protenses se presentificam no ato da leitura. Mas fica evidente, tambm, a corporeidade da leitura, manifestada pela fala que acentua ou suaviza trechos em que o tom da voz indica a afetividade implcita na intercorporeidade, transformando o ato de ler em gesto corporal. Da mesma forma, no seu ensaio sobre a Leitura, Proust menciona que quando embevecidos na leitura de um livro preferido, desprezamos a abelha ou o raio de sol que nos forava a erguer os olhos da pgina ou a mudar de lugar e, ainda, instalava-me numa cadeira ao p do fogo de lenha e mostrava a preocupao da cozinheira ao perguntar ao menino Proust: voc no est bem assim: no melhor apoiar-se numa mesa? (PROUST, 1991, p. 9, 10,11). Tais fragmentos literrios indicam a necessidade da presena de um corpo fsico na leitura que se incomoda com insetos ou com o calor do sol e, tambm, que gosta do conforto de uma cadeira e que, talvez, precise apoiar o livro pesado em uma mesa. Tendo me atrevido a apresentar a corporeidade da leitura em Proust, no apenas na Recherche, mas, tambm, em seu ensaio sobre a Leitura, pretendo estender o atrevimento. Como? Bem, fato que a leitura, para Proust, sempre se configurou como ato intelectual e psicolgico e o literato priorizou a leitura solitria. Mas possvel observar que ele concedeu propriedades medicinais leitura
89
individual. E Proust me permitiu pensar algo que ele no pensou: o descentramento no ato de ler, que, ousadamente, apresentarei. Iniciarei com a leitura solitria, ponto de partida da argumentao. Conquanto Proust destaque a importncia da leitura, no concorda com Descartes, que a tem como uma conversao com as pessoas mais honestas dos sculos passados e que foram seus autores, nem com Ruskin que considera a leitura uma conversao com homens muito mais sbios e mais interessantes que aqueles que podemos ter a chance de conhecer nossa volta; ele explicita: a leitura no poderia ser assimilada a uma conversao, mesmo com o mais sbio dos homens porque existe uma diferena marcante entre um livro e um amigo, pois na leitura recebemos a comunicao de um outro pensamento, mas permanecendo sozinho, isto , continuando a desfrutar do poder intelectual que se tem na solido e que a conversao dissipa imediatamente. (PROUST, 1991, p. 26, 27). Sabe-se que Proust prezava a solido. Por isso sua insistncia em no considerar a leitura como conversao ele amava ler e detestava ser interrompido seja para conversas tolas, seja para o almoo ou o jantar. Conversao, para Proust, era o mesmo que interrupo sua leitura e, portanto, algo altamente desagradvel. Ao contrrio da conversao, a leitura permitiria o encontro com o outro sem incorrer na perda da privacidade e com a regalia adicional de manter a espontaneidade, pois segundo Proust (1991, p. 42, 43), existe uma grande vantagem no convvio com o outro enquanto personagem ficcional, uma vez que, com os livros, no h amabilidade, pois esses amigos, se passamos a noite com eles, ser porque realmente temos vontade de faz-lo e no h nenhuma deferncia tampouco; no rimos de que diz Molire a no ser na medida exata em que o achamos engraado; quando nos entedia, no temos medo de parecer entediados. A leitura solitria, ento, do ponto de vista proustiano, nos deixa confortveis: a amizade com os livros prescinde de tato e nos livra da necessidade imperiosa de agradar o outro. Muito embora Proust sempre veja a leitura como um ato solitrio, advogou seu efeito benfico, e esse o segundo ponto que irei expor. Cumpre lembrar que Proust (1991) considerou a leitura um estmulo benfico atividade criadora, posto que a mesma no passividade e sim a busca de algo que poderia tornar o leitor mais forte, haja vista que, como ser humano, suscetvel
90
ao desnimo. No obstante tenha apontado a leitura como uma disciplina teraputica, seu direcionamento para inserir o indivduo na vida espiritual:
H, contudo, certos casos patolgicos, por assim dizer, de depresso espiritual para os quais a leitura pode tornar-se uma espcie de disciplina curativa e se encarregar, por incitaes repetidas, de reintroduzir perpetuamente um esprito preguioso na vida do esprito. Os livros desempenham ento um papel anlogo ao dos psicoterapeutas para certos neurastnicos. (PROUST, 1991, p. 33, grifo meu).
Nessa passagem, Proust aponta certas afeces do sistema nervoso em que o doente, mesmo sem ter os rgos afetados, sente-se impotente para reagir, necessitando da ajuda do outro, do mdico, posto que se sente tomado por uma profunda depresso que o impede de fazer frente aos problemas e de agir para solucion-los. Como no encontra estmulo em si mesmo, mister que o estmulo venha do outro. Portanto, afirma:
Ora, existem certos espritos que poderiam ser comparados a esses doentes e que uma espcie de preguia ou de frivolidade impedem de descer espontaneamente s regies mais profundas de si mesmos onde comea a verdadeira vida do esprito.[...] Ora, este estmulo que o esprito preguioso no pode encontrar em si prprio e que deve vir se outrem, claro que deve receb-lo no seio da solido fora da qual, como vimos, no se pode produzir esta atividade criativa que preciso ressuscitar. Da pura solido o esprito preguioso no pode tirar nada, pois incapaz de, sozinho, pr em movimento sua atividade criativa. Mas a mais elevada conversao, os conselhos mais profundos tambm de nada serviriam, j que essa atividade original, eles no a podem produzir diretamente. O que preciso, portanto, uma interveno que, vinda de um outro, se produza no fundo de ns mesmos, o estmulo de um outro esprito, mas recebido no seio da solido.[...]. A nica disciplina que pode exercer uma influncia favorvel sobre estes espritos , portanto, a leitura.[...] Na medida em que a leitura para ns a iniciadora cujas chaves mgicas abrem no fundo de ns mesmos a porta das moradas onde no saberamos penetrar, seu papel na nossa vida salutar. (PROUST, 1991, p.33, 34, 35, grifo meu).
Nesse sentido, o agente interveniente na sade do leitor o autor do texto literrio que estimulou o esprito preguioso do primeiro, levando-o a criar e, assim, a se curar. De toda maneira, a leitura, mesmo a solitria e principalmente a teraputica, implicaria na presena de um outro. Isso pode ser deduzido da afirmativa de Proust (1991, p. 28) sobre a leitura ser um milagre profundo de uma comunicao no seio da solido. Ora, se
91
comunicao, exige um outro. Se me comunico com o outro, me descentro e esse o terceiro ponto que pretendo apresentar. Eis uma passagem que mostra o envolvimento, o desdobramento, o descentramento do leitor nas personagens:
E a? Esse livro no era seno isso? Esses seres a quem se deu mais ateno e ternura que s pessoas da vida, nem sempre ousando dizer o quanto a gente os amava, mesmo quando nossos pais nos encontravam lendo e pareciam sorrir de nossa emoo, e fechvamos o livro com uma indiferena afetada e um tdio fingido. Essas pessoas por quem se tinha suspirado e soluado, no as veramos jamais, jamais saberamos alguma coisa delas.(PROUST, 1991, p. 23).
Proust reconhece o sofrimento e a decepo do leitor ao fechar o livro. Por qu? Justamente porque as personagens saram do centro da ateno e, por esse motivo, o leitor tem a rdua tarefa de voltar a ateno para si, para a mesquinhez da vida, para o prosaico e o trivial; tanto ele no se conforma com essa situao que prossegue:
Queramos tanto que o livro continuasse, e, se fosse impossvel, obter outras informaes sobre todos os personagens, saber agora alguma coisa de suas vidas, empenhar a nossa em coisas que no fossem totalmente estranhas ao amor que eles nos haviam inspirado. (PROUST, 1991, p. 24).
Portanto, chegava a implorar por uma migalha que fosse de informao sobre as personagens. Mais que a narrativa sobre elas, interessava o afeto partilhado. Disso se infere: s amamos quando nos descentramos. E, ao descentrarmos, permitimos que o outro nos ame. Assim na vida e assim na fico. S h envolvimento verdadeiro com o descentramento. Proust preferia o descentramento no seio da solido. Por ser um intelectual, gostava de refletir, ou, nas suas palavras, permanecer em pleno trabalho fecundo do esprito sobre si mesmo. (PROUST, 1991, p. 27). Isso significa que mesmo permitindo temporariamente que o outro ocupasse o centro dos seus pensamentos, ele fazia questo, tambm, de ocupar o centro quando lhe era conveniente, ou, ento, necessrio. Podemos culp-lo? No fazemos
92
ns o mesmo? No chega um momento em que cansamos do outro? No chega um instante que queremos ser o centro? Depois, passada a fase da insegurana pessoal, retornamos ao outro. At que nos cansemos novamente. Felizmente o outro est sempre ali, nossa espera. Se no dispomos de um outro com um corpo fsico, sempre podemos contar com um outro instalado no corpo do texto literrio. Segundo Proust (1991, p. 36, grifo do autor), busco a verdade e intento encontr-la no livro: que felicidade, que repouso para um esprito fatigado de procurar a verdade em si mesmo e dizer-se que ela est situada fora dele, nas folhas de um in-folio. Como apurado, o leitor busca a verdade fora de si, fora do seu centro. Isso cmodo, pois delega a responsabilidade ao outro seja esse outro o texto, o autor, ou as personagens. Mas o escritor faz o mesmo, visto que tambm os maiores escritores, nas horas em que no esto em comunicao direta com o pensamento, contentam-se com a sociedade dos livros. (PROUST, 1991, p. 39). Ento, pode-se dizer que o escritor tambm preza ser leitor, que a experincia esttica da leitura se configura como uma necessidade do esprito, que a experincia da leitura faz parte de nossos anseios e nossas expectativas, que ela no apenas nos acalenta como tambm nos revigora. Proust (1991) considera a leitura ato psicolgico, amizade, distrao, gosto, divertimento, viagem, disciplina curativa, estmulo, iniciadora da vida do esprito, enfim, uma alavanca poderosa para despertar o imaginrio, solidificar pensamentos, suprimir a fadiga. Alm disso, destaca o efeito esttico que a experincia da leitura produz no leitor ao dizer que sentimos muito bem que nossa sabedoria comea onde a do autor termina, e gostaramos que ele nos desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer dar-nos desejos; esses desejos que o autor desperta no leitor somente so possveis porque o texto literrio uma obra de arte e, como tal, inspira incitaes, pois, no momento em que eles nos disseram tudo que podiam nos dizer que fazem nascer em ns o sentimento de que ainda nada nos disseram. (PROUST, 1991, p. 30, 31). A leitura individual, ento, aproveitada no recndito das bibliotecas, no sof da sala sob a luz generosa de um abajur, ou, ainda, com o apoio de travesseiros no leito, usufruindo o conforto da solido fsica que apazigua nosso corpo sofrido. Ora, quantas vezes no buscamos na leitura solitria conforto para as angstias? No nos sentimos aliviados e revigorados depois de tal exerccio? Isso acontece porque
93
no estamos, de fato, sozinhos: a presena marcante, porm discreta do outro a personagem ficcional garante que desfrutamos de companhia. essa intercorporeidade, esse descentramento que permitem que a leitura, mesmo a solitria, seja teraputica. Pode-se at dizer que existe um aconchego, uma cumplicidade entre o leitor e o autor ou, como diria Sartre, um pacto.
4.3 A leitura segundo Sartre
Pacto um contrato, um ajuste entre duas ou mais pessoas. Como o escritor no escreve para si, mas para o outro, ele tem, implcito, um contrato com esse outro e, ento, como um pacto que Sartre (2004, p. 46) define a leitura:
[...] a leitura um pacto de generosidade entre o autor e o leitor; cada um confia no outro, conta com o outro, exige do outro tanto quanto exige de si mesmo. Essa confiana j , em si mesma, generosidade: ningum pode obrigar o autor a crer que o leitor far uso de sua liberdade; ningum pode obrigar o leitor a crer que o autor fez uso da sua.
Nesse pacto de generosidade entre autor e leitor, ambos se entregam ao texto e realizam exigncias. O leitor exige que o autor escreva novamente, e o autor exige que o leitor experimente sua liberdade. Contudo, esse contrato sartriano da leitura implica em transcender o corpo do texto em favor da imaginao do leitor. Por que tal pacto favorece o leitor? Porque, na viso de Sartre (2004, p. 35) o objeto literrio um estranho pio, que s existe em movimento; destarte, para faz-lo surgir necessrio um ato concreto que se chama leitura, e ele s dura enquanto essa leitura durar; continua o pensador: fora da, h apenas traos negros sobre o papel; assim, ler implica prever, esperar, e os leitores esto sempre adiante da frase que lem. O que significa isso? Que Sartre entronizou o leitor, ou seja, ele transformou o leitor em regente do texto literrio. No pensamento sartriano, o texto s adquire sentido esttico quando o leitor, pela sua conscincia imaginante, cria um significado para as frases. Por polir o texto com sua imaginao criadora, pode o leitor arvorar-
94
se em criador e, dessa feita, atuar como regente do texto literrio, ou, dito de outra maneira: como o artista se confunde com a obra, o olhar imaginante do leitor que se responsabiliza pela criao. Ou, ainda, como lembra Ouriques (2008, p. 24), os olhos do leitor seriam marcas de filtro, de busca, de interpretaes. Alm disso, o filsofo tem como certa a capacidade do leitor de prever e conjeturar sobre o texto (vivencia o futuro) e a incapacidade do escritor de fazer o mesmo (posto que escreveu no passado) o que um indcio da temporalidade da leitura. Entretanto, em Sartre (2004, p. 56) o tempo histrico, tem a ver com o contexto, as lembranas e percepes comuns, de sorte que o escritor fala a seus contemporneos. Dessa feita, um livro emociona ou causa indignao ao leitor quando o mesmo vivenciou os fatos narrados, sejam estes fatos reais ou fictcios. O fundamental que os valores e costumes apresentados na obra literria tenham sido partilhados por autor e leitor. Por esse motivo, Sartre considera responsabilidade do autor apontar os acontecimentos histricos sem se esconder sob o manto da neutralidade, isto , ele defende o engajamento do escritor, sua liberdade de opinar, visto que, assim como os acontecimentos, escritor e leitor so histricos, no podendo, ento, viver alienados das questes sociais sua volta. Isso pode ser observado nas palavras de Sartre (2004, p. 20): o escritor engajado[...] abandonou o sonho impossvel de fazer uma pintura imparcial da Sociedade e da condio humana. Assim, o escritor engajado luta para no ser objetividade, ou seja, revela, no texto literrio, as mazelas da humanidade como ele as v e deseja que o leitor as veja, ou, como disse Ouriques (2008, p. 20), para Sartre o prosador portador de uma viso de mundo situada e sua produo se revela impregnada de posicionamentos e escolhas. A preocupao sartriana com o engajamento se justifica, lembra Ouriques (2008, p. 42), pelo fato de o filsofo ter transitado numa das pocas mais conturbada da histria, em destaque o perodo de ocupao nazista e, dessa forma, soube retratar a fragilidade, a angstia das pessoas diante de um mundo esfacelado, cuja nica alternativa seria reerguer-se a partir dos destroos da guerra.
95
Como para Sartre o tempo histrico, o engajamento de prosador se d com o leitor que vive na mesma poca que a sua, e, ento, o escritor engajado no escreve para a posteridade, sua escolha responder s exigncias do tempo presente. (OURIQUES, 2008, p. 44). Por esse motivo, o filsofo considera a prosa como se caracterizando mais pela utilidade do que pela beleza, o que a distingue da poesia. Alm disso, para Sartre o texto literrio, diferente da pintura ou da msica, especial no sentido de valer-se da linguagem sempre com uma inteno: a de comunicar algo que incite ao e no que sirva apenas mera contemplao ou ao puro xtase. Tal se d porque o artista no considera as cores e os sons como uma linguagem e, dessa feita, a pintura e a msica no exprimem, realmente, a expresso; assim, o pintor cria uma casa imaginria sobre a tela, e no um signo de casa, visto que o pintor mudo: ele nos apresenta um casebre, s isso; voc pode ver nele o que quiser; por outro lado, o escritor pode dirigir o leitor e, se descreve um casebre, mostrar nele o smbolo das injustias sociais, provocar nossa indignao. (SARTRE, 2004, p. 11, 12, grifo do autor). Dessa feita, o escritor, ao considerar as palavras como signos, pode domestic-las, pode utiliz-las como um instrumento de manipulao, pois a prosa utilitria por essncia e o escritor um falador; designa, demonstra, ordena, recusa, interpela, suplica, insulta, persuade , insinua e, portanto, temos o direito de perguntar ao prosador antes de mais nada: com que finalidade voc escreve? (SARTRE, 2004, p. 18, 19, grifo do autor). Assim, por valer-se das palavras como meio de persuaso, o escritor se engaja, quer dizer, ele tem um motivo para escrever, ele tem um pblico a quem deseja atingir. Para o filsofo, no gratuita a verbosidade do escritor. Embutidas no texto esto a inteno de comunicar e a inteno de modificar comportamentos portanto, o escritor no imparcial e utiliza as palavras como armas poderosas de convencimento. Alm do mais, para Sartre, escrever um trabalho, exige esforo e comprometimento do autor, ao passo que ler um prazer, o leitor se desvincula de compromissos assumidos com a finalidade de se deliciar com o texto. Sendo trabalho, o escritor labuta para colocar no papel sua subjetividade, ou seja, projeta na escritura suas idias e seus valores, seu saber consolidado e cristalizado. Por outro lado, o leitor v o texto como um objeto a ser apreciado e lapidado.
96
Muito embora respeite a liberdade do leitor em modificar ou no seu comportamento pela leitura, Sartre (2004, p. 50, grifo do autor) aposta naquele leitor que se envolve: quanto a mim que leio, se crio e mantenho em existncia um mundo injusto, no posso faz-lo sem que me torne responsvel por ele e toda arte do autor consiste em me obrigar a criar aquilo que ele desvenda portanto, em me comprometer; assim, o leitor cria o texto que o autor, generosamente, desvenda. Se o escritor retira a venda que recobre suas palavras e permite que o leitor brinque com elas a ponto de inserir o sentido que lhe apraz, fica a pergunta: ao criar novos significados, o leitor, tambm, no desvenda o texto? Segundo Sartre (2004, p. 34), nossa certeza interior de sermos desvendantes, se junta aquela de sermos inessenciais coisa desvendada. Parece existir, aqui, um paradoxo em Sartre: se somos desvendantes e inessenciais em relao coisa desvendada, se no produzimos o ser, como a leitura poderia atingir o leitor? Como o escritor modificaria comportamentos? Afinal, por que escrever? Tal paradoxo tem uma razo de ser: Sartre no separa o operrio, o arteso ou o tcnico, do prosador, visto considerar este ltimo como algum que utiliza as palavras de maneira utilitria. Portanto, produo, a seu ver, no o mesmo que criao. As pessoas produzem, a conscincia cria. Assim, o filsofo define o autor como produtor da obra literria, cabendo ao leitor a funo desvelante, ou seja, a conscincia imaginante do leitor quem de fato, desvenda o texto. Nesse sentido, o leitor soberano no texto literrio e, portanto, sua funo imaginante que conceder sentido ao lido, ou, como diz Sartre (2004, p. 34): a criao passa para o inessencial em relao atividade criadora. Dito de outra maneira: Sartre considera o papel desvelante do leitor como sendo superior ao papel produtor do autor, e o texto tambm no adquire relevncia, posto que se transformou em objeto e, portanto, inessencial. Assim, o sujeito-leitor passa condio de essencial na criao artstica posto que a transforma em objeto esttico pelos meandros de sua imaginao, por sua conscincia desvelante. Cumpre lembrar que, para Sartre, o ser-em-si, o real, serve apenas de respaldo imaginao. Assim que o objeto esttico da ordem da imaginao e no da percepo. Destarte, a leitura seria um objeto (ser-em-si), e a conscincia do leitor (para-si), concederia sentidos a ela. Conquanto acredite que a imaginao esteja apoiada na percepo, e que esta ltima apenas revele perfis, tem como certo que a imaginao, a partir dos perfis desvelados pela conscincia imaginante,
97
organize esses perfis como se os mesmos fossem objetos, uma objetividade esttica. Ainda segundo o pensamento sartriano, o objeto esttico est apoiado em um corpo que no para aquele essencial. como se a prosa fosse o equivalente da conscincia reflexiva, ou seja, diferente de Merleau-Ponty, Sartre defende que a prosa no obra de um corpo linguageiro, mas uma objetividade criada pela conscincia a partir de um corpo. Assim, muito embora em Sartre a imaginao do leitor seja primordial no processo esttico chamado leitura e o corpo seja uma contingncia nesse mesmo processo, seria possvel observar em Sartre, tambm, a intercorporeidade e o descentramento na leitura? Advogo que sim, haja vista que tanto o autor quanto o leitor valem-se da linguagem e a mesma, segundo Sartre (2004, 19, grifo do autor), [...] nossa carapaa e nossas antenas, protege-nos contra os outros e informa-nos a respeito deles, um prolongamento dos nossos sentidos e, continua: estamos na linguagem como em nosso corpo; ns a sentimos espontaneamente ultrapassando-a em direo a outros fins, tal como sentimos as nossas mos e os nossos ps. Infere-se que: ao considerar a linguagem um prolongamento dos nossos sentidos, Sartre est admitindo que a mesma exige um corpo, muito embora no reconhea a qualquer sorte de origem; e se, segundo Sartre (2004, p. 22), as palavras so transparentes e o olhar as atravessa, ento a leitura implica valer-se dos olhos da carne e o corpo ocuparia uma posio relevante nesse processo; alm disso, se o escritor produz o objeto literrio para o outro, para o leitor e este ltimo o desvela porque aceita a fala do outro, do autor, ambos se descentram nesse exerccio chamado leitura. E ainda: se, conforme Sartre (2004, p. 21), a funo do escritor fazer com que ningum possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele, pode-se dizer que isso significa que o autor no se centra em suas idias, ele as descentra para atingir o outro, pois as palavras so pistolas carregadas. (BRICE -PARAIN apud SARTRE, 2004, p. 21) . J foi observado que o escritor se engaja. Ora, se o prosador se engaja, ele se descentra, haja vista que se preocupa com o outro, com o leitor, pois suas palavras tm a inteno de comunicar algo, de mudar certas atitudes do leitor, de fato, com essa finalidade que ele escreve.
98
J foi observado, tambm, que para Sartre o leitor prev e vai alm do escrito, realiza uma interveno no texto, reinventa a obra. Mesmo considerando o leitor como soberano no texto, ser que ele apaga completamente a figura do autor? No, pois Sartre (2004, p. 38) tem a leitura como uma criao dirigida, quer dizer, o autor guia o leitor, coloca balizas para o leitor, muito embora estas balizas estejam separadas por espaos vazios. Portanto, ser nesses espaos vazios que o leitor ir inserir sua subjetividade. Assim, uma vez que a criao s pode encontrar sua realizao final na leitura, uma vez que o artista deve confiar a outrem a tarefa de completar aquilo que iniciou, [...] toda obra literria um apelo e o escritor apela liberdade do leitor para que esta colabore na produo da obra. (SARTRE, 2004, p. 39). Ora, existem aqui duas assertivas sartrianas: a obra literria precisa tanto do engajamento do autor quanto da liberdade do leitor e ambos autor e leitor geram a obra de arte. Portanto, existe uma parceria implcita, um pacto entre o autor e o leitor. Afirma Ouriques (2008, p. 43, 44) que, de acordo com o pensamento sartriano, ao se dirigir aos coraes dos homens, s suas emoes e seu imaginrio, o romancista no procura explicitamente impor suas idias, mesmo tendo sua maneira pessoal de analisar o mundo, mas acaba intervindo junto ao leitor atravs das vias que lhe so prprias, sugerindo-lhe um pacto e, assim, espera sua participao na transformao social, pois a literatura, para Sartre, pertence ao plano sociolgico, baseia-se em critrios de justia, liberdade e engajamento com o intuito de suscitar a liberdade existente em cada um de ns. Muito embora o filsofo no considere o livro como um meio para um fim, quer dizer, o autor no deve valer-se do livro como ferramenta para suscitar emoes no leitor, acredita, contudo, que o livro uma finalidade em si mesma, qual seja, promover a liberdade do leitor. Isso parece uma contradio. Se o livro no visa a um fim, como poderia visar a liberdade do leitor? Parece-me que Sartre, no seu af de destacar a soberania do leitor no texto, tropeou nas palavras. Parece-me, tambm, que ele percebeu o lapso, pois, acrescenta:
99
A leitura um exerccio de generosidade; e aquilo que o escritor pede ao leitor no a aplicao de uma liberdade abstrata, mas a doao de toda a sua pessoa, com suas paixes, suas prevenes, suas simpatias, seu temperamento sexual, sua escala de valores. (SARTRE, 2004, p. 42).
O autor, portanto, deseja suscitar emoes no leitor; deseja que o leitor, conquanto exera a liberdade, se envolva com o texto. Como o autor faz isto? Dando ao leitor o prazer esttico, a alegria esttica. (SARTRE, 2004, p. 47). Assim, a generosidade no ato da leitura implica em descentramento, pois a alegria esttica provm da conscincia que tomo de resgatar e interiorizar isso que o no-eu por excelncia e envolve uma exigncia absoluta em relao a outrem, haja vista que escrever recorrer conscincia de outrem para se fazer reconhecer como essencial totalidade do ser; querer viver essa essencialidade por pessoas interpostas. (SARTRE, 2004, p. 49, grifo do autor). Como a leitura no uma operao mecnica, o leitor, se estiver distrado, cansado, confuso, desatento, a maior parte das relaes lhe escaparo, e ele no conseguir fazer pegar o objeto (no sentido em que se diz que o fogo pegou ou no pegou), pois cabe a ele projetar para alm das palavras, visto que o sentido no est mais contido nas palavras, pois o objeto literrio, ainda que se realize atravs da linguagem, nunca dado na linguagem. (SARTRE, 2004, p. 37, grifo do autor). Tal acontece, explicita Mller-Granzotto (2005a, p.5), porque o objeto literrio no tem outra substncia que a subjetividade do leitor e em Sartre a obra existe apenas no nvel exato das capacidades do leitor. Resumindo o pensamento sartriano a respeito da leitura, pode-se dizer que o filsofo, muito embora atribua ao leitor a funo desvelante do texto, reconhece que o esforo conjugado do autor com o leitor que far surgir esse objeto concreto e imaginrio que a obra do esprito. (SARTRE, 2004, p. 37). Dito de outra maneira: segundo o pensador, o sentido da obra no est contido nas palavras de um livro, o leitor que introduzir no texto a significao que lhe apraz. Mas significa tambm que o autor manteve certos silncios porque quis, pois, como seu trabalho subjetivo, ele escolhe, deliberadamente, esconder algumas de suas intenes. Entretanto, muito embora estas no estejam expressas no texto, so sua fala fala esta que o leitor tem a liberdade de contestar. Dessa
100
maneira, o pacto entre escritor e leitor funciona como uma rua de mo dupla na qual ambos trafegam respeitando, cada um, seu lado da direo, a sinalizao necessria, a visibilidade do caminho, e, assim, sem atropelos, suavemente, d-se a experincia da leitura.
4. 4 A leitura segundo Merleau-Ponty
Merleau-Ponty, a seu turno, considera que o objeto esttico, no caso, a significao prosaica, no um efeito da atividade imaginante da conscincia (parasi) a partir da materialidade do texto (ser-em-si). Merleau-Ponty no reconhece a primazia ou privilgio do leitor entendido como objetivao da atividade imaginante da conscincia na constituio dos objetos estticos. Para ele, o objeto fruto da experincia da leitura, a qual inclui tanto o leitor quanto o texto. Ou, ainda, o objeto esttico o momento em que os pensamentos do leitor sucumbem frente s articulaes estranhas do texto, recebendo destas uma orientao indita e que, da mesma forma, no existiria sem a virtude dos pensamentos do leitor. O objeto esttico , sobremodo, esse momento especial, em que o leitor e o texto se mesclam num acontecimento indito, que a leitura, a experincia da leitura. Cumpre registrar sua definio de leitura:
A leitura um confronto entre os corpos gloriosos e impalpveis de minha fala e da fala do autor [...] Mas esse poder de ultrapassar-me pela leitura, devo-o ao fato de ser sujeito falante, gesticulao lingstica, assim como minha percepo s possvel por meu corpo. Essa mancha de luz que se marca em dois pontos diferentes sobre minhas duas retinas, vejo-a como uma nica mancha distncia porque tenho um olhar e um corpo ativo, que tomam diante das mensagens exteriores a atitude conveniente para que o espetculo se organize, se escalone e se equilibre. Do mesmo modo, passo direto ao livro atravs da algaravia, porque montei dentro de mim esse estranho aparelho de expresso que capaz no apenas de interpretar as palavras segundo as acepes aceitas e a tcnica do livro segundo os procedimentos j conhecidos, mas tambm de deixar-se transformar por ele e dotar-se por ele de novos rgos. (MERLEAUPONTY, 2002, p. 35, 36).
101
Assim, a leitura corporal posto que perpassa pelo corpo do autor e do leitor, pela fala do autor e do leitor. Se, como disse Merleau-Ponty (2002, p. 180), a fala nos atinge de vis, nos seduz, nos arrebata, nos transforma no outro, e ele em ns, porque ela abole os limites do meu e do no-meu, ento possvel afirmar que a leitura tem a capacidade de realizar semelhante faanha, pois no ato de ler o autor seduz e arrebata o leitor e atravessa a fronteira entre seu corpo e o corpo do leitor. De acordo com Merleau-Ponty (2003, p.133), meu corpo , concomitantemente, corpo fenomenal e corpo objetivo, ou seja, sensvel e sentiente. H um entrelaamento entre a viso e a percepo, entre o visvel e o vidente, j que o olhar envolve o texto e o desvela, pois olhar, dizamos, envolve, apalpa, esposa as coisas visveis. (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 130). Ora, se a viso a apalpao pelo olhar, se quem v no pode possuir o visvel a no ser que seja por ele possudo e se sou um ser sonoro, conforme afirma Merleau-Ponty (2003, p. 131, 140), no ato da leitura no apenas vejo as paisagens e as personagens, mas tambm as toco, escuto seus sons e rudos; participo, enfim, de tudo o que se sucede no texto. Assim, a algaravia das palavras no texto no me desnorteia, posto que as organizo de maneira a lhes inferir sentido, sentido este inicialmente dado pelo autor por meio da estrutura textual, mas enriquecido pelos sentidos que eu, leitor, insiro no momento da leitura. Segundo Merleau-Ponty (2002, p. 32), na leitura vamos alm do pensamento do autor, de tal modo que retrospectivamente acreditamos ter conversado com ele sem termos dito palavra alguma, de esprito a esprito e, foram as palavras que nos falaram durante a leitura [...] sustentadas pelo movimento de nosso olhar e de nosso desejo, mas tambm sustentando-o [...]. Destarte, conquanto o leitor traga consigo a linguagem falada, ou seja, a linguagem que adquiriu ao longo da vida, a expresso acontece quando o livro instiga o leitor, quando o texto d margem dimenso criativa do leitor, quando, ajudado pelo autor, o leitor transforma as significaes conhecidas em novas significaes. Existe, portanto, uma parceria no processo da leitura: o texto que apresenta signos, embries da significao; o autor que apresenta idias, signos transmudados em significaes; e o leitor que partilha dos signos fornecidos pelo autor e, junto com este, transforma a linguagem falada em linguagem falante. Ora, isso significa que, para Merleau-Ponty, as palavras do autor so lanadas no texto com calor e paixo, sendo sustentadas pelo desejo do leitor, ou, dito de outra
102
maneira, as palavras registradas no texto deixam de ser simples signos para se transformarem em linguagem falante a linguagem que ultrapassou o signo e passou a ser significado. Dessa feita, o texto adquire status no processo da leitura, no apenas um amontoado de letras dispersas nas pginas, mas forma um todo com significao. Justamente por agrupar os detalhes da narrativa como um todo e transformar signos em significados, eu, leitor, posso ter a impresso de ter criado o livro de ponta a ponta, como diz Sartre. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 33). Mas preciso salientar que isso uma iluso retrospectiva. O leitor que assim pensa, desconsidera o momento da expresso. Merleau-Ponty justamente acusa Sartre em suas anlises sobre o objeto literrio de esquecer o momento da expresso s por isso que pde atribuir ao leitor certa primazia. Assim, a primazia do leitor, segundo o pensamento merleau-pontyano, uma iluso sartriana, pois na verdade o leitor se entrega ao texto, acredita no que o texto diz e habita o pensamento do autor. Isso possvel graas aos signos sobre os quais o autor e eu concordamos, porque falamos a mesma lngua, ele me fez justamente acreditar que estvamos no terreno j comum das significaes adquiridas e disponveis; ento, o autor se vale dos signos conhecidos para revesti-los de significados que partilha com o leitor haja vista que as palavras inscritas no texto so a voz do autor, mas a experincia da leitura perpassa pelo livro, aparelho de criar significaes, sendo o momento da expresso aquele em que o livro toma posse do leitor. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 33, 34). Ora, autor e leitor compartilham dos mesmos signos posto que o contexto cultural, o idioma, os acontecimentos histricos e as tramas literrias so comuns a ambos; entretanto h algo a ser lembrado: o objeto literrio d vazo a vrias verses, vrios sentidos, vrias interpretaes do narrado, pois, como disse Merleau-Ponty (2002, p.178 -179), entre mim como fala e o outro como fala ou, de maneira mais geral, entre mim como expresso e o outro como expresso, no h mais a alternncia que faz da relao das conscincias uma rivalidade; preciso, refora o filsofo, no esquecer a sobre-significao da expresso literria. Em outras palavras: autor e leitor compartilham dos mesmos signos, mas no dos mesmos significados. Tal se d pela conotao prpria da linguagem literria, que permite s palavras do texto um sentido subjetivo. De fato, muito embora o autor induza o pensamento do leitor, permite que este ltimo forme um sentido prprio do
103
que l, isto , concede liberdade ao leitor para que o mesmo fornea seu significado ao texto. nesse instante que d-se a passagem da linguagem falada para a linguagem falante, quer dizer, o leitor, interpelado pelo livro, produz uma nova linguagem, uma nova significao. Esse, de fato, o momento mgico: o momento da expresso aquele em que o livro se apossa do leitor. Pode-se dizer, ento, que a experincia da leitura consiste, basicamente nisso em criar significaes e a leitura pode ser definida como expresso. Mller-Granzotto (2005a, p. 2) destaca a importncia concedida expresso por Merleau-Ponty na Prosa do mundo, em que o filsofo procura apontar a unilateralidade da perspectiva sartriana, que o fez perder justamente o momento da expresso. Assim, se Sartre se preocupou sobremaneira com o leitor, MerleauPonty, a seu turno, preocupou-se, sobretudo, com a expresso. De acordo com Mller-Granzotto (2005a, p. 2), Merleau-Ponty concebe a expresso quando, utilizando todos os instrumentos j falantes (instrumentos morfolgicos, sintticos, lexicais, gneros literrios, tipos de narrativa, etc.), esses instrumentos possibilitam ao leitor inferir um sentido novo que surpreende o leitor, visto que ele vai comear por dar s palavras que l o sentido ordinrio, comum, que ele afinal traz consigo, at que, aos poucos, se ver como que envolvido por uma fala, sendo levado a um sentido que ele no esperava. O momento da expresso , conforme Merleau-Ponty (2002, p. 33), o momento da fasca que acontece na leitura:
Assim, ponho-me a ler preguiosamente, contribuo apenas com algum pensamento e de repente algumas palavras me despertam, o fogo pega, meus pensamentos flamejam, no h mais nada no livro que me deixe indiferente, o fogo se alimenta de tudo que a leitura lana nele. Recebo e dou no mesmo gesto. Dei meu conhecimento da lngua, contribu com o que eu sabia sobre o sentido dessas palavras, dessas formas, dessa sintaxe. Dei tambm toda uma experincia dos outros e dos acontecimentos, todas as interrogaes que ela deixou em mim, as situaes ainda abertas, no liquidadas, e tambm aquelas cujo modo ordinrio de resoluo conheo bem demais. Mas o livro no me interessaria tanto se me falasse apenas do que conheo. De tudo que eu trazia ele serviu-se para atrair-me para mais alm.
Dito de outra maneira: o momento em que o fogo pega o momento do descentramento na leitura. Significa que o autor sai do centro e permite a
104
intromisso do leitor. Significa, tambm, que h uma cumplicidade entre autor e leitor. Mas tudo isso comeou pela cumplicidade entre a fala e seu eco, ou, para usar o termo enrgico que Husserl aplica percepo de outrem, pelo acasalamento da linguagem. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 35). Se o autor a fala e o leitor o eco, ser que a figura do leitor fica totalmente obscurecida para Merleau-Ponty? O leitor apenas repete, mecanicamente, o que o autor diz? Ele simplesmente aceita as significaes que o autor deixou entrever no texto? No, pois o filsofo chama a relao autor-leitor de cumplicidade, e, citando Husserl, acasalamento da linguagem. Merleau-Ponty (2002, p. 33) confirma essa co-participao de autor/leitor na obra literria ao dizer que o autor se instalou no meu mundo e depois, imperceptivelmente, desviou os signos de seu sentido ordinrio, e estes me arrastam como um turbilho para um outro sentido que vou encontrar. Assim, o escritor, intencionalmente, permite a mudana de direo dos signos: o sentido comum transmuda-se em sentido inabitual quando o leitor apropria-se do texto escrito, interpreta-o, realiza as configuraes que lhe do prazer, se harmonizam com seus interesses, gostos, necessidades ou expectativas. Mas s faz isso porque foi atingido pelo escritor, pois a fala literria do escritor teve fora suficiente para mover a capacidade criadora do leitor. Dito de outra maneira: o leitor permite que o escritor adentre seu campo. Mesmo permitindo a invaso do autor no campo de sua percepo e expresso, o leitor no perde sua autonomia de inferncia de significados, pois na leitura, preciso que num certo momento a inteno do autor me escape, preciso que ele se retraia e ento volto para trs, retomo impulso, ou sigo adiante e, mais tarde, uma palavra bem escolhida me far alcanar, me conduzir at o centro da nova significao; a terei acesso a ela por aquele de seus lados que j faz parte de minha experincia. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 177). Destarte, na experincia da leitura o escritor tambm permite que o leitor adentre seu campo, visto estar embutida no texto sua inteno de provocar o leitor. Ele faz isso ao oferecer a abertura generosa de suas idias a partir das quais pode o leitor inferir significaes, ou, em outras palavras, interpretar o texto. Portanto, como o autor induz o pensamento do leitor, a realeza do leitor puramente imaginria, confirma Mller-Granzotto (2005a, p. 3, 6), visto que o movimento do seu olhar que carrega e sustenta as palavras sobre o papel mas esse
105
movimento torna-se sustentado e carregado por sua vez por uma fala expressiva que o conduz a um sentido indito, inesperado, e o momento da expresso aquele em que ocorre a inverso e o leitor descentrado. Se o momento da leitura se caracteriza pelo descentramento, o ato de ler se configura como transcendental, e isso leva pergunta: ser que a essncia da obra literria permanece? Disse Merleau-Ponty (1990, p. 157) a respeito das essncias de Husserl: se consigo tematizar o que ouvi, eu percebo a essncia da obra. Muito embora estivesse se referindo a um concerto, pode-se aplicar o mesmo leitura. Portanto, os sentidos que o leitor infere ao lido no modificam a essncia da obra apenas propiciam possibilidades diferentes de apreenso. Isso se d justamente porque se valendo da linguagem palavras, sintaxe, gneros literrios ao autor cabe escolher, juntar, manejar, torcer esses instrumentos de tal maneira que induzam o mesmo sentimento da vida que habita o escritor a todo instante e que se desdobra num mundo imaginrio e no corpo transparente da linguagem, ou seja, o escritor utiliza esses instrumentos no texto empregando-os de tal forma que enfim se tornem, para ele, o corpo mesmo de que precisava, no momento em que passa dignidade de significao expressa. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 73, 74). Esse uso da linguagem pelo autor o que Merleau-Ponty chama de estilo. Afirma que o pintor to incapaz de ver seus quadros quanto o escritor de se ler, pois tanto as telas como os livros tm com o horizonte e o fundo da prpria vida deles uma semelhana demasiado imediata para que um e outro possam experimentar em todo o seu relevo o fenmeno da expresso. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 83). Dito de outra maneira: o estilo a presena do autor no texto. Entretanto, por se encontrar imiscudo no texto, o autor se transforma no corpo do texto e, assim, ele no tem o distanciamento necessrio para ler o texto, posto que ele o prprio texto. Na posio de espectador, contudo, o leitor compreende o sistema de equivalncias que o escritor, pelo seu estilo, selecionou, ora transformando a figura em fundo, ora transformando o fundo em figura, de tal forma que o texto apresente significaes, expresse, comunique o que, de fato, o autor quis dizer e, assim, o leitor compreende a frase posto tem disponibilizado como herana cultural o sistema de ressoadores que lhe convm. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 86).
106
H, ento, uma cumplicidade implcita entre o escritor e o leitor: pelo estilo, o escritor se expressa, e, por compreender tal estilo, o leitor retira do texto no palavras soltas e vazias, mas frases completas, com sentido, que so, no um amontoado de signos, mas sim a presena marcante do autor no texto. Muito embora os signos estejam presentes no texto, autor e leitor se valem da capacidade que os sujeitos falantes possuem de ultrapassar os signos em direo ao sentido. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 133). Segundo Merleau-Ponty (1990, p. 297, 303), quem diz estilo diz linguagem e, continua: Saussure mostrou [...] que nada fortuito na linguagem; ela uma totalidade. Dessa feita, o escritor no se contenta em usar os signos da lngua segundo seu valor gramatical, mas faz do conjunto da sintaxe um uso tal, que uma significao indita aparea para o ouvinte, pois o escritor cria, no fundo, um leitor a sua maneira e estabelece uma relao de sentido nico. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 308, 311). Pode-se dizer, ento, que o autor faz um apelo ao leitor valendo-se da sintaxe da lngua e do seu estilo de linguagem para propiciar, a este ltimo, a expresso. Como Merleau-Ponty (ao contrrio de Sartre) assevera no haver uma linguagem pura, os signos so arbitrrios, e, assim, na operao expressiva da leitura os signos transmudam-se em significados na medida em que autor e leitor permitem o descentramento e, dessa forma, se comunicam, de tal sorte que a leitura adquire um carter de universalidade expressiva. A respeito da universalidade da expresso merleau-pontyna, Mller-Granzotto (2006, p.169) explicita: essa no residiria tanto no fato de que aquilo que eu exprimisse fosse igual para todos, quanto no fato de que minha operao expressiva poderia ser retomada por todos, ainda que no da mesma maneira, ou seja, Merleau-Ponty se referia a uma universalidade esttica e os apelos que o escritor faz ao leitor so apelos de continuidade, por meio dos quais o outro convidado a interagir, a retomar e refazer o que, at ento, era s uma promessa. Portanto, na posio de co-autor do texto, o leitor interage com o autor quando, atendendo ao chamamento deste ltimo, fornece contribuio ao texto, isto , ape sua subjetividade a servio do que uma palavra pode dar a entender. Mller-Granzotto (2006) esclarece, ainda, que, de acordo com o pensamento merleau-pontyano, nossa corporeidade permite acessar o mundo no tempo presente, pois sendo este ambguo e inacabado, exige certas instrues para ser
107
trilhado; destarte, retomamos nossas experincias para poder exprimi-las. Retomamos o mundo da percepo pelo que o filsofo chama de boaambigidade, ou seja, os atos expressivos, conquanto possam ser partilhados por todos, quer dizer, tm um carter de universalidade, no perdem a singularidade, ou, em outras palavras, cada um cria um jeito de se exprimir no mundo. Em se tratando da leitura, possvel aventar que cada um retoma o ato singular do outro. Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 243), cada palavra de um texto difcil desperta em ns pensamentos que anteriormente nos pertenciam, mas por vezes essas significaes se unem em um pensamento novo que as remaneja a todos e somos transportados para o centro do livro, encontramos a sua fonte. Entre meus atos e os do semelhante cria-se um domnio comum, mas no de coincidncia. Tal domnio to-somente a disponibilidade temporal dos atos passados e dos atos antigos, mas jamais a coincidncia deles em torno de um s sentido. Ao tema da universalidade do sentido Merleau-Ponty prope: a universalidade esttica antes uma comunidade temporal. Assim, na leitura, retomamos pensamentos que ficaram retidos na memria, mas, ao mesmo tempo, enriquecemos esses pensamentos pela fala do outro, a fala do autor do texto. Dessa feita, o valor expressivo da palavra escrita retomado pelo leitor de acordo com sua singularidade, sendo a retomada da subjetividade do autor somada subjetividade do leitor baseando-se tanto nas retenes quanto nas protenses deste ltimo. Mller-Granzotto (2001a, p. 269, 271, 272, grifo do autor) elucida o pensamento husserliano a respeito das retenes e protenses: nossas impresses iniciais sofrem modificaes a cada nova impresso, a cada novo agora que a conscincia intencional incorpora; de onde se segue a idia de um continuum entre os nossos agora; e, assim, as impresses so, de fato, apenas perfis; tais perfis mantm vivas, ainda que de maneira modificada, as impresses iniciais antigas caso em que funcionam como retenes ou, transformam-se em expectativas projetadas em direo impresses iniciais vindouras caso em que funcionam como protenses; dessa feita, os perfis retidos ou protendidos no so resduos ou projees realmente imanentes ao agora, mas sim, a co-presena de algo que permanece apenas em inteno; e pelas noes de intencionalidade transversal e longitudinal que Husserl transformou o agora em um campo de presena.
108
Lembra Mller-Granzotto (2001a, p. 260) ainda, que, baseando-se na terminologia husserliana do campo de presena, Merleau-Ponty v o continuum em transio como horizonte imaterial, comportando o passado e o futuro, de tal forma para ele essa co-presena do passado e do futuro ao nosso campo de presena a matriz de todos os fenmenos expressivos. Pode-se dizer, ento, que o campo de presena de Husserl permite a transcendncia, a indeterminao, e o campo de presena como entendido por Merleau-Ponty, permite a expresso. Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 551, 555, grifo do autor), o tempo no um processo real, uma sucesso efetiva que eu me limitaria a registrar, mas ele nasce de minha relao com as coisas e: no digamos mais que o tempo um dado da conscincia, digamos, mais precisamente, que a conscincia desdobra ou constitui o tempo. Em outras palavras: para que eu me relacione com as coisas, necessito de um corpo que perceba os acontecimentos no fluxo do tempo, no um corpo que possa ter uma viso sobre o tempo, no um corpo que se comporte como observador dos fatos, mas um corpo situado. Merleau-Ponty considera o tempo como um movimento de passagem. Nessa passagem, o porvir desliza no presente e o passado caminha para o presente. Isso significa que o que temos de concreto o presente, que sempre vivemos no presente, que nosso corpo no presente pois, aquilo que para mim passado ou futuro, est presente no mundo e o presente no est encerrado em si mesmo e se transcende em direo a um porvir e a um passado. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 552, 564). Significa isso que Merleau-Ponty acredita que amalgamado no presente esto o passado e o futuro? Mller-Granzotto (2001a, p. 277-278) esclarece que assim como para Husserl, tambm para Merleau-Ponty, o passado e o futuro esto apenas retidos ou protendidos em meu campo de presena, ou seja, esto presentes em inteno, jamais como um dado real. Ento, como entender o campo de presena husserliano e o campo de presena merleau-pontyano? Ora, se o presente, o passado e o futuro so copresentes, eles mantm uma relao de no-independncia. Tal relao permite que, assim como o mnimo da fala pode evocar o j falado, o mnimo da leitura pode evocar o j lido.
109
A respeito da recordao, ressalta Merleau-Ponty (1999, p.127):
[...] toda recordao reabre o tempo perdido e nos convida e retomar a situao que ele evoca. A memria intelectual, no sentido de Proust, contenta-se em assinalar o passado, um passado em idia, ela antes extrai seus caracteres ou sua significao comunicvel do que reencontra sua estrutura, mas enfim ela no seria memria se o objeto que ela constri no se prendesse ainda, por alguns fios intencionais, ao horizonte do passado vivido e a este prprio passado tal como ns o reencontraramos enveredando nesses horizontes e reabrindo o tempo.
Assim, para Merleau-Ponty, recordar no adentrar no passado e sim trazer o passado para o presente, transformar o fundo em figura, conceder aos objetos novas perspectivas. Infere-se que: reabrindo o tempo possvel vivenciar novamente as emoes que, ao invs de sepultadas, se achavam em estado latente. Se tais emoes forem prazerosas, produziro alegria, o que em si, teraputico. Tambm, boas recordaes produzem bem-estar. Alm disso, a experincia da leitura permite que autor e leitor, mediados pelo texto, compartilhem a temporalidade do universo ficcional e propicia o desenvolvimento da atividade criadora, o que no deixa de ser uma alavanca para manter a sade mental.
4.5 A leitura segundo Iser
Se Proust priorizava a leitura solitria, Sartre, o leitor, Merleau-Ponty, a experincia da leitura, Iser prioriza a interao do texto literrio com o leitor. Na verdade, sua preocupao maior com as atividades imaginativas e perceptivas do leitor frente ao texto literrio, e, nesse sentido, pertinente verificar sua anlise a respeito da leitura, haja vista minha inteno de apontar o efeito teraputico advindo da leitura de textos ficcionais. Sob a influncia da fenomenologia husserliana, Iser (1996-1999) apresenta sua fenomenologia da leitura, em que defende: a interao entre texto e leitor (as estratgias textuais esboam o potencial do texto cabendo ao leitor, estimulado pelo texto, atualiz-lo pelos atos de sua conscincia imaginante); o ponto de vista em
110
movimento (o leitor apreende o texto em fases consecutivas da leitura na medida em que se movimenta dentro dele); os correlatos de conscincia produzidos pelo ponto de vista em movimento (o texto, enquanto evento, permite que o leitor, por meio de suas memrias e expectativas, agrupe os signos textuais, identifique suas relaes e as apresente como em uma Gestalt); as snteses passivas da leitura (as retenes e protenses do leitor so projetadas no texto durante o processo da leitura e suas representaes produzem um novo sentido, posto que estruturado pelo texto). Iser (1996, v. 1, p. 11, 12) considera o texto literrio fruto da seleo que um autor realiza ao que sucede no mundo; tal seleo se apresenta como um rompimento do real, na medida em que permite vrios sentidos e interpretaes e, tambm, como um excesso do real, na medida em que forma sua prpria realidade quando os elementos selecionados so combinados entre si; assim, o texto um acontecimento, pois na seleo a referncia da realidade se rompe e, na combinao, os limites semnticos do lxico so ultrapassados. Dito de outra maneira: o texto literrio no completo em si mesmo alm do registro da reao do autor ao mundo, necessita, ainda, da experincia do leitor, que, ao interpret-lo, infere novos sentidos ao lido. Assim, o texto literrio teria uma dupla funo, qual seja, comunicar o que o autor disse e estimular as competncias do leitor. Ao analisar o texto iseriano, Lima (1979, p. 23) afirma que:
Iser parte da considerao sobre o papel desempenhado pela contingncia nas interaes humanas. Na interao a dois, a cada parceiro impossvel saber como est sendo exatamente recebido pelo outro. [...] Deste lastro negativo, resultar contudo uma exigncia de ordem positiva: o hiato em que sempre corre cada ato de interao, a transparncia mtua impossvel nos obriga prtica cotidiana da interpretao. A interpretao, portanto, cobre os vazios contidos no espao que se forma entre a afirmao de um e a rplica do outro, entre pergunta e resposta.
Assim, os textos literrios so elaborados pelo escritor com vazios que permitem a intromisso do leitor. Tal se d quando este ltimo preenche esses vazios com suas projees. Entretanto, lembra Lima (1979, p. 23) que, na viso iseriana, a comunicao entre o texto e o leitor fracassar quando tais projees se impuserem independentes do texto, ou seja, fomentadas que sero pela prpria fantasia ou pelas expectativas estereotipadas do leitor.
111
Em outras palavras: o texto ficcional, mesmo consentindo a insero das projees do leitor, regula essas projees. Quer dizer, o leitor tem liberdade de adentrar no texto, mas est sujeito a certas regras. Cabe a pergunta, ento: se todas as possibilidades so fornecidas pelo texto, e o leitor tem de ater-se a elas, onde est a liberdade do leitor? Por que a fantasia ou as expectativas estereotipadas do leitor so condenadas por Iser? Se a caracterstica do texto literrio a indeterminao, se os vazios existem como uma concesso ao leitor, por que regular a atividade deste ltimo? Porque, segundo Lima (1979, p. 25, grifo do autor), Iser est interessado no efeito que o texto causa no leitor, na ponte que se estabelece entre um texto possuidor de tais propriedades o texto literrio, com sua nfase nos vazios, dotado pois de um horizonte aberto e o leitor. Destarte, o pensamento iseriano apresenta, por vezes, semelhanas com o pensamento sartriano ao afirmar que sem a introduo do leitor, uma teoria do texto literrio j no mais possvel, pois os textos s adquirem sua realidade ao serem lidos; semelhanas com o pensamento merleau-pontyano ao dizer que o leitor, porm, no pode escolher livremente esse ponto de vista, pois ele resulta da perspectiva interna do texto; contudo apresenta como diferena a concepo do leitor implcito, embutido na estrutura dos textos: o leitor implcito no tem existncia real; pois ele materializa o conjunto das preorientaes que um texto ficcional oferece, como condies de recepo, a seus leitores possveis; o leitor implcito no se funda em um substrato emprico, mas sim na estrutura do texto; a concepo do leitor implcito enfatiza as estruturas de efeitos do texto, cujos atos de apreenso relacionam o receptor a ele. (ISER, 1996, v.1, p. 73, 74). Entretanto, lembra Lima (1979, p. 30), o leitor implcito iseriano, na verdade, no qualquer um, mas apenas aquele leitor capaz de resgatar o significado da obra de acordo com um horizonte de exigncias e expectativas historicamente vinculado, ou seja, este leitor no absolutamente, um tipo ideal, mas bem localizvel; de fato, pertence ao agrupamento culto de uma classe, a burguesia, pertence mesmo a um bloco: a burguesia do ocidente desenvolvido; e continua: no pretendo negar, fora de qualquer necessidade de cortesia, a importncia da caracterizao da literatura pela presena dos vazios, ao contrrio, esta uma contribuio fundamental embora a ela j se tenha chegado por outras vias, como a da psicanlise, a do estruturalismo lvi-straussiano.
112
Ora, sabe-se que Iser recriou a teoria dos espaos vazios no texto15, defendendo a integrao entre texto e leitor visto nutrir a preocupao com o efeito da experincia esttica no leitor. Por esse motivo, descreve o processo da leitura como uma interao dinmica entre texto e leitor; dessa feita, o terico considera a estrutura do texto e a estrutura do ato da leitura como dois plos da comunicao e a mesma s acontece quando o texto se faz presente no leitor como correlato da conscincia. (ISER, 1999, v. 2, p. 9, 10). Ao destacar a necessidade de a fenomenologia da leitura esclarecer os atos de apreenso pelos quais o texto se traduz para a conscincia do leitor, Iser (1999, v.2, p. 11) considera que o texto, enquanto objeto, s pode ser apreendido em perodos sucessivos da leitura, a qual se configura como uma relao sujeito-objeto em que o sujeito (leitor) se movimenta pelo objeto (texto), sendo o sujeito transcendido pelo objeto. Segundo Iser (1999, v.2, p. 12-13):
A relao entre o texto e o leitor se caracteriza pelo fato de estarmos diretamente envolvidos e, ao mesmo tempo, de sermos transcendidos por aquilo que nos envolvemos. O leitor se move constantemente no texto, presenciando-o somente em fases; dados do texto esto presentes em cada uma delas, mas ao mesmo tempo parecem ser inadequados. Pois os dados textuais so sempre mais do que o leitor capaz de presenciar neles no momento da leitura. Em conseqncia, o objeto do texto no idntico a nenhum de seus modos de realizao no fluxo temporal da leitura, razo pela qual sua totalidade necessita de snteses para poder se concretizar. Graas a essas snteses, o texto se traduz para a conscincia do leitor, de modo que o dado textual comea a constituir-se como correlato da conscincia mediante a sucesso das snteses.
A citao iseriana revela que no ato da leitura realizamos uma sntese, ou, em outras palavras, vamos recompondo o texto. E, ao mesmo tempo em que nos
15
A concepo dos espaos vazios de Iser partiu do conceito dos lugares indeterminados de Ingarden que definiu os objetos reais como universalmente determinados, os objetos ideais como possuindo existncia autnoma e a obra de arte como distinta de ambos por ser um objeto intencional. Dessa feita, esta ltima no possuiria a determinao universal dos primeiros nem a existncia autnoma dos segundos, posto que um objeto aberto e, nesse sentido, os lugares indeterminados do texto permitem a concretizao da obra. Para Ingarden, os lugares indeterminados so o valor esttico e as qualidades metafsicas que o leitor preenche com as suas representaes a fim de constituir o sentido da obra. Iser, conquanto credite a Ingarden o mrito de desenvolver o conceito de concretizao da obra literria, aponta a falha de sua teoria dos lugares indeterminados, pois os mesmos apenas propiciam uma complementao da obra. Iser, a seu turno, tem os espaos vazios como uma comunicao, uma interao entre texto e leitor. Assim que o no-dito no texto (o que o autor ocultou) estimula o leitor, mas tal se d porque o dito (o que o autor mostrou) permite essa estimulao. Portanto, o leitor se movimenta no texto, interfere nele, mas sua atividade controlada pelo texto. (cf. LIMA, 1979; SAMUEL, 2007).
113
envolvemos com o lido, o transcendemos. Isso indica que a leitura, alm de se configurar como um processo dinmico, tambm uma atividade sinttica que exige do leitor ir alm dos dados textuais, reconfigurando-os de maneira que se forme um novo texto. Mas se o leitor cria um novo texto, sempre a partir de outro j construdo, pois ele atualiza o texto quando o transfere para sua conscincia, ou seja, o texto ativa tanto a capacidade de apreenso das idias apresentadas pelo autor, quanto das idias criadas pelo leitor. Mas, como observado, a criao orientada pelo texto. O leitor constri novos sentidos, no idnticos ao texto, mas de acordo com o texto. Mesmo assim, Iser considera a leitura um ato de comunicao entre mim e o outro, pois, segundo ele, h um dilogo entre o autor e o leitor; ao envolver-se no texto, o leitor presentifica-se nele, pois o texto apresenta possibilidades de significao que so exploradas pela subjetividade do leitor. Ora, se a idia do sujeito-autor permeia todo o texto com seus valores e juzos, por sua vez o texto permite (apesar de controlar) a intromisso do sujeitoleitor, que confere ao lido seus prprios valores e juzos. Portanto, a formao da coerncia intersubjetiva: depende do que o autor disse no texto e do que o leitor infere de sentidos ao lido, e, dessa feita, a leitura tem carter transcendental. Assim, a imaginao do leitor capta o no-dado (mas sugerido) pelo texto no processo da leitura, que, alm de ato de comunicao, , tambm, um fluxo temporal. Baseando-se na fenomenologia de Husserl, Iser (1996 -1999) afirma que o texto se transfere para a conscincia do leitor com a combinao das perspectivas textuais que operam pelo seu ponto de vista no movimento da leitura, retendo o passado no presente. Dessa feita, como intuio temporal, a leitura articula passado, presente e futuro as retenes e protenses de que falava Husserl. Cumpre lembrar que para Husserl (apud MLLER-GRANZOTTO, 2001a, p. 270, grifo do autor), a partir da vivncia [do] continuum em mutao que a conscincia intencional constitui os objetos temporais que distinguem para si o que atual, passado ou porvir. Segundo Mller-Granzotto (2001a, p. 271), Husserl elaborou um esquema da teoria do tempo em que os perfis retidos ou protendidos [...] no so resduos ou projees realmente imanentes ao agora e sim, a copresena de algo que permanece apenas em inteno, so um modo de visar. Assim, o campo de presena como defendido por Husserl admite sempre a presena soberana da conscincia e tal entendimento foi partilhado por Iser.
114
Adotando o conceito husserliano da conscincia interna do tempo, Iser (1999, v.2, p. 15, 16, 17) afirma que quando o leitor se situa no meio [...] do texto, seu envolvimento se define como vrtice de protenso e reteno, organizando a seqncia das frases e abrindo os horizontes interiores do texto; e o que temos lido se afunda na lembrana, corta suas perspectivas, empalidece de modo crescente e acaba dissolvendo-se num horizonte vazio, contudo, no desenrolar da leitura, despertam-se mltiplas facetas daquilo que possumos somente na reteno, ou seja, o que lembramos projetado num novo horizonte que ainda no existia no momento em que foi captado; assim, cada momento da leitura representa uma dialtica de protenso e reteno, entre um futuro horizonte que ainda vazio, porm passvel de ser preenchido e um horizonte que foi anteriormente estabelecido e satisfeito, mas que se esvazia continuamente e, desse modo, o ponto de vista em movimento do leitor no cessa de abrir os dois horizontes do texto, para fundi-los depois de tal forma que a estrutura de horizonte da leitura se evidencia como ato elementar de criao. Ento, entre as protenses e as retenes, o leitor vai construindo o texto por meio do ponto de vista em movimento. Os vazios do texto literrio so completados pelo leitor que confere sentido ao lido, isto , o no-dito pelo texto se revela ao leitor na medida em que este organiza a sucesso das frases de acordo com suas lembranas e expectativas. As expectativas, ou seja, as protenses, desempenham papel fundamental no processo da leitura e h constantes modificaes nos horizontes de leitura, visto que as expectativas vo se transformando medida que o leitor se movimenta pelo texto. Assim, segundo o pensamento de Iser, o texto s se completa quando interage com o leitor, quando permite ao leitor inferir sentidos ao lido e a transferncia do texto para a conscincia do leitor d-se no apenas pelo texto, mas tambm pela ativao da capacidade de apreenso e de processamento da conscincia do leitor. tese iseriana do leitor implcito que se vale das suas lembranas, expectativas, vivncias e imaginao para criar um novo texto, pode-se juntar, ento, sua principal tese a do efeito do texto literrio sobre o leitor:
s quando o leitor produz na leitura o sentido do texto sob condies que no lhe so familiares [...] mas sim estranhas, algo se formula nele que traz luz uma camada de sua personalidade que sua conscincia
115
desconhecera. Tal tomada de conscincia, no entanto, se realiza atravs da interao entre texto e leitor; por isso que sua anlise ganha a primazia. (ISER, 1996, v.1, p. 98)
Justamente por acreditar que embora o leitor tenha sua imaginao instigada pelo texto e o efeito deste naquele d-se em virtude da assimetria entre ambos, Iser (1996, v.1, p.80, 81) discorda de certas teorias psicanalticas do efeito literrio, dentre elas, a de Norman Holland e Simon Lesser, pois, segundo ele, seus estudos se baseiam em conceitos de psicanlise ortodoxa, so conceitos cristalizados, e ambos substancializaram a terminologia psicanaltica e, assim, antes dificultam do que facilitam o acesso reao dos leitores literatura. No o caso de Iser ser contrrio teoria psicanaltica, de ignorar o inconsciente ou no apreciar o pensamente freudiano. O que ele condena transformar a psicanlise em um sistema conceitualmente fechado em vez de atribuir aos conceitos psicanalticos uma funo exploradora. Segundo Iser (1996, v. 1, p. 83, 85) o significado para Holland um processo dinmico em que a fantasia pulsional transformada em figuras identificveis da conscincia e, em conseqncia, o significado psicanaltico figura como a origem de todos os outros, e a interpretao psicanaltica se revelaria ento como diagnose e, como tal, deveria tambm ser uma terapia e acrescenta: mas a idia de que os textos literrios mudam, em um sentido teraputico, o estado psquico do leitor que pode assim descobrir o verdadeiro significado j algo tanto trivial. (ISER, 1996, v.1, p. 85). Ora, da citao acima infere-se: muito embora Iser questione os mtodos analticos de Holland (pois este ltimo considera o processo comunicativo como advindo da correspondncia entre o texto e as disposies psquicas do leitor, o que contrrio ao pensamento iseriano acerca da assimetria entre texto e leitor, em que o no-idntico se configura como condio para ocasionar o efeito esttico), reconhece, contudo, o potencial teraputico dos textos ficcionais. No tocante a Lesser, Iser (1996, v.1, p. 93, 95) discorda da hiptese do primeiro de que o conflito e a soluo que constituem o ritmo da obra de arte sejam alheios ao leitor, pois, segundo ele, deve-se acrescentar que esse ritmo no se desenrola diante do leitor, mas sim o ocupa internamente e o obriga a trabalhar a excitao que o texto produz e continua: a soluo de conflitos s capaz de
116
desenvolver um efeito de catarse ao envolver o leitor em sua realizao, pois a obra de arte d satisfao ao receptor apenas quando ele participa da soluo e no se limita a contemplar a soluo j formulada como Lesser pensara. Assim, Iser, conquanto aponte a falha de Lesser em considerar o distanciamento do leitor na resoluo dos conflitos da narrativa ficcional (visto que de acordo com este ltimo o texto que resolve os conflitos para o leitor), no questiona, contudo, o valor catrtico da literatura. Se para Holland e Lesser a literatura tem carter compensatrio e deveria proporcionar prazer ao leitor, Iser vai alm, creditando leitura o poder de exercitar a atividade criadora do leitor, pois segundo ele:
O autor e o leitor participam portanto de um jogo de fantasia; jogo que sequer se iniciaria se o texto pretendesse ser algo mais do que uma regra de jogo. que a leitura s se torna um prazer no momento em que nossa produtividade entre em jogo, ou seja, quando os textos nos oferecem a possibilidade de exercer nossas capacidades. (ISER, 1999, v.2, p. 10)
Sendo um jogo, a leitura produz prazer. Tal prazer, segundo a concepo iseriana, no um elemento do texto, criado pelo leitor no momento em que o mesmo converte o livro em objeto esttico. Na medida em que o leitor se envolve com o texto, ele usufruir um prazer esttico, desenvolver uma atitude esttica. Sua conscincia imaginante produzir um novo texto a partir do texto original e, portanto, o prazer esttico est vinculado ao outro (autor). Isso significa que o comportamento esttico de apropriao do texto pelo leitor (modificando-o), no se configura como uma afronta ao autor, mas uma relao consentida de interao entre os parceiros desse jogo que se chama leitura. A experincia da leitura permite, ainda, que autor e leitor usufruam do fenmeno esttico, compartilhem da fantasia, brinquem com o texto. Resumindo a posio iseriana acerca do efeito do texto literrio: se tal texto produz efeito, significa que libera um acontecimento e que precisa ser assimilado; conquanto o texto se origine da reao do autor ao mundo e do processo de seleo que este utiliza para retirar do mundo certos acontecimentos e apresent-los ao leitor, este ltimo quem criar o efeito esttico ao valer-se da interpretao. Assim, possvel dizer que a perspectiva do autor e a experincia do leitor conferem
117
leitura
um
carter
de
comunicao,
intercorporeidade,
intersubjetividade,
descentramento, de transcendentalidade, enfim. Existem, ento, trs corpos atuando em conjunto: o corpo do autor, o corpo do texto e o corpo do leitor que colaboram para que o ato da leitura produza um efeito. No captulo em questo, proponho que o efeito seja teraputico.
4.6 A leitura como terapia
Cumpre lembrar que a leitura aqui tratada a da obra literria, visando explorar a experincia esttica, catrtica e teraputica. Cumpre lembrar, tambm, que a narrao de histrias est includa nesse tpico, visto ser uma forma de leitura, posto que se vale de um texto de apoio, consistindo em oralizao e gestualidade vinculadas ao registro de uma narrativa escrita, e, ainda, que o vocbulo narrao, no presente trabalho, usado como sinnimo de contao, no ficando preso s diversas acepes da teoria literria16. A dramatizao, por sua vez, entendida igualmente como uma forma de leitura, uma leitura no apenas do texto, mas do corpo dos atores, do cenrio, do espetculo, enfim; nesse sentido, a atuao dos aplicadores da biblioterapia consiste em dar vida ao texto, em forma de teatro, apresentando uma histria com o intuito de despertar o imaginrio e produzir a catarse nos espectadores. Esclarecido esse ponto, me concentrarei em estabelecer um paralelo entre as idias dos tericos apresentadas no subtpico anterior. Verifiquei que, conquanto cada um apresente um enfoque diferenciado a respeito da leitura, um ponto em comum pode ser encontrado em suas argumentaes. Proust enfatiza a leitura individual visto a mesma garantir a privacidade, a espontaneidade e tem a leitura solitria como teraputica posto que a mesma um estmulo atividade criadora; Sartre afirma que o leitor, pela sua conscincia imaginante, confere sentido esttico ao texto literrio, sendo, assim, o verdadeiro criador do texto; Merleau-Ponty advoga que na leitura as palavras do autor guiam e
16
De acordo com os preceitos da teoria literria, narrao pode significar: a) processo de enunciao narrativa; b) resultado dessa enunciao; c) escrita da narrativa; d) procedimento oposto descrio; e) modo literrio distinto do modo dramtico e do modo lrico (REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionrio de teoria da narrativa. So Paulo: TICA, 1988.).
118
permitem a formulao de significado no leitor, posto que ambos so expresso e no h, ento, rivalidade entre autor e leitor e, ainda, que a sobre-significao da expresso literria sempre permite inferir novas significaes; Iser, a seu turno, considera que o processo da leitura criao, pois o leitor preenche os vazios do texto literrio atribuindo-lhes significados que so construdos pelo ponto de vista do leitor respaldados nas retenes e protenses. O ponto em comum, salientado por todos, a atividade criadora do leitor. Essa atividade acontece porque o texto no se esgota em si mesmo, ele permite a interpretao do leitor, fornece margem liberdade e criao. Pode-se dizer que interpretar o texto no significa mutil-lo ou abafar a idia do autor, visto que ser fiel ao texto deixar que ele se mostre; na leitura retoma-se a subjetividade do autor. Retoma-se a subjetividade pela temporalidade, pois, se na fala presente se retoma o passado e o futuro, na leitura retoma-se as retenes e as protenses. Retomar dar ao que se repete um destino que no lhe era reservado, mas que se abriu por conta da virtude das possibilidades trazidas pelo texto. A retomada implica transformar a linguagem falada em linguagem falante, ou, em outras palavras, transformar signos em significados. Isso possvel porque o leitor reage interpelao do livro ultrapassando o sentido imposto pelo estilo do autor e criando, ele prprio, seu estilo, sua lgica e isso se d apenas quando cativado pelo livro. O envolvimento com o livro, o preenchimento dos vazios do texto literrio, a interao entre texto e leitor, a significao como continuidade e retomada do texto permitem que se pense na terapia por meio da leitura, ou, dito de outro modo, na biblioterapia. Como visto, a idia merleau-pontyana de sujeito psicofsico, aqui defendida, implica em articular o fisiolgico com o psquico e, assim, se a leitura salutar para o esprito, ela o tambm para o fsico; se pode ser considerada uma terapia para o corpo, pode ser, tambm, considerada terapia para a mente. Entretanto, se a leitura h de agir como um tratamento, necessita da aprovao do leitor h que se basear na liberdade do leitor; isso significa que os textos devem ser desejados e no impostos como leitura. Isso significa, tambm, que temos de ser cativados pelo livro de tal forma que nos envolvamos totalmente ou, como diria Merleau-Ponty (2002, p. 31, 32) medida que sou cativado por um livro, no vejo mais as letras na pgina, no sei mais quando virei a pgina e as palavras nos falam durante a leitura porque so sustentadas pelo movimento de nosso olhar e de nosso desejo.
119
A liberdade, segundo o conceito merleau-pontyano, significa no apenas transpor obstculos, mas consentir ou no que algo se configure como obstculo. Assim, cabe a cada um encontrar o limite sua liberdade. No campo da leitura, ser a atitude do leitor que permitir ao mesmo transformar sua condio de doente (fsico, psquico ou social) em condio de ser so. Para que se processe uma cura, deve o leitor ter uma coexistncia com o texto literrio, ou, em outras palavras, escutar o que o texto diz, mas, tambm, dizer algo ao texto, pois as palavras inscritas nas pginas do livro necessitam da sustentao e reativao do leitor da retomada. Se o leitor impe a si o limite de ficar preso ao texto, realizando apenas a decodificao de sinais grficos, far da leitura um hbito, ou seja, algo automtico e esse texto jamais ser considerado como passvel de terapia, posto que no foi inteno do autor proceder uma cura pela leitura. Mas em contrapartida, se o leitor ultrapassar o que foi dito no texto exercendo a liberdade de interpretao, ele far da leitura um ato. Nesse ato haver um envolvimento implcito entre texto e leitor de tal forma que o texto solicitar ao leitor o exerccio de sua liberdade de interpretao e de criao de um novo texto. Nesse exerccio, se houver por parte do leitor uma inteno de mudana de atitude, de enfrentamento dos problemas, o texto pode, efetivamente, agir como um remdio. A noo de liberdade de que fala Merleau-Ponty no estava, a princpio, apontando para a leitura, mas pode muito bem ser aplicada a ela. Quando diz longe de que minha liberdade seja sempre solitria, ela nunca est sem cmplice, pois seu poder se apia em meu envolvimento universal no mundo e, assim, minha liberdade efetiva no est aqum de meu ser, mas diante de mim, nas coisas e no h liberdade sem alguma potncia visto que nossa liberdade ou total ou nula, Merleau-Ponty (1999, p. 607, 609) admite a possibilidade de o leitor exercer sua liberdade de interpretao, pois se a liberdade est nas coisas, est na coisaleitura; se necessrio ter potncia para desfrutar a liberdade, cabe ao leitor usar seu poder para usufru-la; se a liberdade vale-se de cmplices para mitigar a dor, a leitura um excelente meio para isso. A liberdade de interpretao permite que o fenmeno da leitura se configure distinto cada vez que processado. Husserl (2000, p. 89) j alertara para o fato de que no o mesmo fenmeno que existe nas duas vezes, mas so dois fenmenos essencialmente distintos e que tm apenas uma coisa em comum. Acrescenta-se,
120
segundo Husserl (2000, p. 88), uma prioridade de valor, um carter que confere valor, um sentimento que marca. A coisa em comum o texto escrito, a idia mestra, o pensamento do autor, a essncia. O texto apresenta matrizes de idias (que se vo acumulando ao longo das leituras), das quais o leitor se vale para criar um novo texto que se adeqe s suas expectativas e lembranas. Ao assim proceder, estimulado e conduzido pelo texto, visto que as perspectivas textuais so tanto estimulantes ao leitor quanto estimuladas por ele. O leitor acrescenta seus juzos de valor, suas emoes, suas vivncias e, utilizando sua liberdade, interpreta o lido, mesmo sem o perceber, pois, como disse Merleau-Ponty (2002, p.166) ao entrar num livro, sinto que todos os termos mudaram sem que eu possa dizer em qu. Por que os termos mudaram? Ora, na leitura, se realiza um dilogo e, na experincia do dilogo, a fala do outro vem tocar em ns nossas significaes. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 173-174). O filsofo reconhece que na leitura, preciso que num certo momento a inteno do autor me escape e que uma palavra bem escolhida [...] me conduzir at o centro da nova significao, pois a racionalidade, a concordncia dos espritos no exigem que cheguemos todos mesma idia pelo mesmo caminho [...] ela exige apenas que as idias tenham uma configurao. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 177). Assim, est aberto o caminho para a interpretao. Na leitura, se utilizados os conceitos da Gestalt, a figura pode virar fundo, e o fundo, figura. Tudo depende do leitor, do seu ponto de vista, da ebulio de suas emoes, das suas vivncias. A intuio categorial sofre, portanto, a ao da intuio sensvel; o ser (categorial) desvela o ente (sensvel). Para Husserl (apud MOURA, 2001, p. 352), o objeto sensvel est presente como o mesmo de antes, mas presente de um modo novo, manifestado de uma nova maneira. Aplicando-se tal citao leitura, pode-se dizer que o leitor faz as configuraes que lhe apraz dependendo da percepo sensvel que o objeto lhe despertou. Some-se a isso o fato de as lembranas e as expectativas do leitor ser ativadas no momento da leitura. Ora, tem-se, ento, uma experincia do tempo. Essa experincia permite, na leitura, retomar o passado e o futuro no agora. Tal retomada pode ser teraputica se o leitor inferir significaes que, no momento mesmo da leitura, produzam um sentimento de bem-estar, forneam-lhe uma
121
sensao de equilbrio e de leveza, lhe dem prazer, propiciem o esquecimento dos males, faam-no conviver com o outro, seja esse outro o autor ou a personagem ficcional, pois defendo que a sade no apenas uma caracterstica biolgica, ela abrange, tambm, as relaes interpessoais. Muito embora o sentido original do texto permanea (pois est cristalizado no texto pelo autor), o leitor cria novos sentidos na medida em que se move dentro do texto, na medida em que seus pontos de vista se modificam, na medida em vai interpretando o texto de acordo com suas vivncias. justamente a descoberta de significado pelo leitor que faz o texto literrio se configurar como um cuidado com o ser, como uma maneira de visar a sade, como uma terapia, pois a criao age como um estmulo ( maneira proustiana), como um afloramento das protenses e retenes ( maneira husserliana), como um desvendamento ( maneira sartriana), como um apelo e um dilogo ( maneira merleau-pontyana) e como um preenchimento de algo que falta ( maneira iseriana) enfim, como uma retomada. Sabe-se que as necessidades estticas do ser humano no podem ser medidas. Mas elas existem e tm de ser sanadas. Tanto assim que os artistas tm seu nome imortalizado, enquanto nutricionistas, arquitetos e empresrios adquirem fama provisria seu nome no fica inscrito para a posteridade. Ora, isso se d porque temos fome e sede de beleza tanto ou mais do que de alimento e bebida; tambm, muito embora um teto e um emprego sejam indispensveis, eles no fornecem satisfao total, suprem apenas as contingncias da vida. A seu turno, um texto literrio permite a transcendncia: vai alm do j dito e consolidado; inserido nele est a sobre-significao e a encantao lingstica, pois o leitor apreende o sentido introduzido na histria pelo autor e, magicamente, excede esse sentido a seu bel prazer. A encantao lingstica acontece quando se d a passagem da fala falada fala falante. Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 266, 267), a fala falante aquela em que a inteno significativa se encontra em estado nascente e a fala falada desfruta as significaes disponveis como a uma fortuna obtida. Disso se infere que, uma histria para ser teraputica, uma histria para ser utilizada em atividades de biblioterapia (em forma de leitura, narrao ou dramatizao), deve possibilitar essa abertura que permite ao leitor, ouvinte ou
122
espectador ultrapassar as significaes do mundo cultural e criar novas significaes, uma nova maneira de compreender o mundo. De acordo com Silva (1981, p. 96), enquanto um projeto de busca de significados, a leitura deve ser geradora de novas experincias para o indivduo. Preocupado inicialmente com a leitura como a decodificao de smbolos, depois com a compreenso do texto, o Autor, volta, tambm, sua ateno para a interpretao do texto, muito embora foque o campo da educao. Assim que, sob um enfoque fenomenolgico, apresenta seu estudo sobre a leitura em que afirma: ler detectar ou apreender as possibilidades de ser-ao-mundo apontadas pelos documentos que fazem parte do mundo da escrita. Atento realidade educacional brasileira, aponta a leitura como essencial para o ser humano situar-se no mundo, compreender o mundo e participar ativamente do mundo. Seu direcionamento a respeito da interpretao do texto escrito volta-se para a criticidade como fundamental no processo educativo e, assim, prioriza a leitura de textos informativos, conquanto no despreze a leitura de textos ficcionais. Merece ser citado nesse trabalho pelo empenho que tem feito em prol do desenvolvimento da leitura no Brasil. Entretanto, escritos didticos e informativos no so utilizados nos projetos de biblioterapia que desenvolvo ou coordeno. No o caso de menosprezar os dois primeiros, e sim, de creditar ao texto ficcional possibilidades teraputicas pelo ludismo embutido, por provocar emoes, por apresentar o mundo real sob o manto da poesia, por ser arte, enfim. Lembra Merleau-Ponty (1999, p.19) que a verdadeira filosofia reaprendrer a ver o mundo, e nesse sentido uma histria narrada pode significar o mundo com tanta profundidade quanto um tratado de filosofia. Tal se d justamente porque a arte literria expresso; por metforas representa a realidade do mundo; essa realidade, contudo, apreendida pela imaginao de tal forma que cada pessoa v ou compreende o mundo do seu jeito. Esse o grande mrito dos contedos de fico. Complementa Merleau Ponty (1999, p. 248):
A operao esttica, quando bem sucedida, no deixa apenas um sumrio para o leitor ou para o prprio escritor, ela faz a significao existir como uma coisa no prprio corao do texto, ela a faz viver em um
123
organismo de palavras, ela a instala no escritor ou no leitor como um novo rgo dos sentidos, abre para nossa experincia um novo campo ou uma nova dimenso. [...] A expresso esttica confere a existncia em si quilo que exprime, instala-o na natureza como uma coisa percebida acessvel a todos ou, inversamente, arranca os prprios signos a pessoa do ator, as cores e a tela do pintor de sua existncia emprica e os arrebata para um outro mundo.
Esse outro mundo o da fico, do encantamento, da passagem da fala falada fala falante. Como o livro um aparelho de criar significaes, como o livro toma posse do leitor, a linguagem falada, ou seja, aquela que o leitor trazia consigo, a massa das relaes estabelecidas com significaes disponveis, sem a qual, com efeito, ele no teria podido comear a ler, o texto realiza uma interpelao ao leitor levando-o a transfigurar o arranjo dos signos at finalmente secretar uma significao nova, ou seja, a fala falante. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 34, 35). essa fala falante, esse ultrapassamento da linguagem solidificada, essa liberdade de criao de um novo texto, esse preenchimento dos vazios do texto literrio, que permite ao leitor/ouvinte/espectador pensar sobre seus sentimentos e problemas e, amalgamando suas retenses e protenes com o simblico, transformar uma narrativa ficcional em narrativa teraputica, posto que todo texto literrio carrega como germe essa possibilidade de terapia. O objeto literrio tem essa potencialidade embutida; pode-se mesmo afirmar que justamente por ser ficcional, a narrativa teraputica. Conforme Sunderland (2005, p. 26), uma histria teraputica lida ou contada s crianas aborda os problemas emocionais comuns, mas fala dentro do domnio da imaginao e no dentro do domnio da cognio. Dito de outra maneira: uma histria para ser considerada teraputica deve apresentar mecanismos de enfrentamento dos problemas do dia-a-dia, mas no se valer da linguagem do cotidiano, posto que a mesma sem atrativos. Assim, a linguagem metafrica, a linguagem que explora a imaginao, a ideal para as atividades de biblioterapia. Sunderland (2005, p.16) assegura-nos que contar histrias uma boa maneira de ajudar as crianas a lidar com seus sentimentos, pois para as crianas, a linguagem cotidiana no a linguagem natural do sentimento e continua: para elas, a linguagem natural do sentimento a da imagem e da metfora, como em
124
histrias e sonhos. Assim, se um adulto pretende ajudar uma criana por meio de histrias, deve faz-lo, segundo Sunderland (2005, p. 19), de tal forma que a linguagem cotidiana a linguagem do pensamento, ceda espao para a linguagem metafrica a linguagem da imaginao, pois para uma criana, as palavras do cotidiano e os rtulos comuns para os sentimentos so sensorialmente muito ridos haja vista que no mundo imaginativo em que ela vive, to cheio de cor, magia, imagens, ao, luz e outras coisas, palavrinhas inspidas no conseguem capturar suas experincias imaginativas, emocionalmente carregadas. De fato, a linguagem metafrica apresenta a grande vantagem a de utilizar a expresso indireta. Ao se valer desse recurso, no assusta a criana, pois d a impresso de que os acontecimentos lidos ou narrados pertencem esfera do outro, passam-se com o ser ficcional. Dessa forma, ela no se sente exposta ao adulto, no sofre julgamento por suas aes. O jovem, o adulto e o idoso tambm apresentam resistncia exposio dos sentimentos, e, assim como a criana, no gostam de passar pelo crivo avaliatrio de seus pares. Nesse sentido, incua e indolor a biblioterapia, pois o livro, sua pea-chave, tem a narrativa montada na linguagem metafrica, a linguagem da imaginao; alm disso, ao mexer com as emoes, realiza uma catarse; pela expresso indireta, permite a empatia, ou, em outras palavras, a identificao; como proporciona refletir sobre o problema, realiza a introspeco aspectos teraputicos da leitura. Como bem lembrou Sunderland (2005, p. 21), se as palavras literais expressassem plenamente o que sentem os seres humanos, no haveria necessidade de msica, pintura, teatro ou poesia. Assim, ao ler ou contar uma histria para crianas, h que se ter em mente todas as possibilidades que a metfora enseja e explorar esse recurso textual como potencialidade teraputica. E lembrar que jovens, adultos, e idosos no ficam imunes encantao lingstica, sentem, igualmente, prazer esttico no ultrapassamento, na retomada, na criao. Tambm na dramatizao h que ser permitir a construo da imagtica. Como? Ora, a representao deve fomentar a imaginao no deixando tudo pronto, vista do espectador. Dessa maneira, pode ele participar da pea na medida em que a vivencia, percebe, sente-a. No pertinente, sob o enfoque fenomenolgico, apresentar em nmeros a atuao dos bibliotecrios no tocante leitura, narrao ou dramatizao como funo teraputica e sim mostrar como ela se d. Portanto, ao relatar um projeto de
125
finalidade teraputica, lembro que a fenomenologia uma metodologia da compreenso, e, assim, a atitude fenomenolgica implica no apenas em descrever a leitura (narrao ou dramatizao), mas tambm em mostrar que a leitura (narrao ou dramatizao) s adquire sentido na vivncia, que no existe o objeto leitura (narrao ou dramatizao) em si, mas somente enquanto objeto percebido, sentido, pensado. O projeto de leitura desenvolvido na ala feminina do Presdio de Florianpolis, em 2003, um bom exemplo disso. Inicialmente executado em forma de sessopiloto na disciplina Biblioterapia por uma equipe de alunos, tocou profundamente um de seus membros, uma acadmica do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina que resolveu dar continuidade ao projeto por todo o semestre. Consistindo em atividade voluntria, a aluna, no ficou, contudo, sem orientao. Assim que, periodicamente, nos reunamos para analisar textos literrios e avaliar sua pertinncia para o pblico em questo e trocvamos idias sobre atividades complementares que proporcionassem, alm do bem-estar advindo da leitura, a certeza de que o presdio no tolhera sua capacidade criadora e imaginativa. As atividades biblioteraputicas transcorriam em sala de aula, no perodo destinado ao Curso Supletivo, disponibilizado s detentas interessadas em prosseguir seus estudos. Cumpre lembrar que as apenadas no eram consideradas perigosas e nem violentas; cumpriam pena por cumplicidade ao acobertar os companheiros. A apatia, o desnimo e a tristeza impediam muitas de sair da cama, ali ficando, algumas vezes, o dia todo. Para assistir s aulas no Supletivo, eram convidadas persistentemente. A aplicadora das atividades de biblioterapia percebeu que a saudade era o mal maior das apenadas e, assim, aps a leitura dos textos, incentivava a escrita de bilhetes e cartas. Como o tema recorrente era o amor (seja aos filhos, seja aos companheiros), direcionou para esse o contedo ficcional s detentas voluntrias do programa de leitura. A acadmica preocupou-se em acrescentar livros ao pequeno acervo a que as detentas tinham acesso e, assim, as mesmas podiam realizar leituras individuais nos horrios em que ficavam restritas cela. Desse modo, usufruam da experincia esttica mesmo quando sozinhas. Assim, ao se reunirem para as sesses de biblioterapia, quando interpeladas pela aplicadora das atividades, sentiam-se mais aptas para dialogar sobre seus sentimentos. Um
126
exerccio bastante prezado era o da continuidade de frases: em uma folha de papel a primeira voluntria escrevia uma frase; em seguida, enrolava o papel de tal maneira que s aparecesse a ltima palavra; a segunda voluntria escreveria uma frase que tivesse correspondncia com essa palavra e, assim, o processo prosseguia at a escrita da ltima frase, quando ento, a aplicadora desenrolava o papel e lia em voz alta o texto coletivo. A auto-estima das apenadas melhorou tanto que, em resultado das atividades de biblioterapia, as mesmas resolveram escrever um jornalzinho divulgando suas idias em forma de prosa e de poesia. O que se deduz disso? Que o interesse nelas demonstrado as despertou da letargia. medida que adquiriram confiana na acadmica e passaram a freqentar as sesses de biblioterapia, foram se envolvendo com os textos literrios apresentados e inserindo-os em suas vidas, e, dessa forma, a literatura saiu dos livros e se incorporou s suas vivncias e expectativas. Ao dialogar sobre o lido e ao escrever os textos coletivos, participaram do exerccio benfico da intersubjetividade, da intercorporeidade e do descentramento. A leitura propiciou-lhes uma nova viso do mundo e a certeza de que a liberdade possvel, mesmo estando confinadas a uma cela. E ao criarem textos individuais, retomaram-nos no sentido de inserir seus prprios significados, permitir o desvendamento por meio da conscincia imaginante, preencher os vazios do texto com suas lembranas e expectativas e transformar a fala falada em fala falante. Dessa feita, a encantao lingstica serviu como um apelo para estimular a expresso. Com isso, retomaram, tambm, a f em suas potencialidades como ser humano. Pode-se dizer que isso no teraputico? 17
17
Um trabalho interessante de biblioterapia, anterior a este, foi desenvolvido por Ana Maria Gonalves dos Santos Pereira, em 1987, no Instituto de Psiquiatria Forense da Paraba, Joo Pessoa, hospital de custdia de tratamento psiquitrico, com vinte apenados do sexo masculino. Aps realizar quinze sesses de leitura, a pesquisadora concluiu que a biblioterapia auxilia no programa correcional no sentido de melhorar as atitudes dos internos, incentivar o dilogo e estimular a verbalizao de sentimentos dolorosos. Segundo depoimentos dos internos, a leitura de livros foi prazerosa e ajudou na interao entre todos os que participaram no Programa de Leitura. (PEREIRA,1987).
127
5 LITERATURA E BIBLIOTERAPIA
A literatura pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e s vive na medida em estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. (Antonio Candido)
A biblioterapia vale-se do potencial catrtico da literatura ativado pela emoo e imaginao do receptor do texto literrio na experincia da leitura. Faz-se necessrio, ento, verificar o que se entende por literatura, emoo, imaginao, e, ainda, discorrer sobre os componentes biblioteraputicos: a catarse, a identificao e a introspeco. Muito se tem discutido em teoria literria sobre o que e o que no literatura. Como co-existem obra-literria e produes no-literrias que se valem, tambm, da linguagem verbal como meio de expresso, os tericos tm ajuizado, com cautela, alguns conceitos sobre o texto literrio. Apresentarei algumas falas no intuito de traar um perfil terico da literatura, sabendo, de antemo, que o assunto no se esgotar, posto que no existe consenso entre o que literrio e o que no o , uma vez que a sociedade, ao fazer um julgamento de valor sobre textos literrios e no-literrios, legitima as normas e os valores segundo seu quadro de referncias, sendo, portanto, histrica e parcial e, parafraseando Compagnon (1999), ao invs da pergunta: o que literatura?, caberia, talvez, perguntar: quando literatura? Conquanto persistam divergncias sobre o fenmeno literrio, no h como negar que a fico18 a essncia da literatura.
18
O vocbulo Fico vem do Latim fictione, de fingere , modelar, compor, imaginar, fingir. Sinnimo de imaginao ou inveno, encerra o prprio ncleo do conceito de Literatura; Literatura fico por meio da palavra escrita. Nesse caso, qualquer obra literria (conto, novela, romance, soneto, ode, comdia, tragdia, etc.) constitui a expresso dos contedos da fico; entretanto, o vocbulo se emprega, costumeira e restritivamente, para designar a prosa literria em geral, ou seja, a prosa de fico. (MOISS, Massaud. Dicionrio de termos literrios . 5. ed. So Paulo: Cultrix, 1988. p. 229, grifo do autor.)
128
Segundo Rosenfeld (1987, p. 48):
A fico um lugar ontolgico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e contemplar, atravs de personagens variadas, a plenitude da sua condio, e em que se torna transparente a si mesmo; lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros papis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condio fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua prpria situao.
A citao aponta a possibilidade de o receptor da obra literria vestir os atributos das personagens ficcionais, libertando-se, dessa forma, do peso da realidade cotidiana que tolhe desejos; ao mesmo tempo, permite-lhe considerar sua posio nessa realidade. Em outras palavras: admite a identificao com as personagens e a introspeco por meio delas. De fato, mostra Rosenfeld (1987, p. 21, 23, 27 grifo do autor) que cabe personagem tornar patente a fico, e atravs dela a camada imaginria se adensa e se cristaliza, pois geralmente com o surgir de um ser humano que se declara o carter fictcio (ou no-fictcio) do texto, por resultar da a totalidade de uma situao concreta em que o acrscimo de qualquer detalhe pode revelar a elaborao imaginria; quando a personagem apresenta-se sob a forma de objetos ou animais, estes se animam e se humanizam atravs da imaginao pessoal. Assim, a personagem, seja humana, seja antropomorfizada, constitui a fico, pois por meio dela que o apreciador da obra literria vivencia situaes improvveis no dia-a-dia, mas perfeitamente possveis na realidade ficcional. O conceito de verossimilhana aristotlica garantido pela coerncia do enredo; tal coerncia se apresenta no como critrio de veracidade, mas como de possibilidade e, no mundo ficcional, tudo possvel. Contudo, a fico envolve mais do que a presena da personagem; h que se destacar, tambm, o prazer esttico que a obra desperta no seu receptor. De acordo com Castro (1985) o fenmeno literrio se manifesta no texto (tanto o escrito quanto o oral), quando esse texto ultrapassa a dimenso de utilidade e funcionalidade e permite a plurissignificao; tal se d porque a arte literria tem carter esttico e ficcional. Entretanto, lembra que se todo literrio fico, nem toda fico literria, e acrescenta: a fico implica o formar, dar formas, a fico
129
um fazer criativo, e como qualquer outra realidade, a fico se constitui enquanto forma discursiva, mas o que caracteriza o ficcional no a forma e sim a presena marcante e irrefrevel do imaginrio; o fingir da fico envolve, gratifica e transforma o leitor que, ao interagir com o literrio, alcana a catarse em uma plenitude que s a verdadeira literatura realiza. (CASTRO, 1985, p. 44, 45). Destarte, a fico se configura como uma maneira elaborada de perceber e manifestar a realidade; a literatura se ocupa dessa realidade utilizando a linguagem metafrica, ou seja, a linguagem indireta que mexe com as emoes. Cumpre, ento, explicar o que se entende por emoo: uma resposta do ser aos acontecimentos provocativos. De acordo com Abbagnano (2003, p. 311), a emoo pode ser entendida como qualquer estado, movimento ou condio que provoque no animal ou no homem a percepo do valor (alcance ou importncia) que determinada situao tem para sua vida, suas necessidades, seus interesses. Nesse sentido, manifestase como prazer ou dor: o prazer seria uma reao resultante de uma situao favorvel e a dor, uma reao resultante de uma situao desfavorvel. Nesse estudo, o enfoque ser dado s emoes humanas, pois intento verificar o efeito teraputico das mesmas nas crianas, jovens, adultos ou idosos. Cabe lembrar que no farei distino entre as emoes e os sentimentos, pois ambos so fenmenos da afetividade e a linha de demarcao entre eles muito tnue. Sei que o sentimento pode ser considerado um tipo superior de emoo ou mesmo a fonte da emoo, mas se tomado como fenmeno distinto da emoo, necessrio seria tratar a dualidade sentimento/razo, que no o propsito da tese. Assim, usarei o termo sentimento no sentido mais geral, qual seja, como sinnimo de emoo. Plato teorizou que a dor ocasiona uma perturbao do ser humano e o prazer restabelece a harmonia; Aristteles vinculou o prazer a um hbito ou a um desejo natural e, assim, sua funo seria a restituio da condio natural, ao passo que a dor seria tudo o que afasta o ser da condio natural; Kant atribuiu utilidade tanto ao prazer quanto dor, pois segundo ele, tanto o riso como o choro auxiliam a sade e, tambm, considerou ambas as emoes necessrias vida: o prazer, sendo o agradvel, torna a vida feliz, a dor, por outro lado, sendo o desagradvel, nos impele ao, pois queremos nos livrar da tristeza; Heidegger asseverou que as emoes so modos de ser e, como tais, essenciais vida, pois fazem parte da
130
substncia do homem, e destacou a angstia como a emoo fundamental que obriga o homem a compreender sua existncia; Sartre viu as emoes como maneiras de apreender o mundo, como conscincia imediata das dificuldades do mundo, e, portanto, vinculadas percepo (ABBAGNANO, 2003). Todas as teorias apresentadas tm as emoes como dotadas de significado, e como essa posio defendida na presente tese, as teorias que no atribuem significado s emoes (considerando-as meros fatos biolgicos), no sero citadas. Lembra Vieira (1995, p. 114, grifo do autor) que no que diz respeito natureza mesma da emoo, tm havido controvrsias pois se apreciada subjetivamente, preciso interpret-la como fenmeno da Conscincia e se examinada objetivamente, tem de ser interpretada apenas do ponto de vista da comoo orgnica, mas na realidade a emoo um fenmeno psicofsiolgico, quer dizer, implica uma comoo do organismo (de alguma parte do sistema nervoso) [...] e um fenmeno psquico, ou da Conscincia. Como defendo a totalidade do ser humano, no separando o em-si do parasi, tenho como vlida a premissa da emoo como um fenmeno que articula os elementos fisiolgicos e os elementos psquicos. Dessa feita, as emoes como o amor, o desgosto, o medo, a raiva e a alegria apresentam expresses corporais correspondentes (postura ereta, postura encolhida, pernas bambas, ranger de dentes, olhos brilhantes) e perturbaes do organismo fsico (rubor, palidez, taquicardia, aumento da presso arterial, fome ou saciedade). No tocante imaginao, pode-se dizer que a mesma um fenmeno psquico de ordem cognitiva, pois imaginar implica tanto criar quanto reproduzir algo tendo por base conhecimentos adquiridos. Abbagnano (2003, p. 537) define imaginao como a possibilidade de evocar ou produzir imagens, independentemente da presena do objeto a que se referem; para Blackburn (1997, p. 197) imaginao especificamente, a capacidade de reviver ou, em especial, de criar imagens mentais e em termos mais gerais, no entanto, trata-se da habilidade de criar e ensaiar situaes possveis, de combinar conhecimentos de forma pouco comum ou de inventar experincias mentais. Conquanto apresentem nuances diferenciais ambas as definies, subordinadas filosofia, concordam em atribuir imaginao um papel criador. A seu turno, Roudinesco e Plon (1998, p. 371) tm a imaginao como a faculdade de representar coisas em pensamento, independentemente da realidade.
131
Essa definio, vinculada psicologia, destaca o papel da representao na imaginao, pois a preocupao maior com o simblico, o imaginrio, a iluso e no com a criao. J Moiss (1988, p. 285, grifo do autor), na esteira da literatura, designa a imaginao como a faculdade de criar imagens, ou representaes mentais, ou de combin-las em determinada seqncia e esclarece que o vocbulo possui elasticidade proporcionada no apenas pela raiz (do latim imaginatione) que pode ser traduzido por imaginao ou por fantasia, como tambm pelas doutrinas filosficas e psicolgicas mutantes ao longo da histria; assim, a imaginao j foi considerada uma atividade menor que a razo e, depois, ganhou status de funo criadora. Apresenta, contudo, a distino entre fantasia e imaginao, considerando a primeira como devaneio, caprichosa associao de imagens, desobediente aos nexos lgicos, ou construda ao sabor de uma lgica inconsciente e a segunda, como um modo de ser coerente de nosso mundo mental, e, portanto, um mecanismo de investigao e conhecimento da realidade. (MOISS, 1998, p. 286). Dessa feita, o Autor atribui fantasia uma funo criadora, que se afasta do real, e imaginao, uma funo reprodutora que se aproxima ao mximo do real. No farei distino entre os dois termos, na presente, por acreditar que ambos podem ser empregados para designar a funo ativa da conscincia: tanto a fantasia quanto a imaginao podem reproduzir a realidade ou criar sua prpria realidade a partir da leitura do texto literrio. No quesito biblioterapia, visto j ter sido explicado anteriormente o sentido do termo, a preocupao ser dar enfoque ao papel das emoes e da imaginao (por meio da leitura de textos literrios) na catarse, identificao e introspeco, elementos biblioteraputicos. Considero a catarse como a justa medida dos sentimentos, pois os produz e modera; a leitura, contao ou dramatizao de textos literrios instigantes tm o potencial de provocar a catarse e produzir alegria. A identificao, entendida como um mecanismo psicolgico, permite aos sujeitos vivenciarem situaes no seu imaginrio e, assim, a fantasia tambm se encontra atrelada s emoes. A introspeco, aqui entendida como uma percepo interior, permite aos sujeitos a reflexo sobre suas emoes. Tais componentes biblioteraputicos merecero subtpicos e sero devidamente explicados.
132
Cumpre lembrar que toda a teoria apresentada servir como referencial para as atividades de biblioterapia descritas na tese, pois de fato, esse o papel da teoria: fornecer subsdios para a prtica, mostrar caminhos, apontar possibilidades.
5.1 Literatura
Necessrio se faz apresentar a compreenso de alguns tericos a respeito do tema polmico literatura, haja vista que a mesma, como produto cultural, permite vrios entendimentos. Wellek e Warren ([197-], p. 26, 27) afirmam no haver transparncia no distinguir literatura do que no literatura, visto ser o termo insuficiente, restringindo-se, no mais das vezes, ao material impresso em livros j consagrados pelo pblico (o que uma excluso deliberada da literatura oral); fornecem, entretanto, um indicativo do que poderia se considerar literatura a quantidade de recursos de linguagem que so explorados mais deliberada e sistematicamente e, assim, por texto literrio designa-se as obras nas quais dominante a funo esttica; portanto, um texto literrio no se configura como um simples objeto, mas expressa uma organizao altamente complexa ao admitir mltiplos significados e sentidos. A seu turno, Todorov (1980, p.11, 16) confessa a dificuldade de decidir entre o que literatura e o que no e define literatura como uma linguagem sistemtica que chama a ateno sobre si prpria, sendo o texto literrio, acima de tudo, fico, consistindo os gneros literrios em possibilidades do discurso humano, uma das muitas convenes utilizadas pela sociedade. Para Culler (1999, p. 27, 35-40), tanto as narrativas literrias quanto as narrativas histricas se valem do narrar, tanto os relatos psicanalticos quanto as obras filosficas adotam a metfora, o que torna difcil a distino entre o literrio e o no-literrio; acredita, contudo, que so traos distintos da literatura a colocao em primeiro plano da linguagem, a integrao da linguagem, a fico, o objeto esttico e a construo intertextual ou auto-reflexiva, tendo a literatura um fim em
133
si mesma expor a ideologia e question-la o que realiza pela funo esttica da linguagem. Por sua vez, Candido (2000, p. 45, 53, 55) afirma que a grandeza de uma literatura, ou de uma obra, depende da sua relativa intemporalidade e universalidade, no se prendendo a um tempo determinado, utilizando temas comuns da sociedade, e prossegue: a arte, e portanto a literatura, uma transposio do real para o ilusrio por meio de uma estilizao formal, que prope um tipo arbitrrio de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos, o que implica uma atitude de gratuidade tanto do escritor quanto do leitor, uma vez que o primeiro manipula elementos da realidade e os transfere para o universo ficcional e o segundo os recebe e aprecia, posto que a criao literria corresponde a certas necessidades de representao do mundo, pois o ser humano, para melhor compreender a realidade, necessita dar forma fantasia. Assim, destaca-se a experincia da leitura como condio primeira para que um texto literrio adquira vida. Como as palavras de Candido (2000, p. 74) apontadas na epgrafe indicam, a literatura pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e s vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. Portanto, como sistema, texto literrio e leitura formam um todo, agem como elementos de um conjunto. Indissociveis, complementam-se. O escritor utiliza a obra literria como meio de expresso para produzir um efeito no leitor. Um livro fechado um livro adormecido. Um livro na prateleira um livro suplicante. Um livro aberto um livro desperto. Um livro lido um livro realizado. Configura-se como indissolvel, ento, a relao autor/obra/publico. De maneira corajosa, Sartre (2004, p. 21, 22, 28, 29) considera literatura um engajamento no mundo, pois segundo ele, a funo do escritor fazer com que ningum possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele; pela harmonia das palavras, sua beleza, o equilbrio das frases o autor vai conduzindo a narrativa sem que o leitor se aperceba que suas paixes esto predispostas na prosa; condena obras que chama de inofensivas, refinadas, subjetividade que se entrega sob a aparncia de objetividade, discurso que equivale ao silncio; e louva os escritores que como em uma empreitada, se engajam inteiramente nas suas obras, que se valem da palavra escrita para incitar o leitor ao. Assim,
134
advoga que a literatura revela o mundo pela palavra e tem compromissos ticos e polticos. Em Merleau-Ponty (2002, p. 32, 33, 34) a linguagem literria propriamente dita a linguagem falante que se realiza no momento da expresso, que vai justamente fazer-me passar dos signos ao sentido, ou seja, a interpelao que o livro dirige ao leitor desprevenido, aquela operao pela qual um certo arranjo dos signos e das significaes j disponveis passa a alterar e depois transfigurar cada um deles, at finalmente secretar uma significao nova sendo sucednea da linguagem falada, aquela linguagem que o leitor traz consigo, o universo das significaes disponveis de uma lngua, sem a qual no haveria o processo da leitura; dessa forma, na literatura se faz presente a fala operante, produtora de sentidos, uma fala que retoma e recupera significados. Dessa feita, a linguagem literria permite captar o sentido subjetivo das palavras, permite o ultrapassamento do prosaico, permite a transcendncia, enfim. De acordo com Iser (1996, v. 1, p. 101, 102) os textos literrios no se esgotam na denotao de objetivos empiricamente dados, a representao por eles intencionada visa ao no dado e como estrutura comunicativa, a fico conecta realidade um sujeito que, por meio da fico, se relaciona a uma realidade, ou seja, ele se preocupa com os efeitos da literatura sobre o leitor e com as estratgias textuais como comunicao. Segundo Lima (1969, p. 13, 24, 29) a literatura criao ficcional em palavras e (citando a teoria merleau-pontyana da linguagem), a palavra no se entrega pronta ao pensamento [...] ela integra o prprio tecido do pensamento, inveno; o imaginrio trafega com o real, contudo, a criao toma realidade dentro e a partir da sua linguagem, ou seja, a obra literria no anula a realidade (como pensava Sartre), mas suspende o real justamente pela prerrogativa humana de liberdade e transcendentalidade de apreenso imaginativa. Um aporte didtico encontra-se em Souza (1999, p. 44) cuja definio de literatura, stricto sensu (como objeto da teoria da literatura), transcrevo: parte do conjunto da produo escrita e, eventualmente, certas modalidades de composies verbais de natureza oral (no-escrita), dotadas de propriedades especficas que basicamente se resumem numa elaborao especial da linguagem e na constituio de universos ficcionais ou imaginrios.
135
Lins (2008, p. 72, grifo do autor) lembra que, para Derrida, enquanto instituio, a literatura no apenas institui a fico, mas j , ela mesma, uma instituio ficcional, pois sua condio a de se furtar a qualquer condio medida que pressupe o direito incondicional de dizer tudo. Em outras palavras: prerrogativa da literatura revelar ou esconder segredos, extrapolar os limites impostos a outras instituies; por isso no se confunde com elas e no perde sua especificidade. E Koneski (2007, p. 34, 37) explicita que, para Blanchot, leitor de Husserl, falar sobre literatura falar sobre o Infinito e falar sobre a experincia que temos diante da literatura falar sobre o Neutro ou o Fora, e: a palavra potica permanece fora do mundo, porm paradoxalmente, nela o mundo no cessa de falar, ou seja, o crtico literrio pensa a literatura como o Infinito, um mundo por dizer, um fora, uma experincia do diferente, do Outro. Finalizando o perfil terico do que se entende por literatura, que foi traado sem exaustividade visto no ser o objetivo da tese, destaco, nas citaes acima, as caractersticas do literrio: a funo esttica, a fico, a colocao em primeiro plano da linguagem, a intemporalidade, a universalidade, o engajamento, a linguagem falante e as propriedades especficas da obra; junte-se a isso o efeito esttico que a obra exerce sobre o leitor. Conquanto em literatura o discurso se apresente como obra estruturada em que a linguagem privilegia as categorias estticas, ou seja, o belo, o gracioso, o trgico; a fico revele um mundo imaginrio em que a realidade do texto suplanta, ainda que com traos verossmeis, a realidade cotidiana; a intemporalidade e a universalidade garantam a integridade esttica de uma obra; o engajamento permita que a literatura seja um produto social; a linguagem falante transforme conceitos consolidados em criao, re-criao, retomada, h que se destacar as propriedades especficas da obra que perpassam pelo que os formalistas russos19 chamaram (e at agora ningum inventou um termo melhor): literariedade. Por literariedade entendo a desfamiliarizao, o estranhamento, o desvio na linguagem. Dito de outra maneira: o texto, para ser considerado literrio, deve
Entende-se por Formalismo Russo a corrente crtica que modificou os rumos dos estudos literrios ao enfatizar que o seu objeto de estudo era a obra literria enquanto fenmeno formal autnomo. Os formalistas questionaram as anlises extraliterrias e lanaram as bases fundamentais para a compreenso da estrutura interna da obra literria, principalmente da narrativa. (KHDE, Sonia Salomo. Personagens da literatura infanto-juvenil. So Paulo: tica, 1986, p. 91.)
19
136
proporcionar ao leitor uma renovao da sensibilidade lingstica atravs de procedimentos que desarranjam as formas habituais e automticas da sua percepo, e, assim, a literariedade resulta de uma organizao diferente (por exemplo, mais densa, mais coerente, mais complexa) dos mesmos materiais lingsticos cotidianos. (COMPAGNON, 1999, p. 42). Dessa feita, mesmo que a civilizao ocidental tenha concebido de modos diferentes o que se chama literatura, seja a partir do momento histrico e cultural ao qual ela se encontra vinculada, seja a partir do ponto de vista dos tericos e das correntes literrias, a propriedade distintiva do texto literrio a literariedade, ou, nas palavras de Jakobson (apud SOUZA, 1999, p. 45): aquilo que torna determinada obra uma obra literria. Assim, se para Jakobson so os fatores formais que identificam a linguagem literria, h quem considere que a literariedade no existe a priori, ou seja, cada escola e cada poca decidem o que ou no literrio. Mesmo que seja o momento histrico o catalogador da literariedade, que rotula ou no uma obra como literria, no se pode negar que a literatura trabalha com um universo ficcional e pressupe uma linguagem elaborada que lhe caracterstica. Iser (1996, v.1, p.161, 163) considera improdutiva uma discusso sobre o papel do desvio na formao da poeticidade de um texto, pois segundo ele, se o desvio uma condio da qualidade potica que reservada apenas aos textos literrios, ento vale a pena perguntar qual o estatuto das violaes cotidianas da fala o que chama de trao estranhamente purista da estilstica do desvio, pois ela reserva os fenmenos estticos apenas para a arte, como se estes no parecessem existir na vida real e, ainda, a concepo da norma apresenta uma determinao bastante unilateral de textos literrios, haja vista que o objeto esttico tem muito mais traos concretos do que a qualificao algo difusa da poeticidade. Iser (1996, v.1, p.165) considera, entretanto, que existe, de fato, um desvio no texto literrio, mas a qualidade potica produzida pelo desvio no ligada nem s normas de um padro abstrato, nem a um cnone, igualmente abstrato, mas sim s disposies e hbitos do leitor. Ora, isso significa que, em ltima instncia, quem decide o que literrio, o que potico, no so as escolas nem os crticos, mas sim o pblico leitor, e, assim, esse desvio do texto acontece pelas expectativas deste ltimo, vinculadas ao
137
contexto scio-cultural; e, dessa forma, ele pode inferir significaes que extrapolam o texto. Portanto, na presente tese, quando me refiro ao texto literrio, no existe a preocupao sobre o que os crticos consideram como literrio ou no literrio, mas sim com o efeito esttico e teraputico no pblico-alvo das atividades de biblioterapia. Tambm, no tocante aos gneros literrios, no aparece a preocupao excessiva com a classificao dicotmica (prosa/poesia) ou com a classificao tricotmica (lrico/pico/dramtico) e, no tocante aos tipos de narrativa, com a distino entre romance, novela, conto ou crnica. Sem o destaque e a rigidez nos gneros literrios ou nos tipos de narrativa, concentro-me na noo de texto enquanto fala falante, enquanto predomnio da funo potica sobre as demais. Isso implica importar-se apenas com o livro como essncia, cuja linguagem no instrumental (permitindo, assim, a transcendncia do significado das palavras) e cuja imitao (pela linguagem) artstica, e, por isso mesmo, teraputica no existindo, portanto, texto literrio verdadeiro ou falso apenas ficcional. De acordo com Samuel (2007, p. 45, 163, grifo do autor) as novas crticas desvalorizam as caractersticas de gnero na literatura, como algo extrnseco literariedade e substituem a noo de gnero pela de texto, em processo de inveno; assim, o novo gnero passa a ser o verossmil da obra literria, o conjunto de significados no horizonte amplo do sentido de uma obra, e continua: o discurso ps-moderno tambm desafia os limites fixos entre os gneros, entre tipos de arte, entre teoria e arte, entre arte erudita e cultura de massa. Assim, o julgamento de valor de uma obra literria no deve incidir sobre a viso dogmtica que marcou a teoria literria em outros tempos, mas sobre a viso plural da mescla, da quebra de paradigmas, prpria da Ps-Modernidade, que derrubou as distines e os limites dos gneros literrios e aceitou os chamados gneros menores, entre eles, a literatura infantil. Isso posto, esclareo: ao falar em literatura infantil, utilizo o recorte proposto por Meireles (1984, p. 20), ou seja, quem a delimita so as crianas, com suas preferncias, pois seria mais acertado, talvez assim classificar o que elas lem com utilidade e prazer. Cumpre lembrar que seu pblico exigente, pois a criana exige do adulto uma representao clara e compreensvel, mas no infantil, muito menos aquilo que o adulto concebe como tal. (BENJAMIN, 1984, p.13). E ainda: a criana aceita
138
perfeitamente coisas srias, mesmo as mais abstratas e pesadas, desde que sejam honestas e espontneas. (BENJAMIN, 1994, p. 236-237). A literatura infantil, fruto da cultura oral, legitima-se na escritura e constri sua teoria. Grande parte da produo editorial para crianas consiste nos contos maravilhosos, com razes nos contos populares do folclore oral, recebendo ampla divulgao, seja por meio de tradues, seja por meio de adaptaes. Tais contos so considerados uma forma simples segundo Joles (1976), por conter um discurso no elaborado ou erudito e valer-se do mximo de imaginrio em uma narrativa curta com tempo cronolgico (na ordem natural dos fatos do enredo) e personagens planas (pouco complexas, com um pequeno nmero de atributos). Entretanto, no prescindem dos elementos que marcam a fico: o enredo, as personagens, o tempo, o espao e o ambiente e, por isso, no devem receber o rtulo de menor. A marca caracterstica de tais contos, alm do uso da frmula Era uma vez..., a imutabilidade de fundo, conquanto permitam modificaes de figuras o caso de diferentes verses dos contos tradicionais. Esses contos dispem de um vasto repertrio de seres dotados de poderes sobrenaturais e de objetos mgicos, com pouca interveno do protagonista. Muito embora alguns tericos considerem imprprio o uso do termo contos de fadas aos contos maravilhosos (pois nem todas as histrias contm esses seres mticos), a expresso j se encontra consagrada pelo uso e dessa forma utilizada neste trabalho. So populares, tambm, as histrias de animais em que os bichos esboam reaes humanas, e as histrias em que objetos inanimados ganham vida. Tais histrias possuem um apelo ldico muito forte, quase sempre com abundantes ilustraes e no se confundem com as fbulas de La Fontaine, visto no terem inteno moralizante. Deixo registrado, ento, que ao apresentar uma histria de animais ou de objetos falantes, me refiro a uma narrativa sem fundo moral, que cumpre apenas a funo esttica de seduzir pela fantasia. Na esteira de Lobato foi criado o que se convencionou chamar de realismo mgico, uma juno de fatos cotidianos com personagens caractersticas dos contos de fadas. So narrativas que, ao mesmo tempo em que apresentam os heris reais ou fictcios da tradio, questionam verdades cristalizadas pelo tempo. Na maior parte, valem-se dos recursos da pardia e do humor como forma de crtica s ideologias. uma literatura engajada.
139
E por ltimo, mas no menos importante, a poesia. Aqui esto enquadrados os poemas direcionados ao pblico infantil e as cantigas populares, uma literatura oralizada que se perpetuou na tradio brasileira como cantigas de roda e que, lamentavelmente, est perdendo espao frente s novas brincadeiras que a tecnologia proporciona. pertinente destacar que a literatura infantil contempornea se afasta do modelo pedaggico (a que desde seus primrdios se encontrava atrelada). Como um jogo, de forma prazerosa e instigante, interroga a realidade e permite ao leitorcriana a compreenso dessa realidade, pois lembram Yunes e Pond (1988, p. 46, grifo das autoras):
O texto literrio infantil, por um lado, partiu para uma reviso do mundo na perspectiva da infncia, para uma pesquisa de estrutura de linguagem e imagens prprias da criana. Por outro lado, ocorre uma renovao do recurso tradicional da fantasia, pelo jogo da intertextualidade, pela pardia, pela investigao de estados existenciais infantis e pelo realismo que aparece quebrando tabus e preconceitos, lidando com os problemas cotidianos que no poupam a infncia. De imediato, isso promove o distanciamento da inclinao pedaggica, e a qualidade artstica assoma de modo que a arte prevalea sobre os ditames ideolgicos e o texto para crianas no se circunscreva menoridade mope que imputam ao leitor. Decidida a no servir de pretexto, a literatura infantil se assume como texto artstico, capaz de atingir tambm as crianas, guardando todavia fidelidade aos princpios de estranhamento diferena que permitem arte se constituir como um modo de conhecimento, ampliando, reformulando a percepo do leitor de qualquer idade.
Argumentando que a escola, quando afasta a criana do brinquedo para introduzi-la na seriedade do mundo (lies e deveres), despreza a linguagem do jogo e do prazer com que at ento ela procurou figurar o mundo, Yunes e Pond (1998, p. 48) asseveram que justamente a que se encontra o princpio da linguagem potica, nos jogos dos sons, dos sentidos, das imagens. Assim, a literatura destinada criana arte, expresso, comunicao, e a fantasia presente nos textos uma forma ldica de apresentar contedos do real de maneira prazerosa, como um jogo. A presena das personagens ficcionais, sujeitos da ao, pea-chave na narrativa, pois por meio delas que se desenvolve o processo de identificao no trabalho biblioteraputico.
140
Nesse sentido, valho-me das palavras de Khde (1986, p.13 -14, grifo da autora):
[...] a fim de que o texto para crianas e jovens alcance status literrio, o papel do personagem fundamental. Seja ele representado como personagem-adulto, seja como personagem-criana. E isso porque tal literatura deve buscar a comunicao com o leitor mirim atravs de sua profunda identificao com os personagens. A identificao, por sua vez, pressupe uma co-participao; ou seja, que a decodificao do texto exija do leitor um esforo de preenchimento dos vazios significativos que toda obra verdadeiramente literria apresenta na sua configurao do real. No sendo um projeto esquemtico e totalitrio que pretenda apreender a realidade histrica como uma estrutura una e homognea, um dos estatutos da literariedade do texto artstico est nessa possibilidade de apresentar ao leitor uma obra pluralista onde o confronto e vises de mundo ou de ideologias seja transmitido justamente pelas mltiplas vozes dos personagens que, na perspectiva de Mikhail Bakhtin, devem ser personalidades em formao, no fechadas num perfil preconcebido.
Dessa feita, cabe ao autor do texto literrio destinado s crianas e aos jovens a preocupao em, ao apresentar os valores constitutivos da sociedade, faz-lo de tal forma que a inteno didtica seja suplantada pelo foco potico. Isso implica conceder s personagens uma funo ldica, mesmo que, nos textos contemporneos, tal funo aparea como pardia em forma disfarada de denncia social. Nas sesses de biblioterapia para crianas opta-se sempre pelo ldico eis porque a seleo incide, na maioria das vezes, pelos contos de fadas. Essa explanao acerca da literatura e, em especial, acerca da literatura infantil, tem uma razo de ser: ao longo da tese so apresentados projetos de leituras para crianas articulando a literatura com a biblioterapia, e, tambm, projetos de leituras para adolescentes, adultos e idosos. Ora, o que considerado literatura nesses projetos? O texto ficcional, aquele que produz fruio, aquele que permite a retomada, aquele que mexe com as emoes e instiga a imaginao. O aplicador da biblioterapia est ciente de que, ao atuar no espao potico, est em terreno carregado de potencialidade teraputica, que o curativo potncia na experincia esttica e que o texto literrio um vis aberto para as atividades biblioteraputicas. Portanto, cabe destacar o papel do leitor, narrador ou dramatizador do texto literrio. Fao minhas as palavras de Bernardes, Borges e Blattmann (2003, p, 21,
141
22): o contar ou narrar no deixa de ser uma arte teatral conjuntamente com a afetividade, a sensibilidade, a emoo e o carisma que devem estar integrados nesse processo, porque o contador e os contos formam uma unidade que vo alm do ato educativo; dessa feita, contador e contos possuem uma ao teraputica que precisa ser bem dimensionada para que os efeitos sejam sempre favorveis ao crescimento daquele que ouve, seja criana ou adulto.
5.2 Emoo
A respeito das emoes, cumpre resgatar a abordagem fenomenolgica de Sartre, influenciada tanto pelo pensamento de Heidegger quanto de Husserl. Sartre (2006) considera insuficiente o conceito de emoo pelo vis da psicologia, pois a mesma, baseando-se somente no que a experincia lhe ensina, a tem como um acidente; assim, acredita que tal investigao esquece de recuperar as essncias que permitem entender os fatos. Segundo ele, para o psiclogo o estado psquico sempre um fato e, como tal, sempre acidental ao passo que para o fenomenlogo, todo fato humano por essncia significativo; se para o psiclogo a emoo nada significa porque ele a estuda como fato, isto , separando-a de todo o resto, autor). O enfoque fenomenolgico, ento, implica o estudo da significao da emoo. Dito de outra maneira: a anlise da emoo faz o ser humano compreender-se como ser humano. Conceber a emoo como fenmeno e no como acidente significa nos colocarmos no plano existencial da realidade humana, haja vista que a emoo jamais poderia vir de fora dessa realidade, ela faz parte da existncia humana. Contrariando o pensamento da psicologia que tem a emoo como uma estrutura afetiva da conscincia, como um estado de conscincia, Sartre (2006, p. 57) afirma que a emoo retorna a todo instante ao objeto e dele se alimenta, ou para o fenomenlogo a emoo um verdadeiro fenmeno da conscincia, [...] significante antes de mais nada. (SARTRE, 2006, p. 25, 26 grifo do
142
seja, o sujeito emocionado e o objeto emocionante esto unidos numa sntese indissolvel. Merleau-Ponty (1990, p. 161) esclarece que algumas escolas da psicologia consideram a emoo uma representao, e outras, uma manifestao corporal; segundo ele, a psicologia fenomenolgica deve interrogar-se sobre o sentido da emoo, tomar a emoo como um ato na totalidade da conscincia e continua: numerosos psiclogos esboaram esse estudo, contudo suas anlises no so suficientemente avanadas para Sartre, pois, segundo este ltimo, a emoo uma modificao de minhas relaes com o mundo, ou seja, implica ao imaginria com o mundo. Como se d essa modificao mgica com o mundo? Ao definir emoo como transformao do mundo, Sartre (2006, p. 63) admite a dificuldade humana em permanecer no mundo quando os caminhos traados se tornam muito difceis ou quando no vemos caminho algum e, portanto, preciso agir e essa tentativa no consciente enquanto tal, pois ento seria o objeto de uma reflexo. Assim, para fugir de uma tenso insuportvel a conscincia se modifica, tenta apreender o objeto de outra maneira, de uma forma menos penosa, com uma inteno nova. A emoo no ir modificar o objeto, mas sim modificar o jeito com que eu capturo esse objeto. Ora, isso teraputico, pois visa passar de um estado de tenso para um estado de alvio, causando o necessrio equilbrio ao ser. Afirma Sartre (2006, p. 65): na emoo o corpo que, dirigido pela conscincia, muda suas relaes com o mundo para que o mundo mude suas qualidades. Ora, o ser uno, e, ento, conscincia e corpo andam juntos. Assim que a emoo do medo, por exemplo, manifesta-se na conduta corporal: ou o corpo desfalece (conduta de ignorar do perigo) ou o corpo corre (conduta de fuga do perigo). De toda maneira, h uma reao corporal. O mesmo se d com a emoo da alegria: ou o corpo pula, se agita freneticamente, ou grita, canta, abraa o corpo do prximo que se encontrar mais prximo. Tal se d, tambm, com a emoo da tristeza: ou o corpo chora em lamento, ou se auto-mutila. Todos os sentimentos que vivenciamos encontram uma conduta que os expresse. Segundo Merleau-Ponty (1999, p. 253, 254) o gesto lingstico, como todos os outros, desenha ele mesmo o seu sentido, e, como exemplo, aponta o que h de comum entre o gesto e as emoes: o sorriso, o rosto distendido, a alegria dos
143
gestos contm realmente o ritmo de ao, o modo de ser no mundo que so o prprio jbilo. Em outras palavras: a gestualidade corporal comunica ao outro o que estou sentindo, fazemos uso do corpo ao expressar as emoes. Sartre (2006, p. 76, 77 grifo do autor) explicita o papel dos fenmenos fisiolgicos: eles representam o srio da emoo, so fenmenos de crena, enfim eles compem com a conduta uma forma sinttica total e no poderiam ser estudados por si mesmos e, assim, a emoo no simplesmente representada, no um comportamento puro, ao contrrio, um comportamento de um corpo que se acha num certo estado. E Merleau-Ponty (1999, p. 382) alerta: entre nossas emoes, nossos desejos e nossas atitudes corporais, no existe apenas uma conexo contingente ou mesmo uma relao de analogia, ou seja, somos seres situados em relao ao ambiente e, assim, emoes e atitudes corporais exprimem o mesmo desejo. Tal se d porque as emoes no se expressam no vazio, elas sempre tm ligao com algo ou com algum. Assim, no amamos o amor (uma abstrao), mas amamos algum (algo concreto). Da mesma forma, o medo e o rancor so dirigidos, existem porque foram provocados pelo outro ou por circunstncias adversas. Isso significa dizer: as emoes possuem intencionalidade, indicam como nos sentimos em relao ao mundo; valem-se do corpo como forma de expresso. Como no existe homem interior, a conscincia no tem interior, ela est no mundo assim como o corpo est no mundo. Dito de outra maneira: o corpo sofre a emoo. O mesmo se d com a conscincia: ela experimenta a emoo. Esta ltima no , ento, prerrogativa da conscincia, um comportamento do corpo. O ser total no sente a emoo, ele a vivencia. Como a emoo se configura como um fenmeno de crena, o ser uno acredita nesse mundo que, seja por meio da conscincia, seja por meio da reao corporal, acabou de constituir. Por esse motivo, ao se sentir ameaado, desamparado, triste ou solitrio, o ser humano abandona o mundo da realidade, cheio de dificuldades e desafios e embrenha-se no mundo mgico que criou. Esse mundo explorado pelo texto literrio. Visto que a emoo tanto pode manifestar-se nos acontecimentos do cotidiano quanto nos acontecimentos ficcionais (que, pela leitura, tornam-se reais posto que vividos), a biblioterapia fundamenta-se na efabulao para conduzir o leitor, ouvinte ou espectador a uma reao frente aos eventos. Assim, a narrativa, ao
144
usar a linguagem metafrica, suscita emoes, seja alegria (pela comdia), seja medo ou compaixo (pela tragdia). Dessa feita, o leitor, o ouvinte ou o espectador faz uso de sua imaginao para embrenhar-se nesse mundo ficcional e, ao caminhar pelas suas trilhas, vai, aos poucos, transformando-o em real posto que o ausente se incorpora em suas vivncias esse, de fato, o grande poder da imaginao.
5.3 Imaginao
Apresentarei, sob o enfoque fenomenolgico, o papel da imaginao na biblioterapia. Isso implica aceitar a conscincia imaginante como capaz de uma relao com o ausente, com a imagem de algo. Essa relao permite transformar o ausente em presente, ou, em outras palavras, a imaginao tem inteno e criadora. Sartre (1989) apresenta os conceitos de Spinosa, Descartes, Leibniz, Hume, Taine, Ribot, Bergson, Husserl e outros acerca da imaginao. Destacarei o conceito deste ltimo na fala sartriana, pois acredito que as contribuies da fenomenologia husserliana sejam pertinentes para estudar o papel da imaginao no tocante leitura. Mencionando a anlise de Husserl acerca da apreenso intencional de uma gravura de Drer, Sartre (1989, p.111) cita o filsofo como afirmando que somos dirigidos para as realidades que so representadas em imagem, mais exatamente para as realidades imagificadas [...], o cavaleiro de carne e osso [...]. Isso significa dizer que no consideramos os objetos, sejam estes um quadro ou uma gravura, como objetos, mas sim como realidades. Ora, quando se realiza a terapia por meio de livros para crianas, vale-se, basicamente, do livro de histrias com ilustraes, no caso de atividade de leitura; e, no caso de narrao, se utiliza, tambm, gravuras de apoio que tanto podem ser afixadas em um flanelgrafo, quanto em aventais com velcros ou em qualquer outro suporte adequado. Ao destacar o valor da imagem mental, Sartre (1989, p. 112) cita o pensamento de Husserl de que a imagem tem por funo preencher os saberes vazios, como o fazem as coisas da percepo. Tal afirmativa est de acordo com a
145
de Merleau-Ponty (1999, p. 38), quando o mesmo diz: nosso campo perceptivo feito de coisas e de vazios entre as coisas. Assim, valendo-se do pensamento husserliano a imagem to vlida quanto o a realidade para a conscincia infere-se o papel da imaginao na leitura: o leitor pode preencher os saberes vazios com as imagens fornecidas pelo texto ficcional. Vou alm dessa afirmativa. Mesmo que o livro seja sem texto, as imagens, por elas mesmas, fornecem um texto ao leitor. Ser a capacidade imaginativa do leitor que fornecer o enredo, a composio dos fatos. Merleau-Ponty (1990, p. 161) lembra que Sartre considera imaginar como um modo de relao com os objetos ausentes, por intermdio de anlogos, fazer aparecer, no presente, um ausente. Assim, cabe conscincia imaginante do leitor trazer, para o texto literrio, o ausente que ele deseja presente. Conquanto tenha o mundo como sendo o real do qual o necessrio e o possvel so provncias e afirme que no temos poder sobre o imaginrio, concorda que a experincia esttica confere existncia em si quilo que exprime, pois tem o poder de arrebatar os nela envolvidos para um outro mundo. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 533, 248). Dessa maneira, a provncia da imaginao ganha novo status: uma segunda realidade. importante compreender que para Merleau-Ponty e Sartre a imaginao, assim como a percepo e o conhecimento objetivo, so realidades instauradas na interseco de nossos atos (de conscincia, segundo Sartre, ou corporais, segundo Merleau-Ponty) e o mundo real. O texto literrio uma realidade, em parte fundada nos atos da escrita e da leitura, em parte fundada nos modos de doao do real. A literatura, especialmente, uma realidade que tenta mostrar o que de real h na realidade, o que significa dizer, ela tenta mostrar aquilo que nossa realidade s vezes determinada pelos conceitos, no esgota, a saber, a co-presena do passado e do futuro e a co-presena do vazio que, no obstante no se mostrarem na realidade, se fazem sentir na realidade como uma motivao eis aqui o real. Em resumo: a realidade o mundo falado pelas pessoas; o real o que est escondido nessas falas e a literatura tenta revelar. Ou, em outras palavras: a realidade da ordem da fantasia, da imaginao, pois implica um trabalho de construo, ao passo que o real sempre espontneo visto que se mostra. A percepo da realidade externa no a mesma para todos. Afinal, a percepo composta por atos que do, ao real que se doa, uma forma objetiva especfica. Eis a realidade: a maneira especfica como nossos atos (perceptivos,
146
imaginantes e reflexivos, entre outros) representam o real. A realidade, nesse sentido, um efeito dos nossos atos. Ela a expresso do estilo com o qual nossos atos lidam com o real. Assim, a imaginao (enquanto um ato criador), medida que provocada pelo texto ficcional, ser diferente para cada leitor e aqui, embutido, se encontra o preceito de liberdade merleau-pontyano. Isso no significa que as realidades produzidas pelos atos sejam solipsistas. Ao contrrio, porquanto elaboram um real que nos seja comum, elas introduzem diferenciaes que ensejam ou tornam necessrias as interpelaes, as quais coincidem com o prprio processo de comunicao intersubjetivo. As realidades no so propriedades privadas, mas a inscrio da dvida no seio do real e, consequentemente, a abertura do campo comunicacional, da necessidade de dilogo. Na biblioterapia, essa liberdade de viso, de interpretao, de elaborao de realidades, de compreenso do real, de leitura, enfim, o que assegura a intersubjetividade. ela que assegura o andamento do processo biblioteraputico. Sartre (1989, p.120, grifo do autor) destaca a imagem como um elemento importante da vida psquica e a fico como elemento vital da fenomenologia; afirma que no poderia haver imagens na conscincia, considera a imagem como um certo tipo de conscincia e conclui: a imagem um ato e no uma coisa, a imagem conscincia de alguma coisa. Assim, ser de pouca importncia que o fato individual que serve de suporte conscincia seja real ou imaginrio, haja vista que a Fico o elemento vital da Fenomenologia [...] e a fonte onde se abastece o conhecimento das verdades eternas. (SARTRE, 1989, p. 105). Para o leitor, portanto, a imaginao no apenas uma coisa que o mesmo se utiliza para fugir do cotidiano, mas sim um ato deliberado, intencional que ele realiza valendo-se de sua liberdade. Essa postura de ver a imagem como um ato e no uma coisa, que apresentou, de passagem, em A imaginao, Sartre explora em O imaginrio, ao apresentar uma psicologia fenomenolgica da imaginao, enfocar a conscincia como puro ato e criticar as doutrinas de Descartes, Leibniz e Hume que consideram a imagem como coisa. Sartre (1996, p. 20, 24) no confunde a imaginao com a percepo, ao contrrio, as separa, pois perceber, conceber, imaginar [...] so com efeito os trs tipos de conscincia pelos quais um mesmo objeto pode nos ser dado; na
147
percepo, apenas se observa os objetos, que so dados por perfis, mas na imagem, o objeto oferece-se em bloco e, assim, minha percepo pode enganarme, mas no minha imagem. Muito embora em psicologia apenas a representao subjetiva receba o nome de imagem, Sartre (1996) considera como imagens, tambm, o retrato e a caricatura. Isso se d pelo fato de os trs procedimentos compartilharem da mesma inteno: a de visar certo objeto e de funcionarem como equivalente da percepo. Entretanto, observa que o retrato e a caricatura so coisas, pois podem ser percebidos por si mesmos ao passo que a imagem mental s adquire sentido pela inteno que a anima, e, assim, a imagem no uma coisa, mas uma atitude funcional (SARTRE, 1996, p. 34). Em que pesem as diferenas, h, contudo, uma similaridade entre imagens mentais, caricaturas e fotos, pois trata-se sempre, nesses casos diferentes, de tornar presente um objeto visto que existe uma inteno dirigida a um objeto ausente, qual seja, a de evocar tal objeto; e, portanto, a imagem um ato que se faz representante analgico do objeto visado, seja ele ausente ou inexistente (SARTRE, 1996, p. 36, 37). O filsofo distingue as imagens cuja matria emprestada do mundo das coisas (as ilustraes, fotos, caricaturas e a imitao de atores) das imagens cuja matria emprestada do mundo mental (conscincia dos movimentos, sentimentos, etc.); todavia reconhece que os dois mundos, o imaginrio e o real, so constitudos pelos mesmos objetos; e s variam os agrupamentos e a interpretao desses objetos. (SARTRE, 1996, p. 37). Dessa maneira, a atitude da conscincia que ir definir se o mundo imaginrio ou uma realidade. Ora, na terapia por meio de livros, a conscincia do leitor (ou do ouvinte) que decidir se a ilustrao do livro ou a imagem mental que fez do texto a realidade ou no. Ainda assim, caber a cada um interpretar a ilustrao ou a narrativa do jeito que lhe d prazer, alegria ou alvio. Dessa forma, se o imaginrio torna-se, pelo menos por instantes, mais do que uma realidade, o real, e esse real fornece a sensao de bem-estar necessria ao equilbrio da vida, h que se explorar, pela fico, essa sensao; h que se possibilitar o balano dos sentimentos posto que isso ir se refletir no balano fisiolgico, haja vista que o ser uno, e, (contrariando Sartre e concordando com Merleau-Ponty) o ser humano no
148
pode ser separado em ser-em-si e ser-para-si e, portanto, o que se almeja, na biblioterapia, ser so, o ser completo. Voltando a Sartre (1996, p. 45), observa-se que o filsofo diferencia conscincia de retrato da conscincia de imitao apenas pela matria. Na primeira, o espectador solicitado a operar a sntese porque o pintor criou uma semelhana perfeita com o modelo e, na segunda, visto que a matria da imitao um corpo humano, o artista utiliza signos (chapu, leno, bon) que servem para guiar a conscincia do espectador, que opera, ento, uma sntese de significao, remetendo tais signos do imitador ao imitado. No mais das vezes, o imitador nem se parece fisicamente com o imitado. por isso que o espectador vale-se da afetividade. Sartre (1996, p. 48, 49) aponta dois princpios: toda percepo acompanhada por uma reao afetiva e todo sentimento sentimento de alguma coisa; dessa feita, o espectador rene os signos do imitador e lhes confere um sentido afetivo; e acrescenta: o que constitui a imagem e supre as lacunas da percepo a intuio. A respeito da imagem mental, refora que ela sempre visa um objeto real existente no mundo da percepo, mas essa visada processa-se por meio de um contedo psquico, e chama de transcendncia do representante a necessidade da matria da imagem mental j estar constituda como objeto para a conscincia. (SARTRE, 1996, p.79-80). Lima (1969, p. 22), considera ingnua a separao que Sartre efetua entre a percepo e a imaginao, pois segundo ele, no imaginrio da criao artstica h sempre um lastro perceptivo, e lembra que as idias que a propsito da linguagem desenvolve Merleau-Ponty tm a vantagem de romper com as separaes rgidas propostas por Sartre; porm aceita a maior parte do embasamento sartriano para a caracterizao e funcionamento do imaginrio com a ressalva, entretanto, de que a obra de arte no anula mas suspende a realidade, para depois a ela volver. Na presente, tambm aceito o pensamento sartriano acerca da imaginao, conquanto admita a presena da percepo na imaginao, haja vista que esta ltima alimenta-se da linguagem, a qual, segundo o pensamento merleau-pontyano, aqui defendido, gesto, corpo, e, como tal, perceptiva. Assim, resumindo o pensamento sartriano sobre o papel da imagem na vida psquica, pode-se dizer que: a imagem no suporte do pensamento; o ato imaginante um julgamento, pois envolve deciso; a imagem simblica por essncia; o esquema simblico constitudo do saber e da afetividade; s
149
encontramos na imagem o que colocamos nela. Se, como Sartre, considerarmos a imagem como conscincia de um objeto, como uma atitude funcional, e a imaginao como uma funo da conscincia, seria possvel dizer que o espectador, ao valer-se da espontaneidade da imaginao, pode operar uma sntese de significao. Na biblioterapia, quando o texto literrio dramatizado, utilizam-se signos condizentes com o que se espera da personagem: assim, nos contos de fadas, o prncipe, h de ter, necessariamente, uma espada; a princesa, um vestido lindo e uma tiara; a bruxa, um nariz pontudo; nas histrias de animais o sapo, o pato, o cavalo, a cachorro, o gato, apresentam sempre uma roupagem e um tom de voz condizente. Dessa forma, mesmo que nestas ltimas a matria de imitao no seja o corpo humano, permite-se que o espectador-criana infira significados. Esse, de fato, o escopo da biblioterapia: que a leitura, narrao ou dramatizao de um texto literrio produza um efeito teraputico ao moderar as emoes, permitir livre curso imaginao e proporcionar a reflexo seja pela catarse, identificao ou introspeco.
5.4 Biblioterapia
Nas atividades de biblioterapia existe a preocupao e o cuidado em apresentar ao pblico-alvo textos literrios que proporcionem prazer, alegria, descontrao, elementos necessrios ao bem-estar do ser humano. Busca-se, na produo literria, histrias, contos e poesias com possibilidades teraputicas, que expressem contedos da fico gostosos de se ler, textos com lacunas a serem preenchidas pela imaginao e emoes dos leitores, ouvintes ou espectadores, ou, em outras palavras, aqueles textos de fruio que proporcionem a passagem da fala falada fala falante, provocadores, catrticos. Com o pblico jovem, adulto ou idoso, a escolha de crnicas, contos ou poesias privilegia textos cuja qualidade literria no seja prejudicada pela condensao textual. Assim, so apresentados textos: dramticos com final feliz (pois purgam as emoes, realizando uma catarse); permeados de humor (pois
150
reconhecido o valor teraputico do riso na ativao do sistema imunolgico); do cotidiano (pois a verossimilhana pode conduzir identificao e resoluo de pequenos problemas pessoais); instigantes (que levem reflexo e autoavaliao). Em se tratando de crianas, lembram Yunes e Pond (1998, p.47) que o discurso literrio abre perspectivas para a percepo do mundo do ponto de vista da infncia, traduzindo ento suas emoes, seus sentimentos, suas condies existenciais em linguagem simblica que efetue a catarse. A literatura age, ento, como um brinquedo bem elaborado, um jogo cujos dados so a emoo e a imaginao que apresenta, ao seu final, alvio das presses da dominao adulta no universo infantil. Os aplicadores da biblioterapia, conquanto utilizem o documento escrito, as histrias registradas em livros, no excluem a oralidade da condio de literatura. Assim que, no caso das atividades desenvolvidas com crianas, alm das canes infantis divulgadas na mdia, valem-se tambm das manifestaes orais de cunho artstico, como por exemplo, as cantigas de roda. Como se privilegia a experincia catrtica, alia-se msica, a dana, por entender que esta ltima arte expressiva de emoes e, portanto, complemento indispensvel nos exerccios biblioteraputicos. Lembra a Professora Ida Mara Freire (2001, p. 33, 36) que a dana contribui para a educao esttica da criana e do jovem e um meio de expresso e comunicao. A Autora apresenta a dana como rea do conhecimento e se refere execuo da dana como um trabalho corporal e um processo criativo. Argumenta que pessoas categorizadas como portadoras de deficincias em seu contexto sociocultural tm possibilidades de adentrar no mundo da dana, ou seja, o corpo diferente no deve ser excludo da performance de danarino, e acrescenta: quando nos referimos dana para pessoas cujo corpo apresenta uma deficincia, a primeira idia que talvez passe pela nossa cabea a dana teraputica, ou a dana expressiva ou livre, usada geralmente para se soltar; acreditando no potencial do movimento corporal para a conscientizao da unidade do ser, aponta o desafio de incluir a dana como uma atividade curricular e capacitar o professor para ensin-la a todos os alunos, inclusive s crianas e aos jovens com necessidades educativas especiais. (FREIRE, I. M., 2001, p. 38, 39, 52).
151
Em artigo posterior, a Autora lembra: o que faz com que uma seqncia de movimentos seja dana e no ginstica pode ser identificado, em parte, pelo contexto onde essa executada, e, como arte, a dana nos oferece a liberdade de expresso, nossas palavras e nossos atos criam o nosso existir no mundo de sorte que podemos compreender os nossos processos de vida, vivendo como seres distintos e singulares entre iguais. (FREIRE, I. M., 2004/2005, p. 66, 75). Muito embora se reconhea o valor da dana na educao (pois ela faz parte da cultura brasileira), privilegia-se, nas atividades de biblioterapia, a dana expressiva pelo seu aspecto ldico, seu potencial para exercitar a corporeidade e sua influncia nas emoes. Por esse motivo, procura-se fazer uso da dana com corpos infantis, jovens, adultos ou idosos, no excluindo o corpo diferente, porm respeitando as limitaes impostas, seja pela idade, seja por deficincia fsica ou mental. Observou-se que nas atividades de biblioterapia com dramatizao e acompanhamento musical, as idosas ficam bastante vontade para danar e o fazem com alegria e sem constrangimento algum; o mesmo sucede, como seria de esperar, com as crianas, que unem voz e movimento s canes infantis. Jovens e adultos, por seu turno, oferecem certa resistncia e custam a se soltar. Como, na biblioterapia, todas as atividades so voluntrias, respeita-se o posicionamento do pblico-alvo e quando o mesmo no deseja danar, insere-se alguma brincadeira ou jogo com finalidade teraputica. O ponto de partida, contudo, sempre uma histria, que no deixa de ser um jogo, haja vista que o escritor brinca com o leitor apresentando acontecimentos e personagens que atiam a curiosidade, estimulam a imaginao, agitam as emoes e cujo efeito esttico mobiliza a afetividade. Cumpre relembrar as palavras de Iser (1999, v.2, p. 10): o autor e o leitor participam portanto de um jogo de fantasia; jogo que sequer se iniciaria se o texto pretendesse ser algo mais do que uma regra de jogo. Sendo jogo, a leitura se transforma em um prazer, e , como tal, oferece possibilidades teraputicas. Pode-se dizer, ento, que todo texto literrio teraputico? Seria mais sensato dizer que todo texto potico tem o potencial de ser teraputico. No se sabe, de fato, o quanto uma narrativa ficcional atinge cada pessoa. Entram em cena sentimentos, valores, faixa etria, estado de nimo e personalidade. Isso implica admitir o livro como sendo um objeto esttico complacente e flexvel, sujeito a vrias interpretaes, permitindo construes imagticas diversas. Se o envolvimento com
152
a histria produzir a catarse, a identificao ou a introspeco (no necessariamente concomitantes ou sucedneas), tal histria cumpriu o propsito teraputico, mesmo que isso no fique visvel ou no seja facilmente detectado. De fato, no mais das vezes, apenas o atingido sabe em que medida o texto permitiu-lhe trabalhar as emoes, ativar a imaginao ou fazer uma reflexo. Os aplicadores da biblioterapia, contudo, apostam no poder de fruio da literatura para a retomada do texto produzir bem-estar ao pblico de qualquer idade. De acordo com Sunderland (2005, p. 28):
A histria teraputica oferece criana novos modos de pensar sobre seus sentimentos difceis. A histria apresenta sentimentos que j foram rigorosamente pensados pelo autor. Em geral, isso extremamente til para a criana que teve esses sentimentos problemticos sem conseguir pensar direito sobre eles. Pois as histrias teraputicas permitem que a criana assuma um novo modo de ver a situao, de conhec-la ou de se relacionar com algum ou alguma coisa em sua vida.[...] Todo sentimento doloroso ou intenso demais exige tempo para a reflexo. Uma histria teraputica proporciona esse tempo.
Conquanto a Autora se refira histria criada pelo psiclogo para ajudar a criana no enfrentamento de suas emoes, a literatura destinada s crianas, seja a clssica, seja a contempornea, est permeada de personagens ficcionais que vivenciam situaes difceis e delas devem se livrar. Dessa feita, pelo processo de identificao, pode a criana tanto projetar seus problemas na personagem, quanto introjetar sua engenhosidade em resolver os conflitos. Tambm o jovem, o adulto e o idoso valem-se da literatura para dar vazo s emoes e imaginao em um mundo impregnado de razo e tecnologia. Como disse Lima (1969, p. 25), a literatura no uma fuga, embora que tambm possa s-lo [...] a poesia no se confunde com a expresso de queixas pessoais, embora que essa tambm possa ser a sua matria. Pode-se dizer a literatura no se configura como uma fuga da realidade, mas como uma transformao da realidade, uma realidade mais palatvel naquele momento que o ser humano, cansado da labuta diria, reservou para a leitura. Tal se d porque a linguagem literria permite ao leitor inferir novos significados; a linguagem potica depurada de barreiras conceituais e metodolgicas, e, portanto,
153
admite a imprevisibilidade e a transcendncia. Isso implica dizer: o leitor no se encontra em estado de alienao, mas em estado criativo. Lima (1969, p. 33) reconhece que a permanncia do objeto esttico est diretamente ligada variabilidade de sua recepo, e, citando Edgar Morin: as obras de arte universais so aquelas que detm originalmente ou que acumulam em si possibilidades infinitas de projeo-identificao; infere que a obra de arte permanece atravs dos tempos justamente porque se diferencia, ou seja, ela perdura devido s intenes subjetivas do autor e s transformaes subjetivas fornecidas por cada leitor. esse poder de ultrapassamento do texto literrio, sua intemporalidade, que permite ofuscar as ideologias nele contidas e transcender o momento histrico da narrativa ficcional para se adequar a qualquer perodo e pblico. medida que o leitor seduzido pelo texto, pode suspender a realidade ali apresentada e criar sua prpria realidade e, em uma relao de empatia, identificar-se com as personagens ou situaes por elas vividas. Alm disso, as estimulaes provocadas pelo texto podem, algumas vezes, modificar comportamentos anti-sociais, principalmente no caso de crianas e jovens com histrico familiar de violncia. No caso de adultos, existe a possibilidade de rever os desejos e as condutas e, por um exerccio de introspeco, qui melhorar sua atitude perante o mundo e o outro. Cumpre, agora, explicitar os trs componentes bsicos da biblioterapia: a catarse, a identificao e a introspeco.
5.4.1 Catarse
A catarse j foi e continua sendo alvo de controvrsias e debates na esttica, na psicologia e na filosofia. Acirrarei ainda mais a polmica. Em literatura, a catarse definida como purgao, purificao. De acordo com Moiss (1988, p. 79) sabe-se que o filsofo grego [Aristteles] tomou a palavra de emprstimo Medicina, onde simplesmente designava a eliminao dos humores corporais malficos sade para restabelecer o equilbrio prprio da sade, mas
154
antes dele o termo ainda se empregava com sentido religioso: consistia na purificao ritual, e, assim, primeira vista, Aristteles apenas transferiu para o universo esttico a purgao medicinal e religiosa. Portanto, a catarse na tragdia se propunha a depurar o fundo emocional da alma, mediante o prazer procurado pela expresso artstica. (REYES apud MOISS, 1988, p. 79). Isso significa dizer que o objetivo da catarse livrar-nos do peso de uma realidade que se nos est tornando pesada; e, tais realidades pesadas podero pertencer a muitas ordens, fisiolgica, passional, entre outras, todavia sempre purgao ou purificao conservar o sentido fundamental de libertar-nos do peso do que se nos est fazendo pesado. (BACCA apud MOISS, 1988, p. 79). Ora, isso est de acordo com o pensamento, j apresentado, de que o ser humano se preocupa com a sade, luta para que a perturbao desaparea e deseja fortalecer os fatores formadores do equilbrio; enfim, anseia manter a harmonia para se constituir no ser so pois somente o ser sadio o ser total, completo. Assim, ao tirar de ns um peso insuportvel de ser carregado, a catarse alivia o mal que interrompe o fluxo da sade e abre caminho para a plenitude do ser. J foi assinalado, tambm, que apenas saberes mdicos no so suficientes para restaurar o equilbrio, a sade h que se fazer presente outro fator: a natureza, o corpo do doente, o sistema orgnico que, em surdina, trabalha em prol da harmonia. As realidades pesadas, sejam elas fisiolgicas ou emocionais, podem ser mitigadas pela leitura. Cumpre lembrar que, alm do corpo do texto ficcional, contam, na biblioterapia, o corpo do leitor ou narrador e o corpo do ouvinte ou do espectador. Existe, ento, a intercorporeidade, extremamente benfica, posto que se vale da relao fundante da amizade. Como a troca de idias, o dilogo, fundamental na terapia por meio do livro, a intersubjetividade e o descentramento permitem que as vozes dos envolvidos se alternem e exprimam os sentimentos ao assim fazerem, livram-se momentaneamente do peso da realidade, purgam os males, purificam os humores corporais e os sentimentos indesejados. mister, agora, verificar o que se entende, em psicologia, por catarse. De acordo com Roudinesco e Plon (1998, p. 107), catarse a palavra grega utilizada por Aristteles para designar o processo de purgao ou eliminao das paixes que se produz no espectador quando, no teatro, ele assiste representao de uma tragdia sendo tal termo retomado por Sigmund Freud e Josef Breuer, que, nos Estudos sobre a histeria, chamam de mtodo catrtico o procedimento
155
teraputico pelo qual um sujeito consegue eliminar seus afetos patognicos e, dessa forma, ab-reagi-los, revivendo os acontecimentos traumticos a que eles esto ligados. Por algum tempo foi dado ao termo uma interpretao moral, fazendo da catarse um expurgo ou uma purificao, mas depois, baseado no fato de que Aristteles, filho de mdico, havia-se inspirado no corpus hipocrtico, pensou-se que o tratamento devia fazer surgir o elemento opressivo, para provocar um alvio, em vez de faz-lo regredir atravs de uma transformao tica do sujeito e, assim, intentou-se fazer com que sasse do sujeito, atravs da fala, um segredo patognico, consciente ou inconsciente, que o deixava em estado de alienao. (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 107, grifo dos autores). Portanto, muito embora tanto na esttica quanto na psicologia a catarse seja considerada uma purgao, nesta ltima, o mtodo catrtico deriva do campo do hipnotismo com Breuer, que fazia reviver na mente do indivduo algumas cenas que estavam esquecidas, provocando o que denominou de ab-reao, ou seja, uma descarga efetiva com lgrimas e clera e, com Freud, se chegou ao mtodo psicanaltico propriamente dito, baseado na associao livre, ou seja, na fala e na linguagem. (ROUDINESCO; PLON, 1998, p.108). Como na esttica, a catarse consiste em se livrar de tenses e de ansiedades, mas em psicanlise tal preocupao se volta para a libertao do peso dos incidentes traumticos associados no passado represso de emoes. Por esse motivo, o psiclogo faz o sujeito falar, expor tudo o que sente. Dessa maneira, de sua boca jorram no apenas palavras, mas tambm sentimentos que at ento no tinham nome e, assim, no eram compreendidos. A partir da verbalizao, tais sentimentos ganham identidade e podem ser trabalhados. A fala, dessa feita, desempenha papel primordial na cura. Estabelecendo-se um paralelo com a biblioterapia, verifica-se que, muito embora esta ltima no tenha a pretenso de arvorar-se em cincia (posto que arte) e muito menos fazer frente aos procedimentos psicanalticos, utiliza a fala como coadjuvante teraputico na forma do dilogo que o texto literrio enseja, logo aps a leitura, a narrao ou a dramatizao da histria, com a finalidade de apaziguar as emoes, causar um alvio prazeroso. Sem utilizar a hipnose e a tcnica da associao livre, o dilogo biblioteraputico, baseado na relao fundante da amizade, na relao de confiana estabelecida entre o leitor do texto e os ouvintes, permite que os envolvidos na
156
terapia por meio da leitura se liberem das lembranas ruins, na medida em que expem suas ansiedades sem lgrimas ou clera, mas na forma tranqila de uma conversa informal entre amigos. Como na biblioterapia no h a dicotomia mdico/paciente, inexiste a preocupao de passar por um teste avaliatrio. Resta, agora, verificar a catarse enfocada do ponto de vista da filosofia. Segundo Abbagnano (2003, p.120, grifo do autor), catarse a liberao do que estranho essncia ou natureza de uma coisa e que, por isso, a perturba ou corrompe; esse termo, de origem mdica, significa purgao, explicitando que Aristteles utilizou amplamente esse termo em seu significado mdico, nas obras sobre histria natural, como purgao ou purificao, mas foi o primeiro que o usou para designar tambm um fenmeno esttico, qual seja, uma espcie de libertao ou serenidade que a poesia e, em particular, o drama e a msica provocam no homem; e continua: muito curioso que Aristteles, apesar de examinar todos os elementos da tragdia [na Potica] no se demore na explicao do que catarse, isso quer dizer que, a, utiliza a palavra no sentido geral de serenidade e calma, embora no de ausncia total de emoes; sentido que se coaduna com o que ele diz sobre a msica, em Poltica. Como visto, o sentido de purgao ou purificao permanece. Entretanto, destacada aqui a noo de essncia, ou seja, significa que justamente por no fazer parte da essncia, o estranho tem de ser afastado. Ora, levando-se para o campo da sade, volta-se ao conceito de equilbrio como fundamental ao ser so, pois a essncia do ser so a harmonia. Alm desse aspecto, observa-se que Aristteles alargou o conceito de catarse do meio mdico para o meio esttico, realizando uma interessante articulao entre o drama e a msica, e, ainda, a citao aponta o termo como de sentido anlogo na Potica e na Poltica. Um estudo acurado da catarse aristotlica foi levado a cabo por um helenista portugus, Antnio Freire. Valho-me de sua pesquisa para estender a discusso sobre o tema e alimentar a polmica sobre a catarse. Segundo Freire (1982), os textos aristotlicos eram de duas ordens distintas: os exotricos, destinados ao pblico em geral, de estilo simples e leitura fcil, e os esotricos ou acroamticos, destinados ao uso dos alunos do Liceu, permeados de notas; a este ltimo pertence A Potica. Lembra, ainda, que A Potica foi, sem dvida, a obra de Aristteles que mais leses sofreu em lacunas, palavras no autnticas, repeties suprfluas e passagens mutiladas e considera danoso o fato
157
de a antiguidade quase nada nos ter legado, que nos permitisse resolver alguns problemas sobre as idias estticas de Aristteles e, particularmente, o enigma da catarse. (FREIRE, 1982, p. 19, 20, grifo do autor). Como A Potica sobreviveu com mutilao (pois o segundo livro, que versaria sobre a comdia e a poesia imbica foi perdido), uma obra incompleta e, como tal, est sujeita a interpretaes diferentes ao longo das eras por especialistas que se contradizem. A contradio maior se encontra no entendimento do que Aristteles postulava por catarse. Pode-se observar, nas tradues que chegaram aos nossos dias, as discrepncias nas interpretaes. Freire (1982) lista vrios autores que realizaram a traduo de A Potica e, muito embora considere tais trabalhos como pesquisas srias, apresenta restries a respeito das mesmas, pois aceita apenas como manuscritos confiveis do texto aristotlico: o codex Parisinus 1741 (fins do sculo X ou incio do sculo XI), o codex Riccardianus 46 (sculo XII ou XIV), e a verso rabe (sculo X) posteriormente traduzida para o latim na Idade Mdia; contrariando a maioria dos helenistas, afirma que o termo catarse no se encontra na Potica e sim na Poltica (baseando-se nos manuscritos citados acima), muito embora no negue a existncia da catarse trgica em Aristteles, pois segundo ele, nesta ltima Aristteles fala expressamente da catarse musical e alude catarse trgica. Assim, l-se na Poltica (Livro V, captulo VII):
Efetivamente, ela [a msica] pode servir instruo, purificao (em nossos tratados a respeito da Potica explicaremos o que compreendemos por esse termo que aqui usamos de modo geral); por fim, ao prazer, como meio de distrao e descanso depois de uma atuao prolongada. [...] Os homens predispostos piedade, ao temor e, geralmente, s paixes violentas, devem necessariamente sentir o mesmo efeito; e ainda os outros, de acordo com a sua disposio particular com respeito s paixes; todos devem sentir uma espcie de purificao e alvio seguidos de uma sensao de prazer. assim que os cantos que tornam puras as paixes conferem aos homens uma alegria ingnua e pura e, por este motivo, com estas harmonias e cantos que os artistas que executam a msica de teatro devem agir sobre a alma dos que escutam. (ARISTTELES, 2002, p. 168,169).
Freire (1982) lamenta o fato de os estudiosos da catarse aristotlica no terem examinado com o devido cuidado essa passagem da Poltica, em que h analogia entre a catarse musical e a trgica ou dramtica, pois aqui Aristteles
158
admite o uso da msica para a educao, a purificao (catarse), a diverso, o espairecimento, e para o repouso da tenso. Observa que os comentaristas da catarse debruaram-se com afinco sobre um hipottico termo do final da definio de tragdia, na Potica e analisaram de leve esta longa passagem da Poltica, saturada de catarse e de esprito catrtico, do princpio ao fim e esclarece: trata-se, evidentemente, da catarse musical, mas extensiva a todos os gneros literrios e espectculos, em que entra a msica, com mono explcita e reiterada das representaes teatrais, e, assim, no s lcito, mas obrigatrio falar de catarse trgica em Aristteles. (FREIRE, 1982, p. 127, grifo do autor). Nas vrias tradues da Potica (Livro VI, captulo 27) existem pontos de discordncia tanto quanto finalidade da tragdia, quanto ao uso dos termos temor ou terror e piedade. So esses pontos que Freire (1982) estuda exaustivamente. Apresento, a ttulo de exemplo, apenas duas tradues em portugus: a de Eudoro de Souza (1966) e a de Baby Abro (2000). Na primeira, l-se:
pois a tragdia imitao de uma ao de carter elevado, completa e de certa extenso, em linguagem ornamentada e com as vrias espcies de ornamentos distribudos pelas diversas partes [do drama], [imitao que se efetua] no por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificao dessas emoes [pela composio dos fatos]. (ARISTTELES, 1966, p. 74, interpolaes do tradutor).
Na segunda, l-se:
A tragdia a representao de uma ao elevada, de alguma extenso e completa, em linguagem adornada, distribudos os adornos por todas as partes, com atores atuando e no narrando; e que, despertando a piedade e temor, tem por resultado a catarse dessas emoes. (ARISTTELES, 2000, p. 43)
Na traduo de Eudoro de Souza, o drama suscita o terror e a piedade, sendo o efeito da tragdia a purificao das emoes pela composio dos fatos; na traduo de Baby Abro, a tragdia desperta a piedade e o temor, e o resultado a catarse. Ora, na opinio do pesquisador portugus, o que Aristteles diz no final da
159
definio de tragdia, na Potica, o seguinte: a tragdia deve concluir (eplogo, desenlace) a composio dos factos (a sua estrutura ou enredo), suscitando os sentimentos da compaixo e do medo; argumenta que o terror, sendo um sentimento to forte que sobrepujaria qualquer outro, no permitiria, em paralelo, a piedade, pois o prprio Aristteles, na Retrica, j alertara que o terrvel exclui a compaixo e serve muitas vezes para o efeito contrrio, e, assim a tragdia no pode despertar simultaneamente os sentimentos da compaixo e do terror. (FREIRE, 1982, p.105, 115). Alm de substituir o vocbulo terror por medo, por acreditar estar mais em consonncia com o pensamento aristotlico, Freire (1982) considera imprprio o uso do termo piedade, utilizando, em seu lugar, o termo compaixo. Esclarecendo: Hatzfeld (apud Freire, 1982, p. 116) define a compaixo como um sentimento meiodesinteressado, meio-egosta e explicita que sem o medo egosta, no pode haver compaixo. Freire (1982) salienta que a concepo moderna e crist de piedade como sendo um sentimento desinteressado, no era conhecida dos gregos; eis porque prefere utilizar o termo compaixo em vez de piedade, o que descreveria melhor o temor grego de sofrer o mesmo mal dos protagonistas da tragdia. Freire (1982, p. 116-117) cita as palavras de Aristteles na Retrica (II, 8, 1385b20-34) sobre como deve ser o temor para suscitar compaixo:
preciso que aquele que h-de sentir a compaixo possa passar por alguma desgraa, ou ele ou algum dos seus familiares... No podem sentir compaixo, nem os que esto totalmente perdidos [...] porque esses no podem pensar a vir sofrer mais, por j terem sofrido tudo; nem os que se crem mais felizes do que os outros: estes so orgulhosos [...]; como julgam possuir todos os bens, no admitem que possam vir a sofrer qualquer mal. [...] H porm, quem julgue poder vir a sofrer: so os que j passaram pelo sofrimento [...] e escaparam desgraa; os velhos, por causa do seu bom senso e da sua experincia; os fracos [...] ; e, ainda mais, os excessivamente tmidos [...]; as pessoas cultas [...], porque raciocinam bem [...]. O temor no deve ser excessivo, porque quem se sente aterrorizado [...] no pode sentir a compaixo.
Destarte, a noo grega de compaixo tem a ver com o medo de que a desgraa recaia sobre o espectador ou algum de sua famlia, distanciando-se do conceito de piedade crist em que a preocupao com o mal do outro no est articulada com a possibilidade de vir a sofrer o mesmo mal. Assim, o estudioso
160
portugus considera o uso do vocbulo compaixo no texto do estagirita como a traduo mais condizente com o pensamento grego. Cumpre, agora, verificar o efeito da tragdia, que segundo Freire (1982), tem sido mal interpretado e merece sria considerao, haja vista que alguns tradutores vertem o final da tragdia como catarse e, outros, como a composio dos fatos. Segundo Freire (1982, p. 157, 158, grifo do autor), a catarse das paixes no pode fazer parte da definio da tragdia e deve ser substituda por composio dos factos, pois se a palavra catarse aparecesse no final da definio da tragdia, como comumente as tradues fazem, teramos que admitir ser a catarse o efeito especfico da tragdia; a ele deveria referir-se Aristteles ao longo do comentrio da Potica, mas o que Aristteles assinala como efeito especfico e como prazer prprio da tragdia a compaixo e o temor e, assim, tomar a catarse como objectivo essencial da tragdia contrariar Aristteles, ou pretender que este se contradiz, pois o filsofo diz repetidas vezes que o fim principal da tragdia suscitar o temor e a compaixo, no por meios artificiais, mas pelo desenvolvimento natural da aco, isto , pela estruturao dos factos. Ento, o mais importante na tragdia seria a composio dos fatos, ou seja, uma ao bem conduzida, o desenrolar da ao dramtica, a efabulao do enredo; e nesse desenrolar da ao dramtica, que se busque a verossimilhana, pois somente o que verossmil pode causar o medo e a compaixo no espectador. Freire (1982) adota a hiptese de outro comentador de Aristteles de que o copista da Potica, conhecedor da catarse musical da Poltica como purificadora das emoes de compaixo e temor, tenha inserido o termo catarse tambm na Potica, haja vista que o filsofo havia prometido dela falar na Potica. Assim, estando mutilado o texto original nessa passagem, o copista achou ser seu dever inserir o termo catarse como efeito da tragdia e dessa forma que aparece na maioria das tradues. Isso, na verdade, pura especulao. Mas mesmo que o prazer especfico da tragdia seja despertar o medo e a compaixo, certo que Aristteles fez aluso catarse trgica. Se tal aluso se encontra, de fato, apenas na Poltica, quando o filsofo trata da msica, isso refora o sentido mdico da catarse, ao atuar a mesma como um purgante no organismo, purificando as emoes, aliviando o ouvinte e produzindo bem-estar.
161
Assim, a msica opera nas almas, por vezes sobreexcitadas, uma purificao ou catarse de emoes, uma distenso e uma pacificao, um alvio gostoso e isso se deve procurar de modo particular, nas representaes teatrais, quer na tragdia, quer no drama satrico, quer na comdia; em todos estes gneros entra a msica, mas com modalidades distintas sendo que na tragdia, a catarse exercer-se- principalmente em relao s emoes da compaixo e do temor, mas nem s, nem principalmente tragdia, que se aplica a catarse e, portanto, a tendncia generalizada a tornar a catarse extensiva a toda a expresso de arte desde que se experimente a autntica emoo esttica, parece-nos tambm implcita no esprito to amplo e compreensivo da esttica aristotlica. (FREIRE, 1982, p. 131, 165, grifo do autor). Ao longo dos sculos e pela voz de muitos estudiosos de Aristteles, a catarse tem sido objeto de explicaes estticas, fisiolgicas e morais. Freire (1982) lista uma srie de interpretaes da catarse que contemplam as vrias correntes de pensamento. Citarei apenas algumas, o que j dar uma idia da divergncia de opinies a respeito da catarse: expurgar, por meio da compaixo e do terror, a ira, a avareza, a luxria, ou seja, remover as perturbaes do esprito; moderar as perturbaes por meio da compaixo e do medo que a tragdia propicia; remover as emoes excessivas; realizar uma higiene psquica, como uma espcie de medicao homeoptica sem objetivos morais; purgar as afeces com as mesmas afeces, como um tratamento homeoptico; excitar o temor e a compaixo nos coraes dos espectadores para os liberar e purificar destes mesmos afetos; moderar a dor nos infortnios alheios que se passam na tragdia; estirpar os vcios da alma dos cidados purgando-os das paixes; reduzir os afetos virtuosa temperana; purgar os humores do corpo para evitar ou curar enfermidades; purgar ou purificar as paixes da alma para a curar de suas doenas; purificar de tudo o que sujo ou contaminado no ato trgico; reduzir o medo e a compaixo a seus justos termos; expulsar do corao humano o medo e a compaixo; reconhecer a inocncia do heri; reconhecer a culpabilidade do protagonista; reduzir as paixes a um estado de moderao; passar da perturbao ordem e ao equilbrio. Freire (1982, p. 163, 164, grifo do autor) conclui: podemos afirmar que a catarse trgica, em Aristteles, visa essencialmente a moderao, o equilbrio, pois nada to caracterstico do bom gosto dos Gregos como a moderao, e o
162
equilbrio palavra-chave na tica aristotlica. Muito embora reconhea a existncia de mltiplas catarses na cultura grega: religiosa, moral, filosfica, patolgica, afirma que Aristteles fala pormenorizadamente da catarse em sentido medical, cujo objecto o corpo humano, pois quando se refere catarse musical, na Poltica, utiliza termos da linguagem tcnica da medicina e, a catarse trgica, segundo Aristteles, no mais do que a catarse musical. (FREIRE, 1982, p. 132,142, grifo do autor). Concordo em atribuir catarse aristotlica um sentido mdico e defendo que a mesma consiste em uma moderao, seja dos humores corporais tanto ao gosto dos gregos; seja das emoes e paixes, tanto ao gosto da psicanlise; seja do prazer proporcionado pela expresso artstica, tanto ao gosto da esttica; seja do estranho essncia do ser, tanto ao gosto da filosofia. O fundamental que, pela catarse, chegue-se ao equilbrio, harmonia. Ora, isso se coaduna com o que foi apresentado e discutido a respeito da sade, considerada como um estado de equilbrio natural (realizando-se sempre o balano entre a perturbao e o bem-estar), em que atuam tanto as clulas do organismo biolgico quanto as emoes. Isso se coaduna, tambm, com o conceito de homem unificado, homem total, homem como alma vivente, em que no possvel separar o fisiolgico do psquico. Se, como visto, a linguagem o mediador por excelncia entre mim e o outro, o dilogo fortalece a intercorporeidade e a intersubjetividade (posto que se realiza pelo descentramento), e a catarse proporciona a justa medida dos sentimentos, todos esses aspectos devem ser levados em conta na terapia por meio de livros. Assim que uma histria lida, contada ou dramatizada, deve, antes de tudo, ter uma boa composio dos fatos, isto , um enredo que propicie o despertar e o apaziguamento das emoes. Para isso necessrio escolher textos de qualidade esttica, em que predomine o literrio e no aparea o didtico. No cabem, em sesses de biblioterapia, textos moralizantes e de carter informativo, haja vista que a finalidade deleitar, causar prazer e no fornecer juzos de valor ou ensinamentos. Destarte, evitam-se os textos fragmentados (pois no h a completa composio dos fatos). Isso implica valer-se de histrias curtas, crnicas ou poesias e jamais de um romance (pois esse ltimo exigiria vrias sesses de biblioterapia) e cada sesso autnoma deve conduzir ao fim almejado a catarse. Isso implica, tambm, a seleo criteriosa de poesia ou prosa ficcional que produza a fruio,
163
cuja linguagem a metafrica, a linguagem dos sentimentos, da imaginao e das emoes. Os aplicadores da biblioterapia sabem que a narrativa, alm de suscitar emoes, efetua a purificao dessas emoes tanto no drama como na comdia e, portanto, utilizam diversidade de textos e de gneros literrios para contemplar todos os gostos estticos. Alm disso, a msica tem acompanhado de perto todo gnero literrio e mexe com as emoes. Assim, uma boa sesso de terapia por meio da leitura no deve prescindir de msica adequada ao texto apresentado. Registro, a seguir, duas sesses de biblioterapia desenvolvidas por acadmicos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina com a histria Os trs porquinhos e o lobo mau, cujas dramatizaes configuraramse como catrticas. Explicito que essa histria foi resgatada do folclore ingls pelo crtico literrio, autor de livros infantis e folclorista australiano Joseph Jacobs (nascido em 1854 e falecido em 1916), durante o perodo em que viveu na Inglaterra. Em 2005 foi encenada essa histria em um Lar de cunho assistencial que acomoda crianas rfs e crianas oriundas de lares cujo histrico familiar impede sua convivncia com os pais por certo perodo, determinado pelo Conselho Tutelar da Criana e do Adolescente. Os componentes da equipe, um rapaz e trs moas, fizeram uma adaptao da pea, que passou a se chamar As trs porquinhas e o lobo mau; as primeiras nomearam-se Palhota, Madeirota e Tijolota (de acordo com a construo da casa) e tiveram o cuidado de caracterizar as personagens adequadamente, bem como apresentar um cenrio condizente com a pea. Assim que em folhas de isopor colaram palha, palitos de picol ou papel-carto nas cores marrom e laranja para representar as fachadas das casinhas de palha, madeira ou tijolos, respectivamente. O rapaz caracterizado como Lobo Mau vestiu-se com roupa preta e uma mscara de borracha extremamente realista e assustadora de lobo. As moas que protagonizaram as porquinhas usaram jardineiras de jeans, blusas coloridas, focinhos de borracha e maquiagem. Os acadmicos-atores souberam valer-se da corporeidade (pelas expresses faciais e gestualidade), do poder encantatrio das palavras (pelas inflexes da voz), do clima de suspense (para mexer com as emoes) e do desfecho feliz (para moderar as emoes), proporcionando, dessa feita, a catarse.
164
O refro Quem tem medo do lobo mau acompanhou a dramatizao e recebeu receptividade da platia, corroborando a importncia da msica como elemento catrtico, prazeroso e produtor de alvio das tenses. Ao trmino da encenao, a intercorporeidade alicerou a interao entre crianas e personagens. Houve abraos, afagos, beijos e, culminando, a dana livre, ao som da msica gravada. Percebia-se a ebulio das emoes. Ao contrrio do que se pensava, a mscara de lobo no assustou as crianas; aps a dramatizao todas fizeram questo de experiment-la e vivenciar a personagem. De fato, no suscitou temor exagerado, posto que, se assim fosse, impediria a experimentao da emoo esttica. Alm da encenao da pea, msica, dana, toques afetuosos e distribuio de guloseimas, a equipe cuidou em conversar com as crianas, prestar ateno nos seus relatos pessoais permeados de saudades de casa ou carncia afetiva. Nunca a expresso queria um colo foi to apropriada. Observou-se que a fruio esttica tem o poder de matizar a tristeza, pois a demonstrao de alegria durante e aps a dramatizao da histria apagou, pelo menos momentaneamente, a sensao de desalento das crianas. Pode-se dizer que o fundo (a condio de residentes em uma casa que no a sua), passou para segundo plano, e a figura (a encenao da histria e seus desdobramentos catrticos) ficou em evidncia. Em 2007 a mesma histria foi encenada em uma creche pblica de Florianpolis, que atende 190 crianas de zero a seis anos de idade. A dramatizao, no perodo matutino, presenteou duas turmas, ou seja, a pea foi apresentada duas vezes, de modo a contemplar diferentes faixas etrias: uma turma de quatro a cinco anos e outra de um a dois anos de idade. A performance aos mais novos foi elaborada de forma a no produzir medo excessivo e, dessa maneira, causar prazer. A equipe, composta por quatro acadmicas, fez uma adaptao da histria e utilizou materiais reciclveis na criao do cenrio e das fantasias. Assim, munidas de caixas de papelo, papis coloridos, tinta guache, cola caseira e muita criatividade, pr-montaram as casinhas dos porquinhos e produziram o cenrio e os adereos necessrios s personagens. As personagens-porquinhos (identificadas pelo uso de cores diferentes nas roupas e com orelhas engenhosamente grampeadas em toucas), pintaram as faces com guache rosa. A personagem-lobo
165
(vestida de preto), recebeu um rabo confeccionado com uma perna de meia-cala com saquinhos de supermercado servindo de enchimento e teve a face pintada de guache marrom. A dramatizao turma mais velha teve requintes de verossimilhana. Ao som de canes e com as devidas ferramentas, as casas dos porquinhos foram montadas na frente da platia, como se estivessem sendo construdas naquele momento. Enquanto isso, o lobo chegava sorrateiro e espionava o trabalho por detrs de uma rvore de papelo. Sorrindo maquiavelicamente, esfregando as mos de contentamento e apalpando a barriga, discretamente solicitava da platia cumplicidade em no denunciar sua presena aos porquinhos. O encantamento das crianas foi evidente e houve diviso na platia: algumas ficaram do lado do lobo, outras dos porquinhos e algumas mordiam a mo, extasiadas e sem tomar partido, com os olhos brilhando, apenas esperando o desenrolar dos fatos. A encenao foi excelente, com muita ao e dramaticidade e bem realista. O lobo adentrou na casa de tijolos pela chamin e teve o rabo queimado de verdade, para delcia dos espectadores. Durante toda a apresentao as crianas interagiram com as personagens, seja cantando a msica Quem tem medo do lobo mau, seja avisando os porquinhos da chegada do lobo, seja torcendo para que o lobo pegasse os porquinhos enquanto estes corriam para a prxima casa. Elas, de fato, vivenciaram a histria: vibraram com as peripcias das personagens, sofreram ou se deleitaram com a perseguio dos porquinhos, riram do desfecho catastrfico do lobo; tiveram uma experincia extremamente catrtica, pois suas emoes foram provocadas e depois, moderadas, restaurando o equilbrio necessrio ao bem-estar. Na segunda apresentao, aos mais novos, o lobo perdeu o ar assustador, o desenrolar da histria foi mais rpido e sem tanta dramaticidade, pendendo para o cmico. Houve choro e risos. Ao final, o lobo acercou-se dos pequenos, deixou que puxassem o seu rabo e os porquinhos conduziram pela mo os que desejassem conhecer o interior das casinhas. Talvez com menos intensidade do que a primeira turma, tambm com essa processou-se a catarse, seja pela msica que acompanhou toda a encenao, seja pelo medo (no-excessivo) suscitado pela aparncia do lobo, seja pelo alvio advindo do final feliz, posto que o lobo, desta vez, no saiu to machucado e, alm disso, fez as pazes com os porquinhos.
166
Essa histria, to singela e to conhecida, sempre provoca encantamento, tanto nas crianas quanto nos adultos que deixam aflorar a criana que habita dentro de si. Isso lembra o que afirmou Calvino (1993, p. 10, 11, 15) a respeito dos clssicos: so livros que exercem uma influncia particular quando se impem como inesquecveis e tambm quando se ocultam nas dobras da memria, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual, ou seja, a histria permanece a mesma, mas a percepo dela diferente a cada momento de nossa vida, pois ns com certeza mudamos, e o encontro um acontecimento totalmente novo; e, ento, um clssico um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer, ou, em outras palavras, permite a multiplicidade de leituras; e clssico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatvel. A histria dos Trs porquinhos um clssico, pois conquanto no faa parte do folclore brasileiro, foi incorporada na nossa cultura e por meio de vrias adaptaes tem sido divulgada pela indstria editorial brasileira. Assim que algum (me, pai, av) j a leu para ns quando ramos crianas e continuamos a tradio lendo-a para nossos filhos, sobrinhos ou netos. A histria no perdeu o poder de seduo. Continua a ser apreciada mesmo que nossa realidade seja totalmente diferente da realidade da histria; tal se d pela impossibilidade de a ela permanecermos indiferentes, pois a narrativa, embora curta, comporta uma gama substancial de material catrtico. Essa foi apenas uma das histrias apresentadas com reconhecido efeito catrtico. Cumpre lembrar que a catarse se efetua tanto na dramatizao quanto na leitura ou narrao, seja de contos clssicos, seja de contos contemporneos desde que a histria tenha uma boa composio dos fatos, elementos de verossimilhana e provoque as emoes. Entretanto, observamos que, em crianas pequenas, a encenao produz resultados imediatos: o riso, a alegria, a excitao, o alvio no final na pea comprovam que a catarse se processou, que as emoes tiveram sua cota de ebulio e moderao. Tambm a imaginao, instigada, prov mecanismos de enfrentamento da realidade cotidiana e permite a insero nos caminhos do imaginrio; permite, inclusive, uma apropriao momentnea do outro, apropriao esta que a psicanlise denomina identificao e que se encontra em ntima associao com a catarse.
167
5.4.2 Identificao
Nessa apropriao do outro, na identificao com as personagens ficcionais, entra em cena, tambm, a afetividade que pode ser demonstrada tanto em relao s personagens principais (as quais, na maioria das vezes, representam as qualidades e virtudes), quanto em relao s personagens secundrias (as quais, na maioria das vezes, exploram os vcios e defeitos de carter). Como na terapia por meio da leitura no se processa um julgamento de valor dos caracteres das personagens nem da simpatia por elas, possvel realizar a sntese de significao que d prazer ao leitor, ouvinte ou espectador, independente do tipo ou comportamento da personagem. Basta, para que se efetue a fruio, que o receptor da obra literria se identifique com a personagem que proporcionou o desabrochar da afetividade. Lembra Moiss (1988, p. 79-80, grifo do autor):
a noo de catarse, indispensvel em toda discusso acerca do valor tico da Arte, assemelha-se idia de sublimao como a compreende a Psicanlise de Freud: na medida em que o impulso sexual, ou sua energia (libido), canalizado para ou transformado em Arte de maneira a tornar-se socialmente aceitvel, o mecanismo da catarse equivaleria ao da sublimao. O aficionado da arte cnica utilizaria o protagonista como bode expiatrio ou alter ego que recebe, por transferncia ou projeo, os conflitos que lhe habitam o subconsciente: assistindo representao, descarregaria suas tenses atravs das emoes com as quais se identificaria, mas ao mesmo tempo dar-se-ia conta do drama que o aflige; vendo o heri padecer, o espectador tomaria conscincia de que vive idntica situao e livrar-se-ia das angstias que o agitam. Ou, caso no esteja abalado por tais sentimentos, experimentaria na carne o possu-los, aprenderia a recha-los e ainda gozaria o prazer de estar livre deles. Nas duas circunstncias, no fim da tragdia dever ser invadido por uma profunda sensao de bem-estar fsico e moral, por saber que tudo, felizmente, se passou no mundo imaginrio do dramaturgo e no com ele prprio.
Se o protagonista se configura como o alter ego que recebe os conflitos do espectador e se o este ltimo projeta suas tenses no espetculo ao identificar-se com o primeiro, igualmente pode tal transferncia dar-se por meio da leitura ou narrao. Nesse caso, o alter ego a personagem ficcional que aceita os
168
sentimentos antagnicos e desconfortveis do leitor ou do ouvinte e os assimila sem retrucar. Visto que as angstias e agruras passam a ser do outro (seja esse outro o protagonista de uma pea ou a personagem ficcional de um livro), os sentimentos incmodos ficam mais fceis de ser resolvidos, posto que, nesse momento, fazem parte do corpo do outro, transformam-se em um problema do outro. Ou, em contrapartida, se o leitor, o ouvinte, ou o espectador nutrir o desejo de experimentar as sensaes da personagem com toda a segurana que a realidade no permite, mas a fico possibilita, pode fazer isso introjetando as mesmas no momento mgico da dramatizao, da leitura ou da narrao. Dessa maneira, o espectador, o leitor, o ouvinte, pode, tambm, ser invadido por uma sensao de bem estar fsico e mental, pode restaurar o equilbrio, recuperar as foras que havia perdido, superar, por alguns minutos que sejam, as crises de nimo, a fadiga da carne. Isso o que advoga a biblioterapia. Cumpre, ento, definir o que se entende por identificao. Segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 363), identificao o termo empregado em psicanlise para designar o processo central pelo qual o sujeito se constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando, em momentos-chave de sua evoluo, dos aspectos, atributos ou traos dos seres humanos que o cercam. A seu turno, Laplanche e Pontalis (1994, p. 226) definem identificao como o processo psicolgico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro e acrescentam: a personalidade constitui-se e diferencia-se por uma srie de identificaes. Em ntima associao com a identificao, tm-se a projeo e a introjeo, que merecem, tambm, uma definio. A projeo, segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 603, 397), foi o termo utilizado por Sigmund Freud a partir de 1895, essencialmente para definir o mecanismo da parania, porm mais tarde retomado por todas as escolas psicanalticas para designar um modo de defesa primrio, comum psicose, neurose e perverso pelo qual o sujeito projeta num outro sujeito ou num objeto desejos que provm dele, mas cuja origem ele desconhece, atribuindo-os a uma alteridade que lhe externa; por sua vez, o termo introjeo foi introduzido por Sandor Ferenzi em 1909, para designar, em simetria com o mecanismo de projeo
169
[...] a maneira como um sujeito introduz fantasisticamente objetos de fora no interior de sua esfera de interesse. De acordo com Laplanche e Pontalis (1994, p. 374), a projeo, no sentido psicanaltico, uma operao pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro pessoa ou coisa qualidades, sentimentos, desejos e mesmo objetos que ele desconhece ou recusa nele, uma defesa encontrada na parania, mas tambm em modos de pensar normais, como a superstio. Os Autores esclarecem que Freud invocou a projeo para explicar diferentes manifestaes da psicologia normal e patolgica e por diversas vezes Freud insistiu no carter normal do mecanismo a projeo e ele v na superstio, na mitologia, no animismo, uma projeo; a introjeo seria o processo inverso, ou seja, o sujeito faz passar, de um modo fantasstico, de fora para dentro, objetos e qualidades inerentes a esses objetos. (LAPLANCHE; PONTALIS, 1994, p. 375 - 376, 248, grifo dos autores). Cabe, aqui, um aparte. Na biblioterapia os termos projeo e introjeo so evocados em relao ao universo ficcional apresentado ao pblico-alvo por meio da leitura, narrao ou dramatizao, em que o sujeito assimila ou repele as caractersticas da personagem. Dessa forma, no envolve preocupao com a patologia (seara da psicologia), pois se volta para a capacidade humana de reagir frente s excitaes causadoras de tenso, buscando mecanismos de enfrentamento da dor e desfrute do prazer. Nesse sentido, as personagens de fico agem como colaboradoras do leitor, ouvinte ou espectador, pois ao possibilitarem tanto a projeo quanto a introjeo destes ltimos, so fontes de prazer e alvio. Ora, se a psicanlise aponta a assimilao de atributos de sujeitos, pode-se dizer que possvel, tambm, apropriar-se de atributos de seres ficcionais, sejam tais personagens caracterizadas tanto como humanas quanto animais. Na narrativa literria as personagens so signos e, portanto, sujeitas significao por parte do leitor (ouvinte ou espectador). As personagens tm poder de impressionar ou comover, vo sendo construdas ao longo da narrativa, e devem apresentar verossimilhana nas atitudes e reaes de tal forma que possibilitem a identificao com o leitor (ouvinte ou espectador). A esse respeito, Aristteles (1966, p. 78) j enfatizava que no ofcio de poeta narrar o que aconteceu; sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que possvel segundo a verossimilhana e a necessidade.
170
Dessa feita, o poeta (aqui entendido como o autor do texto literrio) vale-se se situaes que poderiam ser reais e as apresenta na efabulao. Ao assim proceder, refere-se ao universal, permitindo ao leitor (ouvinte ou espectador) particularizar segundo sua necessidade. Alm disso o autor, conquanto tenha feito escolha gratuita das personagens e de seus modos de ao (colocando, dessa forma, sua subjetividade no texto literrio), ao inserir situaes verossmeis na narrativa torna muito tnue a fronteira entre o que real20 e o que no o , haja vista que as aspiraes, necessidades ou experincias manifestadas pelas personagens so, de fato, bem reais para os leitores, ouvintes ou espectadores. No compartilhamento (pela leitura, contao ou dramatizao) dessas situaes verossmeis, em que esto em jogo tanto as emoes quanto a imagtica, facilmente a subjetividade do autor transforma-se em intersubjetividade. possvel dizer que, na identificao com uma personagem, processa-se, at mesmo, a apropriao do corpo desta, pois como se o leitor (ouvinte ou espectador) se apossasse do corpo da personagem para se apossar, tambm, de suas vivncias. No compartilhamento das vivncias, a intersubjetividade aliada intercorporeidade, transforma a leitura (contao/dramatizao) em um ato solidrio. Isso significa dizer que na pluralidade de mentes e corpos (mediada pela leitura, contao ou dramatizao) e na apropriao da identidade da personagem ficcional tira-se fora para enfrentamento de problemas e busca de solues o que teraputico. De acordo com Bettelheim (1980) os contos de fadas so teraputicos tanto para a criana quanto para o adulto, visto que se prestam a restaurar o significado da vida, harmonizam-se com as ansiedades e aspiraes reais, apresentam personagens tpicas e no nicas (possibilitando a identificao), permitem que cada um encontre a soluo dos seus problemas internos (pois entrelaam contedos do mundo exterior e da vida psquica) e produzem prazer (pois se constituem em obra de arte).
O que REAL?, perguntou o Coelho um dia, quando eles descansavam lado a lado, prximo grade do berrio, antes de Nana chegar para arrumar o quarto. Significa ter coisas que fazem barulho dentro de voc e um manete mostra? Real no o jeito como voc feito, disse o Cavalo de Pele. uma coisa que acontece a voc. Quando uma criana ama voc por muito, muito tempo no s para brincar, mas ama voc REALMENTE ento voc se torna REAL. (extrado da histria O Coelho Aveludado, de Margery Willians, apud CASHDAN, 2000, p. 139).
20
171
A maioria dos psiclogos, na esteira de Bettelheim, acredita ser a identificao sempre com o protagonista e destaca os contos de fadas como teraputicos por liberarem as tenses emocionais da criana ocasionando o desejado alvio, estimularem a fantasia to necessria ao desenvolvimento infantil, apresentarem um final feliz que prov consolo no enfrentamento da realidade e como fonte de valores morais e, ainda, por apresentarem a personagem principal como modelo a ser seguido. Ora, no inteno da biblioterapia focar valores morais, mas sabe-se que eles se encontram embutidos nas histrias para crianas, tanto nas clssicas quanto nas contemporneas. Assim, cumpre frisar que a terapia por meio da leitura, valendo-se de contos de fadas, de histrias modernas, de crnicas ou de poesias, privilegia, acima de tudo, a catarse, aqui entendida como a moderao das emoes. Pautada no balano indispensvel ao ser so, as histrias lidas, narradas ou dramatizadas tm uma estrutura que permitem a passagem do desequilbrio (em que h luta, conflito) ao equilbrio (com o final feliz). Nesse sentido, a identificao com as personagens possui carter catrtico, constituindo-se em um desdobramento da catarse aristotlica. certo que nas crianas a relao de identificao mais forte que nos adultos, haja vista que se encontram no estgio inicial de desenvolvimento social necessrio para insero consentida no mundo cultural, mundo este que apresenta padres de comportamento exigidos e esperados, e, portanto, elas necessitam de modelos. Como disse Merleau-Ponty (1990, p. 220):
a relao entre a criana e o adulto uma relao singular de identificao. A criana se v nos outros (como os outros se vem nela). A criana v nos seus pais seu destino, ela ser como eles. H nela essa tenso particular entre aquele que no pode viver ainda segundo o modelo e o modelo.
Nessa passagem, Merleau-Ponty discorre, na verdade, sobre o polimorfismo infantil, ou seja, a criana no seria um outro absoluto e sim um outro respaldado em um modelo pr-selecionado. Se os pais se constituem no modelo adulto por excelncia, no se pode negar que os textos ficcionais direcionados infncia so escritos por adultos e tais textos tm embutidos padres desejveis de
172
comportamento a ser imitados. Se a criana polimorfa, o processo de identificao com as personagens pela leitura (contao ou dramatizao) possibilita mesma coexistir em mltiplas formas, o que , por si, um exerccio de reintegrao no meio social e histrico em que vive, pois tal meio impe determinadas adaptaes e reaes. A identificao com as personagens ficcionais pode ocorrer tambm na juventude e na idade adulta. De acordo com Merleau-Ponty (1999, p. 507) nossa atitude natural no sentir nossos prprios sentimentos ou aderir a nossos prprios prazeres, mas viver segundo as categorias sentimentais do ambiente. Dessa feita, a fico permite vivenciar sentimentos ilusrios no plano da imaginao e isso acontece porque permitimos a ambigidade, cedemos espao iluso. Explicitando que tanto a criana quanto o adulto escondem, por vezes, seus prprios sentimentos e se deixam dominar por valores de situao, Merleau-Ponty (1999, p. 507-508) cita Scheler: A jovem amada no projeta seus sentimentos em Isolda ou em Julieta, ela sente os sentimentos desses fantasmas poticos e os introduz em sua vida. Conquanto nessa passagem Merleau-Ponty esteja fazendo um paralelo entre sentimentos reais ou fictcios, reconhece a importncia da experimentao de sentimentos imaginrios para o conhecimento de sentimentos verdadeiros. Na citao de Scheler, pelo processo da introjeo a leitora quis vivenciar os sentimentos das personagens. O literrio supriu a realidade. O imaginrio tomou feies de situao. Para a criana, uma histria lida, narrada ou dramatizada tem um sentido especial porque ela no considera a efabulao uma idia, mas algo que ela vive plenamente, ou seja, para a criana, a histria uma situao. Por acreditar nisso, Merleau-Ponty (1999, p. 538) afirma:
Para a criana, a histria e o expresso no so idias ou significaes, a fala e a leitura no so operaes intelectuais. A histria um mundo que se deve poder fazer aparecer magicamente, pondo culos e debruando-se sobre um livro. A potncia que a linguagem tem de fazer existir o expresso, de abrir caminhos, novas dimenses, novas paisagens para o pensamento , em ltima anlise, to obscura para o adulto quanto para a criana. Em toda obra bem-sucedida, o sentido introduzido no esprito do leitor excede a linguagem e o pensamento j constitudos e se exibe magicamente durante a encantao lingstica, assim como a histria saa do livro da av.
173
Temos, ento, a experincia tanto do real quanto do imaginrio. Ambos fazem parte das vivncias do ser humano. Se o mundo aquilo que ns percebemos, no momento da leitura, narrao ou dramatizao, nossa percepo, conquanto esteja pautada na fico, real para ns. No momento da identificao com as personagens (seja pela introjeo, seja pela projeo) vivemos efetivamente a narrativa. Sunderland (2005, p. 30) corrobora essa assertiva ao dizer que uma histria teraputica permite a compreenso de sentimentos e emoes de forma mais palatvel para a criana [...] permitindo que ela se identifique com o personagem principal, que est s voltas com os mesmos sentimentos difceis. Conquanto a Autora direcione o processo de identificao apenas criana, sabe-se que tal processo no prerrogativa dela, pois tanto o jovem quanto o adulto ou o idoso podem valer-se do mesmo. Portanto, pela leitura (contao ou dramatizao), possvel mitigar o sofrimento, independente da idade dos que dela participam. Tambm, muito embora a Autora frise a identificao com a personagem principal, afirmo que no apenas a personagem que est em evidncia na narrativa o alvo de projeo ou introjeo do leitor (do ouvinte, do espectador). Qualquer personagem pode s-lo: basta que manifeste qualidades desejveis que o leitor (ouvinte ou espectador) admire e gostaria de possuir (e a acontece a introjeo), ou atributos indesejveis que o leitor (ouvinte ou espectador) despreze e gostaria de no possuir, mas infelizmente os possui (quando d-se a projeo). Como o fenmeno da leitura (aqui estendido narrao ou dramatizao) distinto a cada vez que acontece, infere-se: a cada leitura/contao/dramatizao pode o leitor (ouvinte ou espectador) identificar-se com uma personagem diferente a quem possa demonstrar empatia; a pluralidade de envolvidos no ato da leitura/contao/dramatizao possibilita diferentes identificaes com personagens diferenciadas. Um exemplo disso o depoimento de um menino de quatro anos, aps a leitura da histria A Bela e a Fera21 em uma sesso de biblioterapia: Eu sou o pai da Bela! Aparentemente, a figura do pai inexpressiva, mas um olhar atento ao enredo mostra que foi ele o causador do infortnio e depois, da felicidade da filha, ou
21
Na verso de Madame Leprince de Beaumont, editada em 1757, baseada em uma verso francesa escrita por Madame de Villeneuve, o mercador, alm das trs filhas, tem, tambm, trs filhos. As adaptaes modernas apresentam apenas as trs filhas do mercador, tanto em livros como em filmes. (cf. WARNER, 1999).
174
seja, ele foi a personagem com poder. Seria pelo desejo de deter o poder que o menino identificou-se com ele? Seria o mais moo dos filhos, sem direito voz? Teria pais autoritrios? No se sabe. O importante que, no momento da histria, ele estufou o peito, satisfeito consigo mesmo, saboreando cada detalhe da narrao. Chamo a ateno, aqui, para o livro Que histria essa? de autoria de Flvio de Souza, que, com lucidez, apresenta as histrias de fadas contadas pelas vozes e pontos de vista das personagens secundrias: o drago (em A Bela Adormecida), o passarinho (em Joo e Maria), o prncipe (em Branca de Neve e os sete anes), o caador (em Chapeuzinho Vermelho), a baleia (em Pinquio), o menino (em A nova roupa do rei), o lagarto (em Cinderela) e a vaca (em Joo e o P-de-feijo). E acrescenta um lembrete: Voc pode contar essa histria para algum. Do seu jeito. Do jeito que voc quiser. Do jeito que voc inventar. para isso que servem as histrias. (SOUZA, [198-], p. 13). Ora, isso significa que qualquer histria que provoque emoes e mexa com o imaginrio pode ser utilizada nas sesses de biblioterapia e nem sempre as crianas iro se identificar com o heri. Isso foi observado na dramatizao da histria Os trs porquinhos e o lobo mau: algumas torciam para que lobo apanhasse os porquinhos e, outras, para que estes conseguissem fugir em outras palavras, algumas se identificaram com o lobo e outras, com os porquinhos. Por que isso? No se sabe. Nem as crianas, posto que o processo de identificao inconsciente. Mas naquele momento isso serviu como vlvula de escape para emoes reprimidas e causou um alvio. isso que interessa. Eis a explicao de Bettelheim (1980, p. 53, 55, 56):
Os trs porquinhos ensinam criana pequena, da forma mais deliciosa e dramtica, que no devemos ser preguiosos e levar as coisas na flauta, porque se o fizermos poderemos perecer. Um planejamento e previso inteligente combinados a um trabalho rduo nos far vitoriosos at mesmo sobre nosso inimigo mais feroz o lobo! A estria tambm mostra as vantagens de crescer, dado que o terceiro e mais sbio dos porquinhos normalmente retratado como o maior e o mais velho. [...] a identificao com os porquinhos do conto de fadas ensina que h desenvolvimentos possibilidades de progresso do princpio do prazer para o princpio da realidade, o que afinal de contas, no seno uma modificao do primeiro. [...] A criana, que atravs da histria foi convidada a identificar-se com um dos seus protagonistas, no s recebe esperana, mas tambm lhe dito que atravs do desenvolvimento de sua inteligncia ela pode sairse vitoriosa mesmo sobre um oponente muito mais forte. [...] A maldade do lobo alguma coisa que a criancinha reconhece dentro de si: seu desejo
175
de devorar e a conseqncia: - sua ansiedade de sofrer possivelmente, ela mesma, um tal destino. Assim o lobo uma externalizao, uma projeo da maldade da criana e a estria conta como se pode lidar com ela construtivamente [...] todos os trs porquinhos so pequenos, e portanto imaturos, como a prpria criana. A criana, por sua vez, se identifica com cada um deles e reconhece a progresso de identidade.
Muito embora o educador e terapeuta de crianas gravemente perturbadas22 (como ele gostava de ser denominado) enfatize a identificao com os trs porquinhos, que ele considera como, na verdade, sendo apenas um simbolizando estgios diferentes da vida da criana, e tenha como certa a apreenso da criana para esse pormenor, como explicar a identificao com o lobo? Seria, como defende o terapeuta, a maldade dentro de cada um de ns que deseja aflorar, mas a sociedade condena e, por isso, o lobo punido no final para assegurar a justia? possvel. Mas pergunto: desde quando vivemos em um mundo justo? E: o senso de justia dos adultos seria idntico ao da criana? Mas existe uma outra possibilidade, que gostaria de aventar: possvel tambm, que o lobo personifique o forte, o que no tem medo. Quem pode negar que as crianas, em uma situao de fragilidade (posto que se encontram afastadas da famlia) e impotncia (haja vista que no tm controle da situao) tenham, pelo vis da imaginao, assumido o papel do vilo, aquele capaz de grandes proezas, tais como, com um sopro, derrubar as casinhas de palha e de madeira, assustando, assim, os fracos porquinhos para se afirmar, para sentirem-se poderosas? Assim, a anlise de Bettelheim (1980), centrada no princpio do prazer (a construo rpida de casinhas precrias a fim sobrar mais tempo para brincadeiras) versus o princpio da realidade (o trabalho diligente, ou seja, a construo da casa mais slida garante proteo dos inimigos), parece-me pobre, didtica e restrita. No h como medir o poder exercido pelas personagens ficcionais nas crianas, nem garantir a identificao com o bom, o virtuoso. Fazer isso seria desprezar a capacidade infantil de discernir entre a realidade e o imaginrio e tolher sua liberdade
Bruno Bettelheim, psicanalista nascido em 1903, foi, aps seu suicdio em 1990, desmascarado: Em conseqncia da publicao, em alguns grandes jornais, de cartas de ex-alunos da Escola Ortognica de Chicago, que ele dirigira durante cerca de trinta anos e que acolhia crianas classificadas como autistas, a imagem do bom Dr. B., como era chamado, se apagava por trs da figura de um tirano brutal, que fazia reinar o terror em sua escola. Lembrou-se ento que ele no aceitava nenhum visitante, a no ser, e em condies muito restritivas, as famlias das crianas que ali estavam. (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 63)
22
176
de escolha. Mais que isso: seria conceder obra literria destinada s crianas uma funo moralizante, o que significa dizer: no arte, apenas instruo, um engodo (ns, adultos, usamos animais falantes, fadas e princesas para ensinar vocs, crianas, a se comportarem adequadamente, ou seja, de acordo com o que ns queremos e a sociedade exige). Alm do mais, Bettelheim, de inspirao freudiana, sempre concede primazia aos conflitos psicossexuais que perpassam pelos contos de fadas, ou seja, reduz a narrativa s lutas de natureza sexual e preocupaes edipianas, muito embora o prprio Freud tenha reconhecido que s vezes um charuto apenas um charuto. Cabe lembrar que sobre os contos de fadas h duas grandes teorias conflitantes, como mostra Warner (1999, p. 20, 21): o difusionismo, a qual sustenta que as histrias so propagadas atravs das fronteiras, vindas de origens distantes muitas vezes do Oriente e a teoria dos arqutipos, a qual prope que a estrutura da imaginao e as experincias comuns da sociedade humana inspiram solues narrativas que se assemelham umas s outras, mesmo quando no teria sido possvel haver nenhum contato ou troca; entretanto, lembra que embora sejam distribudos universalmente, os contos emergem em diferentes lugares temperados com sabores diferentes, caractersticas diversas, alm de detalhes e contextos regionais que proporcionam ao seu pblico a satisfao de uma identificao especial; conquanto as abordagens histrica e psicanaltica tenham sido difundidas e aceitas por muito tempo, os tericos contemporneos preferem visualizar modelos de disseminao dos contos de fadas tomando emprestadas metforas da cincia, mas outro modo ainda de pensar os contos de fadas como se fossem uma linguagem da imaginao, com um vocabulrio de imagens e uma sintaxe de enredos. deste ltimo modo que os contos de fadas so enfocados na presente tese. No que eu despreze a teoria do difusionismo, pois percebo a ntima relao entre relatos bblicos, egpcios, gregos, persas, medievais e romnticos. A teoria dos arqutipos, por outro lado, parece-me um pouco forada, pois quem garante que manuscritos antigos no tenham circulado pelos diversos povos, proporcionando assim o intercmbio e a similaridade dos textos? Entretanto, do ponto de vista da biblioterapia, interessa no a procedncia ou a forma de divulgao, mas como os contos de fadas podem ser reconfortantes, como podem favorecer a identificao
177
com as personagens de maneira a diminuir a angstia e ajudar a criana a tornar-se mais confiante. Nesse sentido, o trabalho de Cashdan (2000) interessante e relevante, pois aponta os mitos que cercam os contos de fadas: so histrias originalmente escritas para crianas, foram escritos pelos irmos Grimm e ensinam lies. O Autor contrape cada mito com as explicaes: os contos de fadas foram concebidos como entretenimento para os adultos e por isso incluem exibicionismo, estupro e linguagem obscena; os irmos Grimm apenas compilaram histrias que circulavam h sculos pela Europa, mas ao direcionarem tais histrias ao pblico infantil eliminaram as referncias sexuais e as substituram por referncias sensibilidade; deve-se a Perrault, com sua moral no final das histrias, a crena no valor instrutivo dos contos de fadas, que, na verdade, tm como atrativo maior o apelo permanente, o poder de encantamento e a possibilidade de auxiliar a criana a lidar com seus conflitos internos. Argumenta que a nfase freudiana na sexualidade leva a um sem-nmero de interpretaes curiosas e relativamente improvveis; lembra que a folclorista e especialista em contos de fadas, Maria Tatar, afirma: usar os contos de fadas para alertar as crianas sobre os perigos da sexualidade forar demais a barra, e observa ainda que o sexo est longe de ser a preocupao mais urgente na vida das crianas muito pequenas, pois elas se preocupam com sua posio na famlia e em saber se so to amadas quanto seus irmos e irms e, alm disso, ficam imaginando se podero ser abandonadas em funo de algo que venham a dizer ou fazer. (CASHDAN, 2000, p.26, 27). O Autor estuda a vaidade, gula, inveja, mentira, luxria, avareza e a preguia nas personagens e afirma que a criana, quando comea a despertar para seu eu, ou seja, quando , em substituio ao pronome na terceira pessoa (Aline quer) utiliza o pronome na primeira pessoa (eu quero), d incio s ligaes ntimas com as outras pessoas; dessa feita, os contos de fadas auxiliam a criana a compreender as predisposies falhas das personagens (que, tambm, so predisposies suas) e, pelo processo de identificao, fornecem nimo para que ela entabule relaes significativas com os outros, sejam os pais, sejam os amiguinhos. De fato, os fundamentos pecaminosos dos contos de fadas ajudam a explicar por que as crianas respondem a eles com tanto fervor emocional, e por que determinados contos de fadas se tornam os favoritos da gente; tais contos permitem
178
a resoluo das lutas internas entre o bom e o mau existente em cada um de ns e, por isso, as crianas, quando ouvem um conto de fada, projetam inconscientemente partes delas mesmas em vrios personagens da histria, usando-os como repositrios psicolgicos para elementos contraditrios do eu e ao comparar os conflitos entre as diversas partes do eu com os conflitos entre as personagens da histria, os contos de fadas do s crianas um meio de resolver as tenses que afetam o modo como elas se sentem em relao a si mesmas. (CASHDAN, 2000, p. 29, 31). Ora, isso corrobora o que advoguei anteriormente: a identificao no ocorre apenas com a personagem principal da histria, mas com qualquer personagem. O fundamental que a histria, seja por meio da personagem principal, seja por meio das personagens secundrias, atenda aos apelos da criana de superar alguns medos (o de ser abandonado pelos pais, por exemplo e aponto as histrias de Joo e Maria, o Pequeno Polegar, Branca de Neve e outras princesas rfs vtimas das maldades das madrastas), ou, ento, permita assimilar a fora de determinadas personagens (no caso de sentirem-se fragilizadas e para tal servem os drages, gigantes e ogros), ou, ainda, matize aspectos pouco saudveis do eu (no caso, a bruxa, que, justamente por ser m, morre em praticamente todas as histrias). Isso implica dizer: a criana se identifica com a personagem que a tocou naquele momento, no importando se suas caractersticas tendem para o bem ou o mal. De acordo com Cashdan (2000, p. 46) os contos de fadas cumprem uma misso psicolgica, a de combater as tendncias pecaminosas do eu; tal acontece porque os protagonistas so crianas comuns, com quem o pblico infantil se identifica facilmente. Ora, no posso concordar que as personagens ficcionais dos contos de fadas so crianas comuns: princesas que trabalham como escravas, filhas de moleiros que enganam a realeza, meninos pequenos do tamanho de um dedo polegar que vencem ogros, meninas presas em uma torre que se casam com prncipes e meninos que vendem a vaquinha por gros de feijo e enganam gigantes no descrevem a realidade infantil deste sculo nem dos que passaram. justamente a diferena que estimula a identificao, pois admira-se o que no se tem. Recordo, aqui, uma passagem contada por uma professora que narrava histrias infantis em uma favela do Rio de Janeiro. Preocupada em no ferir as suscetibilidades das crianas que vivem na pobreza, ela contava histrias com
179
protagonistas que enfrentavam problemas semelhantes aos dessas crianas: fome, desemprego dos pais, violncia domstica, alcoolismo, drogas, uma vida miservel, enfim. O resultado? Uma menina, timidamente, solicitou que ela narrasse histrias de prncipes, princesas, castelos, objetos encantados, pois elas tambm gostavam de coisas assim. Ou seja, a realidade j era por demais dura para ser apresentada em histrias semelhantes. Urgia apresentar um mundo de fantasia e encantamento, com personagens ricas, belas e marotas, onde a mentira e a desonestidade no eram castigadas e proporcionavam ascenso social. Somente assim a fruio ocorreria, pois a identificao com o heri ou o vilo causaria prazer. Lembra Cashdan (2000, p. 158) que faz parte da infncia assumir a identidade de outra pessoa, e muitos jogos de faz-se-conta da infncia casinha, mdico, escola ampliam o universo de experincias das crianas porque permitem que elas adotem personas diferentes. O que isso indica? A necessidade de acoplar sua, outra identidade. Nas brincadeiras, as crianas assumem o papel do outro, aquele que detm o poder, o adulto: a me, o mdico, a professora. Quase sempre um brinquedo (uma boneca, um ursinho de pelcia) se transforma em filho, paciente ou aluno. Por que se d isso? Pelo fato de as crianas no suportarem a presso de serem conduzidas, orientadas, dominadas por adultos. Por isso mesmo, s vezes, os viles das histrias (o lobo, a bruxa) melhor se prestam identificao, pois so personagens fortes, poderosas que desafiam as virtudes louvadas pelos adultos e detestadas pelas crianas. Cashdan (2000) revela, com muita propriedade, os defeitos das personagens principais que ficam obscurecidos pela presena do mal maior, no caso, a bruxa. Assim, aponta: a vaidade de Branca de Neve (deseja as fitas para parecer mais bela); a gula de Joo e Maria (continuam a comer, mesmo depois de saciados); a inveja em Cinderela (conquanto se comporte como vtima, anseia ir ao baile como suas irms); a mentira da princesa em O prncipe sapo (no cumpre com sua palavra); a luxria de Rapunzel (mesmo presa em uma torre conquista um prncipe e engravida); a avareza de Joo (ao subir no p de feijo defrauda totalmente o gigante); e a preguia de Pinquio (no deseja estudar nem trabalhar). Ora, esses defeitos mostram que as personagens so reais, quer dizer, no so to boazinhas e certinhas como os adultos insistem em frisar. E, na maior parte das histrias, elas conseguem sair de situaes embaraosas ou difceis por meio de
180
expedientes pouco louvveis. Por isso mesmo, por terem pequenos pecados, so passveis de identificao. Assim, no a semelhana de situaes ou atributos favorveis das personagens que incitam a identificao, e sim, a forma diferente como lidam com eles e saem bem sucedidos, desde que tais situaes ou atributos sejam verossmeis. J mencionei que a identificao no prerrogativa das crianas. Os adultos no ficam excludos desse mecanismo de enfrentamento dos problemas. Lembro uma passagem em que Monteiro Lobato disse ser ele a Emlia. E recorro s palavras de Tatar (2004, p. 346, 347): Andersen identificou-se at o fim de sua existncia com seus personagens e, acrescenta, o prprio Andersen admitiu: Pego uma idia para os adultos e depois conto a histria para os pequenos, sempre me lembrando que pai e me muitas vezes ouvem, e preciso dar-lhes tambm alguma coisa para suas mentes. Complementa Tatar (2004, p. 10):
No curso das ltimas dcadas, os psiclogos infantis recorreram a contos de fadas como poderosos veculos teraputicos para ajudar crianas e adultos a resolver seus problemas meditando sobre os dramas nele encenados. Cada texto se torna um instrumento facilitador, permitindo aos leitores enfrentar seus medos e desembaraar-se de sentimentos hostis e desejos danosos. Ingressando no mundo da fantasia e da imaginao, crianas e adultos garantem para si um espao seguro em que os medos podem ser confrontados, dominados, banidos. Alm disso, a verdadeira magia do conto de fadas reside em sua capacidade de extrair prazer da dor. Dando vida s figuras sombrias de nossa imaginao como bichos-papes, bruxas, canibais, ogros e gigantes, os contos de fadas podem fazer aflorar o medo, mas, no fim, sempre proporcionam o prazer de v-lo vencido.
Tal se d porque os contos de fadas so histrias de transformao, ou seja, de mudanas. As personagens encontram-se sempre em metamorfose: sapos viram prncipes, feios adquirem beleza, covardes ganham ousadia, pequenos tornam-se grandes (por feitos valorosos), meninas maltratadas transformam-se em princesas, crianas derrotam animais ferozes, bruxas e ogros, ou seja, no so personagens passivas. Conquanto se valham de objetos mgicos ou de ajuda externa como fadas ou animais encantados, as personagens agem para modificar a situao incmoda a que se acham sujeitas. esse no-conformismo que seduz e encoraja a identificao.
181
Mas cabe apenas aos contos de fadas o poder de proporcionar ao leitor, ouvinte ou espectador assumir a personalidade de outrem, seja humano ou animal? No, respondo enfaticamente. Qualquer histria que privilegie o imaginrio, destaque a transformao (fsica ou moral) das personagens, propicie o envolvimento do receptor do texto literrio com as personagens e apresente situaes verossmeis pode ser lida, narrada ou dramatizada nas atividades de biblioterapia. Cito, como exemplo, a histria de Romeu e Julieta
23
, narrada em uma escola
de ensino fundamental em Florianpolis, em 2007, por uma equipe de acadmicas do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina, em uma sesso de biblioterapia. Versa a histria sobre um reino separado por cores (cada flor no seu canteiro). As borboletas, que tambm eram sditas desse reino, s tinham permisso para habitar o canteiro de flores cujas cores fossem idnticas s suas. No canteiro amarelo, de margaridas, morava uma famlia de borboletas amarelas, cuja filhinha, Julieta, ansiava por conhecer outros canteiros, outros mundos, mas sendo sempre impedida por seus pais. No canteiro azul, de miostis, morava uma famlia de borboletas azuis e o filho, Romeu, tinha o mesmo desejo: sair da mesmice, explorar novos horizontes. Aparece na histria um elemento cmplice: o ventinho, que induz as duas borboletinhas a desobedecer aos pais e a voarem de canteiro em canteiro. o que elas fazem, indo to longe ao ponto de sarem daquele reino e se perderem na floresta. Mesmo com a ajuda do ventinho no conseguem voltar para casa e ficam muito assustadas. Os pais das borboletas, conquanto estivessem muito preocupados com a ausncia dos filhos, no tinham coragem de sair de seus respectivos canteiros para procur-los. No entanto, as mes-borboletas incitaram os pais-borboletas e os quatro foram recorrer ao senhor Vento e dona Ventania para auxiliar na busca. Todas as borboletas de outras cores resolveram ajudar e, corajosamente, saram de seus canteiros; at mesmo os vaga-lumes colaboraram iluminando o caminho, ao anoitecer. Por fim, acharam os fugitivos e tudo acabou bem: no houve reprimendas, choro ou castigo. O resultado? Na primavera daquele ano, os canteiros daquele reino estavam todos misturados: tanto as flores quanto as borboletas se distribuam em uma coletnea de cores.
23
De Ruth Rocha, ilustraes de Cludio Martins, editado pela tica em 1999.
182
A histria, muito embora trate da intolerncia, o faz discretamente, concentrando-se a efabulao nas peripcias das borboletas-crianas transgressoras, na parceria indispensvel para a resoluo de situaes difceis e, como nos contos de fadas, apresenta um final feliz. A identificao ficou por conta de cada ouvinte: tanto poderia ser com as borboletas aventureiras, com o vento maroto, ou mesmo, com as borboletas adultas, medrosas. O importante, na narrativa, a mudana de comportamento: todas as personagens abdicaram da atitude inicial, esttica e conformista. Como a biblioterapia no assome ares de psicanlise, deixa que cada participante insira o significado que quiser, se identifique com a personagem que mais o atrai, sem induzimento. Se o pblico-alvo manifestar-se e, voluntariamente, conversar sobre seus prprios medos, abre-se o dilogo e dele participa quem sentir o desejo ou a necessidade de partilhar as angstias semelhantes s das personagens ou os sucessos obtidos por estratgias parecidas s das mesmas. As acadmicas optaram pela narrao por acreditar no poder encantatrio da voz; dessa feita, apenas uma, dotada de extraordinria desenvoltura, narrou a histria, assumindo vozes e posturas das personagens. As outras colaboraram apresentando o cenrio medida que a narrativa se desenrolava: foram colocando, no cho da sala, tecidos coloridos e, inseridos neles, flores de papel e borboletas em forma de dobraduras (de acordo com a cor do jardim). O grupo soube valorizar a histria, explorar os recursos ldicos e interagir com as crianas. A seduo e o envolvimento, tanto com a histria quanto com as aplicadoras da biblioterapia, levou as crianas a solicitarem mais histrias. Com o consentimento da professora (pois estava alocado tempo para apenas uma histria), a narradora, de improviso, contou, de Monteiro Lobato, o encontro de Narizinho Arrebitado com o Prncipe Escamado24 e seus desdobramentos: a plula mgica que proporcionou fala boneca Emlia. No fosse o impedimento do horrio, ficaramos a manh inteira desfrutando da companhia de seres ficcionais. Mas a vida atual tem certas urgncias e preciso a elas dedicar, tambm, mesmo que a contrafeito, tempo e esforo.
Reinaes de Narizinho, livro publicado em 1921, o primeiro volume da srie que Lobato criou tendo como pano de fundo o Stio do Picapau Amarelo. Sua obra destinada ao pblico infantil apresenta personagens atuantes e questionadoras, de acordo com o pensamento lobatiano democrtico-liberal. O primeiro livro, Reinaes de Narizinho, entretanto, um projeto cultural em que o ludismo e a alegoria prevalecem sobre o projeto poltico lobatiano, diferenciando-se sobremaneira de suas Fbulas, e dos livros de cunho didtico como Geografia de Dona Benta e Gramtica e Aritmtica da Emlia, por exemplo. (Cf. KHDE, 1986).
24
183
A histria de Romeu e Julieta apenas uma das inmeras histrias contemporneas passveis de serem utilizadas em atividades biblioteraputicas. O mercado editorial destinado ao pblico infantil tem contemplado, cada vez mais, textos instigantes, questionadores, com forte apelo esttico. Seria tarefa rdua listar todos os autores que primam pela qualidade de suas obras; seria injustia listar apenas alguns em detrimento dos outros. Fica o convite a todos que desejam ler, contar ou dramatizar histrias para crianas: visitem as livrarias, folheiem os livros, adentrem na narrativa, imaginem-se criana assevero que esquecero os demais compromissos daquele dia e, suavemente, iro escorregar pelos caminhos do imaginrio, do fantstico, do inslito, de um mundo com sua prpria realidade. Cumpre, aqui, resgatar as palavras de Iser (apud JAUSS et al., p.105):
O texto ficcional igual ao mundo medida em que projeta um mundo concorrente.[...] O texto ficcional adquire sua funo no pela comparao ruinosa com a realidade, mas sim pela mediao de uma realidade que se organiza por ela.[...] A no-identidade da fico com o mundo, assim como da fico com o receptor a condio constitutiva de seu carter de comunicao. [...] a fico sempre transcende o mundo a que se refere.
Como apontado na citao, a fico no inimiga, apenas concorrente da realidade: quer dizer, tem seu momento e seu espao. A fico complementa o mundo. Sendo transcendental, permite determinar o indeterminado, ou seja, tudo aquilo que na vida cotidiana impossvel de entender ou realizar, a literatura, com seus vazios no texto, incita o leitor a ir alm do escrito. Pelas vias da imaginao, permite, inclusive, que o leitor se aproprie das personagens, viva suas aventuras, goze suas alegrias. Lembram Yunes e Pond (1988) que a literatura no imita o real, mas o transfigura, de fato, recria a realidade no sentido de apresentar elos de identificao com uma determinada realidade. E acrescentam:
Para a criana, o processo psquico de identificao (a interao de subjetividades que nos lana para dentro do livro) ainda mais forte; da a necessidade de o escritor ter conscincia plena do seu mister. Os papis propostos pelos personagens so vividos pela imaginao infantil com a fora de um drama real. Por esta via, texto e leitor se fundem o que
184
acentua a possibilidade de impresso sobre a conscincia do leitor, dos modelos de comportamento e dos conflitos vividos (ideologia) no universo romanesco. A leitura, para a criana, bem mais que um meio de evaso ou de socializao, um modo de representao do real. Desse modo, o texto ajuda-a a reelaborar o real, sob a forma do jogo e da fico. (YUNES; POND, 1988, p. 41).
Na biblioterapia, advoga-se que essa interao de subjetividades, essa identificao com as personagens ficcionais permite ao leitor, ouvinte ou espectador compreender seus conflitos luz dos conflitos vivenciados pelas personagens de uma forma segura, indolor e prazerosa. Deleuze (1997, p. 13-14) afirma que o mundo o conjunto dos sintomas cuja doena se confunde com o homem. A literatura aparece, ento, como um empreendimento de sade. Sendo tal empreendimento, o texto ficcional, sensvel s aspiraes estticas dos leitores (com elementos ambgos que permitem interpretaes ao gosto de cada um e representando processos psicolgicos nas personagens), pelas identificaes literrias atua como um mecanismo salutar de enfrentamento de problemas e dificuldades. , portanto, teraputico, mas no psicoteraputico ou analtico, no sentido que a psicologia compreende esses termos. Ora, se para Freud as identificaes foram motivo de preocupao, posto que poderiam estar a servio da inibio dos afetos e dos desejos, da mesma forma, para a biblioterapia, a apropriao das caractersticas das personagens ficcionais no apenas uma vlvula de escape para enfrentar as adversidades da vida; tambm uma maneira sedutora de vivenciar situaes novas estimulantes, de incorporar, realidade cotidiana, uma outra realidade mais rica, mais charmosa e atrativa. O objetivo das atividades biblioteraputicas no o de analisar comportamentos; por deixar o pblico-alvo vontade para se identificar com qualquer personagem ficcional (seja em secreto, seja manifesto), o processo teraputico acontece no sentido de favorecer a construo da identidade, sempre dinmica, sempre inacabada. Ouaknin (1996, p. 98, 99) lembra que para a biblioterapia, a identidade um no-lugar, no possui enraizamento, visto que o ser humano um ser de caminho, um homem em marcha e esse caminho a passagem do prprio pensamento o qual, viajante, convida e inquieta, incita e solicita.
185
A leitura biblioteraputica, ento, no aprisiona o eu, mas possibilita o trnsito do eu pelos caminhos da literatura e, assim, a biblioterapia, ao valer-se da apropriao das identidades das personagens ficcionais, auxilia na construo da identidade do eu, incessante e ininterrupta no desenvolvimento do sujeito; configurase tal leitura, portanto, como temporal e transcendente. No o caso de anular o carter, cuja permanncia no tempo garantida, segundo Ouaknin (1996, p.100, grifo do autor), pela mesmidade: emblemas que nos identificam, como o nome, a profisso, a posio social, poltica ou religiosa, alm dos hbitos contrados e sedimentados que se tornam uma segunda natureza; mas de acrescentar um conjunto de significaes adquiridas, pelas quais o outro entra nas composio do mesmo e, dessa feita, elementos tais como valores, normas, ideais, modelos, heris, se incorporam assim ao carter e fazem com que tendam [...] manutenco de si. Assim, o estranhamento do literrio permite o estranhamento do eu, o desvio do estvel para o dinmico, a presena do outro em mim, a aceitao da diferena, a aventura de outras vivncias, a transcendncia, enfim. A identificao propicia um envolvimento salutar com a literatura, mas esta ltima permite, ainda, uma reflexo, um olhar comprometido com o que se passa em mim, uma introspeco. o que apresentarei a seguir.
5.4.3 Introspeco
Foi visto que quando a personagem ficcional objeto de admirao, efetua-se uma identificao com a mesma por parte do receptor do texto literrio pelo mecanismo da introjeo, ou seja, ele se apossa das qualidades da personagem ficcional; por outro lado, quando o leitor, ouvinte ou espectador despeja seus conflitos e tenses na personagem, vale-se da projeo como uma defesa para lidar com sentimentos dolorosos. Tanto a projeo quanto a introjeo, desdobramentos do processo de identificao, so inconscientes. O que acontece, porm, quando percebemos, isso , temos conscincia de que a personagem ficcional manifesta os mesmos atributos que ns, notadamente
186
os defeitos? D-se a introspeco, o que, para alguns uma percepo interna, e, para outros, um ato deliberado da conscincia. Como isso poderia ser teraputico? Aqui, o cuidado se manifesta pela prpria pessoa, ou seja, a introspeco, se conduzir a uma mudana comportamental, faz o sujeito sentir-se melhor e, em conseqncia disso, suas aes favorecem uma boa relao com o outro, companheiro no mundo da vida (e sabido que um bom relacionamento tem influncia na sade mental). No o caso de perda de identidade, e sim, de devir, de movimento do eu. Melhor dizendo: o caso de, ao verificar o comportamento das personagens ficcionais e perceber sua similaridade com ele, modificar suas atitudes pela constatao de que tais atitudes so anti-sociais e, assim, prejudicam a convivncia. Mas a introspeco pode ser teraputica em um outro sentido: o sujeito verifica que os defeitos no so propriedade sua; de fato, so co-extensivos ao outro, portanto, o outro entende (e perdoa) as indelicadezas, os deslizes e as pequenas faltas. Assim, o caso, s vezes, de aceitar-se, de no cobrar-se demasiado nos tratos com o outro. Ou, talvez, de iniciar um dilogo franco com o outro, desculpando-se da anterior falta de tato; de rir juntos do constrangimento criado (pois o riso faz bem ao corao), j sabendo que no futuro seu comportamento no ser muito diferente, que problemas com o outro continuaro surgindo e que o relacionamento com o outro ser sempre pontilhado de desafios, haja vista a diferena de personalidades e de viso do mundo. As personagens ficcionais, durante toda a trama, apresentam atitudes boas e ms, condutas elogiveis ou imprprias, mas seguem sua trajetria no enredo. Assim se d tambm na vida cotidiana. Seguimos em frente apesar de, s vezes, ser necessrio nos retratarmos (o que no agradvel, mas necessrio para a convivncia pacfica). A introspeco tem sido objeto de pesquisa tanto da psicologia quanto da filosofia. Para a primeira, introspeco um mtodo de estudo dos fenmenos psquicos; para a segunda, consiste em uma atividade da conscincia. Como a psicologia entende a introspeco? Segundo Vieira (1994, p. 24, 25), so dois os mtodos prprios e gerais, para o estudo dos fenmenos psquicos: subjetivo e objetivo, este ltimo, a extrospeco, examina o que se passa nos outros e o primeiro, tambm chamado de introspeco, permite estudar tudo o que ocorre em ns mesmos, ou seja, a
187
conscincia nos informa do que ocorre em ns, e, ainda, a observao da conscincia pela mesma conscincia, no sentido de que a prpria pessoa em quem os fatos se passam, que os vai observando, pesquisando, examinando as prprias sensaes, sentimentos, lembranas, idias, etc. Isso significa dizer que a introspeco uma auto-observao, um processo mental consciente, um exame dos prprios pensamentos, desejos, e sensaes. A finalidade de tal mtodo o relato minucioso das respostas aos estmulos a que o sujeito foi submetido, propiciando-lhe uma auto-avaliao. Lembra Vieira (1994, p. 25, 26, grifo do autor):
Evidentemente a introspeco absolutamente impraticvel nos animais [...], nas crianas de tenra idade e nos alienados; [...] em que pese vantagem de atingir diretamente os fatos psquicos, imputam-se, atualmente, ao mtodo introspectivo, algumas deficincias. Entre estas argumentam os adversrios do mtodo subjetivo est a circunstncia de que so numerosos, rpidos, e s vezes to simultneos os fatos psquicos, que se torna impossvel, ou, pelo menos difcil a uma pessoa, observ-los por si prpria. que assim sendo, o observador no se pode distinguir do objeto observado, tendo de produzir em si mesmo um pensamento e, ao mesmo tempo, investig-lo. [...] O mtodo introspectivo, porm, apresenta vantagens no que se refere, principalmente, aos chamados estados afetivos, que so situaes especiais, acompanhados de prazer ou desprazer e das quais se originam os nossos sentimentos. Isto porque ningum poder, melhor do que o observador de si prprio, conhecer o que lhe agradvel ou desagradvel, os seus desejos, afetos, simpatias, desgostos.
Conquanto o Autor defenda tal mtodo, mostra que o mesmo inadequado no caso de o sujeito estar possudo de paixes, pois as mesmas impedem uma anlise eficiente; alm disso, torna-se difcil o examinado, ao fazer-se examinador de si mesmo, adotar imparcialidade no julgamento. Contrapondo-se crtica de que a introspeco intil por fornecer somente noes do indivduo (no abrangendo a generalidade da espcie humana), argumenta que as noes pessoais excluindose as anomalias, so comuns a cada um e a todos os seres racionais visto que a organizao psquica a mesma em todos os homens e ainda, que algumas manifestaes externas podem no apresentar os fenmenos com toda a fidelidade, se desprezada a introspeco, como ponto de partida no exame da vida afetiva. (VIEIRA, 1994, p. 26, grifo do autor).
188
De modo similar, Gomes (2008) credita valor introspeco para o estudo de nossos pensamentos, desejos, sentimentos e fantasias, pois segundo ele, tais fenmenos so psicolgicos, no passveis, portanto, de observao por meio dos rgos sensoriais (visto que fazem parte de nosso mundo interno); dessa feita, considera a introspeco um ingrediente necessrio na compreenso dos fatos psicolgicos. Alm disso, destaca como partcipe nesse processo a empatia, ou, em outras palavras, a introspeco vicria, posto que a mesma propicia ao analista uma melhor observao psicolgica do que se passa no outro; tal possvel quando o primeiro se imagina no lugar do segundo ao assim proceder, revive experincias que lhe foram penosas e pode apreciar a significao do fato psicolgico traumtico ocorrido no segundo e seu efeito neste. Conquanto esteja voltado para a observao psicanaltica e destaque o papel de Breuer e Freud como pioneiros no emprego cientfico da introspeco e da empatia, lembra que seu uso d-se fora da psicologia cientfica, pois na vida diria utilizamos tanto uma quanto a outra para analisar o nosso comportamento e o comportamento do outro. Cr, ainda, que as resistncias contra a introspeco e a empatia devem-se ao fato de as mesmas no proporcionarem o alvio da tenso posto que os contedos reprimidos, quando revelados, podem causar mais tenso, desconforto com a descoberta e, s vezes (em alguns casos patolgicos ou da psicologia mstica pseudo-cientfica) uma fuga da realidade. Entretanto, refora seu valor como instrumento cientfico visto ser uma forma ativa de pesquisar os processos psicolgicos de pensamento lgico, de soluo de problemas e de ao libertadora (no sentido de livre-escolha e deciso de mudana de comportamento). Na biblioterapia, a introspeco d-se fora da esfera da psicologia e do misticismo das teorias centradas no eu. Configura-se como uma anlise corriqueira que fazemos de nossos pensamentos e atitudes, com o intuito de mudana de comportamento ou, ento, de aceitao de si. Essa investigao de si por si mesmo efetua-se no nos padres da psicanlise, mas sim como um recuo que o ser humano realiza para dentro de si mesmo aps a leitura, narrao ou dramatizao do objeto literrio. como se as personagens ficcionais atuassem como um espelho no qual seria possvel visualizar nossos defeitos (reais ou imaginrios) at ento obscurecidos pelos apelos da vida cotidiana. Em outras palavras: um insight do que no gostamos em ns, um passo para a metamorfose, um estmulo para a ao ou
189
para a compreenso de si. Seria uma reflexo? Seria adotar uma atitude fenomenolgica, quer dizer, interpretar nosso comportamento? Como um dicionrio de filosofia define a introspeco? De acordo com Blackburn (1997, p, 208), introspeco significa olhar para dentro da prpria mente para ver o que se pensa ou se sente; esclarece que a idia de que esse processo semelhante ao da percepo, exceto por ser voltado para o interior, rejeitado pela maior parte dos filsofos da mente contemporneos, pois em vez de conceber esse processo como uma percepo do que se pensa ou se sente, deveramos (talvez de modo mais correto) encar-lo como uma tentativa de saber o que dizer, ou de ensaiar uma narrativa que poderia tornar-se pblica como, por exemplo, como sei o que penso at ouvir o que digo?; e complementa: a oposio introspeco por parte de alguns psiclogos pode ser fruto de uma m compreenso, visto que relatar nossa prpria vida mental em si mesmo um comportamento, que pode ser estudado com tanta objetividade quanto qualquer outro. Cabe, aqui, um aparte. O prprio Freud percebeu a dificuldade na autoanlise, pois, em carta a Wilhelm Fliess,25 em novembro de 1897 (apud ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 44) declarou:
Minha auto-anlise continua parada. Agora compreendi por qu. que s posso me analisar servindo-me de conhecimentos objetivamente adquiridos, como em relao a um estranho. A verdadeira auto-anlise impossvel, caso contrrio j no haveria doena.
Muito embora seguindo padres psicanalticos a auto-anlise seja impossvel, como afirmou Freud, na biblioterapia os padres so mais modestos. Intenta-se uma verificao dos meus pensamentos e do meu comportamento frente s exigncias dos desafios cotidianos; de como tais pensamentos e atitudes favorecem ou prejudicam minha relao com o outro. Por isso mesmo, concordo com Vieira (1994) quando ele diz que as paixes, a deficincia mental e a tenra idade impedem a
Wilhelm Fliess era um otorrinolaringolista que morava em Berlim, com quem Freud manteve correspondncia nos ltimos anos do sculo XIX, a quem atribua elevada respeitabilidade cientfica e compartilhava as suas primeiras concepes psicanalticas. (BIRMAN, Joel. Freud & a filosofia. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003.).
25
190
anlise. Assim, na biblioterapia, esse um objetivo a ser atingido apenas por crianas na pr-adolescncia, adolescentes, jovens e adultos considerados saudveis, tanto fsica quanto mentalmente. Alm disso, seleciona-se histrias que conquanto mexam com as emoes (sejam catrticas), no produzam um impacto to forte ao ponto de acrescentar problemas aos que o receptor da obra literria est enfrentando. E, ainda: no se utiliza textos moralizantes, que induzam o receptor a pensar dessa ou daquela maneira, pois isto seria uma manipulao. Se, pela histria, o leitor, ouvinte ou espectador decidir, por si mesmo, modificar comportamentos indesejveis, cabe a ele, e somente a ele, voluntariamente, proceder dessa maneira; se verificar que tal empreendimento penoso demais ou no vale o investimento de esforo ou boa vontade, prerrogativa sua manter a mesma atitude frente aos acontecimentos. No se trata, aqui, de ignorar o crasso desrespeito contnuo com o outro; caso essa atitude seja detectada, o sujeito necessita de acompanhamento psicolgico, o que no compete biblioterapia. Cumpre lembrar que a deciso de mudana ou no de comportamento posterior histria, s vezes vrios dias, pois o sujeito fica como que digerindo o que acabou de constatar: que aquela personagem desagradvel age igual a ele, que, por esse motivo, excluda de certos eventos, que evitada clara ou discretamente pelas outras personagens ficcionais. E, quando toma a deciso, normalmente est sozinho e no a partilha com os aplicadores da biblioterapia. Existem casos, no entanto, em que o insight instantneo e o sujeito tem necessidade de expor ao grupo o que sente (vergonha, desconforto) at como uma purgao e aqui o dilogo teraputico no sentido de abrir a oportunidade para os outros participantes tambm exporem seus pensamentos, desejos e motivaes, trocarem idias a respeito de certos problemas, jogarem para fora o que os incomoda como um encorajamento. No uma sesso de anlise, bem entendido. antes uma demonstrao de confiana no grupo, um abrir os coraes aos que se considera amigos, uma catarse, enfim. Em tempo: nas sesses de biblioterapia no existe a pretenso de fazer o sujeito conhecer-se a si mesmo. Isso uma prerrogativa do receptor da obra literria: cabe a ele decidir se deseja ou no refletir sobre as atitudes das personagens ficcionais em paralelo s suas prprias atitudes. Mesmo porque considerado impossvel o conhecimento total de si por si mesmo. Chamo, aqui, em socorro, Buscaglia (c1984, p. 173, 174, 175):
191
Oscar Wilde disse que somente as pessoas superficiais conhecem a si mesmas. A implicao dessa afirmao extremamente profunda. Ela sugere que o processo nunca chegar ao fim. [...] bvio que ns temos um potencial muito maior do que poderemos vir a descobrir, e conhecer-se absolutamente um objetivo irreal. Ele , no mximo, um processo que nos leva para a frente. Ainda assim, algum grau de autoconhecimento essencial para a sobrevivncia. [...] Considerando que o desenvolvimento pessoal um processo que perdura por toda a vida, devemos descobrir como somos no momento imperfeitos e incompletos. [...] Se nos sentimos desprezveis, inadequados ou fracos, nunca poderemos transmitir credibilidade, segurana ou fora a algum. O autoconhecimento requer constante reflexo sobre ns mesmos. Isso sugere um compromisso com os ilimitados poderes da mente e do corpo para mudar e crescer na direo desejada. Para isso, precisamos dar um basta ao autodesprezo e autodecepo, observando da melhor forma que podemos como concretizar aquilo em que acreditamos. Somente aqueles que se dedicam a aceitar a si prprios podem aceitar os outros como so.
Como visto na citao, o processo de conhecer-se a si mesmo contnuo, ininterrupto e incompleto, ou seja, est sempre em construo. Dessa feita, no a atividade de biblioterapia a causadora do desencadeamento do processo. O que ela pode fazer proporcionar, por meio do comportamento das personagens ficcionais, um parmetro para exame do comportamento do receptor do texto literrio. A descoberta de traos indesejveis nas personagens que se configuram como semelhantes aos seus pode conduzir o leitor, ouvinte ou espectador ao desejo de abolir certas atitudes e adquirir outras no intuito de melhorar relacionamentos. Voltando definio de introspeco supracitada, fornecida pelo dicionrio de filosofia, tenho, ainda, um outro aparte. Mesmo que para alguns filsofos contemporneos a introspeco nada tenha a ver com a percepo, para MerleauPonty a introspeco uma percepo interior. Isso pode ser observado nas suas palavras: para Husserl, como para todos os cartesianos, a existncia da conscincia no se distingue da conscincia de existir, sendo assim, uma reflexo e no uma introspeco; pois a introspeco, com efeito, a percepo interior, a notao de fatos que se passam em mim; define a passividade de uma conscincia que se v viver e a reflexo, ao contrrio, um esforo para extrair o sentido de uma experincia vivida. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 162, grifo do autor). Para Merleau-Ponty a introspeco a constatao de algo que se passa comigo; por outro lado, a reflexo permite inferir significaes das vivncias de mim e do outro. E, ainda: para ele o sentir e o entender esto intimamente ligados, o que significa dizer: eu sei porque percebo.
192
Quando Merleau-Ponty (1999, p.511, 545, 546) afirma que no porque eu penso ser que estou certo de existir, mas, ao contrrio, a certeza que tenho de meus pensamentos deriva de sua existncia efetiva; sou um campo, sou uma experincia e o interior e o exterior so inseparveis, d continuidade ao seu projeto de mostrar a impossibilidade de um pensamento puro, desvinculado do corpo e do mundo. J no seu primeiro livro, A estrutura do comportamento, Merleau-Ponty delineia uma conscincia engajada no mundo e no uma conscincia que se comporte apenas como espectadora do mundo. Aponta, ainda, a fraqueza da psicologia de laboratrio, pois o homem, alm de no ser um animal e de no mostrar as mesmas reaes que um animal frente aos estmulos, vive em um mundo cultural, sendo, portanto, influenciado por ele. Ao dizer que toda percepo interior inadequada porque eu no sou um objeto que se possa perceber, e em minha relao com coisas que eu me conheo, a percepo interior vem depois, Merleau-Ponty (1999, p. 512) admite a presena da introspeco, haja vista que admite a conscincia. Ora, Isso implica indispor Merleau-Ponty a algumas correntes da psicologia, em especial o behavorismo26. A controvrsia entre a psicologia objetiva (do comportamento) e a psicologia da conscincia (introspectiva) foi estudada por Merleau-Ponty (2006) que apontou a fragilidade da teoria behaviorista, ou seja, uma psicologia sem alma (sem conscincia), que se baseia nas leis da fsica de ao e reao (estmulo-resposta), pois segundo ele, o comportamento no um funcionamento mecnico visto que sempre aportamos sentido ao nosso comportamento. Dessa feita, deve ser abolida a diferenciao entre corpo e esprito, como se os mesmos tivessem vida independente um do outro. Somente assim, aceitando a juno entre o objetivo e o subjetivo possvel compreender o comportamento.
O behaviorismo (behavior: comportamento) rejeita, liminarmente, o conceito de conscincia e considera a psicologia como um ramo das cincias naturais, cujo objeto seria o comportamento dos animais. Destes no se distinguiria o homem. Por isso segundo Watson [o criador do termo behaviorismo, em artigo publicado em 1913] a Psicologia deve evitar expresses como estados mentais, esprito, conscincia, vontade e referir-se, exclusivamente, a respostas e estmulos, formao de hbitos e termos equivalentes. O homem uma mquina de reaes mecnicas, respondendo a estmulos, de acordo com a teoria behaviorista. O behaviorismo mitigado, de Lashley, Meyer e Tolman, admite, contudo, o valor dos processos mentais internos. (VIEIRA, 1994, p. 52, grifo do autor).
26
193
Explicitando: Merleau-Ponty (2006, p.196-197, grifo do autor) credita uma estrutura ao comportamento, pois este ltimo
no se desenrola no tempo e no espao objetivos, como uma srie de acontecimentos fsicos, cada momento a no ocupa um e apenas um ponto no tempo mas no momento decisivo do aprendizado, um agora sai da srie dos agora, adquire um valor particular, resume os tateios que o precederam, assim como articula e antecipa o futuro do comportamento, transforma a situao singular da experincia numa situao tpica e a reao efetiva numa aptido. A partir desse momento, o comportamento se separa da ordem do em-si e se torna a projeo fora do organismo de uma possibilidade que lhe interior.
Dessa feita, ao conferir sentido ao comportamento, os gestos garantem que estamos inscritos no mundo da vida, que no somos uma pura conscincia; por outro lado, os gestos indicam que existe uma inteno, um pensamento:
O comportamento pois feito de relaes, ou seja, ele pensado e no em si, como qualquer outro objeto, alis; isso que nos teria mostrado a reflexo. Mas por esse caminho curto teramos perdido o essencial do fenmeno, o paradoxo que o constitui: o comportamento no uma coisa, mas tambm no uma idia, no o invlucro de uma pura conscincia e, como testemunha de um comportamento, no sou uma pura conscincia. justamente o que pretendamos ao dizer que ele uma forma. (MERLEAUPONTY, 2006, p. 199).
Assim, o comportamento humano no pode ser estudado como se o homem fosse um animal fechado em um laboratrio, passvel de ser observado pelas suas reaes aos estmulos, como pretende o behaviorismo, mas sim como o indivduo percebe a realidade, como defende a Gestalt. Em outras palavras: no se pode desprezar o contedo da conscincia, posto que como ser total, como indivisvel, o ser humano mescla objetividade e subjetividade no processo da percepo. a forma como percebemos certos estmulos que far agirmos dessa ou daquela maneira. Muito embora os estmulos fsicos desencadeiem certos comportamentos, a maneira como interpretamos estes estmulos, como decodificamos o que se nos apresenta conscincia que, em ltima instncia, determinam nossos comportamentos.
194
Diferentemente de Sartre, que desconfia do inconsciente, Merleau-Ponty (estudioso dos escritos de Freud) tem o inconsciente como motor das aes que realizamos no cotidiano e, assim, a percepo se d mesmo na atividade reflexiva, ou seja, no h necessidade da conscincia ficar em estado de alerta e refletir sobre tudo. No significa que Merleau-Ponty menospreze a conscincia analtica em favor da conscincia perceptiva; para ele ambas cumprem o seu papel no conhecimento, haja vista serem manifestaes diferentes de uma mesma conscincia, pois, como ele mesmo diz: toda conscincia , em algum grau, conscincia perceptiva. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 529). Mller-Granzotto (2005b, p. 410, grifo do autor) explicita que:
Os comentrios de Merleau-Ponty sobre Freud apresentados em La Structure du comportament (1942) e nas duas primeiras partes da Phnomnologie de la percepcion (1945) tm duplo significado. Por um lado, denotam a inclinao merleau-pontyna pela psicanlise e a esperana de que, a partir das noes psicanalticas, a cincia pudesse rearticular os dois domnios de objeto que ela prpria separou: o fsico e o psquico. Mas, por outro lado aqueles comentrios, pela censura que dirigem a Freud, exprimem a decepo de Merleau-Ponty frente incapacidade da psicanlise para extrair, das noes que articulara, as conseqncias ontolgicas que a reflexo filosfica esperaria.
Assim, conquanto conceda mrito a Freud no tocante s suas descobertas a respeito de como o comportamento adulto resultado dos acontecimentos da infncia, da sexualidade infantil e dos mecanismos de resistncia, Merleau-Ponty observa que Freud no conseguiu abolir a dicotomia mente/corpo, pois apresenta sempre as relaes neurolgicas em paralelo s psquicas. Merleau-Ponty no concorda na diviso do ser humano em duas partes, uma fsica e outra psicolgica para ele, o ser humano uno. Isso explica o valor que atribui percepo e ao nosso envolvimento com o mundo: o inconsciente estaria ligado a todos os nossos atos, pois somos seres no mundo, pensamos porque existimos. Lembra ainda Merleau-Ponty (1990, p. 180): os psiclogos mostram que o subjetivo no necessariamente a introspeco, pois h um conhecimento de si difcil, lento, no o imediato, que uma decifrao to complexa quanto a decifrao do outro e, ainda, o objetivo no necessariamente o exterior; e o conhecimento
195
no a simples anotao de um fato dado; implica sempre uma interpretao, introduz noes novas. Dito de outra maneira: Merleau-Ponty pretende uma reviso do que se entende por subjetivo e objetivo a fim superar o empirismo objetivista e o introspectivismo subjetivista. Para tal, necessrio acabar com a dicotomia conscincia/corpo. Somente admitindo o ser total pode-se entender a introspeco, somente no contexto cultural o ser humano atribui esse ou aquele valor a determinado comportamento. Assim, os comportamentos e sua avaliao so, de fato, interpretados. No h como realizar a introspeco sem referncias aos objetos exteriores a ns. Ento, a fenomenologia, que no uma filosofia abstrata, mas um retorno s coisas mesmas, pode auxiliar a psicologia no estudo do comportamento humano. Nesse sentido, cumpre anotar as palavras de Sartre (1989, p. 104, 105) a respeito das contribuies da fenomenologia de Husserl psicologia: a fenomenologia, cincia da conscincia pura transcendental, uma disciplina radicalmente diferente das cincias psicolgicas, que estudam a conscincia do ser humano, mas as estruturas da conscincia transcendental no desaparecem quando essa conscincia se prende ao mundo, assim, as principais aquisies da fenomenologia continuaro vlidas para o psiclogo; como a fenomenologia uma descrio das estruturas da conscincia transcendental fundada sobre a intuio das essncias dessas estruturas [...] essa descrio se opera no plano da reflexo e, alerta, no se deve confundir, porm, reflexo com introspeco, pois a introspeco um modo especial de reflexo que procura apreender e fixar os fatos empricos. Em outras palavras: fenomenologia caberia propriamente o estudo da reflexo, e, psicologia, o estudo da introspeco. Tal se d porque a introspeco lida com fatos individuais da conscincia, ao passo que a reflexo volta-se para a apreenso das essncias, que so universais. Mas como do universal pode chegarse ao individual, o modelo da fenomenologia pode servir para a psicologia. Sartre (1996) tem uma posio diferente da apresentada por Vieira (1994) no tocante afetividade. Observou-se que este ltimo referiu-se ao mtodo introspectivo como essencialmente vlido no caso dos estados afetivos, pois estes seriam situaes singulares e caberia ao sujeito saber lidar com elas. A seu turno,
196
Sartre nega a existncia de estados afetivos, e, segundo ele, a psicologia detm um conceito errneo da afetividade. Assim, l-se em Sartre (1996, p. 97, 98, grifo do autor):
Com efeito, no existem estados afetivos, isto , contedos inertes que seriam carregados pelo fluxo da conscincia e s vezes se fixariam, ao acaso das contigidades, das representaes. A reflexo nos d conscincias afetivas. Uma alegria, uma angstia, uma melancolia so conscincias. E devemos aplicar a elas a grande lei da conscincia: toda conscincia conscincia de alguma coisa. Em suma, os sentimentos so intencioanalidades especiais, representam uma maneira entre outras de transcender-ser. O dio dio de algum, o amor amor de algum. [...] O sentimento se d como tal conscincia reflexiva cuja significao precisamente ser conscincia deste sentimento. Mas o sentimento de dio no conscincia do dio. conscincia de Paul como odioso; o amor no conscincia de si prprio: conscincia dos encantos da pessoa amada.
Nessa passagem, Sartre defende sua idia de conscincia reflexiva, em que os fenmenos subjetivos de dio ou amor sempre so orientados para uma pessoa odiada ou amada; o sentimento visa um objeto de maneira afetiva; no fosse assim, o sentimento seria abstrato, sem significao. Por esse motivo, tem o sentimento como um tipo de conhecimento, diferente, verdade, do conhecimento intelectual, mas, ainda assim, um conhecimento e jamais um estado afetivo, como acreditam os psiclogos. Para Sartre (1994, p.43, 51, 73, grifo do autor), o Ego est fora da conscincia, um ser do mundo, tal como o Ego de outrem, assim, enquanto eu lia, havia conscincia do livro, dos heris do romance, mas Eu no habitava esta conscincia, ela era somente conscincia de objecto e conscincia no-posicional dela mesma e, portanto, a introspeco impossvel, pois conhecer-se bem fatalmente, tomar sobre si o ponto de vista de outrem, quer dizer, um ponto de vista forosamente falso. Cumpre lembrar que Sartre no aceita o Ego transcendental de Husserl, e que, para ele, o Eu s aparece por ocasio de um ato reflexivo. Segundo ele, a reflexo o veneno do desejo, pois se no plano irrefletido eu socorro o outro de forma impessoal e desinteressada, no plano do refletido minhas aes so egostas haja vista que me preocupo mais em qualific-las do que com as aes
197
propriamente ditas e, assim, o foco de interesse recai sobre mim e no sobre o outro. A respeito da reflexo, lembra Mller-Granzotto (2001b, p. 131, 132, grifo do autor) que na Crtica da razo Pura, Kant introduziu o termo reflexo para designar o julgamento realizado por nossa capacidade de julgar e tal julgamento tinha em vista determinar em que casos o particular (o relacionamento interno do mltiplo de sensaes dadas s nossas fontes de conhecimento) poderia ser aproximado ou subsumido pelo universal, ou seja, pelos conceitos; assim, a reflexo, especificamente aqui, seria to somente a maneira pela qual o eu penso viabilizaria, para o mltiplo das sensaes, uma forma ou representao que tornasse esse mltiplo pensvel, e, complementa que para Kant, na Crtica da Faculdade do Juzo, entretanto, o termo reflexo passa a designar uma funo muito mais complexa, pois a capacidade de julgar torna-se uma faculdade transcendental com o mesmo status que o entendimento e a razo. Em outras palavras: inicialmente Kant concebia a reflexo como um estado da mente possvel de chegar a conceitos e, depois, como uma faculdade de julgar por meio de comparaes entre representaes. Isso indica que no somente entre os filsofos o termo reflexo adquire sentidos diversos, como o prprio filsofo muda seu conceito sobre o termo no decorrer de sua vida. Cumpre, ento, verificar como um dicionrio de filosofia define reflexo. Abbagnano (2003, p. 837, 838, grifo do autor) define reflexo como o ato ou o processo por meio do qual o homem considera suas prprias aes, e observa que em Husserl a reflexo a percepo imanente, que constitui unidade imediata com o percebido, sendo a prpria conscincia; na filosofia contempornea esse termo usado como sinnimo de introspeco, sentido interior, observao interior. Ora, o prprio Husserl distinguiu a reflexo realizada na vida comum da reflexo fenomenolgica ou transcendental. No caso da biblioterapia, tal reflexo pode, efetivamente, ser chamada e introspeco, visto que, longe se prender-se s preocupaes que o intelecto tem de si mesmo, volta-se para fins prticos, ou seja, uma avaliao dos nossos pensamentos e comportamentos; posto que no mantemos uma relao de igualdade com o outro, estamos, permanentemente, em uma disputa com ele.
198
Nas palavras de Merleau-Ponty (1990, p. 217): os outros nos parecem mais fortes ou mais fracos; mais fortes porque no temos o espetculo de suas hesitaes e mais fracos porque temos sempre a tendncia de pensar que o outro est acabado, fixado, e ns no. Essa situao (de desequilbrio) afeta nossa maneira de agir. por isso que sempre nos avaliamos pelo olhar do outro. Isso nos foi imputado desde criana, quando o parmetro era o adulto. Assim, nos escondemos por trs das aparncias, no intuito de impressionar o outro seja mostrando uma face bondosa (hipocrisia), seja portando uma mscara de coragem (para ocultar o medo). J foi visto que o ser so o ser que tem, equilibrado, os fatores emocionais, fsicos e sociais. Ora, isso bem difcil de ser conseguido, pois no temos domnio de tudo o que sucede conosco. Assim, lutamos para abolir os efeitos nefastos da falta de harmonia entre o que desejamos e o que podemos obter. Cientes de que nem sempre ser possvel vencer os obstculos que se nos apresentam no cotidiano, nos valemos de mecanismos de resistncias para manter a sade mental, e, conseqentemente, a sade fsica, pois o ser uno. Conscientes do fato de que o outro nos completa, nos preocupamos em manter com ele um bom relacionamento. Assim que a introspeco surge como instrumento vlido para verificarmos como nosso comportamento est afetando esse relacionamento. Dessa feita, o autoexame, a auto-observao poder ser teraputica (alm das j mencionadas mudana de comportamento e aceitao de si), tambm em outro sentido, qual seja, o da tolerncia com o outro. Compreendendo que nossas falhas irritam o outro e as falhas do outro nos irritam igualmente, o caso de se perguntar: como minimizar o problema? Somente o exerccio da tolerncia torna possvel obliterar os inconvenientes das diferenas de personalidades, culturas, credos, ou preferncias pessoais. Pela introspeco possvel diminuir o hbito (nada saudvel) de atribuir a culpa de tudo ao outro; possvel aprender a assumir a responsabilidade pelos nossos atos; possvel, enfim, desenvolver uma atitude salutar de ajustamento ao mundo da vida. Para ilustrar, recorro segunda parte do Programa de Leitura desenvolvido em 2002 (j mencionado) com 30 alunos com faixa etria de 14 a 24 anos, adolescentes e jovens de uma escola pblica estadual. Nessa etapa do Programa, uma sala foi alocada para sesses individuais de biblioterapia. Mostrou-se ser a ocasio oportuna para a introspeco, haja vista que alm de os textos literrios
199
incidirem sobre temas de interesse da comunidade estudantil tais como: violncia, namoro, divrcio dos pais, morte na famlia (entre outros), havia o fato de no ter platia, ou seja, somente o aluno e eu compartilhvamos a leitura. No dilogo posterior, verifiquei que foi benfico esse exame em paralelo s personagens ficcionais, pois os depoimentos dos alunos mostraram que eles, de fato, usaram as personagens ficcionais como parmetro para avaliao no apenas do seu comportamento, como, tambm, do comportamento do outro. Assim, por exemplo, relato algumas falas: Quando eu tenho dinheiro algumas pessoas querem se aproveitar de mim porque sou muito franco; O que a senhora leu para mim foi timo pois me esclareceu muitas dvidas sobre o namoro; A histria para mim foi uma lio de vida, nada se resolve pela ignorncia, as pessoas tm de entender o lado da outra; As pessoas falam sem saber o que falam; Hoje em dia voc no pode confiar em qualquer um, a inveja pode acontecer a qualquer pessoa; Lendo esse livro me lembrei do que aconteceu com um amigo meu que foi acusado injustamente, por isso quando acontece algo eu quero ter certeza antes de acusar algum; A histria muito legal s que nem sempre acontece isso, mas vale a pena lutar pelo seu amor, s vezes a gente vence mas ruim quando no acontece o que a gente quer; Achei a histria muito legal pois sempre fica uma lio para nossa vida; Eu acho que a violncia no leva a nada, algum pode morrer, eu acho que as pessoas deviam conversar para no brigar; Acho que toda adolescente tem o direito de escolher o que quer da vida, como ir morar sozinha, tem de ter muita responsabilidade, eu sa de casa uma vez e me arrependi, quebrei a cara uma vez mas no vou quebrar de novo; Foi muito boa a nossa conversa, agora sei que tenho uma amiga; Eu gostei de ler pois aprendi que com a mentira a gente acaba se dando mal; Se aprende com a leitura muita coisa: ter amizade, valorizar a amizade. Ao terminar esse tpico, gostaria de salientar a importncia da introspeco (que poderia ser descrita como a observao do que se passa em mim) ou da reflexo (que poderia ser entendida como a meditao a respeito do que se passa em mim e se devo mudar ou no meu comportamento) para um relacionamento saudvel consigo e com o outro. , portanto, teraputica.
200
6 O QUE FALTOU DIZER
No precisamos temer que nossas escolhas ou nossas aes restrinjam nossa liberdade, j que apenas a escolha e a ao nos liberam de nossas ncoras. (MERLEAU-PONTY)
A princpio esse captulo iria ser nomeado Concluso, o que seria coerente, posto que, como o ltimo da tese, iria fechar as argumentaes a respeito do contedo apresentado. Mas pensei: fechar como? Se a fenomenologia se caracteriza pelo inacabamento, como dar por concluda a tarefa que empreendi? E pensei tambm: tantas coisas ainda podem ser ditas! Por esse motivo, abro aqui um espao para o que faltou dizer, sabendo, de antemo, que muito mais poderia ser dito, posto que o assunto Leitura e Terapia inesgotvel. Mesmo assim, urge finalizar o trabalho. Durante toda a pesquisa foi realizada uma interlocuo entre literatura e filosofia. Assim, perpassaram pelas folhas: Aristteles, Proust, Husserl, Sartre, Merleau-Ponty e Iser, entre outros. O resultado? Uma mlange, uma mescla de idias s vezes convergentes, s vezes divergentes, mas sempre direcionadas para o foco em questo: a leitura como terapia. Talvez surja a pergunta: afinal, porque reunir em um s trabalho autores de pocas e vises diferentes? No bastaria selecionar apenas um e desenvolver toda a argumentao em torno de seu pensamento? No, respondo enfaticamente. Assim como em uma refeio um s tipo de alimento, por mais nutritivo e saboroso que seja, insuficiente para suprir os nutrientes do organismo, assim tambm, em uma tese, determinado autor, se citado at a exausto, no supre a carncia de alegaes necessrias para fundamentar as propostas apresentadas. Mas assim como h sempre certa preferncia por algum alimento que ingerimos, h sempre certo autor que mais nos inspira neste caso, Merleau-Ponty. uma questo de escolha, garantida pela liberdade de pensamento e aceita pela Academia.
201
Dessa feita, aproveitei de Aristteles a noo de catarse: a moderao dos humores corporais, das emoes e paixes, do prazer esttico ou do estranho essncia do ser enfim, uma purgao. Destaquei, tambm, a importncia que os gregos atribuam msica em consonncia s tragdias com a finalidade de atingir a catarse. Inferiu-se da que em parceria ao texto literrio (seja ele lido, narrado ou dramatizado), a msica teria papel relevante nas sesses de biblioterapia. Apresentei o entendimento de Proust acerca da leitura: ato psicolgico, amizade, distrao, gosto, divertimento, viagem, disciplina curativa. Percebi como Proust utilizava as imagens, lembranas e reminiscncias para despertar e cativar o leitor. Por esse motivo, usei ilustraes da Recherche e do ensaio proustiano sobre a leitura em longas citaes, haja vista que parafrasear trechos dessas obras seria crime de lesa-majestade. Da fenomenologia de Husserl registrei: o conhecimento uma vivncia intencional da qual a recordao uma variante; pela reflexo extrai-se o sentido de uma experincia vivida; o corpo um sujeito-objeto inserido no meio; a subjetividade transcendental; a linguagem uma operao pela qual os pensamentos adquirem valor intersubjetivo. Observei que inicialmente Husserl creditava poder ao sujeito puro ou Eu transcendental, mas que, no decorrer de sua trajetria filosfica passou a acentuar a relao conscincia-mundo, ou, ser-no-mundo. Expus as idias de Sartre a respeito da liberdade do escritor e do leitor, bem como acerca da imagem e da imaginao: o escritor um falador que se engaja na obra para provocar o leitor; o leitor quem desvendar o texto; a imagem conscincia de alguma coisa; a imaginao uma funo da conscincia. Expus, tambm, suas idias sobre a fenomenologia das emoes: visto que o ser humano assume sua emoo, esta uma forma organizada da existncia humana. O ponto de partida foi a teoria da linguagem de Merleau-Ponty: a fala um gesto expressivo; ela no exterior aos pensamentos; ela tanto pode criar (fala falante) quanto repetir um pensamento j falado (fala falada); h nela espontaneidade ensinante que faz dela um fenmeno de campo (totalidade dos eventos possveis) eminentemente subjetivo. E ainda: respaldada na idia de liberdade merleau-pontyana apontei a possibilidade de o leitor interpretar o texto e, assim, atribuir novos sentidos ao lido. E mais: dele inferi como a intercorporeidade, a intersubjetividade e o descentramento podem transformar a experincia da leitura em um ato teraputico.
202
Discerni o pensamento de Iser acerca da leitura: o texto s realiza a comunicao com o leitor quando se apresenta como correlato de sua conscincia e o leitor quem completa os vazios do texto literrio pelo ponto de vista em movimento. E ainda: seus conceitos a respeito da vivncia esttica mostraram como a leitura pode desempenhar uma funo teraputica. Aps essa recapitulao do referencial terico da discusso acerca do tema Leitura e terapia, cabe, ainda, um esclarecimento, pois, muito embora explicitada na Introduo, talvez tenha ficado outra pergunta: porque a fenomenologia foi usada como ponto de partida? atuao da pesquisadora? Ora, a fenomenologia, j o disse Merleau-Ponty, laboriosa como a obra de Proust, demonstra a vontade de apreender o sentido do mundo; alm disso, privilegia a relao entre sujeito e objeto. Relao esta sempre presente na intencionalidade, segundo Husserl, ou seja, a conscincia sempre se dirige para alguma coisa; dessa feita, a fenomenologia uma abertura para toda e qualquer disciplina que dela queira tirar proveito se estiver disposta a sair de sua casca fechada e se aventurar pelos caminhos da transciplinaridade. Posso dizer que a atitude fenomenolgica me proporcionou uma oportunidade mpar para o estudo da biblioterapia, principalmente no que diz respeito ao entendimento da experincia biblioteraputica, descrio de suas atividades e interpretao das mesmas, ou seja, permitiu-me estudar a biblioterapia enquanto tal na vivncia. A volta s coisas mesmas apresentou-se como a oportunidade de abolir certos preconceitos e paradigmas ligados ao exerccio biblioteraputico. Foi, tambm, proveitoso, o carter de inacabamento da fenomenologia, pois o mesmo, longe de ser uma falha, um incentivo para no dar por encerrada a questo da biblioterapia; a garantia da continuidade de estudos sobre o tema, a certeza da dvida, a imposio de pesquisas adicionais. Lembrando que a fenomenologia prioriza as vivncias, a teoria apresentada ao longo da tese foi complementada pelo registro de experincias biblioteraputicas. Mais do que uma explicao dos fenmenos, foi sublinhada a forma de desenvolvimento das atividades de biblioterapia, ou, em outras palavras, como se processou a catarse, a identificao e a introspeco. Cada um desses mecanismos de enfrentamento da realidade cotidiana valeuse da realidade ficcional como meio para determinados fins, quais sejam: purgar as O que tem ela a ver com a Biblioteconomia, rea de
203
emoes, apropriar-se da identidade das personagens admiradas ou realizar uma auto-observao. Tais mecanismos, longe de se configurarem como uma alienao ou passividade frente s adversidades, so, de fato, criao, expresso. Verifiquei a incidncia da catarse aristotlica em todos os projetos de leitura, narrao ou dramatizao (desenvolvidos por mim e por acadmicos sob minha orientao desde o ano de 2001). Faltariam folhas para relatar todas as experincias e, mais uma vez, fao uso de meu direito de escolha. Assim, destaco as sesses de biblioterapia que se valeram da msica e da dana como coadjuvantes catrticos realizadas em: a) 25 de maro de 2002, na ala infantil do Hospital Universitrio da Universidade Federal de Santa Catarina, com a cano A linda rosa juvenil
27
; b) 12
de novembro de 2004, para uma classe de alfabetizao em colgio de Campinas, So Jos, com a narrao da histria O joelho Juvenal28 seguida de dana ao som de CD da Xuxa com a msica Cabea, ombro, joelho e p; c) 17 de junho de 2005, com a dramatizao (e excelente performance) do conto O casamento de Dona Baratinha29 em uma creche do bairro Saco dos Limes, seguida de dana ao som de msicas infantis; d) 01 de dezembro de 2006, com a leitura da histria Os dez amigos30 em uma creche do Alto Ribeiro e distribuio, aps a histria, de instrumentos musicais (flautas, maracas e tringulos) s crianas que, acompanhados pelo som de violo de um dos aplicadores, tocaram e entoaram canes infantis; e) 16 de novembro de 2007 em uma casa de repouso do bairro Itacorobi, com a narrao de histrias humorsticas, cuja interao entre aplicadores de biblioterapia e pblico-alvo culminou com uma melodia, ao piano, de duas acadmicas e, voluntariamente, de um concerto improvisado por duas idosas uma tocou ao piano e outra cantou msicas italianas, para o deleite de todos os presentes. Quanto identificao, gostaria de citar os encontros realizados em: a) 19 de novembro de 2004, com a contao da histria O macaco e a boneca de cera31, para uma classe de alfabetizao em colgio particular na Trindade, em que as crianas (na faixa etria de cinco e seis anos), participaram ativamente, comentando voluntariamente com qual personagem se identificavam; b) 20 de novembro de
27
Cantiga de roda que uma verso simplificada da histria A Bela Adormecida. De Ziraldo Alves Pinto, publicada pela Melhoramentos em 1983. 29 Um dos tradicionais Contos da Carochinha transmitidos de gerao em gerao no Brasil. 30 De Ziraldo Alves Pinto, publicada pela Melhoramentos em 1990. 31 De Snia Junqueira, publicada pela Contos e Fbulas em 2000.
28
204
2007, com a leitura da histria Uxa, ora fada, ora bruxa32, para crianas na faixa etria de dez anos, assistidas por uma Organizao No Governamental no Morro do Horcio, no bairro Agronmica - a comicidade da narrativa e o desfecho inusitado serviram como alavancas para o dilogo posterior que permitiu inferir a identificao com a personagem Uxa, (tanto os meninos quanto as meninas), posto que a mesma, pela facilidade com que mudava de opinio, assumia ares de bondade e maldade, como todos ns na vida real. No tocante introspeco, torna-se difcil saber quem, do pblico-alvo, valeuse da histria para realizar uma reflexo sobre suas atitudes. Mas, h um projeto de leitura em especial que tenho prazer em relatar: o realizado em novembro de 2004, no Complexo Ilha Criana, de Florianpolis. Essa instituio presta assistncia nas reas social, ambiental, mdica, psicolgica e jurdica a crianas e adolescentes em risco pessoal e social (integrando a Cidade da Criana e a Casa da Passagem), com o objetivo de atender menores vtimas de violncia domstica e minimizar suas carncias por meio de projetos culturais, esportivos e de lazer. Nestes ltimos, foi alocado o Projeto de Biblioterapia. Em particular, a sesso do segundo sbado, com a narrao da histria Corao Esperto
33
, pois o enredo propiciou ao pblico-alvo a
oportunidade de contar seus problemas e meditar sobre uma soluo sobre eles. A experincia teve sucesso, pois houve reiterados pedidos para que os aplicadores retornassem sempre que possvel, o que um indcio de que a leitura, seguida de reflexo, pode ser considerada um exerccio teraputico. No desenrolar da tese, afirmei que a sade no a ausncia de doena e sim um estado de bem-estar fsico, mental e social, e, em uma perspectiva holstica, a biblioterapia se preocupa com a manuteno ou a restaurao do equilbrio do ser total. Assim, terapia foi definida como um cuidado com o ser, e a biblioterapia, como um cuidado com o desenvolvimento do ser mediante a leitura, narrao ou dramatizao de histrias. Ao procurar integrar e harmonizar as dimenses sensoriais, afetivas e sociais do ser, a biblioterapia em instante algum reivindica o estatuto de cincia e tampouco dispensa os cuidados mdicos ou despreza indicaes medicamentosas. Sua preocupao com a pessoa e no com a doena, com o bem-estar e no com a nosologia. Como arte, vale-se da expresso artstica em forma de texto escrito ou
32 33
De Sylvia Orthof, publicada pela Nova Fronteira em 1985. De ngela Leite de Souza, publicada pela Ediouro em 1995.
205
oralizado, msica e dana, atrelando voz e corpo, ou seja, linguagem e corporeidade em exerccios teraputicos que proporcionem o balano necessrio entre a sensorialidade, afetividade, criatividade, intercorporeidade e intersubjetividade. Dessa feita, a percepo, os sentimentos e a imaginao se movimentam como figuras no fundo encantatrio oferecido pela literatura que a biblioterapia explora como potencialmente teraputica. O cuidado com o ser se manifesta na criao de um ambiente caloroso, em que o aplicador da biblioterapia oferece sua simpatia ao pblico-alvo, ou seja, no mantm uma atitude aptica em face dos problemas do outro. Reconhece e respeita a individuao, e, por esse motivo, sabe que no ir experenciar a vivncia do outro. Tudo o que pode fazer apresentar seu corpo, sua fala e seu afeto no interesse do outro, valorizando os sentimentos do outro e apostando no dilogo como um caminho para o estabelecimento ou restabelecimento do conforto psico-fsico-social do outro. A mescla de palavras, emoes e imagens de que a literatura se encontra impregnada faz dela um excelente auxiliar no combate ao desnimo, tristeza, raiva, frustrao, angstia ou perda de auto-estima, uma vez que ativa a conscincia imaginante, emotiva e criadora dos que dela se apropriam. Nessa retomada, o envolvimento com o texto literrio lido, narrado ou dramatizado de tal forma dominante que ficam obliterados os desconfortos e as sensaes desagradveis, ou seja, processa-se uma mudana: a figura agora a histria e a dor ou a angstia passam condio de fundo, ficam em plano menos evidente. Sabe-se que o alvio temporrio, que se restringe ao presente, mas, perguntamos: no vivemos no presente? No nos preocupamos com o aqui e o agora e como resolveremos os problemas imediatos? Conforme observado ao longo da tese, o prprio Merleau-Ponty advogou que o concreto o presente. Alm disso, no se no se pode ignorar o benefcio da alegria no sistema imunolgico nem tampouco o papel benfazejo da intercorporeidade nas enfermidades. Por esse motivo, as brincadeiras, o riso e o senso de humor permeiam as sesses de biblioterapia e os aplicadores se empenham em desenvolver as habilidades necessrias para que o prazer seja uma constante durante a leitura, narrao ou dramatizao do texto literrio. Por esse motivo, tambm, explora-se o potencial do toque afetuoso nas atividades de biblioterapia (respeitados os limites ticos), seja em forma de afago carinhoso, seja em forma de abrao teraputico, pois mostra preocupao, ateno, cuidado com o outro.
206
Sabe-se, tambm, que a experincia singular, mas a universalidade da literatura autoriza apreenses distintas como forma de desenvolvimento pessoal. Assim o campo da biblioterapia compreende no apenas as vivncias individuais, mas tambm (e principalmente), o compartilhamento das vivncias de maneira prazerosa, agradvel e voluntria. Todas as atividades se voltam para instalar ou reinstalar o equilbrio do ser tendo como fora motriz o texto literrio, cuja linguagem, metafrica, ajuda a natureza humana no enfretamento dos ais que acometem a humanidade e que nem os avanos da cincia e da tecnologia conseguem abolir totalmente. Ora, tampouco a biblioterapia advoga a supresso dos males. O que ela procura matizar o sofrimento, adornando-o com as cores delicadas da literatura, diluindo-o nas situaes das personagens ficcionais, desfazendo-o na efabulao e na imagtica. Como visto, o ser humano uno, no admite a separao conscincia/ corpo; portanto, percebe-se a importncia da interdependncia dos elementos psquicos e fsicos e da necessidade de equilbrio entre eles. Assim que os aplicadores da biblioterapia cuidam do ser tanto por meio da palavra quanto por meio da afetividade, ou seja, valem-se da linguagem verbal e no verbal. Sabendo que no tanto o que se diz, mas como se diz, os aplicadores da biblioterapia prezam, sobretudo, a forma de comunicao com os participantes de um programa de leitura. Delicadeza e suavidade nas palavras e nos gestos; apuro e escrpulo nas atitudes; sutileza e sensibilidade no dilogo; discrio e ateno nos tratos com o outro; afabilidade e alegria no desenvolvimento das atividades transformam uma sesso de biblioterapia em um exerccio de intercorporeidade e intersubjetividade de qualidade. O contato fsico (na forma de toque afetuoso, beijos ou abraos sempre dentro dos princpios ticos), fundamental, posto que teraputico; a troca de idias a respeito dos sentimentos e memria aflorados pela leitura, narrao ou dramatizao do texto literrio permite o apaziguamento das emoes e, consequentemente, o bem-estar fsico. Sabendo, tambm, que a agressividade uma forma de as pessoas delimitarem seu territrio e afastar os elementos indesejveis, incmodos ou perigosos, os aplicadores da biblioterapia no condenam publicamente aqueles que, no decorrer das atividades, utilizam esse mecanismo de enfrentamento da realidade. Cuidam, entretanto, para que no descambe para a violncia fsica ou verbal. Com tato, procuram incutir no grupo de leitura a necessidade de descentramento e
207
entrosamento, no permitindo que a necessidade de afirmao de alguns prejudique outros. Em qualquer grupo, sempre h os dominantes e os submissos, mas uma das preocupaes dos aplicadores da biblioterapia reduzir o comportamento ofensivo de alguns e incentivar os tmidos a expressarem seus anseios e necessidades. Fica respeitada, contudo, a individualidade. No se intenta implantar um padro comportamental, e sim, favorecer um ambiente de tranqilidade e segurana onde cada um, sua maneira (posto que dentro de certos limites) possa interagir com o grupo de forma prazerosa, no vendo o outro como adversrio, mas como parceiro na sesso de leitura e demais atividades ldicas complementares. O que se busca o resgate das subjetividades, a verbalizao de medos, lembranas, vivncias pela leitura e o dilogo sucedneo. s vezes, no entanto, a linguagem verbal insuficiente, seja porque as emoes e recordaes so dolorosas demais, seja porque no foram devidamente nomeadas e, assim, no h palavras capazes de explicit-las. Nesse caso, as manifestaes corporais formam a linguagem esclarecedora da atitude mental. Quando se trata de crianas, o desenho expe os sentimentos e projees que emergiram pela leitura, narrao ou dramatizao da histria. Dessa feita, o sentir pessoal, a vivncia de cada um aparece para o outro e, ao permitir a insero da vivncia alheia, d-se o descentramento, ou seja, todos passam a fazer parte de um s campo de experincias, trocando palavras, gestos, afetividades. Defendi que a leitura em voz alta, a narrao ou a dramatizao de um texto literrio possui desdobramentos teraputicos. Seria o caso de falar-se em neuroplasticidade, ou, em outras palavras, na capacidade do crebro para se reestruturar, para elaborar de maneira positiva eventos traumticos e resgatar boas lembranas? Lembrando que no somos uma mquina falante e pensante, mas seres-no-mundo, sujeitos culturais, como duvidar do potencial curativo da fala compartilhada? Como no creditar valor fala falante? Como no incluir o discurso potico em uma terapia? Talvez o leitor dessa tese tenha ainda outra pergunta: o que leitura e terapia tm em comum com a Teoria Literria? Ora, sabe-se que a Teoria Literria no se enclausura em limites claustrofbicos, ao contrrio, ela se caracteriza pelo seu carter interdisciplinar. Dessa feita, acomoda vrias prticas sociais, entre elas a leitura. Alm disso, admite que a literariedade um conceito cultural, portanto mvel e, assim, a literatura infantil, em suas diferentes modalidades, pode ser seu objeto
208
de investigao. Ento, ao se mostrar receptiva polifonia de diversas disciplinas e s singularidades da literatura, no poderia excluir (sob o risco de ferir sua metodologia polivalente), o estudo da terapia por meio da leitura. E, enfim, uma ltima pergunta que merece resposta: eu poderia ter seguido outro caminho para discorrer sobre leitura e terapia? Sem dvida. Seria melhor? Como saber? No fundo, tudo uma questo de escolha, como apontado na epgrafe por Merleau-Ponty e como bem lembrou Ceclia Meireles em Ou isto ou aquilo34:
Ou se tem chuva e no se tem sol, ou se tem sol e no se tem chuva! Ou se cala a luva e no se pe o anel, ou se pe o anel e no se cala a luva! Quem sobe nos ares no fica no cho, quem fica no cho no sobe nos ares. uma grande pena que no se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares! Ou guardo o dinheiro e no compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... e vivo escolhendo o dia inteiro! No sei se brinco, no sei se estudo, se saio correndo ou fico tranqilo. Mas no consegui entender ainda qual melhor: se isto ou aquilo.
34
Poema extrado do livro de poesias Ou isto ou aquilo, publicado pela primeira vez em 1964 e reeditado pela Nova Fronteira em 1990.
209
REFERNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de filosofia. Traduo da 1a. ed. brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi; reviso da traduo e traduo dos novos textos por Ivone Castilho Benedetti. 4. ed. So Paulo: M. Fontes, 2000. ARISTTELES. Potica. Traduo de Eudoro de Souza. Porto Alegre: Globo, 1966. ARISTTELES. Potica. Traduo de Baby Abro. So Paulo: Nova Cultural, 2000. ARISTTELES. Poltica: texto integral. Traduo de Torrieri Guimares. So Paulo: Martin Claret, 2002. (Coleo A obra-prima de cada autor). BECKETT, Samuel. Proust. Traduo de Arthur Nestrovski. So Paulo: Cosac & Naify, 2003. BENJAMIN, Walter. Reflexes: a criana, o brinquedo, a educao. Traduo de Marcus Vinicius Mazzaro. So Paulo: Summus, 1984. BENJAMIN, Walter. A imagem de Proust. In:_____. Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e histria da cultura. Traduo de Sergio Paulo Rouanet. 7. ed. So Paulo: Brasiliense, 1994. p. 36-49. (Obras escolhidas, v.1). BENJAMIN, Walter. Livros antigos e esquecidos. In:______. Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e histria da cultura. Traduo de Sergio Paulo Rouanet. 7. ed. So Paulo: Brasiliense, 1994. p. 235-243. (Obras escolhidas, v. 1). BERNARDES, Lcia de Lourdes Rutkowski; BORGES, Ilma; BLATTMANN, Ursula. A arte-educao como interveno psicolgica. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianpolis, v. 8, p. 18-25, jan./dez. 2003. BETTELHEIM, Bruno. A psicanlise dos contos de fadas. Traduo de Arlene Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. BIRMAN, Joel. Freud & a filosofia. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. (Passo- apasso, 27).
210
BLACKBURN, Simon. Dicionrio Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1997. BUSCAGLIA, Leo. Amando uns aos outros. Traduo de Silvia Rocha. Rio de Janeiro: Record, c1984. CALDAS, Alberto Lins. Proust em dois tempos: as miragens do texto. Lath Biosa, Porto Velho, ano 1, n. 64, p. 1-6, 2001. Disponvel em:< http://www.unir.br/~primeira/artigo64.html>. Acesso em: 07 set.2004. CALDIN, Clarice Fortkamp. A leitura como funo teraputica: biblioterapia. Encontros Bibli: Revista Eletrnica de Biblioteconomia e Cincia da Informao, Florianpolis, n. 12, dez. 2001. Disponvel em:< http://www.encontros-bibli.ufsc.br>. Acesso em: 03 set. 2007. CALDIN, Clarice Fortkamp. Biblioterapia para crianas internadas no Hospital Universitrio da UFSC: uma experincia. Encontros Bibli: Revista Eletrnica de Biblioteconomia e Cincia da Informao, Florianpolis, n. 14, out. 2002. Disponvel em: < http://www.encontros-bibli.ufsc.br>. Acesso em: 21 out. 2007. CALDIN, Clarice Fortkamp. Biblioterapia para a classe matutina de acelerao da Escola de Educao Bsica Dom Jaime de Barros Cmara: relato de experincia. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianpolis, v. 8, p. 10-17, jan./dez. 2003. CALDIN, Clarice Fortkamp. Biblioterapia: atividades de leitura desenvolvidas por acadmicos do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Biblios: Revista de Bibliotecologia y Cincias de la Informacin, Lima, ao 6, n.21/22, p. 13-25, Ene./Ago. 2005. Disponvel em:< http://www.bibliosperu.com>. Acesso em: 03 set. 2007. CALVINO, talo. Porque ler os clssicos. So Paulo: Cia. das Letras, 1993. CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e histria literria. 8. ed. So Paulo: Queiroz, 2000. CAPALBO, Creusa. A fenomenologia existencial e a experincia do outro. In: POKLADEK, Danuta Dawidowicz (Org.). A fenomenologia do cuidar: prtica dos horizontes vividos nas reas da sade, educacional e organizacional. So Paulo: Vetor, 2004. p. 53-59. CARVALHO, Mara Villas Boas de. A morte: a arte de cuidar na despedida. In: POKLADEK, Danuta Dawidowicz (Org.). A fenomenologia do cuidar: prtica dos horizontes vividos nas reas da sade, educacional e organizacional. So Paulo: Vetor, 2004. p. 79-94.
211
CASTRO. Manuel Antnio de. Natureza do fenmeno literrio. In: SAMUEL, Rogel (Org.). Manual de teoria literria. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 1986. p. 30-63. COMPAGNON, Antoine. O demnio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. CULLER, Jonathan. As idias de Saussure. Fonseca. So Paulo: Cultrix, 1979. Traduo de Carlos Alberto da
CULLER, Jonathan. Teoria literria: uma introduo. Traduo de Sandra Vasconcelos. So Paulo: Beca Produes Culturais, 1999. DELEUZE, Gilles. A literatura e a vida. In: ______. Crtica e clnica. Traduo de Peter Pl Pelbart. So Paulo: Ed. 34, 1997. p. 11-16. FREIRE, Antnio. A catarse em Aristteles. Braga: Publicaes da Faculdade de Filosofia, 1982. FREIRE, Ida Mara. Dana-Educao: o corpo e o movimento no espao do conhecimento. Cadernos CEDES, Campinas, v. 21, n.53, p. 31-55, abr. 2001. FREIRE, Ida Mara. Na dana contempornea, cegueira no escurido. Ponto de Vista, Florianpolis, n. 6/7, p. 57-78, 2004/2005. FREIRE, Jos Clio. Uma leitura atravs da Recherche de Proust. Revista de Letras, v. , n. 21, p. 1- 9, jan./dez. 1999. FREIRE, Jos Clio. Criar para o tempo, tempo para o criar, para criar o tempo: uma revisitao da (ex) temporalidade na Recherche proustiana. Estudos de Psicologia, Natal, v.6, n. 1, p. 1-12, jan./dez. 2001. FREUD, Sigmund. Obras completas. Traduo de Odilon Gallotti et al. Rio de Janeiro: Delta, [197-]. GADAMER, Hans-Georg. O carter oculto da sade. Traduo de Antnio Luz Costa. Petrpolis: Vozes, 2006. (Coleo Textos Filosficos). GOMES, Ricardo Fabio. Introspeco, empatia e psicanlise: um estudo da relao entre mtodo de observao e teoria. Jornal Existencial on line: uma publicao da Sociedade de Anlise Existencial e Psicomaiutica. Disponvel em: < http://www.existencialismo.org.br/jornalexistencial/ricardointrospeco> Acesso em: 10 mar. 2008. HASSE, Margareth. Biblioterapia. In:_____. Biblioterapia como texto: anlise interpretativa do processo biblioteraputico. 2004. Dissertao (Mestrado em Comunicao e Linguagens) Faculdade de Cincias Aplicadas, Universidade Tuiuti do Paran, Curitiba, 2004. p.25-62. Disponvel em:< http://www.utp.br/edcient/BibliotecaVirtual/MCL/Margareth%20Hasse/parte%204.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2008.
212
HEIDEGGER, Martin. Conferncias e escritos filosficos. So Paulo: Nova Cultural, 1989. HUSSERL, Edmund. Meditaes cartesianas: introduo fenomenologia. Porto: RS, [19--]. HUSSERL, Edmund. A idia da fenomenologia. Traduo de Artur Mouro. Lisboa: Ed. 70, 2000. ISER, Wolfgang. A interao do texto com o leitor. In: JAUSS, Hans Robert et al. A literatura e o leitor: textos de esttica da recepo. Seleo, coordenao e traduo de Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 83 -132. ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito esttico. Traduo de Johannes Kretschmer. So Paulo: Ed. 34, 1996-1999. 2 v. (Coleo Teoria). JOLES, Andr. Formas simples. Traduo de lvaro Cabral. So Paulo: Cultrix, 1976. JOSGRILBERG, Rui de Souza. A fenomenologia como novo paradigma de uma cincia do existir. In: POKLADEK, Danuta Dawidowicz (Org.). A fenomenologia do cuidar: prtica dos horizontes vividos nas reas da sade, educacional e organizacional. So Paulo: Vetor, 2004. p. 31-51. KHDE, Sonia Salomo. Personagens da literatura infanto-juvenil. So Paulo: tica, 1986. KONESKI, Anita Prado. Blanchot, Levinas e a arte do estranhamento. 2007. 236 f. Tese (Doutorado em Literatura) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2007. LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, J. B. Vocabulrio da psicanlise. Traduo de Pedro Termen. So Paulo: M. Fontes, 1994. LELOUP, Jean-Yves. Cuidar do ser: Flon e os Terapeutas de Alexandria. Traduo de Regina Fittipaldi et al. 8. ed. Petrpolis: Vozes, 2003. (Coleo Psicologia Transpessoal). LIMA, Luiz Costa. Por que literatura. Petrpolis: Vozes, 1969. LIMA, Luiz Costa. O Leitor demanda (d) a Literatura. In: JAUSS, Hans Robert et al. A literatura e o leitor: textos de esttica da recepo. Seleo, coordenao e traduo de Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 9 - 36. LINS, Felipe Augusto Witthinrich. A idealidade do objeto literrio: a neutralizao da tese. 2008. 129 f. Tese (Doutorado em Literatura) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2008.
213
LUCAS, Eliane R. de Oliveira; CALDIN, Clarice Fortkamp; SILVA, Patrcia V. Pinheiro da. Biblioterapia para crianas em idade pr-escolar: estudo de caso. Perspectivas em Cincia da Informao, Belo Horizonte, v. 11, n. 3, p. 398 - 415, set./dez. 2006. MEIRELES, Ceclia. Problemas da literatura infantil. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. MEIRELES, Ceclia. Ou isto ou aquilo. Organizao de Walmir Ayala; ilustraes de Beatriz Berman. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o esprito. In:_____. Textos escolhidos. Traduo e notas de Marilene de S. Chau et al. So Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 85 -111. MERLEAU-PONTY, Maurice. Merleau-Ponty na Sorbonne: resumo de cursos: psicossociologia e filosofia. Traduo de Constana Marcondes Csar. Campinas: Papirus, 1990. MERLEAU-PONTY, Maurice. Signos. Traduo de Maria Ermantina G.G. Pereira. So Paulo: M. Fontes, 1991. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepo. Traduo de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2. ed. So Paulo: M. Fontes, 1999. MERLEAU-PONTY, Maurice. A prosa do mundo. Traduo de Paulo Neves. So Paulo: Cosac & Naify, 2002. MERLEAU-PONTY, Maurice. O visvel e o invisvel. Traduo de Jos Artur Gianotti; Armando Mora d Oliveira. 4. ed. So Paulo: Perspectiva, 2003. MERLEAU-PONTY, Maurice. A estrutura do comportamento. Traduo de Mrcia Valria Martinez de Aguiar. So Paulo: M. Fontes, 2006. MOISS, Massaud. Dicionrio de termos literrios. 5. ed. So Paulo: Cultrix, 1988. MOURA, Carlos Alberto de. Sensibilidade e entendimento na fenomenologia. In:_____. Racionalidade e crise: estudos de histria da filosofia moderna e contempornea. Curitiba: Ed. UFPR; So Paulo: Discurso Editorial, 2001. p. 337378. MLLER-GRANZOTTO, Marcos Jos. Leitura merleau-pontyana da teoria fenomenolgica da expresso. Veritas, Porto Alegre, v. 45, n. 2, p. 213-222, jun. 2000.
214
MLLER-GRANZOTTO, Marcos Jos. Merleau-Ponty : acerca da expresso. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001a. (Coleo Filosofia, 122). MLLER-GRANZOTTO, Marcos Jos. Reflexo esttica e intencionalidade operante. Manuscrito, Campinas, v. 24, n. 2, p. 125 -154, out. 2001b. MLLER-GRANZOTTO, Marcos Jos. Sartre e Merleau-Ponty acerca do objeto esttico. 2005. Sinopse do Curso de PGL 3103 Filosofia e Literatura, Florianpolis, 2005 a. MLLER-GRANZOTTO, Marcos Jos. Merleau-Ponty leitor de Freud. Natureza humana, v 7, n. 2, p. 399-432, 2005 b. MLLER-GRANZOTTO, Marcos Jos. Tpica ou criao: o problema da universalidade luz da teoria merleau-pontyna da expresso. In: GONALVES, Anderson et al. Questes de filosofia contempornea. So Paulo: Discurso Editorial; Curitiba: Ed. UFPR, 2006. p. 157-170. MLLER-GRANZOTTO, Marcos Jos; MLLER-GRANZOTTO, Rosane Lorena. Fenomenologia e Gestalt-terapia. So Paulo: Summus, 2007. OUAKNIN, Marc-Alain. Biblioterapia. Traduo de Nicolas Niymi Campanrio. So Paulo: Loyola, 1996. OLIVEIRA, Lecila Duarte Barbosa. Brinquedoteca Hospitalar: projeto de recreao em enfermaria peditrica. 2008. 10 f. Projeto de extenso universitria aprovado pela Pr-Reitoria de Cultura e Extenso da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, Programa de Bolsas 2008. OURIQUES, Dbora Regina. Sartre e Merleau-Ponty em torno da noo de objeto esttico. 2008. 120 f. Dissertao (Mestrado em Literatura) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2008. PEREIRA, Ana Maria Gonalves dos Santos. Leitura para enfermos: uma experincia em hospital psiquitrico. 1987. 110 f. Dissertao (Mestrado em Biblioteconomia) Universidade Federal da Paraba, Joo Pessoa, 1987. PEREIRA, Marlia Mesquita Guedes. Biblioterapia: proposta de um programa de leitura para portadores de deficincia visual em bibliotecas pblicas. Joo Pessoa: Ed. Universitria, 1996. PROUST, Marcel. No caminho de Swann. Traduo de Mrio Quintana. So Paulo: Abril Cultural, 1982. PROUST, Marcel. Sobre a leitura. Traduo de Carlos Vogt. 2. ed. Campinas: Pontes, 1991.
215
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionrio de teoria da narrativa. So Paulo: tica, 1988. ROSENFELD, Anatol. Literatura e personagem. In: _____. CANDIDO, Antonio et al. A personagem de fico. So Paulo: Perspectiva, 1987. p. 9 - 49. ROUDENESCO, Elisabeth; PLON, Michel. Dicionrio de psicanlise. Traduo de Vera Ribeiro; Lucy Magalhes. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998. SAMUEL, Rogel. Novo manual de teoria literria. 4. ed. rev. e ampl. Petrpolis: Vozes, 2007. SARTRE, Jean-Paul. A imaginao. Traduo de Luiz Roberto Salinas Fortes. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. SARTRE, Jean-Paul. A transcendncia do ego: seguido de Conscincia de si e Conhecimento de si. Traduo e introduo de Pedro M. S. Alves. Lisboa: Colibri, 1994. SARTRE, Jean-Paul. O imaginrio: psicologia fenomenolgica da imaginao. Edio revista por Arlette Elkamm-Sartre; traduo de Duda Machado. So Paulo: tica, 1996. (Srie Temas, v. 46). SARTRE, Jean-Paul. Que a literatura? Traduo de Carlos Felipe Moiss. 3. ed. So Paulo: tica, 2004. SARTRE, Jean-Paul. Esboo para uma teoria das emoes. Traduo de Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM Pocket Plus, 2006. SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingstica geral. Organizado por Charles Bally; Albert Sechehaye; com a colaborao de Albert Riedlinger. Traduo de Antnio Chelini; Jos Paulo Paes; Izidoro Blikstein. So Paulo: Cultrix, [197-]. SHELDON, Cashdan. Os 7 pecados capitais nos contos de fadas: como os contos de fadas influenciam nossas vidas. Traduo de Maurette Brandt. Rio de Janeiro: Campus, 2000. SILVA, Alexandre Magno da. Caractersticas da produo documental sobre biblioterapia no Brasil. 2005. 121 f. Dissertao (Mestrado em Psicologia) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2005. SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicolgicos para uma nova pedagogia da leitura. So Paulo: Cortez, 1981. SOUZA, Flvio de. Que histria essa? Ilustrao de Pepe Casals. [s.l.]: Cia. das Letrinhas, [198-].
216
SOUZA, Roberto Aczelo de. Teoria da literatura. 7. ed. So Paulo: tica, 1999. (Srie Princpios). SUNDERLAND, Margot. O valor teraputico de contar histrias: para as crianas, pelas crianas. Traduo de Carlos Augusto Leuba Salum; Ana Lucia da Rocha Franco. So Paulo: Cultrix, 2005. TATAR, Maria. Contos de fadas: edio comentada e ilustrada. Traduo de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004. TODOROV, Tzvetan. Os gneros do discurso. Traduo de Elisa Angotti Kossovicth. So Paulo: M. Fontes, 1980. VSQUEZ RODRIGUES, Fernando. Declarao dos direitos da criana leitora (e algumas disposies sobre as crianas e a literatura). Literarte, ano 1, n. 6, p. 1- 4, 2000. Declarao apresentada na rea de Lectoescritura, Santa F, Bogot, 27 de agosto de 1993. Publicado em Boletim El Libro. Disponvel em: <www2.estacio.br/graduacao/pedagogia/literate/Literarte06/artigos.htm> Acesso em: 15 set. 2006. VIEIRA, Joo Alfredo Medeiros. Psicologia para iniciantes. So Paulo: LEDIX, 1994. (Coleo Degraus do sculo XXI, 3). WARNER, Marina. Da fera loira: sobre contos de fadas e seus narradores. So Paulo: Cia. das Letras, 1999. WELLEK, Ren; WARREN, Austin. Teoria da literatura. Traduo de Jos Palla e Carmo. 4. ed. [s.l.]: Publicaes Europa Amrica, [197-]. WITTER, Geraldina Porto. Biblioterapia: desenvolvimento e clnica. In:_____. (Org.). Leitura e psicologia. Campinas: Alnea, 2004. p. 182-198. (Coleo Psicotemas). YUNES, Eliana; POND, Glria. Leitura e leituras da literatura infantil. So Paulo: FDD, 1988. (Por onde comear?).
Das könnte Ihnen auch gefallen
- História pessoal e sentido da vida: historiobiografiaVon EverandHistória pessoal e sentido da vida: historiobiografiaNoch keine Bewertungen
- O Roteirista Profissional: Televisão e Cinema. Marcos Rey.Dokument121 SeitenO Roteirista Profissional: Televisão e Cinema. Marcos Rey.Carlos TenreiroNoch keine Bewertungen
- Literatura e cinema: diálogo entre linguagensDokument83 SeitenLiteratura e cinema: diálogo entre linguagensgabitz88Noch keine Bewertungen
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasVon EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNoch keine Bewertungen
- GDAv1.0 - Teoria Da Literatura I - CPANDokument21 SeitenGDAv1.0 - Teoria Da Literatura I - CPANWellington Furtado RamosNoch keine Bewertungen
- Ensino Médio na Bahia e o Ginásio Ruy Barbosa: Análise Sócio-Histórica da Criação e Consolidação de uma Instituição EscolarVon EverandEnsino Médio na Bahia e o Ginásio Ruy Barbosa: Análise Sócio-Histórica da Criação e Consolidação de uma Instituição EscolarNoch keine Bewertungen
- FONSECA, Maria Nazareth Soares. Literatura Negra, Literatura Afro-Brasileira - Como Responder À PolêmicaDokument30 SeitenFONSECA, Maria Nazareth Soares. Literatura Negra, Literatura Afro-Brasileira - Como Responder À PolêmicaLuana ThibesNoch keine Bewertungen
- Autoficção: gênero ou processoDokument3 SeitenAutoficção: gênero ou processoRichard RochNoch keine Bewertungen
- Máscaras - Vilém FlusserDokument1 SeiteMáscaras - Vilém FlusserdundunNoch keine Bewertungen
- Nos Domínios de Eros o Simbolismo Singular de Gilka MachadoDokument134 SeitenNos Domínios de Eros o Simbolismo Singular de Gilka MachadoRastamanNoch keine Bewertungen
- Quimeras em diálogo: Grafismo e figuração na arte indígenaVon EverandQuimeras em diálogo: Grafismo e figuração na arte indígenaNoch keine Bewertungen
- Autoficção Tentativas de DemarcaçãoDokument7 SeitenAutoficção Tentativas de DemarcaçãoIsadora De Araújo PontesNoch keine Bewertungen
- Cor Adormecida - Versão E-BookDokument139 SeitenCor Adormecida - Versão E-BookCantosNoch keine Bewertungen
- Autonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisVon EverandAutonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisNoch keine Bewertungen
- Equipe editorial de revista literáriaDokument183 SeitenEquipe editorial de revista literáriaRodriguesRPNoch keine Bewertungen
- Clastres. Entre-O-Silêncio-E-Diálogo PDFDokument8 SeitenClastres. Entre-O-Silêncio-E-Diálogo PDFMaria Isabel CardozoNoch keine Bewertungen
- Revista Scripta 2006 v. 4Dokument352 SeitenRevista Scripta 2006 v. 4Caio AntônioNoch keine Bewertungen
- Ficção e Autobiografia em Márcia Denser - Igor de Albuquerque (Dissertação de Mestrado) PDFDokument92 SeitenFicção e Autobiografia em Márcia Denser - Igor de Albuquerque (Dissertação de Mestrado) PDFIgor de AlbuquerqueNoch keine Bewertungen
- Tamara Vivian Katzen Stein VCDokument129 SeitenTamara Vivian Katzen Stein VCivandelmantoNoch keine Bewertungen
- Splinder Pina BauschDokument139 SeitenSplinder Pina BauschBruno De Orleans Bragança ReisNoch keine Bewertungen
- A multiplicação dramáticaDokument13 SeitenA multiplicação dramáticahelenaNoch keine Bewertungen
- Marcelo Souza - TerritórioDokument20 SeitenMarcelo Souza - Territóriocarolina soaresNoch keine Bewertungen
- MÚSICA E LITERATURA - Ernesto Von Rückert PDFDokument15 SeitenMÚSICA E LITERATURA - Ernesto Von Rückert PDFValjeannussNoch keine Bewertungen
- A origem da fotografia e sua influência na arteDokument6 SeitenA origem da fotografia e sua influência na artejoanammendesNoch keine Bewertungen
- Trágico em Cruz PDFDokument198 SeitenTrágico em Cruz PDFAdilson SantosNoch keine Bewertungen
- Mística e Poesia, Nos Limites Da Linguagem Hilda Hilst e As Místicas PDFDokument21 SeitenMística e Poesia, Nos Limites Da Linguagem Hilda Hilst e As Místicas PDFJonas SamudioNoch keine Bewertungen
- Amati - Solange Padilha - Amatiwanã Trumai Universo e Pintura - PUC - SP - 2001Dokument255 SeitenAmati - Solange Padilha - Amatiwanã Trumai Universo e Pintura - PUC - SP - 2001Ana Ribeiro100% (1)
- GARCIA, Wilton. Arte Homoerótica No BrasilDokument33 SeitenGARCIA, Wilton. Arte Homoerótica No BrasilTiago FerreiraNoch keine Bewertungen
- LEITURA E ESCRITADokument11 SeitenLEITURA E ESCRITASandro SantosNoch keine Bewertungen
- Tese Marcelo de CarvalhoDokument281 SeitenTese Marcelo de CarvalhoCristiane Carolina De Almeida SoaresNoch keine Bewertungen
- A topologia poética de Emmanuel HocquardDokument163 SeitenA topologia poética de Emmanuel HocquardJúlia Arantes100% (1)
- Ivan Teixeira Formalismo Russo Revista CultDokument4 SeitenIvan Teixeira Formalismo Russo Revista CultDaniela Beccaccia Versiani100% (2)
- Os mitos indígenas e a origem do fogoDokument21 SeitenOs mitos indígenas e a origem do fogoJussara Olinev Kuaray Mimbi0% (1)
- BioEscritas e BioPoeticasDokument178 SeitenBioEscritas e BioPoeticasVictor CarmoNoch keine Bewertungen
- Fronteiras da PaisagemDokument290 SeitenFronteiras da Paisagemnelsoncpj0% (1)
- A política em Clarice Lispector: quatro imagens contraditóriasDokument7 SeitenA política em Clarice Lispector: quatro imagens contraditóriasAnissa DaliryNoch keine Bewertungen
- BRANDÃO, Helena N. Introdução À Análise Do Discurso.Dokument64 SeitenBRANDÃO, Helena N. Introdução À Análise Do Discurso.ClaudiaNoch keine Bewertungen
- Cascudo o Erudito No Popular1 PDFDokument10 SeitenCascudo o Erudito No Popular1 PDFFrancisca Cardoso FranlemosNoch keine Bewertungen
- Alcir Pécora - Impasses Da Literatura ContemporâneaDokument3 SeitenAlcir Pécora - Impasses Da Literatura ContemporâneadadacestmoiNoch keine Bewertungen
- 2020 - Literatura Infantil e Juvenil - Ebook XX CelDokument147 Seiten2020 - Literatura Infantil e Juvenil - Ebook XX CelCau BrandaoNoch keine Bewertungen
- (Livro) Antropologia e Imagem (Barbosa & Cunha)Dokument35 Seiten(Livro) Antropologia e Imagem (Barbosa & Cunha)thiaguinholayerNoch keine Bewertungen
- A Querela Do Método em PsicanáliseDokument13 SeitenA Querela Do Método em PsicanáliseliviaasrangelNoch keine Bewertungen
- Marie-Helene Catherine Torres. Traduzir o Brasil LiterarioDokument402 SeitenMarie-Helene Catherine Torres. Traduzir o Brasil LiterarioRodrigo D'AvilaNoch keine Bewertungen
- (Hans Ulrich Gumbrecht) Produ o de Presen A o (Z-LibDokument211 Seiten(Hans Ulrich Gumbrecht) Produ o de Presen A o (Z-LibmarinalvamouraNoch keine Bewertungen
- Edgardo Cozarinsky. CinematógrafosDokument91 SeitenEdgardo Cozarinsky. CinematógrafosmarianobarbozamNoch keine Bewertungen
- Abya Yala PDFDokument6 SeitenAbya Yala PDFlagarronaNoch keine Bewertungen
- Eu e o Outro - o InvasorDokument2 SeitenEu e o Outro - o InvasorInês AmorimNoch keine Bewertungen
- Imaginário das águas especulares: reflexões sobre narcisismo e individualismoDokument17 SeitenImaginário das águas especulares: reflexões sobre narcisismo e individualismoValeri Carvalho100% (1)
- Cinema em AbismoDokument113 SeitenCinema em AbismoAlessandra ValérioNoch keine Bewertungen
- A Escrita Da DançaDokument9 SeitenA Escrita Da DançaClara(Madha)Noch keine Bewertungen
- O Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFDokument9 SeitenO Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFcarla100% (1)
- Psicologia Da Arte - FundamentosDokument14 SeitenPsicologia Da Arte - FundamentosAline MagalhãesNoch keine Bewertungen
- Psicologia e Noções de Subjetividade Decolonial PDFDokument10 SeitenPsicologia e Noções de Subjetividade Decolonial PDFLuiz LourençoNoch keine Bewertungen
- Pessoa y Las Máscaras Escritas-GiménezDokument20 SeitenPessoa y Las Máscaras Escritas-GiménezPepe PalenqueNoch keine Bewertungen
- Deneval Siqueira - Holocausto Das Fadas - A Trilogia Obscena e o Carmelo Bufólico de Hilda Hilst PDFDokument114 SeitenDeneval Siqueira - Holocausto Das Fadas - A Trilogia Obscena e o Carmelo Bufólico de Hilda Hilst PDFMylena GodinhoNoch keine Bewertungen
- Conhecendo o CriadorDokument0 SeitenConhecendo o CriadorNilson BenevidesNoch keine Bewertungen
- Salva Cao para TodosDokument2 SeitenSalva Cao para TodosNilson BenevidesNoch keine Bewertungen
- A Arte Do DetalheDokument27 SeitenA Arte Do DetalheNilson BenevidesNoch keine Bewertungen
- Química - Aula 06 - Funções Inorgânicas (Ácidos e Báses)Dokument7 SeitenQuímica - Aula 06 - Funções Inorgânicas (Ácidos e Báses)Alberico FagundesNoch keine Bewertungen
- Aula 05 - Ligações QuímicasDokument14 SeitenAula 05 - Ligações QuímicasNilson BenevidesNoch keine Bewertungen
- EliasDokument11 SeitenEliasNilson BenevidesNoch keine Bewertungen
- Aula 01 - Elemento, Substância e MisturaDokument10 SeitenAula 01 - Elemento, Substância e MisturaErlanNoch keine Bewertungen
- 24 Horas de AmorDokument1 Seite24 Horas de AmorNilson BenevidesNoch keine Bewertungen
- Sujeito Da Psicanalise - Rosa Guedes LopesDokument24 SeitenSujeito Da Psicanalise - Rosa Guedes LopesTames MoteraniNoch keine Bewertungen
- Lista de exercícios sobre oração e seus termos integrantesDokument6 SeitenLista de exercícios sobre oração e seus termos integrantesWisller JeffersonNoch keine Bewertungen
- PronomesrelativosdocDokument47 SeitenPronomesrelativosdocJosé Fernandes FernandesNoch keine Bewertungen
- PORT 221 – História e transformação da língua portuguesaDokument114 SeitenPORT 221 – História e transformação da língua portuguesaprofessordeportuguesNoch keine Bewertungen
- Classes de palavrasDokument13 SeitenClasses de palavrasMarina GomesNoch keine Bewertungen
- Questão - O Que É DesconstruçãoDokument3 SeitenQuestão - O Que É Desconstruçãojaqueline souzaNoch keine Bewertungen
- Coesão e coerência textosDokument6 SeitenCoesão e coerência textosJoão Helix HelixNoch keine Bewertungen
- Emilia FerreiroDokument7 SeitenEmilia FerreiroCharles AlvesNoch keine Bewertungen
- Caderno de Resumi Sinalel - 2015 PDFDokument504 SeitenCaderno de Resumi Sinalel - 2015 PDFAnonymous 7lzlspNoch keine Bewertungen
- Prova de Proficiência em Língua Italiana para Pós-Graduação em Estudos LinguísticosDokument4 SeitenProva de Proficiência em Língua Italiana para Pós-Graduação em Estudos LinguísticoswagnerjosemcNoch keine Bewertungen
- Gabarito Oficial CFS 1/2019Dokument15 SeitenGabarito Oficial CFS 1/2019Matheus FelipeeNoch keine Bewertungen
- Encontros VocálicosDokument5 SeitenEncontros VocálicosDione PiresNoch keine Bewertungen
- A Pronúncia Do Português EuropeuDokument3 SeitenA Pronúncia Do Português EuropeuLuiz SennaNoch keine Bewertungen
- Matriz 3º Teste 9º Ano - Março 2022Dokument1 SeiteMatriz 3º Teste 9º Ano - Março 2022m23mNoch keine Bewertungen
- Língua Portuguesa 2020 Unidade de Aprendizagem PDFDokument58 SeitenLíngua Portuguesa 2020 Unidade de Aprendizagem PDFAdilsonNoch keine Bewertungen
- Aula 24 - Lingua Portuguesa - Prof Pamela BrandãoDokument8 SeitenAula 24 - Lingua Portuguesa - Prof Pamela BrandãoFidel Alcolea BittencourtNoch keine Bewertungen
- Cartografando Uma Literatura Menor A Poética Dos Resíduos deDokument23 SeitenCartografando Uma Literatura Menor A Poética Dos Resíduos deRafaela BarrosoNoch keine Bewertungen
- Artes Visuais EAD - Semiótica e ComunicaçãoDokument2 SeitenArtes Visuais EAD - Semiótica e ComunicaçãopetersainthNoch keine Bewertungen
- Transitividade VerbalDokument3 SeitenTransitividade VerbalIzabel Cristina VilaçaNoch keine Bewertungen
- Curso - Ed-Especial - Alternativas-Metodologicas-Aluno SurdoDokument48 SeitenCurso - Ed-Especial - Alternativas-Metodologicas-Aluno SurdoEmerson MonteiroNoch keine Bewertungen
- Comunicação e Linguagem Meus ApontamentosDokument41 SeitenComunicação e Linguagem Meus Apontamentosjoana100% (1)
- Orações subordinadas: classificação e funçõesDokument12 SeitenOrações subordinadas: classificação e funçõesVanda BarretoNoch keine Bewertungen
- Oficina Linguistica de Corpus e TraduçaoDokument40 SeitenOficina Linguistica de Corpus e TraduçaoMaria OppermannNoch keine Bewertungen
- O Morrer e a Morte na Índia Védica e BramânicaDokument157 SeitenO Morrer e a Morte na Índia Védica e BramânicaMarcelino CostaNoch keine Bewertungen
- Ficha de Trabalho - GramáticaDokument3 SeitenFicha de Trabalho - GramáticaLucinda100% (3)
- Domínio da ortografia oficialDokument72 SeitenDomínio da ortografia oficialDESBAN CRAFTLANDIANoch keine Bewertungen
- Concordância verbal com sujeitos simples e compostosDokument15 SeitenConcordância verbal com sujeitos simples e compostosMaryMarksNoch keine Bewertungen
- Future TenseDokument3 SeitenFuture TensegcardimNoch keine Bewertungen
- Artigo LaFranceDokument15 SeitenArtigo LaFranceAmplitude AplicadorasNoch keine Bewertungen
- 9 Dicas para Analisar Compreender e Interpretar Textos PDFDokument5 Seiten9 Dicas para Analisar Compreender e Interpretar Textos PDFJeffrey HaithNoch keine Bewertungen
- Acentuação GraficaDokument7 SeitenAcentuação GraficaAdryelle CristinaNoch keine Bewertungen