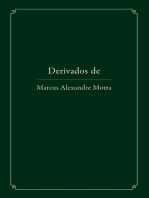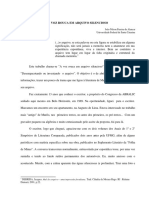Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Maurice Blanchot e A Literatura
Hochgeladen von
Cleber Araújo CabralOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Maurice Blanchot e A Literatura
Hochgeladen von
Cleber Araújo CabralCopyright:
Verfügbare Formate
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE SO
PAULO
PUCSP
Marcela Moura Almeida
Maurice Blanchot e a literatura
uma experincia outra
MESTRADO EM FILOSOFIA
So Paulo/SP
2012
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE SO PAULO
PUC-SP
Marcela Moura Almeida
Maurice Blanchot e a literatura
uma experincia outra
MESTRADO EM FILOSOFIA
Dissertao apresentada Banca
Examinadora da Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo, como exigncia
parcial para obteno do ttulo de Mestre
em Filosofia, sob a orientao do Prof. Dr.
Peter Pl Pelbart.
So Paulo/SP
2012
Banca Examinadora
__________________________________________
Prof. Dr. Peter Pl Pelbart (Orientador)
__________________________________________
Profa. Dra. Maria Cristina Franco Ferraz
__________________________________________
Profa. Dra. Dulce Citrelli
Suplentes:
__________________________________________
__________________________________________
AGRADECIMENTOS
minha famlia - Tonico, Gabriel e Rafa, aos meus pais - Rosaly e Francisco
Moura, ao meu orientador - Professor Peter Pl Pelbart e s amigas - Maria
Cristina Franco Ferraz, Estela Renner, Eleonora Branco, Marcia Oliveira e
Patrcia Prata,
minha gratido.
RESUMO
ALMEIDA, M. M. Maurice Blanchot e a literatura uma experincia outra. 2012.
72f. Dissertao (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Pontifcia Universidade Catlica
de So Paulo, So Paulo, 2012.
O trabalho a seguir procurar identificar no pensamento de Maurice Blanchot, mais precisamente
nas obras O Espao Literrio, A Conversa Infinita e o Livro por Vir, as noes que o autor
desenvolve a respeito da literatura e da arte, tais como Desobramento, Fora, Neutro. Para
acompanhar a teorizao mais geral de Blanchot sobre o estatuto da arte, foi preciso,
inicialmente, contrast-la com certa tradio proveniente sobretudo do Romantismo, mas
tambm de Heidegger. Em contrapartida, ao explorar o que ele considera ser a singularidade do
espao literrio, sua dimenso impessoal, entende-se a marca indelvel que deixou sua obra
entre pensadores tais como Foucault e Deleuze, afetando assim, a partir da crtica literria, o
campo da filosofia contempornea.
Palavras-chave: Arte, Obra, Literatura, Blanchot
ABSTRACT
ALMEIDA, M. M. Maurice Blanchot and Literature a different experience. 2012.
72f. Dissertao (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Pontifcia Universidade Catlica
de So Paulo, So Paulo, 2012.
This study of Maurice Blanchots thought, specifically the books The Space of
Literature, The Infinite Conversation, and The Book to Come, identifies the notions that
the author develops regarding Literature and Art, such as Unworking, the Outside, and
the Neutral. In order to follow Blanchots more general theorization on the statutes of
Art, it was at first necessary to contrast it with the tradition which mainly comes from
Romanticism, but also from Heidegger. From a different perspective, this study
explores what Blanchot considers to be the singularity of the space of literature, its
impersonal dimension, which is understood to be the indelible mark that his work left
among such thinkers as Foucault and Deleuze, thus affecting, beginning with Literary
Theory, the field of Contemporary Philosophy.
Keywords: Art, Work, Literature, Blanchot
SUMRIO
1 INTRODUO ......................................................................................... 8
2 CONSIDERAES EM TORNO DA ARTE ........................................ 11
2.1 O Romantismo e o despertar da literatura ............................................. 11
2.2 Hegel e a morte da arte ......................................................................... 17
2.3 Heidegger e a origem da obra de arte ..................................................... 20
3 TRS NOES PARA SITUAR A IDEIA DE OBRA EM
BLANCHOT ..............................................................................................
29
3.1 O Desobramento ........................................................................................ 29
3.1.1 O dia, a noite .............................................................................................. 29
3.1.2 A origem, a runa da obra O olhar de Orfeu ....................................... 32
3.1.3 O Mito de Orfeu ........................................................................................ 33
3.1.4 O olhar de Blanchot para o mito .............................................................. 34
3.1.5
A inspirao, o risco .................................................................................. 38
3.2 O Fora ......................................................................................................... 41
3.2.1 O desejo, a atrao .................................................................................... 41
3.2.2 O exlio, o fora ............................................................................................ 42
3.3 O Neutro ..................................................................................................... 45
3.3.1 O Inominvel .............................................................................................. 46
3.3.2 Do Eu ao Ele uma relao neutra ......................................................... 48
3.3.3 Por uma obra impessoal ........................................................................... 50
4 O MUNDO DA LITERATURA E A LITERATURA NO MUNDO .... 53
4.1 Palavra bruta e palavra essencial ............................................................ 53
4.2 O real e o imaginrio: o mundo outro da literatura .............................. 56
4.3 As sereias e o encontro com o imaginrio ............................................... 60
4.3.1 Da narrativa ao romance .......................................................................... 63
5 CONCLUSO ........................................................................................... 66
REFERNCIAS .................................................................................................... 70
8
1. INTRODUO
Todo grande livro opera j a transmutao e faz a sade de amanh.
Gilles Deleuze. Pensamento nmade.
Ao aproximar-me da obra de Maurice Blanchot, mais precisamente de seus
escritos tericos e crticos sobre arte e literatura, vi ali uma espcie de porta de acesso
para uma nova relao entre o pensamento e a vida. A literatura transfigurada que
Blanchot propunha pensar, revelava-se como uma abertura para um pensamento outro.
Essa forma de pensar no s se manifestava em sua prpria escrita, mas nas ideias,
carregadas de teor filosfico, sobre a experincia literria. No entanto, o que me vinha a
cada leitura, a cada pgina, a cada frase, era uma inexplicvel sensao de liberdade.
Somente depois de ter em mos o texto Pensamento nmade, de Gilles
Deleuze, pude entender o que significava aquela sensao de liberdade que saltava das
pginas dos livros de Blanchot. Neste texto, Deleuze diz o seguinte: h sempre uma
alegria indescritvel que jorra dos grandes livros e mais, no se pode deixar de rir
quando se embaralham os cdigos. Se voc colocar o pensamento em relao com o
exterior, nascem os momentos de riso dionisaco, o pensamento ao ar livre.
(DELEUZE, 1985, p. 64) (Neste trecho ele se refere ao pensamento de Nietzsche, mas
considerando ter sido Blanchot quem evidenciou essa relao do pensamento de
Nietzsche com o exterior).
Mas se fao esse relato pessoal, para mostrar como um trabalho de pesquisa em
torno do pensamento de Blanchot suscita uma experincia que, do mesmo modo como
ele prprio descreve a experincia literria, uma experincia outra.
9
Ademais, para alm de minha fascinao pela obra de Blanchot, vale dizer que
pensadores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, para ficar apenas
com alguns nomes de expresso, foram marcados por sua teorizao do espao literrio,
mas tambm utilizaram-no, cada um sua maneira, em momentos decisivos de suas
prprias construes filosficas. A abertura que se entrevia no pensamento de Blanchot
sinalizava uma via outra para escapar ao excesso de humanismo que imperava na
modernidade. A literatura impessoal e annima que ele prefigurava, mostrava-se como
uma contestao ao pensamento centrado no sujeito, na conscincia, na interioridade, na
subjetividade do homem moderno.
Dito isto, passo a expor, a partir daqui, o trajeto que este trabalho percorrer
junto ao pensamento de Blanchot. O sentido que busco nas pginas deste autor o que,
para ele, parece fazer da literatura uma experincia outra. Por meio das noes de
Desobramento, Fora, Neutro, Blanchot revira conceitos e pensamentos sobre a arte e a
literatura tidos como consagrados, e assim teoriza seu prprio espao literrio. Uma das
pistas que me levam ao encontro dessa literatura outra, concebida por Blanchot,
talvez esteja no fato de que, para ele, esta experincia no deve ser subordinada ao
mundo das utilidades, das atividades, das objetividades. De maneira que, uma vez livre
de tais exigncias mundanas, a palavra literria possa ser o que e em si, adquirindo,
assim, o poder de fundar sua prpria realidade. Portanto, a experincia indicada por
Blanchot, e que acompanharei aqui, nos diz que a literatura um acontecimento pleno
de real, que a arte literria capaz de instaurar mundos mundos imaginrios, espaos
literrios, realidades outras.
Comeo esse trajeto percorrendo algumas consideraes histrico-filosficas a
respeito da arte e da literatura que, de alguma forma, influenciaram o pensamento de
nosso autor, ou com ele discutiram. Primeiramente evocarei o Romantismo, por ter sido,
10
para Blanchot, o movimento que revelou os primeiros sinais de uma literatura que ele
viria a postular mais adiante. Em seguida, apresentarei o impacto da observao de
Hegel, em seus cursos de esttica, ainda no incio da modernidade, sobre a morte da
arte, e de que maneira essa afirmao ecoou em Blanchot. Passarei ento a apresentar
certo vis do pensamento de Heidegger sobre a origem da obra de arte que pode suscitar
aproximaes mas tambm distncias entre o pensamento deste filsofo e o de
Blanchot.
No segundo bloco, dedico-me s noes que Blanchot introduz no estatuto da
obra de arte, tais como o Desobramento, o Fora, o Neutro, e a como essas ideias se
constituem em sua concepo literria. Para acompanhar a noo de Desobramento,
retomarei a interpretao do mito de Orfeu onde ele ilustra, passo a passo, a
profundidade dessa experincia. Para esclarecer a noo de Fora, valho-me
principalmente de Michel Foucault e Gilles Deleuze, em suas tentativas de explicar o
alcance desse pensamento, e, finalmente, ao Neutro dedico a anlise crtica realizada
por Blanchot sobre a literatura de Beckett, e as relaes entre o autor, o leitor e a obra.
Com isso, sigo rumo ao que Blanchot considera ser o espao literrio, ou o
mundo prprio da literatura. Acompanho-o em sua explicitao do estatuto da imagem e
de como essa linguagem por imagens pode alcanar uma realidade no seio da literatura.
Uma vez tendo vislumbrado o mundo prprio da literatura, passo a problematizar,
ento, aquilo que esse mundo outro, desvendado por Blanchot, procura experimentar.
11
2. CONSIDERAES EM TORNO DA ARTE
2.1 O Romantismo e o despertar da literatura
Blanchot parece enxergar no Romantismo os primeiros sinais do que viria a ser sua
prpria concepo da escrita. Este movimento, que aconteceu entre as duas ltimas
dcadas do sculo XVIII e a primeira metade do sculo XIX, suscitou mudanas
determinantes para a literatura e para a arte em geral. Contudo, do Romantismo
interessa a Blanchot menos o que consagrou este movimento como romntico, do que
aquilo que ele chama de essncia no romntica do Romantismo. Para compreender
essa ideia em Blanchot, preciso antes esclarecer o que, propriamente, caracterizou este
movimento como romntico.
Segundo Benedito Nunes, no texto A Viso Romntica, duas categorias esto
implcitas no conceito de Romantismo: a psicolgica, que diz respeito a um modo de
sensibilidade, e a histrica, referente ao movimento literrio e artstico datado.
Na categoria psicolgica, conforme o autor, encontramos
[...] a sensibilidade romntica, dirigida pelo amor da irresoluo e da
ambivalncia, que separa e une estados opostos do entusiasmo
melancolia, da nostalgia ao fervor, da exaltao confiante ao
desespero , contm o elemento reflexivo de ilimitao, de inquietude
e de insatisfao permanentes de toda experincia conflitiva aguda,
que tende a reproduzir-se indefinidamente custa dos antagonismos
insolveis que a produziram. (NUNES, 1985, p. 52)
Os traos que caracterizam o conceito de romantismo como uma categoria
psicolgica, por possurem um carter subjetivo, de conflito interior, poderiam ser
considerados parte de uma categoria universal. Porm, foi somente com esse
movimento, historicamente datado, que tais caractersticas se consolidaram como
romnticas, em que o sentir concretizou-se no plano literrio e artstico, implicando uma
12
determinada viso ou concepo de mundo. Os alemes foram os primeiros a utilizar o
termo romntico com uma conotao crtica e histrica, dando a ele o sentido que
carrega hoje, ainda que o Romantismo tenha acontecido de maneira autnoma em
diferentes pases respondendo s tradies que lhes eram prprias. O Romantismo
considerado um movimento das contradies, em que os sentimentos conflitantes vo
do gosto pela religio ao desejo de revolta, da preocupao com o passado recusa da
tradio, da melancolia exaltao... Todos esses traos juntos, reconhecidos como
igualmente necessrios por serem opostos uns aos outros, predominam nos romnticos.
Assim, prevalece a oposio, a necessidade de contradizer-se, a ciso e no o sentido
ideolgico de cada um desses traos tomados isoladamente. O Romantismo ento
caracterizado por ser um momento em que os sentimentos mais profundos e conflitantes
do autor emergem. Momento em que a subjetividade alcana sua supremacia.
No entanto, Blanchot acredita que o Romantismo foi, na verdade, um
movimento poltico. Ele afirma: o romantismo na Alemanha e posteriormente na
Frana, foi uma aposta poltica. (BLANCHOT, 2010b, p. 101) Mas em que sentido?
O que ali aflorava voltava-se a uma recusa das formas tradicionais de
organizao poltica. Pois o Romantismo aconteceu num perodo em que ocorreram
duas grandes revolues na histria da humanidade, a Revoluo Francesa e a
Revoluo Industrial. Ambas as revolues geraram mudanas de atitude em diversas
naes, liberando foras que moldaram em grande parte os ideais sociais daquele
tempo. As instituies polticas sofreram abalos violentos, e o nacionalismo arrastou
consigo boa parte dos povos europeus em direo s suas aspiraes polticas e sociais.
Portanto, a viso romntica nasce em um contexto social, histrico e cultural de
transio poltica.
13
Blanchot observa ainda que foi a Revoluo Francesa que deu aos romnticos
alemes essa forma nova que constitui a exigncia declarativa, o brilho do manifesto.
(BLANCHOT, 2010b, p. 106) O que isso pode significar? Poderamos afirmar que a
relao entre a Revoluo Francesa e o Romantismo no se d pela via do contedo
filosfico ventilado, mas pela forma declarativa que se expressa revolucionria. Dito de
outro modo, no foram os filsofos que prepararam a revoluo, que influenciaram os
romnticos neste movimento, foi antes a prpria revoluo.
Segue ele:
Mas no ser aos oradores revolucionrios que os romnticos iro
pedir lies de estilo, ser a revoluo em pessoa, a essa linguagem
feita Histria, a qual se significa por acontecimentos que so
declaraes: o Terror, sabemo-lo bem, no foi terrvel somente por
causa das execues, ele o foi porque ele prprio se reivindica sob
essa forma maiscula, fazendo do terror a medida da histria e o logos
dos tempos modernos. O Cadafalso, os inimigos do povo apresentados
ao povo, as cabeas que se cortam unicamente para serem mostradas;
a evidncia- a nfase- da morte nula, constituem no fatos histricos,
mas uma nova linguagem: isso fala e isso se manteve falando.
(BLANCHOT, 2010b, p. 106)
No que diz respeito aposta poltica embutida no movimento literrio, Blanchot
acredita que assim se d porque h entre os dois movimentos, o poltico e o
literrio, uma troca bastante curiosa. Essa troca no acontece no mbito do contedo,
mas antes naquele da forma, como se ver a seguir. Para ele, o Romantismo foi
responsvel por introduzir um modo inteiramente novo de realizao, que alterou o
estatuto da escrita com o Romantismo a literatura ganha o poder de ser ao invs de
representar. Essa foi, ento, uma das grandes contribuies deste movimento para a
literatura, tal como pensa Blanchot. A escrita literria toma conscincia de si mesma e
desta maneira torna-se sua prpria manifestao. Com isso, a escrita literria passa a ter
como tarefa apenas declarar-se, manifestar-se, e no mais servir como ferramenta para
representar ou significar o mundo. A linguagem, na literatura que surgia na poca do
Romantismo, ganha fora de autorrevelao, conclui Blanchot.
14
O que ele pretende ressaltar, ao aproximar a escrita dos romnticos das
manifestaes revolucionrias, a forma, que surge na literatura inspirada pela forma
da revoluo. Portanto, este movimento no foi uma simples escola literria, nem
mesmo apenas um momento importante da histria da arte, mas, mais do que isso, foi
responsvel por inaugurar uma poca. poca em que todos se revelam. Manifestar-se,
anunciar-se, comunicar-se, eis o ato inesgotvel que institui e constitui o ser da
literatura (BLANCHOT, 2010b, p. 106), pois falar poeticamente tornar possvel uma
fala no transitiva, uma linguagem sem objeto, que no pretende dizer as coisas e
desaparecer naquilo que significa, mas sim deixar-se dizer sem, no entanto, fazer de si
prpria o novo objeto dessa linguagem.
No Romantismo, afirma Blanchot, a fala sujeito. (BLANCHOT, 2010b, p.
109) Ao fazer essa afirmao, Blanchot nos coloca diante de uma contradio: se o
Romantismo foi considerado o momento ureo da subjetividade, como ento a fala na
literatura romntica a fala da prpria linguagem, e no expresso do sujeito? Como
explicar o eu do poeta romntico, j que o ser da linguagem, conforme o autor, s
aparece para si mesmo com o desaparecimento do sujeito? Estas questes nortearo
toda a teoria e a crtica literria de Blanchot. Para ele, a voz que fala nessa literatura
revolucionria no a do poeta, mas a da prpria linguagem, uma vez que ela se liberta
da funo de representar e at mesmo de significar.
por isso que Blanchot considera essa apario do ser na linguagem a essncia
no romntica do Romantismo. Ela no exatamente uma caracterstica romntica, j
que o Romantismo acreditava estar dando voz interioridade do poeta, porm, para
Blanchot, o que sobressai na literatura romntica precisamente essa manifestao do
ser da linguagem, que introduz na arte e na literatura uma nova forma de ser. [...] [A]
essncia no romntica do romantismo e todas as principais questes que a noite da
15
linguagem contribuir a produzir luz do dia: que escrever fazer obra da fala, mas que
essa obra no obrar (BLANCHOT, 2011b, p. 108), como se ver mais tarde.
Outro trao marcante do Romantismo, que contribuiu para o percurso da
concepo literria de Blanchot, tambm revela uma contradio que ele reconhece
como essencial , ainda que fosse uma essncia no romntica deste movimento. Os
intelectuais e poetas daquele tempo tinham o desejo de criar uma escrita total, um estilo
que abarcasse toda a arte, entretanto, o que eles acabam por criar a arte do fragmento.
Diz Blanchot, citando Novalis: Absolutizar o mundo, apenas o romance pode
consegui-lo, pois necessrio que a ideia do todo domine e modele inteiramente a obra
esttica. (NOVALIS apud BLANCHOT, 2010b, p.109) Mas essa aspirao por uma
absolutizao paradoxalmente desemboca numa valorizao do fragmento. O que se via
ali era uma forma nova de realizao, revolucionria, que tornava mvel, que
mobilizava o todo, que interrompia o todo por meio do fragmento. O que o Romantismo
propiciou foram os diversos modos de interrupo. No entanto, Schlegel dizia que
somente os sculos futuros saberiam ler os fragmentos. Novalis, e mesmo Schlegel,
afirmar que o fragmento sob a forma monolgica um substituto da comunicao
dialogada, e o que importa introduzir na escrita, por meio do fragmento,
essa pluralidade que virtual em ns, real em todos e que responde
incessante autocriadora alternncia de pensamentos diferentes ou
opostos. Se a forma descontinua, no obstante ela faz coincidir o
discurso e o silncio, a frivolidade e a seriedade, a indeciso de um
pensamento instvel e a obrigao de ser sistemtico e, ao mesmo
tempo, o horror do sistema. (SCHLEGEL apud BLANCHOT, 2010b,
p. 108)
Schlegel acrescentar ainda que ter um sistema , para o esprito, to mortal
quanto no ter: ser pois preciso que ele se decida a perder tanto uma quanto outra
dessas tendncias. (SCHLEGEL apud BLANCHOT, 2010b, p. 111)
16
Escrever fragmentariamente ento, entende Blanchot, acolher a prpria
desordem que no exclui, mas sim ultrapassa a totalidade. Schlegel escreve ainda: No
posso dar de minha personalidade nenhuma outra amostra a no ser um sistema de
fragmentos, uma vez que eu mesmo sou algo desse gnero; nenhum estilo me natural
e fcil a no ser o dos fragmentos. (SCHLEGEL apud BLANCHOT, 2010b, p. 111)
Deste modo, o reflexo de sua prpria discordncia que ele apresenta.
Ainda assim, Blanchot observa que o fragmento conduz ao encerramento de
uma frase pronta, pois ele um texto concentrado, com seu centro em si prprio e no
no campo em que com ele coexistem outros fragmentos. Ao contrrio do que se poderia
supor, essa maneira de escrever no tende a tornar mais difcil uma viso de conjunto,
mas a tornar possveis relaes novas que se excetuam da unidade, assim como
excedem o conjunto. Vale dizer que essa forma de exceo face a unidade no se
explica por um defeito de personalidade do poeta, considerada demasiadamente
subjetiva, mas talvez, como entende Blanchot, pela essncia no romntica do
romantismo que reside no estilo revolucionrio que ele criou. No no sentido de um
estilo capaz de tornar-se absoluto, de abarcar o todo da literatura, mas no de manifestar-
se ao seu modo, singularmente, encerrado em si mesmo.
em vista disso que Blanchot conclui ter sido a partir do Romantismo que a
literatura aparece, manifesta-se, encontra o ser da linguagem; e passa a levar dentro de
si a questo da descontinuidade ou da diferena como forma.
17
2.2 Hegel e a morte da arte
Foi ainda no sculo XIX que Hegel, em seus cursos de introduo Esttica, fez
a seguinte advertncia: a arte para ns, quanto ao seu supremo destino, coisa
passada. (HEGEL apud BLANCHOT, 2011a, p. 233) Neste tempo, o romantismo
ainda se expandia na Europa, e obras considerveis tomavam um novo impulso atravs
desse movimento. Como ento Hegel sentenciava a morte da arte?
Benedito Nunes, no livro Introduo Filosofia da Arte, observa que a morte da
arte era, para Hegel, uma certeza histrica. Sobre essa considerao o autor escreve:
Julgava ele que a poesia no mais poderia encontrar condies numa
poca demasiadamente prosaica. A sociedade civilmente organizada,
o imprio das leis, a hegemonia do Estado, haviam sacrificado a
antiga estatura dos heris que vicejavam na Epopia e anulado os
conflitos fundamentais de que puderam nascer as grandes tragdias
clssicas. De nada adiantaria aos poetas buscarem o refgio da vida
interior, para da cantarem as suas desiluses, fracassos e esperanas
vs. (NUNES, 1991, p. 106).
Isto , segundo as observaes do filsofo, faltava s sociedades, em virtude da
forma pela qual se organizavam naquele tempo, condies mnimas para que o ideal
potico pudesse se sobrepor ao real da vida cotidiana. Pois a vida se mostrava
excessivamente prosaica, como se o mundo tivesse imposto aos poetas uma realidade
to objetiva que a poesia acabasse por morrer num isolamento subjetivo.
Historicamente, a fora da expresso potica estaria exaurida por falta de conexo entre
o subjetivo, que no interessava vida nas sociedades, e o objetivo, que era o motor da
poca, j sensvel aos primeiros efeitos da revoluo industrial.
Hegel verificou, no incio desse processo, que as relaes humanas deslocariam
seus interesses das artes para outras esferas, como a cincia, a filosofia, o pensamento
reflexivo em geral. A arte continuaria, mas seria apenas uma forma de acessar, no
18
presente, as expresses artsticas do passado. No mais haveria uma atualidade mesma
da arte.
As obras de arte que se realizariam a partir da tornar-se-iam apenas
manifestaes de uma lembrana, a memria de um passado, e deixariam de ter uma
importncia fundamental: elas seriam apenas um produto acessrio, sem utilidade, da
atividade humana. Nos termos de Hegel, a arte estava
condenada a absorver o prosasmo do mundo, que se tornara
excessivamente organizado e pragmtico para a verdadeira arte e os
verdadeiros artistas. O tempo da grandeza artstica havia passado, e
com ela desapareceram tambm todas as implicaes decorrentes da
funo superior que a arquitetura, a escultura, a msica, e a poesia
desempenharam. (HEGEL apud NUNES, 1991, p. 107)
Todas essas implicaes de ordem social, cultural e histrica, suscitadas pela
modernidade, no mais garantiam a articulao da atividade artstica com a existncia
coletiva, que outrora sustentava a supremacia da arte. Alm do mais, os rumos do
desenvolvimento histrico tornaram a argumentao de Hegel, para os pensadores que
vieram depois dele, um juzo sobre o qual a arte deveria refletir.
Blanchot retoma as consideraes de Hegel em alguns de seus textos sobre a
arte, reunidos no livro O espao literrio, e coloca o seguinte:
o que Hegel queria dizer era apenas isto, precisamente: que a partir do
dia em que o absoluto se tornou, conscientemente, trabalho da
histria, a arte deixou de ser capaz de satisfazer a necessidade de
absoluto: tudo o que ela tinha de autenticamente verdadeiro e vivo
pertence agora ao mundo e ao trabalho real do mundo. (BLANCHOT,
2011a, p. 233)
Para Blanchot, Hegel tinha razo quanto ao fato de que a arte no seria mais
capaz de sustentar a necessidade de absoluto. Ao ver-se esvaziada, pelo trabalho da
histria, daquilo que ela possua de mais verdadeiro e vital que passa a pertencer ao
mundo e ao trabalho real do mundo , a arte torna-se, ela prpria, trabalho real do
mundo. Essa transformao, que se d com a modernidade, faz com que a arte passe a
19
sofrer da ausncia das implicaes, tal como Hegel as havia apontado. No entanto,
Blanchot observa que esta noo de arte v na atividade artstica aquilo que faz dela
uma atividade, e no uma paixo intil. Neste caso, o que glorificado no arte, e
sim a atividade do artista como criador. Com isso, espera-se que as obras de arte
colaborem com a obra humana em geral. Essa viso pressupe uma compreenso da
arte a partir da ao e em funo dela. Compreender a arte como uma atividade
reconhecer no artista a tarefa de realizar obras de arte. Na qualidade de artista, o homem
age de acordo com as leis da ao, exerce um poder que ele aprimora atravs da
disciplina, do estudo, do trabalho para, assim, edificar sua obra. Trata-se de uma viso
humanista da arte, pontua Blanchot. E ento que ele questiona se a arte deve realmente
ser medida a partir da ao, dessa atividade exercida pelo homem, pois a cada vez que o
artista preferido em detrimento da obra, essa preferncia, essa exaltao do gnio do
artista significa a corrupo da arte, um retrocesso diante da potncia prpria da arte.
Para Blanchot, a arte quer edificar, mas segundo ela prpria, sem nenhum
objetivo a no ser o necessrio para que ela se realize, sem nada dever a uma atividade
que se destine algum fim, seja esse fim a verdade, a clareza, ou o poder. Ele observa
que a arte, intil para o mundo, para o qual apenas conta o que eficaz, intil ainda
para si mesma. Se se realiza, fora das obras medidas e das tarefas limitadas, no
movimento sem medida da vida. (BLANCHOT, 2011a, p. 234)
O que o artista, que realmente realiza obras de arte, quer afirmar ao se dedicar
obra, a arte. O que ele busca, o que ele tenta realizar a essncia da arte, e no a
excelncia de um poder medido pela utilidade da obra. A essncia da arte, na concepo
de Blanchot, est destinada a si mesma e no deve ser subordinada aos valores que ela
deveria exaltar tampouco s tarefas do homem, e menos ainda s preocupaes formais
de ordem esttica.
20
A atividade certamente necessria para que a obra se realize, mas na arte essa
atividade sempre reservada a si mesma, e a arte presente na obra se fecha na
afirmao de uma soberania interior: aquela que no aceita nenhuma lei e repudia todo
poder. (BLANCHOT, 2011a, p. 234)
Para ele
[a] arte essa paixo subjetiva que no quer mais revelar-se ao
mundo. Aqui, no mundo, reina a subordinao a fins, medida,
seriedade e ordem aqui, a cincia, a tcnica, o Estado aqui a
significao, a certeza dos valores, o Ideal do Bem e do Verdadeiro.
(BLANCHOT, 2011a, p. 235)
Ou seja, a arte, assim como a v Blanchot, no se contenta com essa
transformao humanista que a histria lhe reservou. Mas, se a vida nas sociedades,
desde Hegel, no mais se interessa pela soberania da arte, se os poetas cederam lugar
aos homens de letras, e a fora do tempo fez a arte desaparecer, no seria, pergunta
Blanchot, por que a arte atualmente apresenta-se como
uma pesquisa em que algo de essencial est em jogo, em que o que
conta no o artista nem os estados da alma do artista, nem a
aparncia prxima do homem, nem o trabalho, nem todos esses
valores sobre os quais se edifica o mundo e ainda menos esses outros
valores sobre os quais se abriria outrora o alm mundo, pesquisa, no
entanto, rigorosa, precisa, que quer realizar-se numa obra, numa obra
que seja e nada mais? (BLANCHOT, 2011a, 240)
Todavia, se a distncia entre Blanchot e Hegel evidente, o mesmo no se pode
dizer sobre a sua relao com Heidegger.
2. 3 Heidegger e a origem da obra de arte
As ideias que Blanchot desenvolve sobre a questo da obra de arte, sobretudo no
livro O espao literrio, parecem dialogar diretamente com o ensaio de Heidegger, A
21
origem da obra de arte, conferncia proferida em 1936. Retomarei ento alguns
aspectos do pensamento de Heidegger sobre a obra de arte, para ento esclarecer os
rumos que toma Blanchot para explicitar a sua noo de obra.
Segundo Benedito Nunes, em Passagem para o potico, Heidegger proclama,
no transcurso do ensaio A origem da obra da arte, a destruio da esttica-cincia, que
se mostrava, naquela poca, comprometida com determinada interpretao do Belo e da
obra de arte. Nunes observa o seguinte: Ao admitir que a obra de arte tem origem na
verdade como altheia, Heidegger separa-se tanto da tradio humanstica quanto da
Esttica Moderna. (NUNES, 1992, p. 249). Este movimento nos interessa, pois parece
ser neste mesmo sentido que vai a interpretao da arte e da obra em Blanchot. Para
Lvinas, dentre outros, a palavra ser, em Blanchot, tem efetivamente o timbre
heideggeriano. Porm h aproximaes e distncias entre o pensamento de ambos e
isto que me cabe mostrar aqui.
Como observa Nunes, a tradio humanstica apoiava-se na Potica e na
Retrica de Aristteles e acreditava que a arte, consumada na obra produzida,
originava-se da determinao da matria por uma forma ou ideia proveniente da mente
do artista, que produzia de acordo com a reta razo. As artes, consideradas as tchnai
poietika (as artes poticas ou criadoras), representavam o mais alto grau de concretude
da obra. No contexto da tradio humanstica,
a techn significou apenas um conjunto de meios adequados
realizao da poesis, idntica a mmesis, e que, traduzida por imitatio
(imitao), passaria a responder pela atividade individual criadora,
enquanto princpio originativo da arte. (NUNES, 1992, p. 250).
J a Esttica moderna, mesmo que ainda permanecesse subordinando a obra de
arte ao Belo, transportou sua origem para a subjetividade. A investigao de Heidegger
emerge precisamente para questionar tais concepes.
22
Heidegger pensa a esttica como uma experincia no conceitual que, em vez de
conhecimento, proporciona sensibilidade e entendimento. Experincia na qual a conduta
afetiva passa ao primeiro plano. Seu pensamento segue na esteira de certas proposies
de Hegel, sobre as quais falei aqui, e de Nietzsche, que retomarei brevemente apenas de
forma a ilustrar este percurso que denuncia o pensamento subjetivista em relao
esttica, na modernidade.
Como pontua Benedito Nunes:
Caberia a Hegel anunciar, em suas Lies de Esttica, que a arte
para ns, quanto a sua suprema destinao, uma realidade passada.
Perdido o seu vigor, esgotado como potencia da vida do esprito,
convertida como diria Nietzsche, num luxo, a obra de arte passa
categoria de objeto esttico, perdurando o seu cultivo dentro da esfera
do gosto artstico de algumas camadas sociais (Nietzsche, v. 1, p.
100). (NUNES, 1992, p. 252).
Ou seja, a morte da arte, proclamada por Hegel, juntamente com o niilismo
reconhecido pela crtica de Nietzsche, que diagnostica a desvalorizao dos mais altos
valores, atingindo inclusive os valores estticos, foi fundamental para a formao da
concepo de Heidegger em sua investigao a respeito da origem e do destino da arte.
Nunes observa que, enquanto para Hegel a atividade artstica perdeu sua fora
histrica e foi assim superada dialeticamente na religio e na Filosofia (formas
superiores do esprito absoluto), para Nietzsche, a mesma atividade, isto , a atividade
artstica, se volta para a vontade de potncia, e assim o nico meio capaz de curar a
enfermidade que assola a cultura ocidental. Para Nietzsche [a] civilizao no pode
provir seno do significado de uma arte ou de uma grande obra de arte. (NIETZSCHE,
1991 apud NUNES, 1992, p. 253)
As lies de Hegel, tanto quanto os ensinamentos de Nietzsche, foram decisivos
para a concepo heideggeriana, seja no que diz respeito a relevncia do artstico na
23
cultura grega, sobretudo sob o vis de Nietzsche, seja no que concerne ao destino e a
natureza da arte.
Portanto, como veremos a seguir no ensaio de Heidegger, a origem da obra de
arte pensada a partir da arte enquanto acontecimento da verdade, e da criao artstica
enquanto desvelamento dessa verdade. Neste ensaio, a arte refletida no segundo a
noo de coisa sujeita forma ou matria, suporte de propriedades, e nem mesmo
apenas como um produto acrescido de um valor esttico. Para ele, e neste ponto tambm
para Blanchot, esses valores no devem ser aplicados obra de arte. A obra de arte,
no se enquadra na categoria de ente--vista, e muito menos em ente--mo, ela antes
um fulcro da abertura pensada sob o enfoque da essencializao do ser. (NUNES,
1992, p. 253). Desse ponto de vista, o que a arte transmite, aquilo que absorve a sua
aparncia de coisa ou de produto, s pode ser captado ao voltarmo-nos para o domnio
que aberto atravs dela mesma.
Blanchot, assim como Heidegger, segue na interpretao da essncia do ser da
obra, para compreender a arte. Sua reflexo, tanto quanto a de Heidegger, prope um
resgate da arte como modo de pensamento original, o espao a partir do qual se efetua
uma nova leitura das coisas e do mundo. Porm, Blanchot se afasta da inclinao
ontolgica que sempre conduziu Heidegger, desenvolvendo um pensamento prprio que
excede o pensamento do Ser e a prpria estabilidade do mundo.
Para compreender a ontologia da obra de arte, Heidegger parte da noo de
instrumento com o intuito de analisar o carter de coisa na obra. Diz ele: Tudo que se
queira colocar entre a coisa e ns como concepo e enunciao sobre a coisa, precisa
ser antes afastado. (HEIDEGGER, 2010, p. 39)
Sua investigao sobre o carter da obra volta-se para um quadro da srie par
de sapatos, de Van Gogh. Ele observa que um determinado utenslio, quando tomado
24
em sua instrumentalidade, por exemplo, um par de sapatos qualquer em seu uso, faz
desaparecer seu carter de coisa-instrumento. Ou seja, a coisa-instrumento torna-se
invisvel quando destinada ao uso. Todavia, aponta Benedito Nunes que,
o que podemos perceber nesse espao vago, de cores empastadas, no
quadro de Van Gogh, como que se desprendendo da escura e sombria
intimidade do calado, o peso do couro, a fadiga das longas
caminhadas, a impregnao da terra, a solido do campo, a lida com a
semeadura e a silenciosa expectativa na sucesso dos dias. (NUNES,
1992, p. 255)
O que Heidegger quer ressaltar nesta relao do utenslio com a obra de arte a
possibilidade da abertura de um mundo que a obra traz: o mundo da camponesa.
Segundo o filsofo, a obra instala um mundo. A obra o espao onde se abre um
mundo.
No dizer de Nunes, somente a obra cria para ns o espao de abertura onde o
ser do utenslio a sua serventia, o seu carter de produto aparece ou se manifesta,
congregando a multiplicidade de relaes do mundo de que foi extrado e do qual nos
aproxima. (NUNES, 1992, p. 255)
Podemos ento dizer que o primeiro momento da investigao de Heidegger
sobre o originrio da obra de arte, diz respeito ao carter da obra que instala um mundo.
O segundo pe ao lado do mundo o conceito de Terra. Para ele: No que a obra instala
um mundo, elabora a Terra. A obra move e mantm a prpria terra no aberto de um
mundo. (HEIDEGGER, 2010, p. 115) Ou ainda: O instalar um mundo e o elaborar a
Terra so dois traos essenciais do ser-obra da obra. (HEIDEGGER, 2010, p. 115) O
conceito de terra elaborado a partir do exemplo do templo Paestrum.
De acordo com Benedito Nunes:
o templo grego, erguido no vale rochoso, e que encerrou a esttua de
um deus, congregou em torno dessa presena o espao do sagrado:
habitao da divindade circunscrita pela dureza da pedra, pelo
varivel brilho do mrmore, pelo rgido assentamento do edifcio na
rocha...o templo faz aparecer , contrastando a sua presena com a da
terra que toma por base e que nele se retrai, as coisas circundantes
25
com a s quais se delimita, articulando, em torno de si, as
potencialidades da lida humana, os fastos, a figura de um destino.
(NUNES, 1992, p. 256)
O templo de Paestrum significa, para Heidegger, o resultado da terra elaborada
representando o acontecer historial da verdade. E isto o que d origem a obra de arte.
Ou seja, a obra d lugar ao choque entre mundo e terra. A clareira que se abre nas coisas
a possibilidade de se instalar um mundo, e a terra elaborada sua concretizao.
Portanto, o quadro de Van Gogh e o templo de Paestrum so descritos, em sua
verdade, como o embate entre mundo e terra, que tem o carter de velamento
iluminador, segundo o jogo de luz e sombra. (NUNES, 1992, p. 256) Ou ainda, nas
palavras de Heidegger: A verdade quer instaurar-se na obra enquanto embate do
mundo e da terra. (HEIDEGGER, 2010, p. 51)
Se Heidegger acredita que a obra de arte tem como caracterstica a conciliao
do combate entre Terra e Mundo como um repouso, uma morada das coisas, Blanchot,
por sua vez, em sua concepo da obra de arte, tem outra viso. O espao literrio de
Blanchot, afirma Lvinas,
no tem nada em comum com o mundo heideggeriano que a arte torna
habitvel. Segundo Blanchot, a arte, longe de esclarecer o mundo,
deixa perecer o subsolo desolado, cerrado toda luz, que o sustenta,
d a nossa estncia sua essncia de exlio, e as maravilhas de nossa
arquitetura sua funo de cabanas no deserto. Para Blanchot, como
para Heidegger, a arte no conduz (ao contrrio da esttica clssica) a
um mundo atrs do mundo, a um mundo ideal atrs do mundo real. A
arte luz. Luz que para Heidegger vem do alto criando o mundo,
fundando o lugar. Negra luz para Blanchot, noite que vem de baixo,
luz que desfaz o mundo reconduzindo-o sua origem, a reverberao,
o murmrio, ao rumor incessante, a um profundo antanho, antanho
jamais esgotado. A busca potica do irreal a explorao do fundo
ltimo do real. (LEVINAS, 1975, p. 23)
Para Blanchot, a arte implica muito mais o silncio do mundo, a neutralizao
do que h de usual e de atual no mundo. A exigncia da obra atenua as noes de valor,
de utilidade e, portanto, o mundo, como medida de valor, se dissolve.
26
A arte essa paixo subjetiva que no quer mais revelar-se ao mundo.
Aqui, no mundo, reina a subordinao aos fins, medida, seriedade
e ordem aqui, a cincia, a tcnica, o Estado aqui a significao, a
certeza dos valores, o Ideal do Bem e do Verdadeiro. A arte o
mundo subvertido: a insubordinao, a exorbitncia, a frivolidade, a
ignorncia, o mal, o absurdo, tudo isso lhe pertence, domnio extenso.
(BLANCHOT, 2011a, p. 217)
Ainda assim, Blanchot, seguindo a esteira de Heidegger, reflete sobre o utenslio
e sua serventia. Importa a ele demonstrar que a arte se afasta do que interessa vida
ativa, do que utilizvel. Blanchot ressalta que no utenslio a prpria matria no
objeto de interesse, e quanto mais a matria se faz adequada ao seu uso mais ela perde
sua importncia como matria. O objeto em si torna-se voltil, observa ele, pois o que
interessa seu uso, sua funo. Deste modo, ele se atm ao fato de que a obra de arte
no possui compromisso com a utilidade.
Seguindo ainda a interpretao de Heidegger, Blanchot observa que na obra de
arte o que aparece justamente o que no objeto usual passa despercebido. A matria de
que feita a obra de arte o espao onde ela alcana seu brilho. Se o escultor se serve
da pedra tanto quanto o pedreiro, o primeiro utiliza-a de modo tal que ela no atende a
nenhum tipo de necessidade no feita para servir, para ser consumida, no tem uma
utilidade. Essa negativa quanto a subordinao ao uso leva a obra de arte a afirmar-se
por um outro caminho: aquele que conduz a ela prpria. Assim, segue Blanchot, a
esttua glorifica o mrmore. (BLANCHOT, 2011a, p. 223).
Ele diz ento: A obra eminentemente aquilo de que feita, o que torna
visveis ou presentes sua natureza e sua matria, a glorificao de sua realidade: o ritmo
verbal no poema, o som na msica, a luz convertida em cor na pintura. (BLANCHOT,
2011a, p. 223).
Ao procurar reconhecer os principais traos da obra de arte, Blanchot atenta para
este em que a obra est voltada a si mesma. o que ele chama de um retorno ao seu
27
fundo elementar. Esse fundo elementar, por sua vez, Blanchot designa como sendo a
profundidade e a sombra do elemento, que as artes iluminam na aparncia que do
matria de que so feitas, matria qual os objetos usuais no fazem aluso. Entretanto,
ele observa ainda que somente essa considerao de que a obra est voltada ao seu
fundo elementar, ou seja, de que a obra reala a matria que a constitui, insuficiente
para que se compreenda a obra como arte. Certamente, a obra atrai seus elementos para
que se manifestem, no entanto, ao se manifestarem, revelam sua obscuridade elementar,
reafirma ele. Ao tornar essa obscuridade essencialmente presente, a matria liberada, e
no dissipada como no objeto usual que no a afirma. Ao fazer-se visvel em sua
transparncia, como o ter, a obra torna-se o que desabrocha e se expande, o que se
aviva, o momento supremo da apoteose. (BLANCHOT, 2011a, p. 226)
Quando a obra se produz, mesmo sendo a matria que aparece, no somente a
afirmao desta que pressentida, isto , no unicamente a pedra e o mrmore que
aparecem na escultura, algo mais evocado. A arte presente na obra algo que
sentimos na potncia do abalo que brilha aos nossos olhos, escreve Blanchot (2011a, p.
228)
Neste ponto de sua reflexo, podemos perceber por onde se d o afastamento
que Blanchot parece querer indicar em relao concepo heideggeriana de obra. No
texto Terra movedia, horrvel, delicada, ele escreve:
Assim, a obra orienta-nos para o fundo de obscuridade que no
pensamos ter designado ao chamar-lhe elementar, que no
certamente natureza, pois natureza sempre o que j se afirma como
j nascida e formada, que Ren Char interpela, sem dvida, quando
alude terra movedia, horrvel, delicada, que Holderlin chama de
Terra Me, a terra fechada em seu silncio, aquela que subterrnea e
se retira em sua sombra, a que Rilke se dirige assim: Terra, no o
que tu queres, invisvel em nos renascer? e que Van Gogh nos mostra
mais fortemente ainda ao dizer: Estou ligado a terra. Mas esse
nomes mticos, potentes por si mesmos, continuam sendo estranhos ao
que denominam. (BLANCHOT, 2011a, p. 244)
28
A obra, para Blanchot, no fixa um mundo elaborado na terra, no assegura
nenhuma presena, ela , ao contrrio, inatingvel, interminvel, incessante. O que a
obra instala no , como sugere Heidegger, uma residncia, um repouso. Para Blanchot,
quando a obra alcana a arte nos defrontamos com a intimidade e a violncia de
movimentos contrrios que nunca se conciliam e no se apaziguam enquanto, pelo
menos, a obra obra. (BLANCHOT, 2011a, p. 227).
Portanto, enquanto Heidegger, dando continuidade fenomenologia husserliana,
apoia sua investigao sobre a ontologia da obra num paradigma de visibilidade, de luz,
de desvelamento, Blanchot afirma, por outro lado, que a experincia da escrita uma
experincia noturna. Para ele, a escrita comea quando se subtrai ao domnio da luz, ao
imprio do visvel, soberania do Universal, e segue em direo sua essncia que
propriamente desoeuvrement.
29
3. TRS NOES PARA SITUAR A IDEIA DE OBRA EM BLANCHOT
3.1 O Desobramento
3.1.1 O dia, a noite
Se o pensamento de Heidegger, em torno da arte, pde ainda ressoar nas
concepes de Blanchot sobre a experincia da escrita, a bifurcao que toma o
pensamento de nosso autor leva-o em outra direo. Blanchot nos introduz a noo de
desoeuvrement, e, para compreend-la
1
partiremos de um conto de Kafka.
No conto, o personagem de Kafka decide cavar um buraco para construir sua
casa em baixo da terra, na esperana de abrigar-se e proteger-se contra possveis
inimigos que pudessem atingi-lo fatalmente. Ao construir sua morada ali, ele acredita
estar seguro contra os riscos do mundo exterior. No entanto, ele descobre que est
exposto, cada vez mais, a uma outra ameaa: o mundo subterrneo. Este conto alude
ideia de perda do cho, ideia do abismo que se abre sempre mais profundamente
quele que vive uma experincia noturna, subterrnea, obscura essncia da
experincia artstica, ou literria, como a concebe Blanchot. Ou seja, aquele que
pretende refugiar-se acaba escavando o prprio solo, e no obtm de seu refgio a
segurana esperada, a luz almejada. Experincia noturna algo que acontece
similarmente no domnio literrio.
Segundo Pelbart,
1
Acompanhamos aqui o comentrio de Peter Pl Pelbart em Da clausura do fora ao fora da
clausura, no captulo intitulado A toca de Kafka. Para o termo dsouvrement, de Blanchot,
adotaremos desobramento, de acordo com a traduo de Pelbart.
30
Blanchot parece querer indicar que a obra s pode ser erigida sobre a
dissoluo de sua prpria base. O fundamento da obra acaba sendo
o abismo aterrador com o qual (e contra o qual) ela foi construda, e
sobre o qual ela se sustenta por um instante ao menos, na iminncia,
sempre, de ser engolfada de vez. Forando um pouco diramos que a
essncia da obra aquilo que a constitui, seu cho, sua condio,
seu destino, seu movimento mais prprio sua runa. O ser da
obra runa do ser. (PELBART, 2009, p. 73)
Para entender o que quer dizer Blanchot ao abordar a essncia da obra como sua
prpria runa, ou como desobramento, Pelbart retoma o termo de Blanchot e vai ao seu
significado literal em francs: ociosidade, preguia, inao, isto , um estado alheio ao
trabalho e a seu fruto, que a obra. (PELBART, 2009, p. 73) Para ele, dsoeuvrement
no significa apenas um contraponto obra que, por sua vez, remete atividade,
construo, edificao. O desobramento no deve ser entendido como uma oposio
simtrica obra. O termo evoca uma passividade, porm uma passividade ativa, efetiva.
Diz ele:
Um jogo de palavras de Blanchot diz mais do que qualquer definio:
passivit, passion, pass, pas. O pas recusa e passo, negativo e
marcha. O pass o passado imemorial que retorna, dispersando
presente e futuro. A passion a paixo, o estar fora de si. E a passivit
tudo isso, inquietude febril, que no ruminar do imemorial recusa o
ser e vai mais alm ou mais aqum dele. (PELBART, 2009, p. 73)
H uma passividade, uma passibilidade no prprio fazer da experincia, que faz
com que ela se torne, no fundo, e ao mesmo tempo, uma experincia de desobramento e
no s de construo, de trabalho, de atividade.
Blanchot ressalta ento a dimenso noturna dessa experincia: A obra atrai
aquele que se consagra para o ponto onde ela prova de sua impossibilidade.
Experincia que propriamente noturna, que aquela prpria da noite. (BLANCHOT,
2011a, p. 177)
Essa experincia noturna, Blanchot ir desdobrar ao distinguir dois tipos de
noite.
31
A primeira a noite como a conhecemos, essa em que o dia termina. Noite do
sono, do descanso, do silncio, da escurido. Para Blanchot, h nessa primeira noite a
esperana de encontrar uma verdade, ela uma promessa de segurana, como se, ao
terminar o dia, a noite que toma o seu lugar pudesse proporcionar um descanso, um
sono tranquilo, um repouso. Portanto, essa noite que finda o dia ainda parte do dia,
uma realizao do dia. Porm, segundo Blanchot, quando se entende a noite oposta ao
dia, ou seja, como se a escurido da noite fosse o outro lado da luz do dia, a noite sofre,
ento, os mesmos mecanismos que envolvem as leis do dia. Se a noite serve ao dia, ela
passa a corresponder a uma verdade, a uma lei, a uma esperana.
Entretanto, a experincia noturna, experincia prpria da arte, no atende a
nenhuma lei, no esclarece nenhuma verdade, no oferece nenhuma segurana do
mesmo modo a toca no conto de Kafka. A toca do animal uma obra elaborada, que
envolve trabalho e esforo para alcanar um lugar seguro, longe das ameaas do mundo
de fora. Porm, a toca subterrnea, que parecia oferecer segurana e conforto, se
transforma num constante rudo ameaador.
Quanto mais a toca parece solidamente fechada do lado de fora, maior
o perigo de que seja encerrado com o exterior, que seja entregue ao
perigo sem sada, e quando toda ameaa estranha aparece afastada
dessa intimidade perfeitamente fechada, ento a intimidade que se
torna a estranheza ameaadora, ento anuncia-se a essncia do perigo.
(BLANCHOT, 2011a, p. 183)
Ou seja, a primeira noite acolhedora, o fim de um projeto dirio, nela
descansamos. J a segunda, a outra noite, sem intimidade, sem descanso, ameaadora.
Aquele que entra na primeira noite o faz em busca de sua intimidade mais profunda,
mas num certo momento ouve a outra noite. Como o animal de Kafka que, ao tentar se
proteger dos rudos do mundo de fora, acaba ouvindo um rudo outro, aquele do mundo
debaixo. O que ele ouve a outra noite, ouve-se a si mesmo, ouve o eco eternamente
repercutido de sua prpria caminhada, caminhada na direo do silncio, mas o eco -
32
lhe devolvido como a imensidade sussurrante, rumo ao vazio, e o vazio agora uma
presena que vem ao seu encontro. (BLANCHOT, 2011a, 184) O que o animal de
Kafka pressente nessa ameaa, nessa distncia que se aproxima, segundo Blanchot, ele
prprio, pois
se ele pudesse uma vez encontrar-se com sua presena, o que
encontraria sua prpria ausncia, ele mesmo mas transformado no
outro, que no reconheceria, que no encontraria. A outra noite
sempre o outro, e aquele que o ouve torna-se outro, aquele que
aproxima distancia-se de si. (BLANCHOT, 2011a, p. 184)
Assim, aquele que segue em busca do que lhe poderia inspirar para a obra ouve,
ainda que seja a si mesmo, sua intimidade tornada outra. Um estado de alteridade
absoluta. O que Blanchot ressalta que ao tentar encontrar a intimidade na obscuridade
da noite atravs de um trabalho, de uma esperana, de um projeto de obra, o que se
encontra algo de incessante, inseguro, inessencial. esta a prpria essncia da
experincia literria, ou mesmo dessa outra noite: essncia sem essncia, sem verdade
ou sem fim, que s acessvel como o inacessvel, s visvel como o invisvel, s
dizvel como o indizvel.
A essncia noturna, ou o desobramento que Blanchot nos prope pensar, o que
atrai aquele que deseja realizar a obra para o ponto onde ela se torna sua prpria
impossibilidade como o olhar de Orfeu no mito.
3.1.2 A origem, a runa da obra O olhar de Orfeu
Escrever comea com o olhar de Orfeu e esse olhar o movimento do desejo
que quebra o destino e a preocupao do canto e, nessa deciso inspirada
e despreocupada, atinge a origem, consagra o canto.
Blanchot. O espao literrio.
33
Na apresentao dO espao literrio, Blanchot escreve que todo livro possui
um centro que atrai aquele que escreve, e no caso de um livro de esclarecimentos, como
este, h uma espcie de lealdade metdica a declarar na direo daquele ponto para o
qual parece que o livro se dirige: aqui, na direo das pginas intituladas O Olhar de
Orfeu. (BLANCHOT, 2011a, prefcio). Ora, no parece curioso que o centro, para o
qual Blanchot remete seu livro sobre a experincia da escrita, consista justamente num
mito? Em que medida um mito poderia esclarecer uma dimenso to complexa como a
da escrita, j que o mito, ele mesmo, realidade ambgua, abordada e interpretada de
maneiras as mais diversas? Mas ento, no ser essa mesma caracterstica que Blanchot
talvez queira ressaltar na experincia da escrita literria?
3.1.3 O Mito de Orfeu
O mito de Orfeu foi inicialmente difundido na regio da Trcia, na Grcia, por
volta do sec. VII a. C. (PISEN, 1982) Orfeu era filho de Calope, musa da poesia pica,
e do deus Apolo, que lhe dera de presente uma lira mgica. Dizia o mito que Orfeu com
sua lira mgica encantava a todos e a tudo em sua volta. Mares, rios, rvores, at as
pedras danavam ao som de sua msica. Orfeu amou Eurdice, mas no dia de seu
casamento ela foi picada por uma serpente e morreu. Inconformado com a morte de sua
amada, ele decide descer ao mundo dos mortos em busca de Eurdice. Oferecendo seu
canto a Hades, deus do mundo inferior e dos mortos, Orfeu pede que ele deixe Eurdice
voltar. Persfone, esposa de Hades, que sempre interferia em favor dos heris e dos
mortais, implorou a ele que atendesse ao pedido de Orfeu. Hades o fez impondo uma
34
nica condio: que Orfeu no olhasse para Eurdice, que o seguia, at que eles
alcanassem a superfcie. Mas Orfeu, j bem prximo ao mundo dos vivos, volta-se
para trs e olha Eurdice. Neste mesmo instante, Eurdice sugada de volta ao abismo e
Orfeu a perde outra vez.
O culto encantado de Orfeu atraiu muitos escritores, poetas e artistas em todas as
pocas. Os primeiros escritos de que temos registro esto nas Gergicas de Virglio.
J vinha desandando o lbrego caminho,
redivivo ao prazer, e salvo dos azares.
Restituda a seus ais, volvia aos puros ares
trs ele, a no olhada, Eurdice. Tal era
a clusula que o dom Prosrpina impusera
Alucina-se o amante (insnia perdovel,
se couberam perdes no abismo inexorvel!)
pra, j quase luz...esquece...oh! luto
sua Eurdie encara, e esvai-se lida o fruto!...
Do Averno o cru tirano o pacto h rescindido,
E trs vezes sai do Orco um lgubre estampido,
coa a voz dela por meio:
Orfeu, que amor foi este?
Msera! A mim, e a ti, coo teu furor perdeste!
O fado me revoca! Ai! Sinto os olhos meus
outra vez a nadar no sono eterno...Adeus!..
Fora estranha me empuxa! a negrido me cerca!
tendo-te embalde as mos! fora que te perca!
(VIRGLIO, Gergicas, livro IV, p. 97)
3.1.4 O olhar de Blanchot para o mito
No mito de Orfeu, segundo Blanchot, o primeiro momento da experincia
artstica se d na descida de Orfeu, com sua lira mgica, ao mundo dos mortos. O
movimento do artista que segue em busca de sua obra ocorre, inicialmente, como um
35
mergulho em uma zona que, do mesmo modo como Orfeu a experimentou, obscura,
incerta, indefinida. No caso do escritor, ao lanar-se no movimento da escrita no
encontra a nenhuma estabilidade, certeza ou clareza. Orfeu consegue adentrar o mundo
dos mortos, o mundo subterrneo de Hades, juntamente com sua msica, e assim
acolhido por Persfone. Isso alude ao fato de que existe uma potncia iniciadora da arte
que conduz, aquele que se dedica sua obra, para um outro mundo
2
. Um mundo
obscuro onde no h mais a segurana, onde j no reina a luz.
Ainda assim, Blanchot afirma que este apenas o primeiro momento da
experincia, pois, ainda que o canto seja o catalisador que lana Orfeu em sua jornada, a
obra no se realiza apenas pelo movimento de descida para este outro mundo. Para
ele, aquele que deseja realizar uma obra segue em busca de um ponto extremo, ponto
obscuro, assim como foi Eurdice, encoberta pelas sombras da noite, para Orfeu. Na
experincia da escrita, indica Blanchot, existe um ponto central, e aquele que escreve o
faz por desejo, mas tambm o faz na ignorncia desse centro. Eurdice foi para Orfeu
esse ponto central que atraiu o seu desejo.
Como foi dito, depois de ter enfrentado a noite e as profundezas do
desconhecido, Orfeu consegue aproximar-se de seu ponto extremo. E ao seduzir
Persfone com seu canto, ele ganha a permisso para trazer Eurdice de volta ao mundo
dos vivos, como era seu desejo. Porm, o mito impe uma condio: Orfeu no poderia
olhar sua amada de frente, durante o trajeto de volta. Foi essa a lei imposta a ele.
No tocante a escrita, Blanchot nos diz que esse ponto para o qual tende o desejo
daquele que escreve , em si mesmo, inapreensvel, e jamais se revela ao autor. No
entanto, s se realiza uma obra, segue Blanchot, se houver o desejo de atingi-lo, ainda
2
Sobre o outro mundo, ver o captulo III desta dissertao.
36
que seja inapreensvel, e a iluso de t-lo atingido o que pode evidenciar a runa da
obra. Assim foi para Orfeu: no limiar de realizar sua obra, ele se volta e olha Eurdice
de frente. No mesmo instante ele perde Eurdice e arruna sua obra.
O mito grego diz que no se pode realizar uma obra se a experincia da
desmedida for levada adiante por si mesma. A descida de Orfeu ao inferno j constitui
uma ao desmedida, e a lei a ele imposta traa o limite, medida que ele no poderia
ultrapassar. No entanto, Orfeu a ultrapassa e punido. Para Blanchot, o mito pune
Orfeu pelo erro de ter cedido impacincia do desejo de ver e possuir Eurdice, e o
mundo o condena por ter transgredido a lei. Pois, para os gregos, o mito quer mostrar os
limites que no se deve ultrapassar se se quiser realizar uma obra.
Eis o ponto que marca o encontro da interpretao de Blanchot sobre o olhar de
Orfeu com o que nosso autor quer esclarecer a respeito da experincia que realiza a obra
de arte. Ele acredita que inevitvel Orfeu esquecer a lei tanto quanto a obra que deve
realizar, pois sua exigncia ltima no que haja obra, e sim olhar Eurdice de frente,
captar a essncia desse ponto que atrai o seu canto.
Dessa forma, Blanchot nos coloca diante do seguinte paradoxo: aquele que
deseja realizar sua obra segue em direo a um ponto obscuro para captar lhe a essncia,
mas a obra jamais revela esse ponto frontalmente. Blanchot nos diz ainda da
inevitabilidade de Orfeu se lanar nesse olhar, pois essa sua exigncia ltima. Como,
ento, entregar-se a sua exigncia ltima e ainda assim realizar sua obra?
O movimento que leva Orfeu a olhar Eurdice de frente a inspirao.
Movimento desmedido, despreocupado, impaciente, mas que libera o desejo para
realizar a obra. Cantar eternamente a falta de Eurdice, essa era a obra de Orfeu. O
canto diz um Orfeu desejante de Eurdice que lhe falta. (BLANCHOT, 2011a, p. 188)
37
Na experincia da escrita, do modo como Blanchot a concebe, a obra s atinge a
sua consagrao quando deixa de ser a preocupao do escritor, e este segue em direo
ao ponto que o inspira, mesmo que isso possa significar a sua runa. A obra se realiza
quando liberada da preocupao. Para o escritor,
como se renunciar derrota fosse muito mais grave do que renunciar
ao xito, como se aquilo a que chamamos o insignificante, o no
essencial, erro, pudesse, quele que lhe aceita o risco e se lhe entrega
sem reservas, revelar-se como a fonte de toda autenticidade.
(BLANCHOT, 2011a, p. 189)
De acordo com Blanchot, Orfeu no queria Eurdice ao seu lado em uma vida
familiar, acordada pelas verdades do dia, regidos por uma lei, envoltos por um certo
cotidiano.
Ao entregar-se a esse movimento sem medida, que o lana nesse olhar, Orfeu
est agindo consoante ao seu desejo, e, talvez, seja este mesmo o seu destino. Ele
sacrifica toda a glria de sua obra para olhar Eurdice de frente, quando ela ainda o
seu desejo, quando ela ainda lhe falta.
Logo, o olhar de Blanchot para o mito marca a profundidade da experincia e o
ponto que sinaliza o acontecimento onde o desejo mira seu alvo frontalmente, onde a
desmedida prossegue a si mesma. Em suma, onde a obra arruinada e ao mesmo tempo
se consuma, pois o ser da obra a runa do ser. (PELBART, 2009, p. 73)
Assim como Orfeu transgrediu a lei no mito, da mesma forma preciso que na
experincia da escrita o escritor renegue tudo, a arte, a obra, a literatura; preciso que
tudo isso no signifique mais nada diante daquilo que ele deseja entrever, o
desconhecido que deseja captar. Entretanto, no h garantia de que esse desejo que o
move, que o inspira, que o atrai, leve a obra sua consagrao.
A atrao que a inspirao exerce, tanto sobre a obra quanto sobre aquele que a
ela se dedica, nada pode assegurar. por isso, segue Blanchot, que a obra resiste com
38
tanta frequncia e com tanta fora ao que a inspira e a atrai. por isso que a obra se
protege, dizendo a Orfeu: Tu s me conservars se no a olhares. (BLANCHOT,
2011a, p. 173)
No entanto, tudo se joga na deciso do olhar. O movimento inspirado de Orfeu
atende, sobretudo, exigncia mais profunda da obra. Mesmo sabendo que seu desejo
pode arruin-lo, o artista inspirado se lana de tal modo que todas as suas certezas e
seguranas so relevadas em favor deste ato de imprudncia e despreocupao total, e
ento que se abre a ele a possibilidade de realizao da obra.
3.1.5 A inspirao, o risco
Olhar Eurdice, sem se preocupar com o canto, na impacincia e
imprudncia do desejo que esquece a lei,
isso mesmo a inspirao.
Blanchot. O espao literrio.
A reflexo de Blanchot sobre a inspirao na obra implica uma difcil questo: a
inspirao , pois, o momento problemtico em que toda a importncia da obra, toda a
investida do artista ento posta em risco? Nada mais interessa ao artista a no ser o ato
despreocupado, impulsivo e imprudente do desejo que o inspira? E Blanchot admite:
No pode ser de outro modo. Da inspirao, s pressentimos o fracasso, apenas
reconhecemos a violncia extraviada. (BLANCHOT, 2011a, p. 174)
O momento da inspirao introduz na obra o movimento de despreocupao em
que ela sacrificada: a lei ltima da obra infringida em favor do desejo. A obra exige
que no nos preocupemos com ela, que no a busquemos como um objetivo, que
39
tenhamos com ela uma relao de despreocupao e negligncia. Isto , a inspirao
atende ao desejo, que esquece a lei e segue despreocupadamente por um movimento que
a pe em risco, porm, esse ato despreocupado, ligeiro e inocente, no carrega nem o
peso nem a gravidade de um ato profanador. Vemo-nos aqui diante de duas questes a
serem esclarecidas. A questo do risco e a do desejo despreocupado e negligente.
Primeiramente tratarei do risco da obra, e no prximo tpico, seguirei em direo ao
desejo impulsivo de Orfeu.
Notemos ento que o sacrifcio que a obra exige de quem a escreve no aquele
de uma simples dedicao formal, em que o esforo pudesse realiza-la sua medida.
Quando se diz que o escritor deve viver para escrever, que o artista deve sacrificar tudo
para atender s exigncias da arte, ainda assim no se exprime o risco que est em jogo.
Pois no que a obra no exija daquele que a possibilita um esgotamento para edific-
la, mas, dir Blanchot, o risco do artista que tambm o risco da obra.
Para ele, a escrita exige uma relao ameaadora do escritor com sua obra. No
entanto, na maioria das vezes, entende-se que o perigo que ele corre o de exilar-se
das dificuldades do tempo e do trabalho no tempo sem renunciar, porm, ao conforto do
mundo nem s facilidades aparentes de um trabalho fora do mundo. (BLANCHOT,
2011a, p. 47) Em outras palavras, o risco o de que todo artista encontre em seu
trabalho um meio cmodo de viver, e assim se subtraia realidade, seriedade,
dificuldade da vida, e passe a se interiorizar no espao fechado de sua obra como se l,
em sua soberania, e agindo por si s, sem intervenes, ele pudesse vingar-se de seus
fracassos na sociedade. Como se na arte, ou na literatura, ele pudesse proteger-se do
mundo onde agir difcil, para encontrar conforto num mundo irreal sobre o qual ele
reinasse absolutamente.
40
Muitos artistas, escritores, poetas, do a impresso de serem pessoas mais
sensveis, frgeis, como se fossem menos capazes de viver num mundo de
objetividades. Talvez isso realmente acontea com frequncia, repara ainda Blanchot,
mas vale acrescentar que esses homens fracos so fortes no que tm de fraco. Para estes
homens surge uma fora nova a cada vez que eles se veem no ponto extremo de sua
fraqueza. Quando envoltos em sua obra, a exigncia que a obra torna-os fortes na sua
fraqueza, liberando-os para que se percam do mundo e de si prprios.
o artista que se entrega aos riscos da experincia que a dele, no se
sente livre do mundo, mas privado do mundo, no senhor de si
mesmo, mas ausente de si mesmo, e exposto a uma exigncia que, ao
repeli-lo para fora da vida e de toda vida, torna-o vulnervel a esse
momento em que nada pode fazer e j no ele prprio.
(BLANCHOT, 2011a, p. 47)
Na concepo de Blanchot, aquele que escreve a obra apartado, ao deixar-se
tomar pela exigncia que o leva a escrever ele dispensado de sua prpria identidade. A
obra se afirma de forma annima, impessoal. O escritor no tem o domnio sobre ela.
Ao exprimir-se na obra, o autor no manifesta a certeza das coisas e dos valores
segundo suas prprias experincias de vida, isto , aquilo que ele escreve no
exatamente o que ele absorve do mundo, limitado pelos prprios sentidos que acredita
dar aos acontecimentos de sua vida. Aquele que escreve, ao contrrio, perde a
autoridade sobre o que escreve.
Blanchot observa que a obra no de modo algum, para aquele que se pe a
escrever, um espao fechado no qual ele permanece em seu eu, protegido e seguro, ao
abrigo das dificuldades da vida. Talvez o homem at considere estar protegido contra o
mundo, mas para expor-se a uma ameaa muito maior e mais perigosa, porque ela vem
de fora, do fato de que ele se mantm no fora.
41
3.2 O Fora
3.2.1 O desejo, a atrao
O Fora ou o Exterior
3
, no pensamento de Blanchot, uma ideia fundamental
para pensar a obra. Ele nos fala de uma escrita que comea a partir de um exterior vago
e vazio, o prprio Fora. Para nos aproximarmos dessa relao com o Fora, iremos agora
em direo ao desejo despreocupado e negligente de Orfeu, no mito.
Do modo como Blanchot o considera, o desejo que inspira a obra est vinculado
atrao. Porm, preciso entender, de acordo com o comentrio de Foucault, no texto
O Pensamento do Exterior, o sentido que tem a atrao para Blanchot
a mais pura e desnuda experincia do exterior [...] a atrao, tal como
a entende Blanchot, no se apoia em nenhum charme, no rompe
nenhuma solido, no estabelece nenhuma comunicao positiva. Ser
atrado no ser incitado pela atrao do exterior, antes
experimentar, no vazio e no desnudamento, a presena do exterior e,
ligado a essa presena, o fato de que se est irremediavelmente fora do
exterior. (FOUCAULT, 1994, p. 227)
A atrao evidencia, esclarece Foucault, um exterior aberto, sem intimidade,
sem proteo, sem moderao. Uma abertura qual no possvel ter acesso, pois o
exterior jamais libera sua essncia, no se oferece como uma presena positiva que se
possa alcanar. Ao contrrio, o exterior se mostra como a ausncia que se retira; um
espao que se esvazia para dar a possibilidade de que se avance em sua direo.
A atrao no tem nada a oferecer exceto o vazio que se abre a cada vez, sempre
mais e mais, quele que atrado como foi para Orfeu seu olhar condenado morte, e
para o escritor a busca pelo desconhecido que ele deseja entrever.
3
O conceito de Dehors, em Blanchot, traduzido por alguns autores como Fora e por outros como
Exterior. Usarei aqui ambas as verses, de acordo com a traduo utilizada em cada momento.
42
Observa Foucault (1994) que a atrao tem como correlativo necessrio a
negligncia. Para poder ser atrado, diz ele, deve-se ser negligente. Negligente no
sentido de despreocupar-se de tudo quanto sua vida significa, esta que se ampara na
segurana do dia e dos projetos objetivos, para se lanar nesse exterior que nada tem
para oferecer ao certo. Pois esse lado de fora, para onde aponta o espao aberto da obra,
sem intimidade e sem repouso. A obra exige do escritor um distanciamento que o
despoja de si, um descolamento de sua prpria identidade para que ele possa abrir-se a
esse lugar onde se anuncia a afirmao impessoal da obra. Pois somente
no interior da obra que se encontra o fora absoluto-exterior radical
prova do qual a obra se forma, como se o que est mais fora dela fosse
sempre, para aquele que escreve, seu ponto mais ntimo, de modo que
ele precisa, por um movimento muito arriscado, ir incessantemente at
o extremo limite do espao, manter-se como que no fim de si mesmo,
no fim do gnero que ele acredita seguir, da histria que acredita
contar, e de toda escrita, ali onde no pode mais continuar: ali que
ele deve ficar, sem ceder, para que ali, em certo momento, tudo
comece. (BLANCHOT, 2005, p. 131)
3.2.2 O exlio, o fora
Em alguns dos textos nos quais Blanchot escreve sobre a experincia da escrita,
ele a associa poesia
4
. Ao tratar da poesia, Blanchot nos fala de uma condio potica
que corresponde ao exlio. O escritor ento aquele que pertence ao exlio, diz ele, pois
no ato da escrita ele est sempre fora de si. O exlio , na condio potica, uma espcie
de no-lugar onde aquele que a se encontra est ausente de si e de qualquer relao
com um espao emprico.
Para Blanchot, na poesia, a palavra se desdobra de forma soberana, desenvolve-
se a partir de si mesma. Ao invs da palavra corresponder a uma interiorizao, a uma
4
Em alguns casos irei me referir poesia e em outros a literatura, quando essa relao for possvel.
43
psicologizao daquele que quer exprimir-se, ela se d, muito mais como uma
exteriorizao, uma passagem para fora. A linguagem, quando escapa da funo de
representar e significar, remete a um afastamento, um distanciamento, uma
diferenciao, uma disperso.
No texto O Pensamento nmade, como j mencionado na introduo deste
trabalho, Deleuze referindo-se a Blanchot como o autor que evidenciou na escrita de
Nietzsche essa relao com o Fora mostra do que se trata essa experincia.
Como observa o filsofo, quando se abre ao acaso um texto de Nietzsche no se
passa mais por uma interioridade, seja a interioridade da alma, da conscincia, da
essncia ou do conceito, ao invs disso o pensamento que ali aparece posto em relao
imediata com o exterior. Os aforismos de Nietzsche nos tocam, assim como nos toca
uma pintura quando apreciamos um quadro. Ambos esto sob um enquadramento
fechado, mas tanto no quadro quanto no aforismo a beleza que encontramos vem do que
se sabe e se sente, e isso se revela em um movimento que atravessa os limites da obra,
seja ela escrita ou pintada. As linhas que ali esto presentes parecem vir de fora e ir para
fora, observa Deleuze; elas no se reduzem a delimitao de uma forma, ao contrrio, o
que se v uma relao com o fora.
Os aforismos de Nietzsche so
atravessados por um movimento que vem de fora, que no comea na
pgina do livro nem nas pginas precedentes, que no cabe no quadro
do livro, e que absolutamente diferente do movimento imaginrio da
representao ou do movimento abstrato dos conceitos tais como eles
acontecem habitualmente atravs das palavras e na cabea do leitor .
Alguma coisa salta do livro, entra em contato com um puro exterior.
(DELEUZE, 1985, p. 61)
Na literatura, autores como Kafka e Beckett fogem da tendncia de usar a escrita
para exacerbar a interioridade do sujeito como forma de comunicar os sentimentos
interiores a angustia, a solido, a culpa , como se pode observar na maioria das obras
44
literrias ditas romnticas, por exemplo. Ao contrrio, o que se percebe nesta literatura
em que o pensamento se abre ao exterior , entre outras coisas, uma certa tendncia ao
riso.
A obra dos autores citados, assim como a escrita de Nietzsche, provoca um riso
alegre, irnico, solto, liberado da subjetividade do homem. O riso, e no o significante,
o que ocorre, observa Deleuze, quando o pensamento encontra esse Fora. O riso-
esquizo ou a alegria revolucionria o que sobressai dos grandes livros, ao invs de
angustias de nosso pequeno narcisismo ou terrores de nossa culpabilidade.
(DELEUZE, 1985, p. 64)
Voltemos agora a Blanchot para esclarecer o que vem a ser, para ele, essa
relao do autor com a obra sob a perspectiva do fora. Segundo ele, nessa experincia, o
sujeito destitudo de seu estatuto central de autor da obra, ele perde sua primazia,
apaga-se, anula-se, excludo dela para fazer aparecer o espao vazio, espao de uma
linguagem que fala; uma fala annima, impessoal.
Para aquele que escreve a obra, observa ainda Blanchot, o fora constitui uma
espcie de experincia original. O fora propriamente um espao sem lugar onde as
coisas ainda no so, onde tudo pode ainda acontecer, pois a literatura carrega uma
possibilidade sempre aberta em que nada ainda , e por ela tudo poder tornar a ser. A
tarefa do escritor , ento, buscar o momento que precede as palavras, aquele que ir
originar a criao.
Entretanto, o sentido que o termo origem carrega no pensamento de Blanchot
no significa um comeo, mas antes esse espao sem lugar, que no se apoia em algo
pr-existente, nem em uma verdade, nem em uma linguagem j falada ou verificada. A
origem como uma espcie de indeterminao, que libera a criao para que ela seja
essa possibilidade sempre aberta na obra.
45
Nesse sentido, a experincia do fora uma abertura para uma linguagem na qual
o sujeito, com seus afetos e sua subjetividade falante, se cala para que fale a prpria
linguagem. Na poesia ou na literatura a palavra que se manifesta, aparece em seu ser,
fala por si mesma.
por esse motivo que, para Blanchot, o poeta ou o escritor pertence ao exlio:
por manter-se fora, aqum e alm de uma vida de verdades pr-estabelecidas. Essa
experincia pede uma existncia neutra, nula, sem limites.
3.3 O Neutro
Na obra de Blanchot, seja no contedo de suas ideias, seja na forma de sua
escrita, o Neutro est permanentemente operando. Ainda assim, esta uma noo difcil
de ser formulada, pois escapa a toda possibilidade de ser delimitada dentro de um
conceito. Para nos aproximarmos dessa ideia seguirei duas vias distintas. Na primeira
procurarei demonstrar de que modo o Neutro opera na linguagem literria, tal como
Blanchot a concebe, e na segunda abordarei o que diz Blanchot a respeito de uma
relao neutra do autor com a obra.
No primeiro caso, parto das consideraes de Barthes (2003) a respeito do
Neutro. O autor nos fala do Neutro como algo que diz respeito ao nem... nem... nem
isto nem aquilo como se o Neutro operasse a maneira de uma recusa entre dois
termos, agindo sempre segundo o jogo da oposio, mas no se deixando definir em
nenhum dos polos opostos. Barthes considera que o Neutro funciona do mesmo modo
que uma mola do sentido. Isto , ao rejeitar as polaridades, no sendo nem isto, nem
aquilo, o neutro no se deixar definir, e assim provoca uma espcie de conflito de
46
sentido por meio do qual engendra a possibilidade de se produzir novos sentidos. O
neutro ento seria uma estratgia para escapar ao jogo do paradigma. (PELBART,
2009, p. 80), ao jogo da oposio.
Podemos observar ainda que o neutro remete ideia de neutralidade. Pois ele
no nem ativo, nem passivo, no entanto, o sentido que ele carrega, nas pginas de
Blanchot, deflagra uma outra instncia do Neutro. No fundo o neutro um estado
intenso (ou intensivo), que na sua discrio recusa uma oposio binria, mina a
polarizao que seu moto e arruna o sentido que ela gera. (PELBART, 2009, p. 80)
Esse desarmamento do jogo do paradigma, que o Neutro opera na linguagem,
pode ser visto na interpretao crtica de Blanchot do livro O Inominvel, de Samuel
Beckett.
3.3.1 O Inominvel
Blanchot afirma nO livro por vir, que O Inominvel, de Beckett, , para ele, o
livro mais importante para a literatura do que a maioria das obras ditas bem-
sucedidas, justamente porque se aproxima dessa regio neutra, regio da obsesso
impessoal.
O Inominvel (1953) o ltimo romance da trilogia qual pertencem ainda
Molloy (1947) e Malone morre (1948)
5
. Como observa Joo Adolfo Hansen, no
prefcio para a traduo brasileira de O Inominvel, estes livros so romances de
reflexo sobre o estado da fico e da arte na realidade do ps-guerra em 1948.
(HANSEN, 2009, p. 16) Hansen comenta que as transformaes que sofriam as relaes
5
As datas entre parnteses correspondem ao ano de concluso de cada romance.
47
humanas neste perodo tornava impossvel escrever romances sobre histrias de pessoas
excepcionais, que figurassem como heris ou mesmo anti-heris sofridos e trgicos,
pois a experincia subjetiva j se mostrava sem importncia face fora do capital que
avanava e imprimia sua influncia na relao entre os homens. nesse perodo de
mutao que O Inominvel aparece. Nele, Beckett inventa uma fala que elimina
padres, discursos, sentidos institudos e prope acontecimentos que se realizam fora do
controle das categorias de tempo e espao como estruturas prvias da narrativa.
A voz que fala em O inominvel sabe que qualquer fala sempre cheia de
coisas, de projetos, intenes, sentimentos. Esta voz no quer significar conceitos, no
quer se expressar. Cansada desta e de outras questes, ela fala para elimin-las.
Blanchot diz que, neste livro, h uma aproximao pura do movimento que vem
de todos os livros. A voz que fala nesta obra sem intimidade e sem repouso, e esta
propriamente a profundidade da experincia literria neutra. Em O Inominvel j no se
trata mais de uma narrativa sob a frmula de um monlogo interior. O que antes era
narrativa tornou-se luta, e isso se revela no esvaziamento das significaes e dos
sentidos, que resistem a qualquer determinao pressuposta. A voz, em O inominvel,
recusa-se a falar de acordo com as leis das instituies, sobretudo aquelas que
determinam as tradies da linguagem literria. Opor-se a linguagem resistir s
convenes narrativas que impedem que a experincia da escrita seja livre, diferente,
outra.
A linguagem, na obra de Beckett, no est a servio daquele que fala. E ainda
que esta voz diga Eu trata-se, porm, ressalta Blanchot, de um Eu annimo, sem
nome, sem identidade, sem corpo.
Mas quem seria ento esse Eu? Para Blanchot, considerar que quem fala ali
o autor seria apenas uma tentativa de diminuir o peso de uma situao que no se define
48
como fico nos moldes tradicionais, em que os personagens so sempre protegidos por
um nome prprio. Para aqueles que assim consideram, nota Blanchot, Beckett seria este
Eu unicamente como forma de garantir que h algum, uma existncia real para nos
poupar da infelicidade maior, a de ter perdido o poder de dizer Eu. (BLANCHOT,
2005, p. 312)
Diz Blanchot:
o inominvel precisamente uma experincia vivida, sob a ameaa do
impessoal, a aproximao de uma fala neutra que fala sozinha, que
atravessa aquele que a escuta, que sem intimidade, exclui toda
intimidade, e que no podemos fazer calar, pois o incessante, o
interminvel. (BLANCHOT, 2005, p. 312)
O autor foi arrastado para fora de si por exigncia da obra. Exps-se ao fora e foi
desapossado, desalojado, perdeu seu nome, tornou-se assim, o inominvel. No mais
aquele que ele era, mas outro, um outro que ningum, aberto ao que nunca antes foi
pensado, ouvido ou visto. Beckett perdeu o poder de dizer Eu.
3.3.2 Do Eu ao Ele uma relao neutra
Blanchot diz que o que h entre o autor e a obra uma relao neutra. Ela
aquela, dentre outras definies possveis, em que o sujeito no est. Mas como ocorre
essa estranha relao em que o sujeito no est?
Na apresentao do livro A Conversa Infinita 2, Blanchot escreve: o neutro, o
neutro, como isso me soa estranho. (BLANCHOT, 2007, s/p)
Esta afirmao mostra-nos a estranheza prpria que a noo de Neutro carrega.
O Neutro estranho quele que o exprime, ou ainda, em outras palavras, na condio
neutra o sujeito torna-se estranho, estrangeiro, desconhecido, annimo, impessoal. O
Neutro faz resvalar o Eu para fora da afirmao. O Neutro despossesso do Eu.
49
No entanto, preciso esclarecer que o Neutro no se limita a ser uma negao
do Eu, ele no opera negativamente para definir-se em outra polaridade. O que o
Neutro produz uma dupla negao (nem... nem...) conducente pluralizao do Eu.
Ou seja, a relao neutra expe o Eu a uma exterioridade absoluta: ao Fora.
A obra exige que o homem que escreve se sacrifique por ela, se torne
outro, se torne no um outro com relao ao vivente que ele era, o
escritor com seus deveres, suas satisfaes e seus interesses, mas que
se torne ningum, o lugar vazio e animado onde ressoa o apelo da
obra. (BLANCHOT, 2005, p. 316)
Kafka observa com surpresa, com prazer encantado que sua entrada para a
literatura se d no momento em que pde substituir o Eu pelo Ele, relembra
Blachot. Escrever ento quebrar o vnculo que une a palavra ao Eu, romper esse
elo.
Segundo Blanchot, para escrever preciso passar do Eu ao Ele, de modo
que o que me acontece no acontece a ningum. O escritor pertence a uma linguagem
que ningum fala, uma linguagem que no se dirige a ningum, que nada pretende
revelar. Pode-se at acreditar que algum se afirma nessa linguagem, mas aquele que
afirma est inteiramente privado de si. O Ele no glorifica a conscincia em outro que
no eu, o impulso de uma vida humana que, no espao imaginrio da obra de arte,
conservaria a liberdade de dizer Eu. Ele sou eu convertido em ningum, outrem que
se torna o outro.
Na experincia em que o autor convidado a retirar-se, a tornar-se neutro, toma
seu lugar esse Ele, que sobrevm ao escritor por intermdio da obra: a passagem
libertadora do Eu ao Ele, da auto-observao que foi o tormento de Kafka para uma
observao mais alta, elevando-se acima de uma realidade mortal, na direo do outro
mundo, o da liberdade. (BLANCHOT, 2011a, p. 68).
50
Por um lado, Kafka parece disposto a criar permanncia entre os homens,
exercer um trabalho, casar, constituir uma famlia; por outro lado, observa Blanchot,
principalmente depois que a doena lhe propiciou o cio, ele comea a ver que, para
escrever, deveria entregar-se ao fascnio da ausncia de tempo, a um outro tempo em
que nada comea, diz ele. Longe de ser um modo puramente negativo, essa ausncia de
tempo , pelo contrario, um tempo sem negao, sem deciso, onde aquele que a se
encontra est inteiramente exposto ao fora, ao fora deste mundo.
talvez deva dizer-se que o artista, esse homem que Kafka tambm
queria ser, em desvelo por sua arte em busca de sua origem, aquele
para quem no existe sequer um nico mundo, porque para ele s
existe o lado de fora, o fluxo do eterno exterior. (BLANCHOT, 2011a,
p. 79).
3.3.3 Por uma obra impessoal
As reflexes de Blanchot sobre a relao do autor com a obra apontam para uma
relao neutra. Veremos agora o papel do leitor, nos moldes de nosso autor, e como a
realizao da obra pode ser considerada uma experincia impessoal.
Ao refletir sobre o papel do leitor na arte literria, Blanchot observa que h neste
tipo de obra uma determinada particularidade em relao a outras obras de arte, tais
como a pintura e a msica, no tocante sua relao com o espectador, no caso o leitor.
Ouvir msica, diz ele, torna aquele que se dedica a ouvi-la um experiente na
msica. O mesmo se pode dizer de quem gosta de apreciar um quadro. A msica e a
pintura so mundos em que adentram aqueles que tm a chave para faz-lo. Essa chave
seria o dom; esse dom seria o encantamento e a compreenso de um certo gosto.
(BLANCHOT, 1955, p. 91) Ou seja, para ver um quadro e ouvir msica seria preciso
ser dotado.
51
Para Blanchot, os amantes da msica ou da pintura se orgulham de suas
preferncias como algo que os isola, os torna especialistas, e sentem-se, assim, na
condio de desfrutar de um prazer que poucos tm acesso. O dom da arte ou da msica
vivido em um espao fechado, um museu ou uma sala de concerto, que, por sua vez,
frequentado por aqueles que se sentem dotados. Existem ainda aqueles desprovidos do
dom, aqueles que dizem no ter ouvido para a msica, ou olhar para a pintura.
Ler, no entanto, segue Blanchot, nem mesmo requer dons especiais, pois tanto o
leitor quanto o autor no possuem um dom, no so pessoas dotadas. Ao contrrio, o
leitor sente-se (tal qual o autor) muito mais impotente, como que desprovido, ausente,
sem experincia diante da literatura ou da poesia. Ler a obra literria exige mais
ignorncia do que conhecimento, diz ele, pois exige saber ignorar o que j se sabe e
investir nessa imensa ignorncia, no desconhecido, no novo que ali despontar.
Conforme Blanchot, o leitor no pretende se acrescentar ao livro, embora esteja
sempre empenhado numa luta profunda com o autor. Sua tentativa de anul-lo, mas
no para tomar-lhe o lugar, e sim para entregar a obra a si mesma. O livro tem
necessidade do leitor para tornar-se o que ele , para afirmar-se sem autor, diz ele.
A obra literria s se torna realmente uma obra de arte quando por ela se
pronuncia a palavra ser. Isso acontece quando ela ganha intimidade no s com quem
a escreve, mas tambm com quem a l. Pois a linguagem da obra no representa a fala
de algum, um exprimir-se, uma comunicao com o mundo, como vimos na relao do
autor com a obra. O escritor escreve um livro, mas o livro ainda no a obra. somente
com o leitor que a obra se torna obra para alm daquele que a produziu.
A leitura, nos moldes de Blanchot, ainda que tome a obra pelo que ela , ainda
que a livre do autor, no quer, no entanto, introduzir nela o leitor. No h um leitor que
se acrescente ao livro, que tome o lugar do escritor como possuidor de uma histria, de
52
uma vida pessoal, de uma crena, de um conhecimento prvio. O envolvimento com a
obra literria pressupe no s para o autor, mas tambm para o leitor uma perda de
si mesmo e no, como se poderia pensar, um acrscimo a partir de sua vida pessoal, de
seus valores, de sua histria, na interpretao do que l. Aquele que l anula-se para
entregar a obra a si mesma, torna-se annimo, entrega-se afirmao impessoal que a
obra requer.
O criador da obra, que privado do poder sobre ela, que por ela desapossado,
tambm ausente de si mesmo. Isso significa, portanto, que no h na obra quem detenha
o sentido dela, seu segredo privilegiado. Perante a obra, autor e leitor esto em p de
igualdade, ambos s tendo existncia por ela e a partir dela de modo que o leitor no
menos nico que o autor, pois tambm ele aquele que a cada vez diz a leitura como
nova. Logo, a leitura literria no uma conversao, ela nada discute, no faz
perguntas, no busca verdades. O livro, que tem sua origem na arte, no tem garantia no
mundo, e, quando lido, abre um espao sempre novo: cada leitura nica, cada vez a
primeira, cada uma diferente da outra. Ler, nesse sentido, no um movimento de
compreenso, j que no se l em busca de um entendimento fundamentalmente. Por
tudo isso, pode-se dizer que a leitura literria livre, pois ela realiza um movimento no
qual nunca est submetida a uma realidade nica, nem fixa.
O prprio da leitura, sua particularidade, como observa Blanchot,
esclarece o sentido do verbo fazer na expresso: ela faz com que a
obra se torne obra. A palavra fazer no indica neste caso uma
atividade produtora: a leitura nada faz, nada acrescenta; ela deixa ser o
que ; ela liberdade, liberdade que acolhe, consente, diz sim, e no
espao aberto por esse sim, a obra se afirma tal como ela
.(BLANCHOT, 2011a, p. 194).
53
4. O MUNDO DA LITERATURA E A LITERATURA NO MUNDO
As consideraes de Blanchot em torno da arte, assim como as noes que ele
introduz a respeito da obra, mostram-nos que a literatura pode ser capaz de instaurar
mundos, que a linguagem pode abrir-se para uma relao com o fora, que o autor pode
acionar um regime neutro em sua relao com a obra, e que a obra , no entanto, runa
da obra ou desobramento. Essa concepo da escrita revela um modo prprio de pensar
o estatuto da literatura e, consequentemente, sua relao com o mundo. A palavra
literria, considera Blanchot, capaz de fundar sua prpria realidade. Esta realidade
possui caractersticas singulares e, para conhec-las, necessrio primeiramente
diferenciar a palavra do dia a dia, da palavra literria.
4.1 Palavra bruta e palavra essencial
Para esclarecer a distino entre essas duas linguagens, Blanchot vale-se do
pensamento de Mallarm, que j havia observado um duplo estado da fala: de um lado a
fala bruta ou imediata, de outro a fala essencial.
A fala bruta ou imediata pode ser entendida como aquela que os homens
utilizam para se comunicar no mundo. a fala do cotidiano. Nesta linguagem, o homem
utiliza a palavra como um cdigo, com um significado fixo. Alm de nomear coisas,
narrar, descrever, expressar, a palavra bruta segue determinadas regras e atende a uma
ordem pr-estabelecida.
54
Essa linguagem tem sempre por trs um sujeito que a utiliza conforme os
padres que do sentido comunicao. Ao atender a finalidade de comunicar, a
linguagem do cotidiano desaparece por trs dos objetos que ela representa no mundo e,
da mesma forma, se apaga por trs do sujeito que a conduz. Portanto, na linguagem do
cotidiano, a linguagem cala-se como linguagem e quem nela fala so os seres.
Diz Blanchot que a palavra bruta usada, usual, til; por ela, estamos no
mundo, somos devolvidos vida no mundo, a falam os objetivos, as metas finais, e
impe-se a preocupao de sua realizao. (BLANCHOT, 2011a, p. 33) A palavra
bruta tem como caracterstica remeter sempre a algo que se encontra no mundo, uma
vez que ela se destina aos fins da comunicao.
A palavra essencial, neste aspecto, o contrrio. Na verso literria, a linguagem
deixa de ser um instrumento, uma ferramenta, um meio. Ela no impe nenhum
significado ou sentido determinado, ainda que seja imponente por si mesma. Na poesia,
ou na literatura, a palavra assume outros sentidos possveis, j que, no tendo por
funo representar, no se refere s coisas do mundo. Ao assumir sua condio
essencial, a linguagem apenas sugere, evoca, remete, como acontece na poesia. Aquilo
de que fala a poesia parece sempre distante e indeterminado. A fala no tem uma funo
objetiva, nem significaes especficas, e dessa forma permite-se variaes.
Mallarm nota que a palavra essencial, em seu aspecto prprio, constituda por
vrios fatores, como sonoridade, cadncia, composio rtmica, e por isso no exprime
necessariamente a mesma ideia daquilo que na linguagem cotidiana ela representa.
Assim, a ttulo de exemplo, tomemos a palavra jour (dia) e nuit (noite), na lngua
francesa. Para o poeta, a primeira possui um timbre sombrio, ainda que signifique a
claridade dada pelo Sol, enquanto a segunda soa, para ele, como algo brilhante, muito
embora signifique o escuro resultante do movimento da Terra. Essa diferena entre a
55
palavra e aquilo que ela representa , para Mallarm, o que abre o espao para o
acontecimento potico. A poesia capta a distncia, a diferena, a variao que h entre a
palavra e aquilo que ela representa. Diz Blanchot que como se o verso ouvisse a
palavra longe de sua representao, recompensasse o defeito das lnguas e tornasse a
fala mais essencial.
Na literatura ou na poesia, as palavras que figuram na fico so como um
universo cujas relaes se mostram no pelo que significam, mas pelas sonoridades,
pelas imagens, pela mobilidade rtmica, revelando-se num espao livre, autnomo,
independente, como o da fico. Deste modo, o que se ouve na poesia, por exemplo,
no um sujeito falante, nem um objeto designado, e sim as prprias palavras e suas
relaes, variaes, entonaes.
Portanto, a linguagem da poesia ou da literatura no parte da representao do
mundo, mas constitui seu mundo prprio, cria sua prpria realidade. Em seu elemento
real que a escrita, ela oferece ao leitor o contato com esse mundo igualmente real da
fico onde os personagens, as situaes, as sensaes que nos so apresentadas, nos
fazem senti-las e viv-las como uma experincia profundamente real, nota Blanchot.
Assim, enquanto a palavra bruta, ao significar as coisas, desaparece em seu uso,
a palavra essencial, ao referir-se somente a si mesma, aparece. A palavra literria
encontra seu ser quando reflete o no ser do mundo. Dito de outro modo, a palavra
essencial faz a transposio da irrealidade da coisa desaparecida para a realidade da
linguagem que aparece. Consequentemente ela funda sua prpria realidade: a realidade
da fico.
56
4.2 O real e o imaginrio: o mundo outro da literatura
Mas o que a imagem? Quando no existe nada, a imagem encontra a a sua condio,
mas desaparece nele. A imagem pede a neutralidade e a supresso do mundo,
que tudo reentre no fundo indiferente onde nada se afirma, tende para
a intimidade do que ainda subsiste no vazio: est a a sua verdade.
Mas essa verdade excede-a; o que a torna possvel
o limite em que ela cessa.
Blanchot. O espao literrio.
Segundo Blanchot, a imagem nos fala, e essa fala encontra sua condio a partir
de uma intimidade que se abre em ns, em direo ao Fora. Quando nos oferecemos a
esse estado de alteridade total, onde nada mais existe em ns, tal como na relao com o
Fora, ou com o espao literrio, a que nasce a possibilidade para que a imagem
encontre seu lugar. A arte seja a literatura, a poesia ou a msica frequentemente
possibilita que, margem do real, encontremos a intimidade transparente do irreal
transformado em imagens. Para compreender esse espao imaginrio, espao real das
imagens, espao literrio de Blanchot, preciso que tomemos a imagem tal como a
entende nosso autor.
Retomemos, juntamente com ele, a ideia comum que se faz sobre a imagem.
Geralmente se diz que a imagem vem depois do objeto, que ela a sua continuao:
primeiro vemos o objeto, depois imaginamos. Esse depois, repara Blanchot, supe
que o objeto antes se distancie para posteriormente deixar-se recuperar em imagem. No
entanto, esse afastamento no uma simples mudana de lugar como se o objeto
continuasse o mesmo, apenas no estivesse mais presente. O distanciamento est no
mago da questo, observa Blanchot, pois o objeto tornado imagem converte-se no
inapreensvel, inatual, impassvel, no a mesma coisa distanciada, mas
essa coisa como distanciamento, a coisa presente em sua ausncia,
apreensvel porque inapreensvel, aparecendo na qualidade de
desaparecida, o retorno do que no volta, o corao estranho do
57
longnquo como vida e corao nico da coisa. (BLANCHOT, 2011a,
p. 279).
No espao da arte, da fico, da literatura, a irrealidade da coisa desaparecida
possibilidade da realidade que aparece como imagem.
Certamente, reconhece Blanchot, a forma comum de entender a imagem como
uma continuidade em que podemos capturar a imagem de um certo objeto e faz-la
servir-nos acontece, mas apenas porque invertemos a relao que lhe prpria. Nesse
caso, a imagem pretende refletir o objeto, como na arte clssica que tinha por tarefa
transformar corpos reais em imagens perfeitas, em que a inteno era aproximar o
mximo possvel a imagem da pintura no quadro do corpo real. Por vezes, repara
Blanchot, o que se esperava alcanar era uma imagem mais vivificante, mais real e mais
perfeita do que o prprio corpo.
Desta forma, Blanchot entende haver duas verses do imaginrio, porm no so
verses opostas. Na primeira, tal como a da arte clssica, a imagem posterior ao
objeto, que sobreviveria na forma de sua imagem e semelhana. Na segunda verso, a
imagem se realiza atravs da experincia da ausncia enquanto ausncia, aberta ao
indefinido, ao desconhecido, ao Fora. Espao em que a imagem se torna real, realidade
da fico.
Para entender melhor essa condio da realidade da imagem, usemos, como o
fez Blanchot, o exemplo do utenslio. Vale notar, no exemplo evocado por ele, que a
relao do utenslio com a sua funo e os desdobramentos dessa relao, no que diz
respeito arte, j haviam sido expostas por Heidegger. No entanto, retomo aqui apenas
a interpretao de Blanchot no tocante a questo da imagem.
Nosso autor observa que se um certo utenslio perde sua funo, se sofre um
dano, por exemplo, ele se torna um objeto sem significado, sem funo, sem uso. Isto ,
sem exercer a funo para a qual foi criado torna-se, por vezes, somente um objeto
58
esttico. O utenslio, no mais escondido por trs de seu uso, aparece em sua forma e
matria.
A arte, a literatura, a poesia, esto ligadas a essa possibilidade que do aos
objetos ou as palavras: a condio de aparecer ao desaparecer sua funo no mundo.
Figuras como Andr Breton, Marcel Duchamp, davam uma outra imagem
esttica a utenslios danificados, abrindo atravs dessa transformao a possibilidade de
criar um objeto artstico. Isso mostra que a imagem no necessariamente a mesma
coisa que o objeto, tal como ele se d a ver no mundo das funes e utilidades. A
imagem no substitui a coisa da qual imagem, no a revela, ela reaparece
diferentemente da coisa desaparecida. Na arte, a imagem que se v de um objeto no
detm o mesmo sentido deste, e justamente essa alterao de sentido que d imagem
sua condio de realizar-se.
Isto no significa, porm, que o mundo das imagens substitua o mundo das
coisas, ou que o carcter objetivo da coisa, tal como ela , simplesmente desaparea na
imagem que se faz dela, pois o que acontece que a imagem se interpe entre as coisas
como elas so e seu carcter objetivo e reconhecido. A imagem vem para tornar dizveis
as coisas em sua indizibilidade, ou para tornar visveis as coisas invisveis.
No espao imaginrio de Blanchot, espao da literatura, a imagem se oferece
como a presena da ausncia da coisa. A partir do momento em que a coisa se torna
imagem, a imagem se apresenta como aluso sem figura, desenhada sobre a ausncia,
tornando-se assim a presena informe dessa ausncia. Ela a presena liberta dos
contornos da existncia.
Portanto, as duas verses do imaginrio, concebidas por Blanchot, permitem
pensar a imagem em sua dupla condio. Pois para ele, a imagem pode at ajudar-nos a
recuperar idealmente a coisa, ou aquilo que ela representa, este o caso da arte clssica,
59
mas tambm, o evento imaginrio pode nos devolver no mais a coisa tornada imagem e
sim a ausncia da coisa enquanto ausncia, na sua abertura para o Fora. O que aparece
nesse espao imaginrio o duplo neutro do objeto, em que sua pertena ao mundo se
dissipou.
Entretanto, essa duplicidade que caracteriza a regio do imaginrio no pode ser
compreendida por um isto ou aquilo em que se possa escolher. A ambiguidade que
surge entre estas verses no exige qualquer opo ou escolha, mas um convvio plural
e complexo. Se no h uma escolha a ser feita porque esta regio a prpria
ambiguidade, ou seja, a ambiguidade que a torna possvel. No entanto, preciso
compreend-la do modo postulado por Blanchot.
Segundo ele, ao nvel do mundo, a ambiguidade se d como possibilidade de
entendimento, o sentido podendo variar sempre para um outro sentido: ora diz uma
coisa, ora diz outra. O mal-entendido suscitado pela ambiguidade, ao contrrio de
confundir o entendimento, serve compreenso que, diz Blanchot, no quer ser jamais
compreendida. Outra maneira de pensar a ambiguidade, segue ele, seria aquela que
exprime as duas verses do imaginrio. No espao imaginrio, no se trata mais de um
duplo sentido eterno, do mal-entendido que ajuda ou engana o entendimento.
Aqui se fala em nome da imagem, ora fala ainda do mundo, ora
nos introduz no meio indeterminado da fascinao, ora nos d poder
de dispor das coisas em sua ausncia e pela fico, nos retendo assim
em um horizonte rico de sentido, ora nos arrasta l para onde as coisas
esto presentes, mas em suas imagens, e l a imagem o momento da
passividade, no tem nenhum valor, nem de significado, nem afetivo,
a paixo da indiferena. (BLANCHOT, 2011a, p. 288).
O que ns distinguimos ao dizer ora isto, ora aquilo, a ambiguidade, numa
certa medida, diz sempre um e outro. O sentido no fixo, e tudo parece ter
infinitamente sentido. Ainda assim, esse infinito de sentido no tem necessidade de ser
desenvolvido, ele imediato, imediatamente vazio, aberto, exterior. No se trata, pois,
60
de alcanar um outro sentido ou uma via alternativa de sentido, mas de assumir o outro
de todos os sentidos. Nada tem sentido, mas tudo sentido. E o sentido o prprio
vazio que a imagem traz: a presena sob os moldes da fascinao. Como a fascinao
que se d no encontro com as sereias.
4.3 As sereias e o encontro com o imaginrio
Em O encontro do imaginrio, texto presente no primeiro captulo de O livro
por vir, Blanchot retoma o episdio da Odisseia de Homero no qual Ulisses narra seu
encontro com as sereias para, desta vez sob o vis da narrativa e do gnero romanesco,
ilustrar como se d a experincia da escrita. Ao acompanh-lo nesta interpretao,
inevitvel que relacionemos a atitude do heri da Odisseia com a atitude de Orfeu no
mito. A diferena que se nota entre elas pode nos revelar, ainda que de forma ilustrativa,
o que faz da experincia literria, em Blanchot, uma experincia outra.
Blanchot escreve: h uma luta muito obscura travada entre toda narrativa e o
encontro com as sereias. (BLANCHOT, 2005, p. 6) O romance nasce dessa luta,
acrescenta ele. Vemos que aqui ele aproxima a experincia da escrita literria, mais uma
vez, da ideia de um encontro do escritor com aquilo que o seduz, que o inspira, mas que
tambm o ameaa de perder-se infinitamente, tal como Orfeu. Ser, ento, o ponto
central da experincia de Ulisses o momento em que o risco e o desejo se encontram
frontalmente? E qual ser a atitude de Ulisses?
Segundo Blanchot, a narrativa uma histria totalmente humana, acontece de
fato. Ela est ligada paixo dos homens e ao interesse que despertam suas experincias
vividas. uma espcie de acesso a um acontecimento extraordinrio, um acontecimento
61
vivido que algum conta, e aquele que o conta sobreviveu para faz-lo. Assim
aconteceu com Ulisses, ao se proteger da seduo das sereias: o heri se salva e deste
modo ala a possibilidade de narrar suas aventuras.
Foucault, no texto O pensamento do exterior, referindo-se ao mesmo episdio,
diz o seguinte:
Para que nasa a narrativa que no morrer, preciso estar escuta,
mas permanecer ao p do mastro, ps e mos atados, vencer qualquer
desejo de uma astcia que se violenta a si mesma, sofrer todo
sofrimento no limiar de um abismo que atrai, e se reencontrar
finalmente alm do canto, como se tivesse em vida atravessado a
morte, mas para restitu-la em uma segunda linguagem.
(FOUCAULT, 1994, p. 234)
Ulisses, amarrado ao mastro para se proteger da seduo das sereias, ir
simbolizar, segundo tradio posterior, o nascimento da narrativa. Ademais, o poema
traz ainda uma importante fora alegrica o heri que no sucumbe totalmente ao
poder do mito. Ulisses vence as foras mticas pela astcia, e torna-se, a partir da, o
modelo do homem movido pelo pensamento racional.
Todavia, Blanchot questiona o carter dessa vitria:
verdade, Ulisses as venceu, mas de que maneira? Ulisses, a teimosia
e a prudncia de Ulisses, a perfdia que lhe permitiu gozar do
espetculo das sereias sem correr riscos e sem aceitar as
consequncias, aquele gozo covarde, medocre, tranquilo e comedido,
como convm a um grego da decadncia [..] a atitude de Ulisses, a
espantosa surdez de quem surdo porque ouve, bastou para
comunicar s sereias um desespero at ento reservado aos homens, e
para fazer delas, por desespero, belas moas reais, uma nica vez reais
e dignas de suas promessas, capazes pois de desaparecer na verdade e
na profundeza de seu canto. (BLANCHOT, 2005, p. 5)
A crtica de Blanchot volta-se contra a atitude covarde de Ulisses, que se
protege do risco que o atrai. Para Blanchot, a obra exige uma entrega ao risco, assim
como foi para Orfeu que se lanou ao seu desejo sem prudncia. O desejo interdito se
apropriou inteiramente de Orfeu, e fez com que ele se desatasse do mastro para
62
lanar-se a um lamento sem fim. Ulisses, ao contrrio, se utilizou da tcnica para no
correr riscos, e manteve-se assim acorrentado at o final.
No entanto, percebe Blanchot, Ulisses no saiu ileso. Seu projeto astucioso para
sobreviver seduo das sereias, e voltar inclume para contar suas gloriosas aventuras,
no tornou sua odisseia mais bem-aventurada do que o canto das sereias que sups ter
vencido. Pois mesmo vencidas, as sereias tornaram-se o encanto, a seduo, a atrao
do poema narrado por Ulisses.
Jeanne Marie Gagnebin, no texto Resistir s sereias, retoma a releitura do
episdio feita por Adorno e Horkheimer, na primeira parte do livro Dialtica do
esclarecimento. Ela alude a esta mesma ideia de Blanchot, no tocante vitria de
Ulisses sobre as sereias, ao dizer que:
Entre o poder das sereias e o poder da narrao parece haver uma
relao to ntima e recproca que um se nutre do outro at o infinito
de todas as releituras e retransmisses futuras, como se contar mais
uma vez a vitria de Ulisses sobre as sereias manifestasse,
paradoxalmente, o quanto elas continuam a nos subjugar.
(GAGNEBIN, 2009, p. 51-5)
Isto , Ulisses, ao se proteger do risco que o atrai, d s sereias o canto e
tambm o encanto de sua obra. J Orfeu, que se lana sem medida ao que o atrai, realiza
sua obra, que , todavia, como imps o mito, arruinada. Mas para Blanchot,
justamente a runa da obra o que a consagra. O canto de Orfeu o canto de uma dor
eterna.
No tocante a experincia da escrita, vemos que, segundo Blanchot, a narrativa s
alcana a dimenso do Romance quando o escritor se v diante daquilo que o fascina.
sua atitude diante do risco imposto pelo fascnio que poder dar obra a condio de
tornar-se real, de suscitar um mundo outro, um mundo em que reina a prpria arte, ou a
literatura, e no mais os seres e seus domnios.
63
4.3.1 Da narrativa ao romance
Quando a narrativa se torna romance, longe de parecer mais pobre, torna-se
a riqueza e a amplitude de uma explorao, que ora abarca a imensido
navegante, ora se limita a um quadradinho de espao no tombadilho,
ora desce s profundezas do navio onde nunca
se soube o que a esperana do mar.
Blanchot. O livro por vir.
De acordo com Blanchot, o Romance nasce de uma navegao prvia, aquela
que leva Ulisses at o ponto de encontro com as sereias. A navegao descreve a
experincia humana, enquanto o escritor segue em direo ao ponto obscuro que atrai
sua obra. Para Ulisses, as sereias so esse ponto. No entanto, ele observa que somente o
movimento da prpria narrativa abre o espao onde esse ponto se torna real, poderoso e
atraente. Ningum escreve, segue Blanchot, se no para suscitar a aproximao com
este ponto.
Dito de outro modo, o romance nasce do movimento da narrativa, mas, ao
contrrio desta, o romance no segue em direo a um objetivo, no atende a nenhuma
ordem, no tem um destino certo. A possibilidade de seguir ao acaso, de no pretender
nada, de fazer do tempo humano um jogo, e do jogo uma ocupao livre, destituda de
todo interesse imediato e de toda utilidade, essencialmente superficial (BLANCHOT,
2005, p. 7), justamente, observa Blanchot, o que faz com que o romance abarque todo
o ser da palavra, expresso na realidade da literatura.
Toda narrativa, segue Blanchot, mesmo que discretamente, procura dissimular-
se na espessura romanesca. Para ele, Proust um dos mestres dessa dissimulao.
Na literatura proustiana tudo acontece como se a navegao imaginria da
narrativa se sobrepusesse navegao de sua vida, aquela que o levou a encontrar o
64
acontecimento: o ponto que torna possvel qualquer narrativa. Esse encontro parece
fornecer-lhe o nico espao em que o movimento de sua existncia no apenas pode ser
compreendido, mas restitudo, experimentado, realizado. Blanchot afirma:
somente quando, como Ulisses, ele vislumbra a ilha das Sereias,
onde ouve seu canto enigmtico, que toda a sua longa e triste
vagabundagem se realiza segundo os momentos verdadeiros que a
tornam, embora passada, presente. Feliz, espantosa coincidncia.
(BLANCHOT, 2005, p. 15)
Entretanto, uma questo se impe a Blanchot: como ele consegue chegar l, se
necessrio precisamente j estar l para que a estril migrao anterior se torne o
movimento real e verdadeiro capaz de o conduzir a esse ponto? (BLANCHOT, 2005,
p. 15)
Para ele, Proust extrai, das singularidades de sua vida, as singularidades que
penetram no tempo prprio da narrativa. Ele se vale de recursos que lhe permitem salvar
o tempo real. H, em sua obra, um intricamento, talvez enganoso, mas maravilhoso, de
todas as formas do tempo. Nunca sabemos a que tempo pertence o acontecimento que
Proust evoca: se ele se d somente no tempo da narrativa ou se advm para que chegue
o momento da narrativa, a partir do qual o que aconteceu se torna realidade e verdade.
Proust consegue, em sua obra, misturar todas as possibilidades, todas as contradies,
todas as maneiras pelas quais o tempo se torna tempo da narrativa e, portanto, um
grande romance.
Assim, Proust acaba por viver segundo o tempo da narrativa, e encontra, ento,
em sua vida, as simultaneidades mgicas que lhe permitem cont-la, ou reconhecer o
movimento pelo qual sua vida se orienta em direo sua obra, em direo ao tempo da
obra.
Para Blanchot, Proust teve a experincia nica da estase do tempo. Ele
conseguiu viver a abolio do tempo por um movimento rpido, como um raio em
65
que dois instantes, infinitamente separados, se encontram e se unem como duas
presenas que, pela metamorfose do desejo, se identificam e percorrem toda a realidade
do tempo, experimentando o tempo como espao e lugar vazio, isto , livre dos
acontecimentos que geralmente o preenchem. Um tempo puro,
sem acontecimentos, vacncia mvel, distncia agitada, espao
interior em devir onde as estases do tempo se dispem numa
simultaneidade fascinante, o que tudo isso, afinal? o prprio
tempo da narrativa, o tempo que no est fora do tempo, mas que se
experimenta como um exterior, sob a forma de um espao, espao
imaginrio onde a arte encontra e dispe seus recursos. (BLANCHOT,
2005, p. 17).
Proust tocou na prpria essncia da literatura quando a experimentou em estado
puro, transformando o tempo em um espao imaginrio onde tudo que interior se abre
para o exterior, tomando assim a forma de uma imagem. Nesse tempo da obra, tudo se
torna imagem, e a essncia da imagem estar toda para fora, misteriosamente e sem
intimidade, sem significao, mas que chama para uma profundidade em que todo
sentido possvel, como a presena-ausncia que constitui o atrativo e o fascnio das
Sereias. (BLANCHOT, 2005, p. 19). A obra de Proust nos revela esse mundo outro, o
mundo que a literatura capaz de suscitar.
66
5. CONCLUSO
Ao percorrer as ideias que constituem o espao literrio em Blanchot, pude
perceber que por trs de sua teoria e crtica em torno da experincia da escrita uma outra
ideia se sobressai. Algo que se revela nos moldes de uma contestao. Desde suas
observaes a propsito do romantismo, em que Blanchot reconhece os primeiros sinais
do aparecimento do ser da linguagem na literatura, podemos suspeitar para onde aponta
essa contestao. Ao escapar do discurso funcional da linguagem clssica, a palavra
literria passa a expressar o prprio poder de falar.
No espao literrio de Blanchot, as palavras se desenrolam livremente, elas ali
falam por si mesmas. Trata-se, pois, de dar palavra a condio de aparecer, de
manifestar o ser da linguagem.
No entanto, como afirma Foucault (2009, p. 221), o ser da linguagem s
aparece para si mesmo com o desaparecimento do sujeito ou ainda [a] fala da fala nos
leva literatura, mas tambm a outros caminhos, a esse exterior onde desaparece o
sujeito que fala (FOUCAULT, 2009, p. 221).
Assim, para que a literatura possa falar por si mesma, necessrio, como
contrapartida, o sujeito por trs da escrita possa calar-se. A escrita literria, segundo
Blanchot, exige que o sujeito se cale, disperse, se desmanche at desaparecer no espao
aberto da linguagem. Dito de outra forma, a concepo literria de Blanchot aponta para
uma linguagem da qual o sujeito est excludo. Eis o que levou o pensamento de nosso
autor a circular nos campos da filosofia, por autores que, como Foucault, Deleuze,
Levinas, para ficar entre os que citamos aqui, contestaram o estatuto do sujeito no
mbito filosfico.
67
No caso de Foucault, o interesse pelo pensamento de Blanchot se deu no incio
de sua trajetria
6
, j nos anos 60, quando o filsofo se dedicava a pensar a literatura
como uma experincia com consequncias cruciais para o pensamento. Neste perodo,
ele detecta nas ideias de Blanchot sobre a literatura um vis que escapa ao humanismo
dominante, e que, por conseguinte, segundo ele confessou mais tarde, se mostrava como
alternativa s sociedades modernas. No texto Loucura, Literatura, Sociedade
(entrevista realizada em 1970, no Japo), Foucault questionado sobre a importncia
que a literatura desempenha em seu pensamento. Segundo ele, a atividade filosfica
deveria ser o lugar para fazer emergir em nossa cultura uma escolha original, isto ,
um pensamento capaz de abarcar todo um conjunto constitudo pelo saber, as
atividades, a percepo e a sensibilidade humana. No entanto, a filosofia se voltava
muito mais a uma escolha especulativa, no domnio das ideias puras, enquanto essa
escolha original, que deveria alcanar as questes mais amplas de uma cultura, de
uma sociedade, avanava por outros campos, tais como a literatura. Da a afirmao de
Foucault: Eis por que eu me interesso pela literatura, uma vez que ela o lugar onde
nossa cultura operou algumas escolhas originais. (FOUCAULT, 2009, p. 235)
Para o filsofo, a tendncia antropolgica ou humanista da poca, que
transforma a reflexo filosfica num exerccio interior, posta em xeque por uma
literatura que abre o pensamento ao fora, e que constitui o que ele mesmo chamou de
um pensamento do fora. Assim, um tal modo de conceber a escrita carrega, aos olhos
de Foucault, um poder de resistncia, de contestao, de transgresso, ao no se deixar
capturar pelo modelo de pensamento centrado na interioridade, na conscincia, no
homem.
6
preciso acrescentar que, a partir do perodo genealgico, a literatura deixa de ocupar o lugar
privilegiado que tivera na primeira fase de sua obra.
68
Ou seja, a literatura como a concebe Blanchot e autores que dele se avizinham,
revela-se como contestao dialtica humanista da modernidade.
No entanto, no texto O Atesmo e a Escrita. O Humanismo e o Grito, Blanchot
esclarece que essa literatura que subtrai a escrita do uso funcional da linguagem, que
no tem a pretenso de usar as palavras de acordo com as aspiraes e ideologias
pessoais de quem escreve , ainda assim, uma escolha humanista. A escrita reafirma
Blanchot, quer apenas dizer nobremente o humano no homem, pensar a humanidade
no homem. (BLANCHOT, 2007, p. 270) Neste ponto, vemo-nos diante de mais um
paradoxo blanchotiano: temos uma literatura que contesta o pensamento humanista, ou
uma literatura propriamente humanista? O que ento o humanismo para Blanchot?
E aqui ele mesmo quem responde: Nem uma filosofia, nem uma antropologia.
(BLANCHOT, 2007, p. 270)
Ele afirma que o que mais se aproxima de um pensamento humanista, a seu
ver, revela-se por meio daquilo que mais se afasta de uma linguagem: o grito (isto , o
murmrio), grito da necessidade ou do protesto, grito sem palavra e sem silncio, grito
ignbil ou, a rigor, o grito escrito, os grafites dos muros. (BLANCHOT, 2007, p. 271)
A escrita no trata de negar o homem, este que desde a modernidade detm as
zonas de autoridade, da lei, da ordem, tampouco de negar o homem de cultura, ou
mesmo o homem simples, este que se presta ao lirismo da boa companhia. Essa escrita
que desapossa o sujeito trata, sim, de no deixar-se capturar por uma linguagem que a
detenha, que tenha por trs de si um homem que fale em seu nome. Pois a linguagem
fala onde o homem no fala mais.
crtica foucautiana, Blanchot acrescenta: pode ser que o homem passe, Ele
passa. Na medida em que sempre foi apropriado para seu desaparecimento. Mas,
69
passando, ele grita; ele grita na rua, no deserto; ele grita morrendo; ele no grita, ele o
murmrio do grito. (BLANCHOT, 2007, p. 271)
A contestao que permeia toda a obra blanchotiana revela-se, portanto, como
um pensamento que levado at o espasmo do grito, tal como ele afirma ser a prpria
exigncia da escrita, se recusa a falar de si como de um homem para abrir o espao
onde tudo pode ser dito, sendo que este tudo a ser dito afirma-se por uma radical
alteridade, quase sem linguagem, isto , por um grito que rejeita a lgica universalizante
dos conceitos, que no se presta a subservincia ordem, que no pretender explicar o
mundo, mas sim, investig-lo, por meio do que o problematiza, do que o questiona, dos
impasses, dos paradoxos, das ambuiguidades, para assim, aproximar-se do que em ns
realmente desconhecido, novo, outro.
Experincia estrangeira, a escrita. Experincia que j no diz respeito a ns, que
nos arrasta para fora de ns, e aquele que a vive, assim o faz para afirmar a esperana
sem esperana que se quebra no grito humanista. (BLANCHOT, 2007, p. 271)
Dizer tudo, preciso dizer tudo, a liberdade a liberdade de dizer tudo, esse
movimento ilimitado que a tentao da razo, seu voto secreto, sua loucura.
(BLANCHOT, 2007, p. 222)
70
REFERNCIAS
ADORNO, Theodore W.; HORKHEIMER, Max. Dialtica do esclarecimento.
Traduo Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
BARTHES, Roland. O Neutro. Traduo Ivone Castilho Benedetti. So Paulo: Martins
Fontes, 2003.
BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Traduo Leyla Perrone-Moiss. So Paulo:
Martins Fontes, 2005.
_____. A conversa infinita 2 A experincia limite. Traduo Joo Moura Jr. So
Paulo: Escuta, 2007.
_____. A conversa infinita 1 A palavra plural. Traduo Aurlio Guerra Neto. So
Paulo: Escuta, 2010a.
_____. A conversa infinita 3 A ausncia de livro. Traduo Joo Moura Jr. So
Paulo: Escuta, 2010b.
_____. O Espao Literrio. Traduo lvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2011a.
_____. A parte do Fogo. Traduo Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2011b.
_____. Uma voz vinda de outro lugar. Traduo Adriana Lisboa. Rio de Janeiro.
Rocco, 2011c.
BECKETT, Samuel. O Inominvel. Traduo Ana Helena Souza. So Paulo: Globo,
2009.
BRUNEL, Pierre. (Org.). Dicionrio de Mitos Literrios. Traduo Carlos Sussekind,
Jorge Laclette, Thereza R. Costa e Vera Whately. 2. ed. Rio de. Janeiro: Jos Olympio,
1998.
DELEUZE, Gilles. O Pensamento Nmade. In: Nietzsche hoje? Organizao Scarlett
Marton. Traduo Milton Nascimento e Snia Salzstein Goldberg. So Paulo:
Brasiliense, 1985.
DELEUZE, Gilles. Nietzsche Hoje? Organizao Scarlett Marton. Traduo Milton
Nascimento e Snia Salzstein Goldberg. Brasiliense 1985.
DERRIDA, Jacques. Morada Maurice Blanchot. Traduo Silvana Rodrigues
Lopes. Lisboa: Vendaval, 2004.
FERRAZ, Maria Cristina F. Nove variaes sobre temas nietzschianos. Rio de
Janeiro: Relume Dumar, 2002.
71
FOUCAULT, Michel. O pensamento do exterior. In: _____. Esttica: Literatura e
Pintura, Msica e Cinema. Organizao e seleo de textos Manoel Barros da Motta.
Traduo Ins Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2009.
Ditos e Escritos III.
FOUCAULT, Michel. Loucura, Literatura, Sociedade. In: _____. Problematizao do
Sujeito: Psicologia, Psiquiatria e Psicanlise. Organizao e seleo de textos Manoel
Barros da Motta. Traduo Vera Lcia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro, Forense
Universitria, 2006. Ditos e Escritos I.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Resistir s Sereias. Revista Cult, Dossi Escola de
Frankfurt, n. 72, ano VI, p. 51-55, 2009.
GUINSBURG, J. (Org.). O Romantismo. So Paulo: Perspectiva, 1978.
HANSEN, Joo Adolfo. Prefcio. In: BECKETT, Samuel. O Inominvel. Traduo
Ana Helena Souza. Rio de Janeiro: Globo, 2009.
HEGEL. Georg W. F. A Esttica: a Ideia e o Ideal. Trad. Henrique Cludio de Lima
Vaz. So Paulo: Abril Cultural, 1974. Coleo Os Pensadores.
HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de Arte. Traduo Idalina Azevedo e
Manuel Antnio de Castro. Edio Bilngue. So Paulo: Edies 70, 2010.
KAFKA, Franz. A construo. Traduo Modesto Carone. So Paulo: Companhia das
Letras, 2007.
KIRK, Geoffrey S.; RAVEN, John E.; SCHOFIELD, Malcolm. Os Filsofos Pr-
Socrticos. 6. ed. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2008.
LACOUE-LABARTHE, Philippe. Duas paixes. Traduo de Bruno Duarte. Lisboa:
Vendaval, 2004.
LEVI, Tatiana S. A Experincia do Fora: Blanchot, Foucault, Deleuze. Rio de Janeiro:
Relume Dumar, 2003.
LEVINAS, Emmanuel. Sur Maurice Blanchot. Montpellier: Fata Morgana, 1975.
MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2005.
MALLARM, Stphane. Igitur ou A loucura de Elbehnon. Traduo Jos Lino
Grunewald. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
MONTEIRO, Hugo F. C. Teixeira. A Filosofia nos limites da Literatura: Escrita e
Pensamento em Maurice Blanchot. Tese. (Doutoramento em Filosofia) - Faculdade de
Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela, 2009.
NIETZSCHE, Friedrich. Le livre du philosophe,Etudes thoriques. Traduction
Angle Kremer-Marietti. Paris: Flammarion, 1991.
72
_____. Obras Incompletas. Seleo de textos de Grard Lebrun. Traduo Rubens
Rodrigues Torres Filho. So Paulo: Abril Cultural, 1978. Coleo Os Pensadores.
NUNES, Benedito. Passagem para o potico: filosofia e poesia em Heidegger. So
Paulo: tica, 1992.
_____. Introduo Filosofia da Arte. 3. ed. So Paulo: tica, 1991.
PISEN, John. Grcia. Biblioteca dos grandes mitos e lendas universais. Lisboa: Verbo,
1982.
PELBART, Peter P. Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazo. 2.
ed. So Paulo: Iluminuras, 2009.
QUEIROZ, Andr; ALVIM, Luiza; OLIVEIRA, Nelson (Orgs). Apenas Blanchot! Rio
de Janeiro: Pazulin, 2008.
VIRGLIO, Gergicas e Eneida. Traduo Antnio Feliciano de Castilho e Odorico
Mendes. Rio de Janeiro / So Paulo: W. M. Jackson, 1949.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Impasses do narrador e da narrativa na contemporaneidadeVon EverandImpasses do narrador e da narrativa na contemporaneidadeNoch keine Bewertungen
- POVINELLI, E. A. Pragmáticas Íntimas - Linguagem, Subjetividade e Gênero.Dokument33 SeitenPOVINELLI, E. A. Pragmáticas Íntimas - Linguagem, Subjetividade e Gênero.karitagsoaresNoch keine Bewertungen
- Há Mundo por Vir? Ensaio sobre os Medos e os FinsDokument139 SeitenHá Mundo por Vir? Ensaio sobre os Medos e os FinsYussef CamposNoch keine Bewertungen
- Por que ainda ler SaussureDokument14 SeitenPor que ainda ler SaussureIgor LacerdaNoch keine Bewertungen
- Conversa com Christophe Bident sobre a obra de Maurice BlanchotDokument5 SeitenConversa com Christophe Bident sobre a obra de Maurice BlanchotGisett LaraNoch keine Bewertungen
- Sobre o Tempo e A Memória Na PsicanáliseDokument188 SeitenSobre o Tempo e A Memória Na Psicanálisejcesar coimbraNoch keine Bewertungen
- Biblioteca Digital Da UNICAMPDokument12 SeitenBiblioteca Digital Da UNICAMPDialecto TresNoch keine Bewertungen
- Antropoceno UspDokument7 SeitenAntropoceno UspMaria Chiaretti100% (1)
- Escritas da violência na literatura brasileiraDokument263 SeitenEscritas da violência na literatura brasileiraAdenis ChavesNoch keine Bewertungen
- Castro Gomez Santiago Critica de La Razon LatinoamericanaDokument163 SeitenCastro Gomez Santiago Critica de La Razon LatinoamericanaOrlando LimaNoch keine Bewertungen
- Viveiros de CastroDokument30 SeitenViveiros de CastroCarlos Caravaca CasadoNoch keine Bewertungen
- Patrice Maniglier - Uma Breve Exposição Da História e Do Funcionamento Do Método EstruturalDokument7 SeitenPatrice Maniglier - Uma Breve Exposição Da História e Do Funcionamento Do Método EstruturalFernando MorariNoch keine Bewertungen
- Primo Levi's Auschwitz Report: From Testimony to LiteratureDokument23 SeitenPrimo Levi's Auschwitz Report: From Testimony to LiteratureTiago Fel100% (1)
- Safatle Aquele Que Diz NãoDokument10 SeitenSafatle Aquele Que Diz NãoMarco AguiarNoch keine Bewertungen
- Fabulo, Logo ResistoDokument51 SeitenFabulo, Logo ResistoLeandra LambertNoch keine Bewertungen
- Ta Ii 2018 Ppgas MNDokument5 SeitenTa Ii 2018 Ppgas MNRodolfoNoch keine Bewertungen
- ANTELO. Tempos de Babel PDFDokument16 SeitenANTELO. Tempos de Babel PDFFrancisco CamêloNoch keine Bewertungen
- Frankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaDokument4 SeitenFrankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaGiovannaNoch keine Bewertungen
- O Saber Filosófico Ferdinand AlquiéDokument12 SeitenO Saber Filosófico Ferdinand Alquiépjonas.almeida2990Noch keine Bewertungen
- O papel da imanência na reflexão linguística de SaussureDokument8 SeitenO papel da imanência na reflexão linguística de SaussureAndré GuedesNoch keine Bewertungen
- A vida quotidiana em Paris no século XIXDokument2 SeitenA vida quotidiana em Paris no século XIXRichard CollinsonNoch keine Bewertungen
- A Bicicleta de Lévi-StraussDokument18 SeitenA Bicicleta de Lévi-StraussAna TelesNoch keine Bewertungen
- Memória e Esquecimento no Grande SertãoDokument225 SeitenMemória e Esquecimento no Grande SertãoAryanna OliveiraNoch keine Bewertungen
- Defacement e o Labor do NegativoDokument39 SeitenDefacement e o Labor do NegativoNilma AndradeNoch keine Bewertungen
- As quatro dimensões do despertarDokument15 SeitenAs quatro dimensões do despertarRafael de ÁvilaNoch keine Bewertungen
- A dissolução do sujeito segundo Foucault e LacanDokument18 SeitenA dissolução do sujeito segundo Foucault e LacanarquipelagoNoch keine Bewertungen
- A ditadura e o trauma na literaturaDokument10 SeitenA ditadura e o trauma na literaturaMariana KlafkeNoch keine Bewertungen
- O que é esquizotrans: um coletivo em busca da dissolução das formasDokument156 SeitenO que é esquizotrans: um coletivo em busca da dissolução das formasMarcelo SpitznerNoch keine Bewertungen
- Deleuze e Guattari: Capitalismo e esquizofreniaDokument5 SeitenDeleuze e Guattari: Capitalismo e esquizofreniarodrigosa1832Noch keine Bewertungen
- Entrevista revela visão de Sophia Breyner sobre poesia, amor e santidadeDokument12 SeitenEntrevista revela visão de Sophia Breyner sobre poesia, amor e santidadeles_parolesNoch keine Bewertungen
- Língua materna, estrangeira e psicanáliseDokument12 SeitenLíngua materna, estrangeira e psicanáliseCarol PereiraNoch keine Bewertungen
- História Da Expressão - Afinidade EletivaDokument14 SeitenHistória Da Expressão - Afinidade EletivaSílvia PintoNoch keine Bewertungen
- Cidade, Espaço e Tempo: Reflexões Sobre A Memória e o Patrimônio UrbanoDokument10 SeitenCidade, Espaço e Tempo: Reflexões Sobre A Memória e o Patrimônio UrbanoSabrina CarterNoch keine Bewertungen
- Posições - Derrida (Derrida)Dokument123 SeitenPosições - Derrida (Derrida)Maria PrzewodowskiNoch keine Bewertungen
- Foucault segundo BlanchotDokument26 SeitenFoucault segundo BlanchotJucely RegisNoch keine Bewertungen
- Isabelle Stengers - "A Esquerda, de Maneira Vital, Tem Necessidade de Que As Pessoas Pensem"Dokument6 SeitenIsabelle Stengers - "A Esquerda, de Maneira Vital, Tem Necessidade de Que As Pessoas Pensem"MarecháNoch keine Bewertungen
- A literatura como conceito transversalDokument21 SeitenA literatura como conceito transversalVeronica Gurgel100% (1)
- Theodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFDokument3 SeitenTheodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFAde EvaristoNoch keine Bewertungen
- O apocalipse moderno e a origem contra-religiosa do negacionismo climáticoDokument10 SeitenO apocalipse moderno e a origem contra-religiosa do negacionismo climáticoJoãoPedroMoraleidaNoch keine Bewertungen
- Malditos Versus MarginaisDokument13 SeitenMalditos Versus MarginaisSheyla DinizNoch keine Bewertungen
- Freud e A Estética Da EstranhezaDokument13 SeitenFreud e A Estética Da EstranhezaIsabela PinheiroNoch keine Bewertungen
- Máquina Mística Poesia e AsceseDokument15 SeitenMáquina Mística Poesia e AsceseAnnie FigueiredoNoch keine Bewertungen
- Poetas À Beira de Uma Crise de VersosDokument10 SeitenPoetas À Beira de Uma Crise de VersosCintia FollmannNoch keine Bewertungen
- Estética Da Arte em Bruno LatourDokument13 SeitenEstética Da Arte em Bruno LatoursccalixNoch keine Bewertungen
- Rubens Da Cunha Resenha de O Corpo Impossível PDFDokument8 SeitenRubens Da Cunha Resenha de O Corpo Impossível PDFMatheus LellisNoch keine Bewertungen
- ANTELO Tempos-ValiseDokument31 SeitenANTELO Tempos-Valisedavi pessoaNoch keine Bewertungen
- Artigo Testemunho Como Construção Da Memória PDFDokument10 SeitenArtigo Testemunho Como Construção Da Memória PDFDanielle MendonçaNoch keine Bewertungen
- Primitivismo e ciência do homem no século XVIIIDokument22 SeitenPrimitivismo e ciência do homem no século XVIIIAna AffonsoNoch keine Bewertungen
- O sex-appeal do inorgânicoDokument16 SeitenO sex-appeal do inorgânicoWarley Souza DiasNoch keine Bewertungen
- Avaliação de produção acadêmica para programa de pós-graduação em letrasDokument7 SeitenAvaliação de produção acadêmica para programa de pós-graduação em letrasJules FlamartNoch keine Bewertungen
- Sousa Santos - Entre Próspero e CalibanDokument30 SeitenSousa Santos - Entre Próspero e CalibanRodrigo CerqueiraNoch keine Bewertungen
- Notas sobre Leonilson e Bispo do RosárioDokument8 SeitenNotas sobre Leonilson e Bispo do RosárioWalerie GondimNoch keine Bewertungen
- Alegorias da derrota e o trabalho do luto na América LatinaDokument3 SeitenAlegorias da derrota e o trabalho do luto na América LatinaLucian JanuarioNoch keine Bewertungen
- Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. N. 43, Brasília, Jan.-Jun. 2014Dokument304 SeitenRevista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. N. 43, Brasília, Jan.-Jun. 2014olebrasilNoch keine Bewertungen
- O estilo é o OutroDokument22 SeitenO estilo é o Outroluciusp45Noch keine Bewertungen
- Encontros filosóficos - composições sobre o pensamento: Volume 1Von EverandEncontros filosóficos - composições sobre o pensamento: Volume 1Noch keine Bewertungen
- Roland Barthes e a revelação profana da fotografiaVon EverandRoland Barthes e a revelação profana da fotografiaNoch keine Bewertungen
- A voz rouca e o desejo de memória: o arquivo literário de Murilo RubiãoDokument15 SeitenA voz rouca e o desejo de memória: o arquivo literário de Murilo RubiãoCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- AGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFDokument14 SeitenAGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFMaykson CardosoNoch keine Bewertungen
- PUCHEU, Alberto - Pelo Colorido para Além Do CinzentoDokument224 SeitenPUCHEU, Alberto - Pelo Colorido para Além Do CinzentoCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Observatório de Artifícios - Cleber Cabral - Anais CielliDokument12 SeitenObservatório de Artifícios - Cleber Cabral - Anais CielliCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- O Museo de Macedonio e suas afinidades literáriasDokument251 SeitenO Museo de Macedonio e suas afinidades literáriasetfabreuNoch keine Bewertungen
- Boothwaynec 140923095935 Phpapp02Dokument183 SeitenBoothwaynec 140923095935 Phpapp02Andréa LeicoNoch keine Bewertungen
- EstilosDokument29 SeitenEstilosCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Derrida TelepathyDokument20 SeitenDerrida TelepathyCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Cleber Cabral - Leituras Da Crítica - Mediações e DeslocamentosDokument18 SeitenCleber Cabral - Leituras Da Crítica - Mediações e DeslocamentosCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- AGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFDokument14 SeitenAGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFMaykson CardosoNoch keine Bewertungen
- Cleber Araújo Cabral - Lugares de Bruma - Texto Completo PDFDokument148 SeitenCleber Araújo Cabral - Lugares de Bruma - Texto Completo PDFCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- O Museo de Macedonio e suas afinidades literáriasDokument251 SeitenO Museo de Macedonio e suas afinidades literáriasetfabreuNoch keine Bewertungen
- 05 - Memorias Da Borborema - EbookDokument134 Seiten05 - Memorias Da Borborema - EbookCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Uma Leitura Derrideana de Walter Benjamin PDFDokument18 SeitenUma Leitura Derrideana de Walter Benjamin PDFCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Escutando com os olhos: leituras de um arquivo literárioDokument15 SeitenEscutando com os olhos: leituras de um arquivo literárioCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Memória de Papel: Wander Melo MirandaDokument7 SeitenMemória de Papel: Wander Melo MirandaCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Respostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoDokument57 SeitenRespostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- 2011 ClovisCarvalhoBrittoDokument364 Seiten2011 ClovisCarvalhoBrittoCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- 22 EntrevistasDokument7 Seiten22 EntrevistasCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- LYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaDokument78 SeitenLYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaCleber Araújo Cabral100% (2)
- Respostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoDokument57 SeitenRespostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- AZEVEDO, Carlito - Collapsus LinguaeDokument31 SeitenAZEVEDO, Carlito - Collapsus LinguaeCleber Araújo Cabral100% (2)
- LIVRO Cultura e Literatura DiálogosDokument152 SeitenLIVRO Cultura e Literatura DiálogosrodericomendesNoch keine Bewertungen
- Itinerário de SofotulafaiDokument320 SeitenItinerário de SofotulafaiCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Abgar Renault - Encontro Com Escritores Mineiros 3Dokument118 SeitenAbgar Renault - Encontro Com Escritores Mineiros 3Cleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- Revista Sopro Nº 71Dokument7 SeitenRevista Sopro Nº 71Danuza LimaNoch keine Bewertungen
- Aula 01 FoucaultDokument24 SeitenAula 01 FoucaultSílvio AlvesNoch keine Bewertungen
- Arte Vida Corpo Mundo Segundo Hélio OiticicaDokument222 SeitenArte Vida Corpo Mundo Segundo Hélio OiticicaCleber Araújo CabralNoch keine Bewertungen
- BLANCHOT, Maurice - O Instante Da Minha MorteDokument15 SeitenBLANCHOT, Maurice - O Instante Da Minha MorteDiogo CardosoNoch keine Bewertungen
- Criança Que Brinca Mais Aprende MaisDokument84 SeitenCriança Que Brinca Mais Aprende MaiskatyaNoch keine Bewertungen
- Mensagens Do Graal, AbdruschinDokument144 SeitenMensagens Do Graal, AbdruschinEdirce Melo100% (1)
- As Mulheres Na Trama Da Imprensa - Bárbara Figueiredo SoutoDokument15 SeitenAs Mulheres Na Trama Da Imprensa - Bárbara Figueiredo SoutoIzabela CristinaNoch keine Bewertungen
- Manual Atividade Complementar 2023Dokument28 SeitenManual Atividade Complementar 2023Thayne OliveiraNoch keine Bewertungen
- O caminho para o topo da carreiraDokument13 SeitenO caminho para o topo da carreiraMirella Gomes Vilela Alves100% (1)
- Teologia Sistemática e importância do estudoDokument43 SeitenTeologia Sistemática e importância do estudomotomarmultiNoch keine Bewertungen
- BEIER José Rogério Relatório de Qualificação FAPESPDokument132 SeitenBEIER José Rogério Relatório de Qualificação FAPESPRogério Beier100% (1)
- Descartes - Discurso Do Método PDFDokument41 SeitenDescartes - Discurso Do Método PDFGiovanniNoch keine Bewertungen
- Plano de Ensino: Escola de Engenharia Departamento de Engenharia Civil Dados de IdentificaçãoDokument3 SeitenPlano de Ensino: Escola de Engenharia Departamento de Engenharia Civil Dados de IdentificaçãojoaoengNoch keine Bewertungen
- MutogosuwarixokugunufusaDokument3 SeitenMutogosuwarixokugunufusasofi zinha21Noch keine Bewertungen
- Documento 98 Albert Einstein Por Que o SocialismoDokument10 SeitenDocumento 98 Albert Einstein Por Que o SocialismoCAMILA VIEIRA ALEXANDRENoch keine Bewertungen
- LÉVY, Pierre - Inteligencia Colectiva - Por Una Antropologia Del CiberespacioDokument142 SeitenLÉVY, Pierre - Inteligencia Colectiva - Por Una Antropologia Del CiberespacioThaisa Nara Victor Francisco100% (1)
- 38 Wagner de Barros PDFDokument7 Seiten38 Wagner de Barros PDFPedroNoch keine Bewertungen
- Os Dois Livros de DeusDokument4 SeitenOs Dois Livros de DeusJ.RogerioNoch keine Bewertungen
- Fichamento Da Classificação Dos Seres À Classificação Dos SaberesDokument5 SeitenFichamento Da Classificação Dos Seres À Classificação Dos SaberesJunio LopesNoch keine Bewertungen
- A importância de Paul Philippot e do tempo na restauração arquitetônicaDokument12 SeitenA importância de Paul Philippot e do tempo na restauração arquitetônicaGisele MontalvãoNoch keine Bewertungen
- Linguagem, língua e lingüísticaDokument6 SeitenLinguagem, língua e lingüísticaRenato Mendes OliveiraNoch keine Bewertungen
- Tese Humberto Rocha - m3 - Corrigida - 27.01.22016 - Final - Sem AssinaturasDokument337 SeitenTese Humberto Rocha - m3 - Corrigida - 27.01.22016 - Final - Sem Assinaturasjulio.upe9317Noch keine Bewertungen
- Sri Krsna SamhitaDokument150 SeitenSri Krsna SamhitaJorge MacárioNoch keine Bewertungen
- Abraão, servo de YahwehDokument16 SeitenAbraão, servo de YahwehRafael SilvaNoch keine Bewertungen
- Senso Comum Vs DogmatismoDokument9 SeitenSenso Comum Vs Dogmatismoalex rochaNoch keine Bewertungen
- Relação Entre Ciência e PesquisaDokument24 SeitenRelação Entre Ciência e PesquisaEdila Tais Souza100% (1)
- Educacao No RenascimentoDokument9 SeitenEducacao No RenascimentoSasbalNoch keine Bewertungen
- Pesquisa UFRRJ projetoDokument4 SeitenPesquisa UFRRJ projetoLuciana FreitasNoch keine Bewertungen
- Teoria de Tudo baseada em Metafísica Relacional de HegelDokument13 SeitenTeoria de Tudo baseada em Metafísica Relacional de HegelSilva AlmeidaNoch keine Bewertungen
- A Aprticula de DeusDokument7 SeitenA Aprticula de Deusfariasfilho41956Noch keine Bewertungen
- A Leitura de Textos DifíceisDokument6 SeitenA Leitura de Textos DifíceisRafam Al CarvelNoch keine Bewertungen
- ABREU, Mauricio - O Estudo Geografico Da Cidade No BrasilDokument106 SeitenABREU, Mauricio - O Estudo Geografico Da Cidade No BrasilHelena Campos RattonNoch keine Bewertungen
- Vigotski's Foundations of PedologyDokument3 SeitenVigotski's Foundations of PedologyKarina BatistaNoch keine Bewertungen
- ARTE, OBJETO ARTÍSTICO, DOCUMENTO E INFORMAÇÃO EM MUSEUS, Por Lena Vânia PinheiroDokument7 SeitenARTE, OBJETO ARTÍSTICO, DOCUMENTO E INFORMAÇÃO EM MUSEUS, Por Lena Vânia PinheiroDaniel Ribeiro dos SantosNoch keine Bewertungen