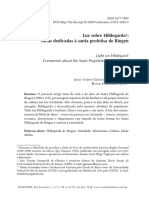Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Livro SND1
Hochgeladen von
Williams ReisOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Livro SND1
Hochgeladen von
Williams ReisCopyright:
Verfügbare Formate
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PAR UFOPA CENTRO DE FORMAO INTERDISCIPLINAR CFI
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo Organizadores
Ciclo de Formao Geral da Ufopa Coleo DILOGOS INTERDISCIPLINARES Srie MDULOS INTERDISCIPLINARES TEXTOS Volume 1
Santarm Par 2012
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Ficha Catalogrfica
GAMA, Joo Ricardo; LEO, Andra Simone Rente, orgs. Sociedade, Natureza e Desenvolvimento SND/ Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo . So Paulo: Acquerello, 2012. 208 p. (Coleo Dilogos Interdisciplinares; 1) ISBN 978-85-64714-06-9 1. Desenvolvimento 2. Meio Ambiente. 3. Histria. 4. Geografia. 5. Economia. 6. tica. 7. Cidadania. 8. Diversidade biocultural. 9. Brasil. I. GAMA, Joo Ricardo, org. II. LEO, Andra Simone Rente, org. II. Ttulo. III. Coleo.
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PAR UFOPA Jos Seixas Loureno Reitor pro tempore Dris Santos de Faria e Maria de Ftima Matos de Souza Diretoria do CFI Centro de Formao Interdisciplinar Dris Santos de Faria Marianne Kogut Eliasquevici Snia Nazar Fernandes Resque Devison Nascimento Desenho metodolgico instrucional da srie Mdulos Interdisciplinares Textos Dris Santos de Faria e Joo Tristan Vargas Organizao da srie Mdulos Interdisciplinares Textos Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo Organizao do livro Sociedade, Natureza e Desenvolvimento - SND Marianne Kogut Eliasquevici Snia Nazar Fernandes Resque Devison Nascimento Integrantes da AEDI Assessoria de Educao a Distncia da UfPa Apoio tcnico e metodolgico produo da srie Mdulos Interdisciplinares Textos Mara Ftima Arajo da Silva Apoio tcnico ao livro Seminrios Integradores SINT Reitoria da Universidade Federal do Par e AEDI Parceria Institucional Rose Pepe Produes e Design Autoria Grfica Editora Progressiva Impresso
Universidade Federal do Oeste do Par
Agradecimentos O CFI agradece a toda a equipe da AEDI, especialmente aos professores da UFPA Jos Miguel Veloso e Selma Leite, seus diretores, que colaboraram na produo tcnica e metodolgica desta srie. Agradece tambm a todos os alunos do primeiro semestre interdisciplinar da UFOPA por sua participao nas aulas, pois por meio do dilogo que se d no processo de ensino/aprendizagem que este Centro vem obtendo as referncias necessrias para o aperfeioamento do presente material textual. O Centro registra ainda seus agradecimentos a todos aqueles professores desta universidade que com suas observaes crticas tm colaborado para o mesmo fim.
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
APRESENTAO A ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE, O CENTRO DE FORMAO INTERDISCIPLINAR E OS TEXTOS DA SRIE A Universidade Federal do Oeste do Par UFOPA foi criada pela Lei n. 12.085, de 5 de novembro de 2009, pela fuso dos campi da Universidade Federal do Par/UFPA e da Universidade Federal Rural do Par/UFRA existentes em Santarm. Ela fruto do esforo conjunto dos governos federal, estadual, municipais e da sociedade em geral, os quais reconhecem a importncia do papel da Universidade Pblica como vetor de desenvolvimento local e regional e, sobretudo, como importante contribuinte da integrao do conhecimento cientfico, tecnolgico e cultural pan-amaznico. Mais do que uma simples fuso, a criao da UFOPA significa a presena, de forma inovadora, de uma Universidade Federal no corao da imensa regio amaznica. A UFOPA elege como prioridade para sua atuao o contexto regional, em articulao e sintonia com os contextos nacional e mundial, visando formao continuada de recursos humanos qualificados graduados e ps-graduados , assim como produo e reproduo de conhecimentos. Para tanto, privilegia novos instrumentos e modelos curriculares, a comear pela sua estrutura acadmica organizada em Institutos, voltados para o ensino, a pesquisa (com nfase na produo de conhecimentos interdisciplinares) e a extenso. Os Institutos da UFOPA oferecem cursos que atendem a uma formao de graduao e de ps-graduao, no conjunto de grandes temas de conhecimento, de interesse cientfico geral e amaznico, em particular, atuando multi e interdisciplinarmente. Os seis organismos estruturantes da UFOPA so os seguintes: Centro de Formao Interdisciplinar CFI Instituto de Biodiversidade e Floresta IBEF Instituto de Cincia e Tecnologia das guas ICTA Instituto de Cincias da Educao - ICED Instituto de Cincias da Sociedade ICS Instituto de Engenharia e Geocincias IEG So trs os seus Ciclos de Formao: 1. O Ciclo de Formao Graduada Geral 2. O Ciclo de Formao Graduada Especfica 3. O Ciclo de Formao Ps-Graduada A formao acadmica em trs ciclos evidencia a opo pelo conceito e pela prxis de um processo de educao continuada, que se verifica desde o acesso Formao Interdisciplinar I, comum a todos os seus cursos, at a ps-graduao stricto sensu.
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
O primeiro semestre interdisciplinar O primeiro semestre do Ciclo de Formao Graduada Geral (tambm chamado de Formao Interdisciplinar I), a cargo do CFI, procura proporcionar ao aluno o contato com um amplo leque de conhecimentos oriundos de diversas reas disciplinares, abordados de maneira integrada por meio de mdulos interdisciplinares. Os mdulos so seis: Origem e Evoluo do Conhecimento; Lgica, Linguagem e Comunicao; Sociedade, Natureza e Desenvolvimento; Estudos Integrativos da Amaznia; Seminrios Integradores; Interao com a Base Real. Como se pode notar, cada mdulo, considerado especificamente, apresenta um carter de integrao entre reas de conhecimento. Um deles, porm, tem por objetivo aprofundar ainda mais essa integrao, pois seu objetivo ensejar a concatenao e uma ressignificao de todos os contedos trabalhados nos outros mdulos. Trata-se dos Seminrios Integradores. Por meio da discusso de temas pertinentes a todos os mdulos, os Seminrios, oferecidos pelos diversos Institutos da UFOPA, proporcionam ao aluno a oportunidade para interligar por si mesmo as mltiplas referncias que vai adquirindo ao longo do primeiro semestre. Por essa via, abre-se a oportunidade tambm para que o aluno desenvolva um vis de integrao para o olhar que dirigir s carreiras e profisses para as quais se encaminharo nos outros Institutos, aps sua passagem pelo CFI. O mdulo Interao com a Base Real, por sua vez, objetiva mais explicitamente a aplicao de conhecimentos, competncias e habilidades adquiridos ou enriquecidos ao longo do primeiro semestre, para a construo de novos conhecimentos e para a interveno na realidade: constitui um programa de iniciao pesquisa e de extenso, preferencialmente voltado para as comunidades em que os alunos atuam. O objetivo dessa organizao , de um lado, proporcionar aos alunos a experincia com a multidisciplinaridade que caracteriza os contedos programticos de cada mdulo , para que, a partir da, possam avanar na compreenso da interdisciplinaridade que caracteriza o modo pelo qual tais temas se relacionam uns com os outros em todos os mdulos. Essa opo lhes permitir construir significados mais abrangentes e aprofundados para os conhecimentos fundamentais com os quais entraro em contato ao longo do Ciclo e de sua trajetria nos Institutos. De outro lado, a opo por tal organizao visa favorecer o desenvolvimento de habilidades e competncias que possibilitem aos alunos alcanar autonomia intelectual. Desse modo, o Ciclo de Formao Graduada Geral poder proporcionar uma base slida para o 8
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Dris Santos de Faria e Maria de Ftima Matos de Souza Diretoria do CFI
Universidade Federal do Oeste do Par
prosseguimento dos estudos nas diversas reas do conhecimento sob responsabilidade dos diversos Institutos desta universidade no mbito dos quais, o aluno encontrar novos ambientes para a busca de seu desenvolvimento integral. A Formao Interdisciplinar I trabalhada por equipes multidisciplinares empenhadas na construo interdisciplinar dos conhecimentos que compem o contedo programtico dos cursos da UFOPA. Nesse primeiro semestre so utilizados, entre outros, materiais pedaggicos exclusivos, com textos inditos, produzidos por expressivos autores locais, regionais e nacionais, apresentados neste e em todos os livros da Srie Mdulos Interdisciplinares - Textos. Tais textos tm como finalidades a introduo ao estado da arte dos temas que abordam e a discusso fundamentada a respeito destes. A Srie integra a Coleo Dilogos Interdisciplinares, cujo propsito estimular o debate interdisciplinar por meio da publicao de textos oriundos das mais diversas reas, que de forma plural possam contribuir para a construo de um conhecimento de carter integrativo. Assim, durante o seu primeiro perodo acadmico, o estudante adquire uma formao geral de natureza mlti e interdisciplinar, que abrange conhecimentos relativos aos mbitos local, nacional e mundial, inextricavelmente conectados nestes tempos de globalizao. A formao proporcionada pelo CFI no apenas acadmica, mas tambm cidad, pois a realidade em que o aluno se insere objeto de contnua reflexo no semestre inicial. A boa performance nesse primeiro semestre permite aos alunos o acesso a cada um dos Institutos, ingressando assim na Formao Interdisciplinar 2, especfica de cada Instituto escolhido. Trata-se de formao organizada a partir da sntese de conhecimentos bsicos e comuns aos cursos a oferecidos. Na sequncia, e em funo de seu desempenho nesse novo semestre interdisciplinar, o aluno ingressa no curso de Bacharelado Interdisciplinar ou na Licenciatura Interdisciplinar pretendidos, obtendo, ao final do Primeiro Ciclo, o seu primeiro diploma universitrio. Optando por continuar na UFOPA, ingressa no Segundo Ciclo, para obter o seu segundo diploma universitrio, desta feita uma graduao especfica. Em seguida, poder continuar seus estudos, pleiteando os vrios nveis de ps-graduao oferecidos no mbito do Terceiro Ciclo.
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
SUMRIO
13 17 61 105 137 151 181
Prefcio Texto 1 - Desenvolvimento e meio ambiente Texto 2 - Conflitos sociais no Brasil no incio do perodo republicano Texto 3 - Geografia do Brasil Texto 4 - Cincia Econmica: elementos de uma sntese introdutria Texto 5 - tica, sociedade e cidadania Texto 6 - Diversidade biocultural: conversas sobre Antropologia(s) na Amaznia
11
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
PREFCIO
Os textos que compem este livro abordam um amplo conjunto de dados e questes relacionados ao tema geral sociedade, natureza e desenvolvimento. Tal tema, por sua vez, desdobra-se em trs grandes eixos temticos:
Poder, Estado e Sociedade Desenvolvimento e Meio Ambiente Diversidade Cultural
Como os demais livros do volume I da srie Mdulos Interdisciplinares Textos, este no foi organizado com o propsito de ser utilizado como manual, e sim de fornecer elementos essenciais para que o leitor inicie a construo de um quadro geral a respeito da rea de conhecimento. Assim, embora todos os textos busquem apresentar o fundamental dentro do assunto escolhido, cada um deles apresenta um perfil prprio, que expressa o ponto de vista de seu autor ou autores. A rica diversidade de perspectivas terico-metodolgicas que caracteriza esta obra um dos traos que distinguem a UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Par) e que, a nosso ver, devem marcar a atividade acadmica de modo geral. O primeiro texto, Desenvolvimento e meio ambiente, produzido por Edna Castro, professora do NAEA (Ncleo de Altos Estudos Amaznicos) da UFPA (Universidade Federal do Par), inicia discutindo o conceito de desenvolvimento e apresentando um histrico das vises e propostas a respeito. Partindo do perodo em que so construdos os fundamentos desse conceito (poca do Iluminismo), a autora discorre sobre a emergncia do debate acadmico quanto questo, por volta dos anos 1930, as discusses na Amrica do Norte e Europa nos anos 1940 relativas s economias avanadas, a grande polmica das dcadas de 1950 e 1960 sobre os modelos de desenvolvimento, centrada na CEPAL (Comisso Econmica para a Amrica Latina), e o crescimento, a partir dos anos 1960, do debate sobre a preservao ambiental, que contribuiu para a construo do conceito de desenvolvimento sustentvel, fundamental nos dias de hoje. Aborda a seguir as questes da tica do desenvolvimento e da valorizao dos saberes tradicionais sobre a natureza (de ndios, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e outros), destacando a contribuio da antropologia para o debate a respeito desta ltima. Discute em seguida as diversas noes de natureza que medeiam a discusso sobre as relaes entre sociedade e meio ambiente na atualidade, o significado da Amaznia no contexto internacional, as formas de explorao econmica 13
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
que predominaram nesse territrio (pecuria, madeira, soja, minerao) a partir da dcada de 1970, as relaes destas com o desmatamento e a posterior institucionalizao da questo ambiental, que passa a ser objeto de polticas pblicas e de acordos internacionais. O segundo texto, intitulado Conflitos sociais no Brasil no incio do perodo republicano, de autoria de Joo Tristan Vargas, professor do CFI (Centro de Formao Interdisciplinar) da UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Par), versa sobre os principais conflitos sociais ocorridos no perodo da Primeira Repblica, no campo e na cidade, trazendo, assim, algumas referncias importantes para o entendimento da formao da sociedade brasileira. Ao discorrer sobre as relaes de trabalho no espao urbano e sobre as questes relacionadas criao dos direitos trabalhistas, enfatiza a organizao da classe operria e extravasa o recorte histrico indicado no ttulo, tecendo consideraes sobre o perodo posterior, marcado pela figura de Getlio. Com uma abordagem histrica, so discutidos: a Guerra de Canudos; a Revolta da Vacina; a Guerra do Contestado; e a Revolta da Chibata. Trata-se de conflitos que, como o autor procura demonstrar, estavam estreitamente relacionados com a consolidao da ordem poltica e social republicana do Brasil e com a nfase conferida na poca s noes de modernidade e progresso. Outras referncias de importncia para o estudo da realidade brasileira so fornecidas pelo terceiro texto, Geografia do Brasil, de autoria de Josilda Moura e Ivaldo Lima, ambos docentes da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O modo como expem o assunto evidencia a vocao interdisciplinar das reas de Histria e Geografia, pois as questes relativas transformao do espao geogrfico so por eles apresentadas numa perspectiva histrica. Assim, no incio de sua exposio abordam o perodo colonial, discutindo as relaes entre expanso territorial, apropriao/ ocupao de terras e a instituio de relaes de poder. Na sequncia, tocam em questes como a da reconfigurao das estruturas espaciais ocasionadas pela transio do modelo agroexportador para o urbanoindustrial, suas relaes com as alteraes na diviso territorial do trabalho e no aparelho de Estado no sculo XX, apresentam o conceito de semiperiferia, discutem a formao dos blocos econmicos supranacionais, como o Mercosul, e a diversidade territorial do espao brasileiro, com destaque para o contexto amaznico. No quarto texto, que leva o ttulo de Cincia econmica: elementos de uma sntese introdutria, Jos Oliveira Jr. e Marcelo Diniz (professores da UFPA) fazem uma breve introduo Cincia Econmica. Indicam previamente seus nexos com as esferas das 14
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
relaes de poder e da ideologia. Apresentam a seguir noes e conceitos importantes para essa disciplina, como as ideias de equilbrio e de eficincia, e expem o mtodo prprio dos estudos em Economia. O quinto texto, tica, sociedade e cidadania, de Jos Claudinei Lombardi e Mara Regina Martins Jacomeli, ambos professores da Unicamp (Universidade de Campinas), coloca numa perspectiva histrica a ideia de cidadania, expondo seu conceito na Antiguidade Clssica (Grcia e Roma) e aps as revolues burguesas. A seguir, ressaltando a importncia do conceito de pblico para a ideia de cidadania, apresentam sua viso a respeito das diferenas entre esse conceito e o de estatal. Para isso, tomam como exemplo a escola pblica e percorrem de forma sucinta o longo trajeto das reflexes clssicas acerca do Estado moderno, de Maquiavel a Marx. Os autores tambm se colocam a respeito do tema correlato da tica, o qual discutem por meio de contextualizao histrica. De autoria de Jane Beltro, Denise Schaan e Hilton Silva, docentes da UFPA, o ltimo texto do livro, intitulado Diversidade biocultural: conversas sobre antropologia(s) na Amaznia, tem como elemento norteador a nfase na ideia de diversidade, aplicada espcie humana. Os autores iniciam a discusso explicando porque no vlida a noo de raa e seguem a trajetria evolutiva dos homindeos, desde seu surgimento na frica at o aparecimento, nesse mesmo continente, da espcie humana atual. Tambm trazem informaes sobre a arqueologia, enfatizando a importncia desta cincia, ao lado da antropologia, para o estudo dos povos amaznicos. Ao finalizar este livro, o leitor ter tomado contato com um grande nmero de questes, que podero enriquecer o conjunto de referncias de que j dispe. As informaes e indagaes aqui apresentadas tambm convidam para um contnuo aprofundamento nos temas discutidos, a que o leitor certamente se sentir estimulado medida que percorre os textos. Joo Tristan Vargas1 Andra Simone Rente Leo2
1 Doutor em Histria Social pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e professor do CFI (Centro de Formao Interdisciplinar) da UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Par); um dos organizadores desta srie. 2 Mestre e doutoranda em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela UFRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro); professora do CFI (Centro de Formao Interdisciplinar) da UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Par) e coordenadora do mdulo de SND. a organizadora deste livro, juntamente com Joo Ricardo Gama.
15
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Texto 1
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
Edna Maria Ramos de Castro1
INTRODUO
A humanidade tem pela frente um grande desafio que o de encontrar um modelo de sociedade e de economia que seja capaz de incorporar a noo de natureza (homem e meio fsico) como matriz fundamental do desenvolvimento. Isso significa pensar no modelo de desenvolvimento que vigorou nos ltimos sculos e nos acompanha neste terceiro milnio, no qual o interesse principal esteve no crescimento econmico, sem considerar os impactos sobre a sociedade e a natureza. Mas o que desenvolvimento, e qual a relao entre desenvolvimento e meio ambiente? O que significa desenvolvimento sustentvel? E a Amaznia, de que forma participa nesse debate global sobre desenvolvimento e meio ambiente? Estas so algumas das perguntas que norteiam este texto, que est dividido em duas partes. A primeira reconstitui a trajetria do debate intelectual e poltico sobre desenvolvimento e meio ambiente, identificando o sentido que tomou o conceito de desenvolvimento sustentvel no iderio e nas utopias do sculo XX. Percorre, assim, os conceitos mais expressivos que tornaram essas discusses extremamente fecundas e interessantes. Na segunda parte, esboamos uma anlise sobre a Amaznia, com o objetivo de entend-la na perspectiva do desenvolvimento sustentvel. Esta regio, por ser rica em recursos naturais, mpar no planeta pela extenso da floresta e da rede hidrogrfica, alm da diversidade tnico-social, olhada com bastante interesse tanto por aqueles que propugnam a intensificao do crescimento econmico, quanto por outros que vem a possibilidade de conservao ambiental, justamente por essa regio conter ainda ecossistemas bastante preservados. Entre
1 Doutora em Sociologia pela cole des Hautes tudes en Sciences Sociales (Paris Frana) e professora do NAEA (Ncleo de Altos Estudos Amaznicos) da UFPA (Universidade Federal do Par).
17
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
esses pontos polmicos, vrias interpretaes so propostas. Mas, tambm, a Amaznia vista por interesse de pesquisas que buscam entender se a floresta tem importncia quanto emisso de gases de efeito-estufa e aos servios ambientais que ela possa prestar para o equilbrio do planeta. As cincias sociais, e em especial a economia, produziram sobre o desenvolvimento um conjunto de conceitos e teorizaes que ficou conhecido como teorias e princpios do desenvolvimento. Estas teorizaes procuram interpretar como as sociedades conseguiram organizar seu processo produtivo para aproveitamento dos recursos naturais e aumento da produtividade. Por que importante rever essas teorizaes? Justamente porque elas elucidam o entendimento desse processo, ao longo do tempo, e ajudam a iluminar os dilemas atuais que as nossas sociedades enfrentam, como a crise ambiental na qual se inserem as mudanas climticas e o aquecimento global. Por isso, neste texto, optamos por percorrer alguns conceitos formulados no debate sobre o desenvolvimento, por sinal bastante exaustivo desde meados do sculo XX. Essas interpretaes polmicas de alguma forma influram nos crivos e olhares no apenas das anlises sobre a Amaznia, que associam notadamente sua imagem ao verde e ao desenvolvimento sustentvel, mas tambm numa sequncia de projetos de interveno, de polticas governamentais e de empreendimentos econmicos (CASTRO, 2004; CASTRO, 2005; CASTRO, 2007).
1 DESENVOLVIMENTO VISTO COMO PROCESSO CIVILIZATRIO E MODERNO
Universidade Federal do Oeste do Par
Com a emergncia da sociedade industrial a partir da Revoluo Industrial no sculo XVIII, tornou-se dominante a crena na cincia e na tecnologia. Uma crena que embalou os sonhos de vrias geraes, pelo qual a razo humana poderia encontrar solues mais eficazes para alcanar um desenvolvimento que atendesse as necessidades de cada nao. Esse movimento, que considera a primazia da razo, que valoriza a racionalidade humana no sentido de que a mesma possa fazer escolhas mais racionais, se chama Iluminismo. Quer dizer, ilumina, ou lana luzes pela razo, e no pela f, como
18
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
19
Universidade Federal do Oeste do Par
vigorara anteriormente na sociedade feudal. O iluminismo permitiu ao homem acreditar nas ferramentas racionais para construir outra ordem econmica, cuja aventura principal era o crescimento econmico capitalista, que passa a ser o objetivo maior e a obsesso da cincia moderna e da tecnologia (FALCON, 1991). O iluminismo formula uma noo de conjunto, de participao de todos os povos numa nica direo, que era dada pelo que ficou conhecido como processo civilizatrio. Neste sentido, ele orientou o avano do conhecimento, do progresso e da ordem civilizatria, que correspondia a novos padres de costumes, de valores e de organizao social. A razo seria o instrumento intelectual que garantiria ao homem a capacidade de conhecer a verdade e, com base nela, encontrar os meios corretos para intervir na realidade, orientando assim, com segurana, os rumos do desenvolvimento, do progresso e do controle da natureza. Essa ideia de domnio da razo, ou de sua hegemonia, vista tambm como um processo de secularizao, pois valoriza mais o conhecimento cientfico em relao filosofia e religio e, em ltima anlise, tambm ao conhecimento popular. Ela est ligada concepo histrica de progresso, ou seja, de progresso civilizatrio, entendendo-o como o caminho natural para todas as sociedades. As Cincias Sociais nascem nesse contexto de valorizao do conhecimento cientfico. Fazia-se necessrio entender as sociedades, suas estruturas e seus processos, sua economia, suas contradies e conflitos, face s transformaes que vinham ocorrendo de forma acelerada com os impactos da revoluo industrial sobre a vida e os costumes incorporados pelas pessoas e sociedades. Estas noes de secularizao e de progresso correspondem modernidade como racionalidade instrumental (WEBER, 1989; BRSEKE, 1993). Para Habermas (1987), a modernidade coloca o homem diante de difceis dilemas. So impasses e contradies de uma sociedade que caminha cada vez mais rpido em direo ao progresso, mas seccionando a vida social e cultural. A anlise da modernidade feita por este autor uma crtica profunda razo, que, para ele, instrumentaliza a vida em nome do progresso econmico. Ele analisa a dinmica social e os processos de diferenciao interna nos sistemas sociais, levando em conta a crescente racionalidade
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
das sociedades, pois, cada vez mais, as pessoas orientam as suas aes pela razo e no pelo sentimento. Faz uma distino entre o que chama de esfera do mundo vivido (que ele considera as relaes sociais organizadas em torno de subsistemas da cultura, da vida social, do simblico e da personalidade) e a esfera do sistema (que corresponde s estruturas de poder, ao subsistema do Estado e ao sistema da economia de mercado). A representao (imagem) sobre a sociedade moderna se forma nesse contexto de ideias. Assim, iluminismo, racionalidade e modernidade so noes referidas aos processos de mudana (tempo e espao) das formas de produzir a vida decorrente da revoluo industrial. Todas elas so noes intimamente relacionadas ao conceito de desenvolvimento, no sentido de desenvolvimento da sociedade e da economia capitalista.
2 EVOLUCIONISMO, DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO
Muitas anlises em cincias sociais tm sido influenciadas pela concepo evolucionista que subjaz s noes de progresso e modernidade. Consideram elas que as sociedades tendem a trilhar um mesmo caminho, que iria das sociedades mais simples s mais complexas, isto , de sociedades atrasadas para sociedades modernas. O pensamento evolucionista dominou as filosofias nos sculos XVIII e XIX e balizou a formao das cincias da vida, da terra e inclusive das cincias sociais (Sociologia, Geografia, Economia, Histria, Antropologia, Direito etc.) como um paradigma do pensamento cartesiano ocidental. Ele prossegue influenciando o pensamento no sculo XX e chegando at o XXI, como iremos observar nas ideias sobre o desenvolvimento e o meio ambiente. Assim, o desenvolvimento associado ao progresso e modernizao, estabelecendo um sistema de valor comparativo. E como consequncia desse pensamento, os pases desenvolvidos e industrializados tornam-se o modelo a ser seguido pelos demais, consagrando a dicotomia pases desenvolvidos x pases subdesenvolvidos. Essa matriz evolucionista v as sociedades
20
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
segundo nveis de desenvolvimento (indicadores econmicos)2, como se fosse possvel reduzir a complexidade social, cultural, poltica e econmica de cada sociedade, no mundo, segundo um dado padro de desenvolvimento. Como os pases foram concebidos conforme esses graus de desenvolvimento, obscureceu-se o fato importante de que essa diferena dependia muito do processo histrico de dominao entre os pases no mundo capitalista. E foi dessa maneira que alguns conseguiram se desenvolver (pases colonialistas da Europa ou os Estados Unidos da Amrica, por exemplo) com base na explorao de recursos naturais e mo de obra dos pases menos desenvolvidos (Amrica do Sul, frica e sia), onde estavam suas ex-colnias, ou atravs de outros meios de articulao e dominao das relaes mercantis, como mostra Cardoso (1993) na anlise sobre a relao entre a histria dos pases da Amrica Latina e sua situao estrutural de dependncia e pobreza econmica. 3 O DESENVOLVIMENTO VISTO COMO CRESCIMENTO ECONMICO E PROGRESSO As interpretaes sobre o desenvolvimento que emergem nos anos 30 do sculo passado tm, em sntese, duas dimenses principais: a dimenso acadmica, que procura entender e construir interpretaes sobre o desenvolvimento enquanto processo histrico de expanso da sociedade moderna e do capitalismo, e a dimenso normativa, que procura aplicar aqueles resultados atravs da implementao de polticas pblicas, de estratgias e aes do Estado e dos agentes econmicos. O termo desenvolvimento foi concebido, nas teorias do sculo XX, como crescimento econmico. No eram considerados, assim, nessa poca, os impactos sociais e ambientais gerados pelo crescimento econmico, pela intensificao da tecnologia e pelo aumento de produtividade e de competitividade (DIESEL, 1995). Muito menos o social e o ambiental como componentes do conceito de desenvolvimento.
2 Os ndices econmicos mais utilizados, que visam mostrar a renda dos indivduos e a produo da coletividade, os quais so a Renda per capita e o PIB (Produto Interno Bruto), no permitiam uma anlise do desenvolvimento dos pases segundo outros indicadores importantes do ponto de vista da qualidade de vida, a propsito do que se deve se incluir tambm o ambiental.
21
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
Para Diana Hunt (1989), os primeiros pensadores econmicos tiveram um objetivo comum, que era entender como as sociedades se organizam para produzir seus meios de vida e propor medidas para o aumento da produtividade, o que levaria ao crescimento econmico. A economia uma cincia aplicada e nasce orientada para dar solues polticas voltadas para o crescimento econmico. Os autores pioneiros da economia pensaram este campo de estudos com base na ideia da cincia como conhecimento racional, seguindo os princpios iluministas. Procuravam descobrir as leis da sociedade e as regularidades da ao econmica, bem como racionalizar os processos de interveno visando maior eficincia dos fatores econmicos e do uso dos recursos escassos (tecnolgicos, naturais, humanos). A ideia central sempre foi a de organizar racionalmente a produo e o crescimento de tal forma que maximizasse a oferta de bens e servios no mercado. A relao fundamental entre sociedade e natureza sempre foi a de retirar da natureza recursos com potencial de transformao para obteno de bens atravs do trabalho. Nessa concepo, a natureza vista como fonte inesgotvel de recursos. E pela organizao da atividade econmica e do trabalho, a natureza processada para gerar utilidades, ou seja, h bens (materiais e imateriais) importantes para as pessoas, para seu uso (valor de uso), mas no para vender, e bens que passam a ter um valor de mercado (valor de troca), como mercadoria. E esse valor referido como o preo a ser pago pela sua aquisio. Ao longo do desenvolvimento capitalista, cada vez mais bens com valor de uso passam a ter tambm um valor de troca. Como se trata de uma economia capitalista, ela busca sempre o aumento da produtividade do trabalho para obter maiores ganhos de capital e assim realizar os movimentos de acumulao e de concentrao de capital (POLANYI, 1980). Mas o avano da economia foi tambm possvel devido intensificao do desenvolvimento tecnolgico, considerado como instrumento para aumentar a eficincia dos processos produtivos. O avano da cincia e da tecnologia tem um papel fundamental. A Revoluo Industrial e seus desdobramentos em busca de novas tecnologias favoreceram esse processo de desenvolvimento, permitindo o aumento da produo de bens e servios pela via da intensificao do trabalho, com longas jornadas de um trabalho mal remunerado, ao mesmo tempo
22
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
que aumentava a produtividade tambm pela via da inovao tecnolgica. Ao longo da histria do capitalismo, vrias teorias procuraram discutir o trabalho como a base das relaes de produo, de marxistas a funcionalistas, identificando relaes entre crise e novos modos de regulao do trabalho (LIPIETZ, 1997; CASTELS, 2000). Mas cabe lembrar que o desenvolvimento como crescimento econmico foi objeto de muita polmica, travada em funo das diferentes percepes e conceitos. Por outro lado, a polmica tambm envolvia as orientaes dadas para solucionar os problemas de crescimento econmico, seja no interior do pas, seja nas relaes dele com outros pases. esse debate que iremos esboar de forma sinttica a seguir.
3.1 A escola estruturalista e a do ncleo de modernizao capitalista A ideia central em quase todas as teorias de desenvolvimento alcanar o crescimento econmico, mesmo que as teorias e os modelos variem. Hunt (1989) descreve detalhadamente as diferentes correntes tericas e os autores principais e indica os seguintes temas de discusso: dinmica econmica agrcola; altas taxas de crescimento populacional; crescimento histrico das foras produtivas; liberalismo do mercado; e distino entre desenvolvimento e crescimento. Segundo a mesma autora, nos anos 1930 iniciam-se as discusses na Amrica Latina que dariam origem a uma corrente de pensamento que ficou conhecida como escola estruturalista. Esta escola procurava explicar as razes de certos pases permanecerem pobres em relao a outros pases industrializados, sustentando a tese de que essa situao era devida dependncia daqueles pases. Os autores dessa corrente estavam interessados nos pases da Amrica Latina e tentavam responder por que esses pases se mantinham com economia vulnervel em relao aos pases industrializados e por que tambm perdiam nas relaes comerciais com os pases mais
23
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
ricos. Essa corrente encontra na CEPAL (Comisso Econmica para a Amrica Latina) a referncia institucional principal. Nos anos 1940 surgiria a escola do ncleo de modernizao capitalista, na Amrica do Norte e na Europa, interessada mais em analisar o modelo de crescimento adotado pelas economias avanadas, as razes do sucesso e as crises de desenvolvimento. Essas duas escolas fomentaram um interessantssimo debate sobre a natureza do desenvolvimento, as causas do subdesenvolvimento, o papel do Estado no processo de desenvolvimento, os modelos econmicos e, enfim, sustentavam a relevncia do planejamento para alcanar maior desenvolvimento. O argentino Prebisch, pioneiro da escola estruturalista, interessado na superao da dependncia estrutural dos pases da Amrica Latina, entendia que era fundamental a autonomia dos pases para seu crescimento econmico. Partia da constatao de que esses pases que tinham como base econmica a exportao de produtos primrios (matrias-primas para alimentar a indstria dos pases mais ricos) perdiam nas relaes comerciais, o que impedia o seu crescimento. Essa constatao reforava a tese de que a industrializao era o caminho do desenvolvimento, tese defendida por vrios autores brasileiros, como Celso Furtado (1982) e Fernando Henrique Cardoso (1993). Ambas as escolas acima referidas acreditavam no papel planejador e intervencionista do Estado, ou seja, o Estado deveria investir mais recursos na construo de infraestrutura para o desenvolvimento (estradas, energia etc.) e mesmo investir diretamente em setores produtivos de base para desenvolver a indstria, a exemplo da siderurgia no Brasil. E tambm definir polticas de desenvolvimento econmico, orientando os investimentos e as aes pblicas3.
Universidade Federal do Oeste do Par
3.2 A polmica do desenvolvimento nos anos 1950 e 1960 O debate latino-americano (e brasileiro) sobre o desenvolvimento foi mais fecundo na dcada de 1950. Ele trazia novos elementos, mas sempre reafirmando a crena no
3 Cabe ressaltar, embora en passant, que o Estado tem um carter intervencionista conforme dominava na poca de grande influncia da teoria keynesiana.
24
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
25
Universidade Federal do Oeste do Par
planejamento como forma de os pases alcanarem patamares mais elevados de crescimento econmico e tecnolgico. No caso brasileiro, essa dcada de muito entusiasmo e de investimentos que levaram a um importante surto de crescimento econmico. quando se fortaleceram muitos ramos industriais, notadamente a indstria automobilstica. E quando o sonho brasileiro de fincar sua capital no corao do pas ir se realizar, com a construo de Braslia. a dcada tambm em que o pas integra o sul ao norte com a construo da rodovia Belm-Braslia. Essas decises governamentais encontraram respaldo na ideologia nacional-desenvolvimentista que predominou no pas nesse perodo. A CEPAL abrigou intelectuais de vrias linhas tericas e origens institucionais. Teve um papel importante, pois, no bojo das discusses, outras linhas de interpretao sobre o desenvolvimento apareceram, como o caso da teoria da dependncia. Nos anos 1960, as formulaes da teoria da dependncia beberam nas fontes das Cincias Sociais, visando apoiar as crticas ao desenvolvimento como crescimento econmico e se propondo o desafio terico de integrar economia e sociedade no conceito de desenvolvimento. Vrias interpretaes procuraram centralizar-se na dimenso sociopoltica do desenvolvimento, pois nos pases latino-americanos aumentava a pobreza e o nmero de miserveis. No mbito da teoria da dependncia, foram acrescidas noes importantes vindas de outras cincias sociais, como a Histria, a Sociologia, a Geografia e o Direito, e no s da Economia, permitindo abrir novas perspectivas pela anlise interdisciplinar. Inmeros intelectuais brasileiros, argentinos, uruguaios, colombianos, chilenos e mexicanos na dcada de 1950 falavam que era importante uma poltica protecionista da economia para levar frente um programa de industrializao. Acreditavam que a industrializao era a sada do subdesenvolvimento e que esses pases seriam capazes de fabricar esses produtos internamente. Isso era apresentado como um modelo de desenvolvimento, conhecido mais precisamente como modelo de substituio de importaes. Em que consistia esse modelo que forjou a base do desenvolvimento industrial no Brasil e em vrios outros pases latino-americanos? De forma sucinta, consistia na progressiva substituio de produtos importados
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
por outros, similares, que seriam produzidos internamente no pas. Essa substituio deveria ser primeiramente de produtos de consumo simples, depois bens de consumo mais complexos, at chegar substituio de bens de produo, como mquinas, equipamentos, etc. Enfim, produtos cada vez com maior densidade tecnolgica. Mas, tambm estava presente a compreenso de que a estagnao e a falta de capital para investir eram grandes desafios, e comuns a todas as economias latino-americanas. Essas ideias dominaram as reas acadmicas, empresariais e polticas, influenciando, dos anos 1950 a 1970, a formulao de polticas econmicas para a Amrica Latina. A CEPAL teve um papel importante na discusso, assessorando governos no planejamento e na elaborao de modelos de desenvolvimento. Nessa linha de raciocnio, alm dos investimentos, tambm estava sendo considerada a importncia da formao de uma classe mdia com poder de consumo. Por isso, as anlises tambm tinham o olhar voltado sobre a massa de salrios que passaria a ser paga com o aumento da oferta de emprego nas indstrias, levando a crescer o consumo, sobretudo nas reas urbanas. Desta forma, sustentavam a necessidade de aumentar a capacidade de investimento desses pases e sua industrializao. Esta dcada de 1970 representa um marco na histria. a dcada em que a sociedade se reorganiza em movimentos que lutam pela democracia e restabelecimento de direitos polticos e sociais. Em alguns pases, como o caso do Brasil, a sociedade se organizou em torno de lutas pela redemocratizao do pas. Conseguiu pressionar o poder pblico para garantir a elaborao de uma nova constituio. E no por acaso que a Constituio Brasileira de 1988 mais avanada em relao s anteriores, quanto aos direitos sociais, polticos, econmicos e mesmo ambientais, pois reflete um espao de luta poltica bem anterior. Um autor bastante influente, o marxista americano Andre Gunder Frank (1971), no bojo das discusses que originaram a teoria da dependncia, importante na dcada de 1970, acreditava que as trocas comerciais resultaram sempre em perdas para os pases subdesenvolvidos, pois esses pases sempre foram dominados, como periferias, por pases hegemnicos, e, por isso, reforavam a ideia de que era impossvel alcanar o desenvolvimento, se mantida essa dependncia. Segundo
26
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
4 O IDH (ndice de Desenvolvimento Humano), produzido pelo PNUD (Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento), constitui uma forma alternativa de usar alguns outros indicadores para medir a situao de desenvolvimento, que no apenas a renda. Em sua composio entram, assim, dados de educao, sade, longevidade e renda. Outros indicadores mais usuais medem apenas variveis de renda e mascaram a situao real dos pases, regies e municpios quanto ao desenvolvimento. Esse ndice pode ser combinado com o ISI (Indicador da Sociedade da Informao), que se ocupa de variveis ambientais. Continuam as tentativas de se ter ndices ainda melhores, mas por enquanto so esses os mais completos que se tm. Enfim, esto entre os mais baixos do pas, ganhando apenas para o Nordeste. Aconselhamos uma visita ao site do PNUD (http//www.pnud.org.br) para outros dados sobre o IDH.
27
Universidade Federal do Oeste do Par
Hunt (1989), a teoria da dependncia estava prxima da perspectiva marxista. Efetivamente, ela se forma com certa influncia da teoria crtica. Enfim, o autor citado assinalara que o subdesenvolvimento decorria da apropriao da mais-valia (lucro, ou seja, valor do trabalho no pago) produzida nos pases perifricos. Entretanto, apesar desse debate de carter heterogneo, e da influncia das ideias da escola estruturalista da CEPAL e da teoria da dependncia em muitos governos latino-americanos, como o caso do Brasil, na dcada de 1970 acabaram dominando as polticas econmicas mais conservadoras (neoliberais). As foras sociais e as elites nacionais com suas alianas internacionais acabaram por determinar os processos polticos na Amrica Latina e a sequncia de golpes militares. Emerge, a partir de ento, uma fase de governos autoritrios e ditatoriais (Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, entre outros) e de fortalecimento das polticas que resultam em maior dependncia econmica. A problemtica social incorporada ao debate, chamandose ateno para a pobreza desses pases, a concentrao de renda e a dinmica poltica, temas assinalados como fundamentais para entender o jogo de foras sociais na dinmica do desenvolvimento, por autores como Sunkel (1973), Furtado (1982) e Cardoso e Falletto (1967). Indicadores utilizados em pesquisas mostravam contradies entre os dados econmicos e sociais, como vinham sendo mostrados anteriormente, mesmo antes de ter sido formulado o IDH (ndice de Desenvolvimento Humano)4. Ficou claro, portanto, nos anos 1970, que as contradies e os conflitos de classe deveriam ser considerados nos estudos sobre o desenvolvimento, bem como as origens e as estruturas histricas das sociedades, pois eram dinmicas que interferiam
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
na compreenso do projeto de desenvolvimento de uma sociedade, como sustentam Furtado (1982) e Ianni (1992), entre outros. Igualmente, os interesses das elites exportadoras, que se beneficiavam com o comrcio internacional, predominavam sobre os interesses pblicos e por isso tinham um papel importante na escolha de estratgias de desenvolvimento econmico nos pases subdesenvolvidos. Enquanto essas correntes de ideias se concentravam na preocupao com o crescimento econmico, a sociedade civil se inquietava com a qualidade do que comia e do ar que respirava. E se manifestava nas ruas de Paris, Nova York, Berlim e Londres, para dar alguns exemplos, contra a poluio vinda dos processos industriais, as usinas atmicas e o uso de agrotxicos na agricultura. 4 MOVIMENTO ECOLGICO E CONSCIENTIZAO DA QUESTO AMBIENTAL O debate sobre meio ambiente apareceria apenas nos anos 60 do sculo passado, graas a um movimento social que surgiu na Europa e nos Estados Unidos, conhecido como movimento ecolgico. Vrias correntes de pensamento poltico alimentaram acirrada discusso no seio do movimento ecolgico em busca de solues para as contradies crescentes relacionadas ao uso intensivo dos recursos naturais e aos efeitos da industrializao sobre a vida e a sade das pessoas e sobre o meio ambiente. Nos anos 1970 e 1980, o movimento ecolgico havia acumulado um poder de mobilizao nos pases da Europa e nos Estados Unidos, mas em todos os demais continentes e pases surgiam movimentos ambientalistas com bandeiras, at mesmo distintas, pois incorporavam as questes locais. No conjunto, essas mobilizaes formularam extensa pauta de denncias dos impactos da industrializao sobre o meio ambiente, o perigo das usinas atmicas, a gerao de energia poluente, o uso intensivo de agrotxicos na agricultura, o avano da fronteira agrcola sobre as florestas e o uso dos cursos dgua para gerar energia hidreltrica sem considerar os impactos sociais e ambientais, entre tantos outros questionamentos. No entanto, por muito tempo a presso do movimento ecolgico no teve eco. No meio
28
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
29
Universidade Federal do Oeste do Par
acadmico e na rea governamental foi muito lenta a tomada de conscincia da problemtica ambiental. Mas, o papel do movimento ecolgico foi importante para agendar, ainda que lentamente, uma pauta ambiental no correr dos anos 1980. No interior do movimento, vrias correntes de ideias fomentavam a discusso sobre a possibilidade de um desenvolvimento alternativo, com vrias tendncias das esquerdas nos diversos pases. O debate ambiental construdo nesse campo frtil em discusses crticas. Novas utopias sobre o desenvolvimento comeam a ser esboadas. A Conferncia Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente realizada em Estocolmo, Sucia, em 1972, e a Declarao de Estocolmo de 1972, junto com a Declarao de Cocoyoc de 1974, foram momentos oficiais de discusso entre os Estados e, de certa forma, tambm eram respostas s questes levantadas pelo movimento ecolgico. Esta Conferncia teve muita repercusso, pois representou o primeiro momento oficial de tomada de conscincia sobre a relao entre desenvolvimento e meio ambiente. E tambm foi um momento de grande manifestao da sociedade civil mundial atravs de fruns organizados, manifestaes pblicas e elaborao de documentos assinados por entidades e representantes do movimento ecolgico, em torno da questo do desenvolvimento e do meio ambiente. Em 1992 a ONU (Organizaes das Naes Unidas) realizou a Conferncia Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (vinte anos depois da realizada em Estocolmo): a Rio-92, como conhecido mundialmente o evento. A cidade escolhida, Rio de Janeiro, foi o palco das tenses sobre a poluio do planeta e o pouco avano ocorrido nos vinte anos passados. A polmica ope pases do Sul e pases do Norte, e ao mesmo tempo a afirmao de que a questo ambiental global e envolve a todos. Para o Brasil foi importante, pois contribuiu para uma conscincia ambiental nacional. Entre as grandes questes em debate estavam os impactos ambientais na Amaznia, para os quais se buscavam encaminhamentos de solues. O movimento ambientalista internacional teve papel importante na construo de novos conceitos sobre desenvolvimento e meio ambiente. A partir dos anos 1980 emergem outros conceitos trazidos por grupos sociais e tnicos, organizados em torno de questes as mais diversas, mas com
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
uma condio comum que era a sua reproduo ligada floresta ou outro ecossistema. Pela ao desses grupos e de ONGs (organizaes no governamentais), alm de pesquisadores, apoiados, no caso brasileiro, pela Constituio de 1988, so valorizados os pleitos de titulao de terras de domnio coletivo (terras indgenas, territrios quilombolas) e os saberes tradicionais sobre a natureza, notadamente sobre a floresta. A premissa que passa a predominar de associar preservao de ecossistemas e saberes tradicionais, ou seja, biodiversidade e manejo de recursos naturais. Depois de percorridas mais de trs dcadas, possvel tomar distncia para avaliar melhor as diferentes vertentes que aparecem no debate sobre o desenvolvimento alternativo. Uma primeira constatao que os limites impostos pela natureza ao crescimento econmico passaram a contar cada vez mais na discusso do desenvolvimento. Porm, o crescimento econmico permanece como modelo dominante. Ainda que a perspectiva ambiental tenha se fortalecido nas ltimas dcadas do sculo passado, h um grande caminho a percorrer quanto responsabilidade de todos para com o meio ambiente. 5 PRINCIPIOS E CONCEITOS SOBRE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE Ao fazer um balano sobre as diferentes correntes que discutem o que desenvolvimento, Veiga (2008) reconhece, em sntese, duas grandes linhas, a do desenvolvimento como sinnimo de crescimento econmico e a do desenvolvimento como uma iluso. Veiga (2008) considera Ignacy Sachs como o economista que conseguiu transitar para alm dessas duas correntes. E para responder sobre o que desenvolvimento sustentvel, sintetiza igualmente duas correntes: a formada pelos que ignoram que exista um dilema entre conservao e crescimento econmico e a que rene aqueles que acham possvel uma conciliao. V ainda as alternativas para essas linhas extremas de ideias. A polmica entre ideias e correntes continua aberta e est sempre atualizando um debate que est longe de terminar. Talvez por isso, Ignacy Sachs, no prefcio ao livro de Veiga (2008), diga que o tema desenvolvimento manter sua centralidade nas Cincias Sociais neste terceiro milnio.
30
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
nesse contexto que surgem alguns conceitos novos, no meio de outros apenas requentados, para construir a reflexo sobre desenvolvimento e meio ambiente. 5.1 Ecodesenvolvimento e Desenvolvimento Sustentvel O conceito de ecodesenvolvimento , de certa forma, pioneiro na perspectiva ecolgica e tem um papel importante na intermediao entre as propostas do movimento ecolgico, a academia e as reas governamentais. Consiste em uma abordagem que atribui peso importante ecologia. E fomenta a busca de novos enfoques e propostas de interveno que superem a dominante, que trata o desenvolvimento apenas na perspectiva da economia. No conjunto estava em questo tambm a metodologia interdisciplinar. Sachs (1994) difundiu este conceito e as anlises sobre a interdisciplinaridade como condio da produo do conhecimento e de dilogo entre campos diferentes da cincia, e entre Estado e sociedade. O termo desenvolvimento sustentvel decorre de certa forma desse processo poltico, mas foi utilizado pela primeira vez apenas em 1979, em Estocolmo, por W. Bunger, no Simpsio da Organizao das Naes Unidas sobre as Interrelaes entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento. Porm, passaria a ser difundido a partir de 1987 por ocasio da Assembleia Geral da ONU, quando foi apresentado o Relatrio Brundtland, publicado com o ttulo Nosso Futuro Comum. Esse relatrio foi feito pela Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob a presidncia de Gro Harlem Brundtland. O conceito-chave de Nosso Futuro Comum o desenvolvimento sustentvel, que ser um conceito cada vez mais usado como uma orientao, utopia ou iderio, para ser construdo com sentido comum. A situao social no mundo, com o agravamento da pobreza e o aumento das diferenas nas condies de vida entre pases ricos e pases pobres levou a afirmar a necessidade de incorporar tambm, como assinalara a teoria da dependncia, a dimenso social ao desenvolvimento. Uma ideia que circulava era a da necessidade de diminuio da pobreza e da desigualdade entre pases do norte e do sul devida dramtica diferena nos nveis de vida, ou seja, riqueza no norte e pobreza no sul. Vamos
31
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
passar alguns desses conceitos em revista, brevemente, num esforo de sntese. O conceito de desenvolvimento sustentvel expressa o desejo, ou a meta, de se encontrar outra via de desenvolvimento que no seja simplesmente o crescimento econmico: outro desenvolvimento, que desse conta da questo social e da pobreza que crescia no mundo, como uma dimenso da justia social. E que fosse um desenvolvimento ambientalmente sustentvel. Isso quer dizer, conseguir um equilbrio ambiental como um compromisso tico. Em sntese, a ideia era que a humanidade deveria adotar uma concepo de desenvolvimento que garantisse atender s necessidades das sociedades do presente, mas condicionando isso garantia dos direitos das geraes futuras e reconhecendo, assim, que estas tm o direito a gozar de um ambiente saudvel e das riquezas naturais. E, finalmente, que o crescimento econmico pudesse ir na contracorrente da concentrao de renda, para que a humanidade, como um todo, pudesse usufruir da riqueza produzida nas naes, diminuindo a pobreza, a misria e a injustia. Tal conceito representou certamente um enorme avano normativo, pois institucionalizou no mbito dos Estados a relao entre desenvolvimento e meio ambiente, definindo propostas bem precisas. Mas, assim mesmo, o conceito de desenvolvimento sustentvel na formulao da ONU est ligado, em ltima anlise, ao de crescimento econmico e de progresso, que fundaram a utopia do industrialismo dos sculos XIX e XX e que ainda esto bastante presentes nas sociedades modernas. E, por isso, esse conceito est sujeito discusso e crtica, mas permanece como uma utopia de nosso tempo, orientando o futuro. No contexto das preocupaes com a desigualdade e a pobreza, surge um termo que passaria a ser uma dimenso do planejamento, que o princpio de necessidades bsicas (ou basic-needs). Foi utilizado desde os anos 1970 para sustentar a tese de que era possvel um crescimento com equidade, com justia social. As necessidades essenciais deveriam ser atendidas universalmente pelos servios de sade, educao, gerao de emprego e renda, capacitao para o trabalho, saneamento, enfim, um patamar de bem-estar. Passou assim a fazer parte do iderio tico das sociedades. Foram implantados programas de
32
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
ao contra a pobreza nos diferentes pases, seguindo metas de reduo da pobreza definidas pela ONU. Mas, fazendo um balano, os programas contra a pobreza no lograram reduzi-la. E a Amrica Latina e o Brasil, que estavam com governos autoritrios, elaboraram estratgias que no diminuram a pobreza e acabaram por aumentar a dependncia. Por isso, era ressaltada a necessidade de se buscar estilos alternativos de desenvolvimento, com gerao de tecnologia dentro do pas. Mas o crescimento econmico no estaria sendo questionado como tal nos diferentes pases, de forma oficial ou explcita. O certo que, para haver crescimento com taxas ainda maiores, necessrio maior presso sobre os recursos naturais, o que implica maior transformao de matria e energia em bens e servios. Por isso, a reside a grande contradio do modelo de produo. E, assim, surgem outras ideias, na busca de um modelo compatvel entre a produo econmica e a natureza. 5.2 Novos conceitos e abordagens nas dcadas de 1970 e 1990: Economia, Cincia Poltica e Antropologia Na dcada de 1980 h um avano da conscincia ecolgica no mundo. A questo ambiental internalizada como tema importante. Comea a haver maior clareza tanto sobre os limites impostos pela natureza como pelos limites intrnsecos ao modelo de desenvolvimento. Eles comeam a ser revistos, mas ainda h bastante resistncia e desconfiana nos meios acadmicos e governamentais, nos diversos pases. A Amrica Latina, incluindo o Brasil, enfrentava uma crise poltica grave, a economia lidava com altas taxas de inflao e de desemprego, e a dvida externa crescia. Com esse ambiente desfavorvel, essas economias submeteram-se aos ajustes estruturais impostos pelos pases ricos e pelas agncias internacionais, como o FMI (Fundo Monetrio Internacional) e o Banco Mundial. Mas, nessa mesma dcada, apareceram no debate outros conceitos. No geral eles incorporavam a questo ambiental e princpios mais democrticos na relao entre Estado e sociedade, propugnando por polticas distributivas de renda. Os princpios de igualdade, de democracia participativa, de autonomia
33
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
e de direitos humanos, que haviam sido alinhavados em acordos internacionais, passam a ser contados na formulao de polticas e prioridades dos governos mais democrticos. Acabaram, assim, sendo absorvidos como modelo de organizao poltica na atualidade. A liberdade, a tica e a poltica como condio para o desenvolvimento uma abordagem terico-poltica sustentada por Amartya Sen (1999), que considera a possibilidade de os indivduos fazerem suas escolhas e reconhece que a liberdade depende de muitos outros determinantes que no so apenas os econmicos. O autor entende que os benefcios do desenvolvimento devem atender s qualidades humanas para o seu bem-estar, materiais e imateriais (educao; qualidade de vida, traduzida em sade e longevidade; dignidade; e participao poltica). Outra abordagem, a institucionalista, acredita que as instituies tm um poder de regular a posio polmica entre desenvolvimento e meio ambiente e, por isso, tm um papel fundamental no desenvolvimento. Outra perspectiva aborda o desenvolvimento usando o princpio de precauo, que expressa a preocupao com o meio ambiente e os cuidados que devem ter as pessoas, as empresas e as polticas pblicas formuladas pelo Estado. Os autores que adotam essa linha propem que se faam clculos para avaliar qual a capacidade que um determinado sistema natural tem para suportar a explorao dos recursos que nele existem. Por isso, essa abordagem identificada como capacidade de suporte. Isso leva a outra pergunta: qual a capacidade de um determinado sistema natural de se recuperar? Essa discusso tambm conhecida pelo conceito de capacidade de resilincia do meio ambiente. Ela se inspira na constatao de que os sistemas produzem e despendem energia, podendo se autorrecuperar. Isso significa ter resilincia. Esse tema tem orientado muitas pesquisas na Amaznia perguntando qual a capacidade da floresta em suportar a intensificao de sua explorao e qual a capacidade que tem de se recuperar. Outro exemplo a explorao pesqueira na Amaznia. Caberia perguntar: at que ponto os estoques de peixes e a biodiversidade aqutica podem suportar a explorao pesqueira intensiva praticada no litoral amaznico e nas reas interiores neste caso, de pesca fluvial e lacustre? E quando
34
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
35
Universidade Federal do Oeste do Par
comea a ser ameaada a sua reproduo? E qual a capacidade de resilincia que essa natureza tem? Nessa perspectiva, o princpio de precauo tem orientado metodologias de manejo, de gesto dos recursos naturais e tem sido bastante adotado em polticas governamentais, organizaes no governamentais e projetos sociais. Por sinal, agncias internacionais de desenvolvimento tm financiado projetos e planos de manejo com essa orientao. Essas iniciativas defendem, portanto, um enfoque que busca integrar o econmico ao social e ao ambiental, mas que tem srios limites, pois, como outros, no coloca em questo o modelo de desenvolvimento em si. preciso uma real clareza sobre o que se impe como necessidade hoje, diante de uma crise ecolgica que, ao avanar, ensina, efetivamente, que necessrio usar com muita precauo o que se tem ainda no planeta como recurso natural, renovvel ou no. Tal clareza fundamental para uma sociedade que se projeta tambm sob outra matriz de direitos sociais e que se pretende consciente dos dilemas e das opes que devem ser feitas em relao ao desenvolvimento. Na esteira da reviso de conceitos e princpios do desenvolvimento, foi includa a discusso sobre a tica do desenvolvimento e a respeito da valorizao de saberes tradicionais sobre a natureza que os povos tradicionais, no mundo inteiro, detinham. No caso da Amrica Latina e do Brasil, os povos indgenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, entre outros segmentos sociais, testemunham at hoje a eficcia de seus conhecimentos tanto para a realizao de vrios tipos de trabalho, como para seus sistemas de curas (materiais e espirituais) e sua reproduo social e cultural. So organizaes sociais que funcionam com um padro de tempo mais lento, talvez mais prximo ao tempo da natureza, de tal forma que permitiu, ao longo de sculos, menor impacto sobre os sistemas agroflorestais (COSTA, 1996; HURTIENNE, 1989). Finalmente, fundamental entender que o debate sobre o meio ambiente no pode ser feito fora do contexto da globalizao. Mesmo que se discutam questes locais, como uma dada regio do Par ou do Amazonas, ou algum lugar na China, no Senegal ou na Indonsia, os efeitos ao meio ambiente que ali ocorrem tm a ver com a situao nacional e mundial do modelo econmico e do modo de dominao das sociedades na
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
atualidade. O modelo capitalista conhecido, historicamente, como propulsor da explorao intensiva dos recursos naturais (floresta, minrios, etc.), bem sabemos, e hoje temos de reconhecer que ficaram mais claros os limites da natureza. A abordagem do desenvolvimento local vista nessa relao de escalas, do local ao global. Outro conceito que emerge no debate, e mais radical, o de ecologia profunda (ou deep ecology), formulado por Arne Naess, que considera que a cultura uma extenso da natureza, a conscincia em si da natureza, radicalizando a percepo da ecocentralidade, ou seja, a que considera a natureza como objetivo maior, por isso centro de uma concepo de vida na sociedade. Ope-se, assim, viso do antropocentrismo ecolgico, cujo centro o homem. Numa perspectiva marxista, existem vrias correntes, entre elas o ecossocialismo, que entende que os problemas ambientais decorrem da organizao social, do modo de produo capitalista e das formas de alienao e apropriao da natureza e explorao da fora de trabalho, visando a maximizao do lucro e a mercantilizao da natureza. Esto presentes, ainda, propostas que sustentam ideias diversas, desde a proposta de reviso radical dos processos industriais, reduzindo seu teor de poluio, ou uma gesto rigidamente equilibrada, mas com base no manejo dos recursos, at as que propem um no-crescimento, ou crescimento zero, como nica sada para fazer frente crise ambiental. Da Economia do Desenvolvimento, na formulao de Hirschamn (1980), que procura ajudar com anlises econmicas o crescimento dos pases, Economia Ecolgica, mais recente, que adota a perspectiva do crescimento com valorao da natureza, h diferenas certamente, mas ambas se aproximam, pois buscam viabilizar o crescimento econmico. A economia ecolgica se prope a desenvolver teorizaes que se baseiam no valor da natureza, ou seja, em atribuir valor aos bens e aos servios que a natureza presta ao meio ambiente. Assim, a natureza se torna, em si, tambm uma mercadoria a ser regulada pelo mercado e, por isso, ela considerada um capital natural. Essa tica supe que os bens e servios da natureza tm valor e podem ser negociados, trocados, vendidos e comprados. Mesmo aqueles que jamais foram percebidos como tal, a exemplo do que agora chamamos de servios ambientais, que, a rigor,
36
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
[...] se o processo econmico, na base do crescimento da produo, tende sempre ao aumento da transformao de matria e 37
Universidade Federal do Oeste do Par
no constituem um bem em si, nem um servio, mas propriedades da natureza. Em outras palavras, servios ambientais no correspondem natureza fsica, mas a uma propriedade da natureza. Porm, na perspectiva do capital natural, tornam-se um bem de mercado, e j existem e se institucionalizam vrias modalidades de clculo para saber quanto custa esse ou aquele servio prestado para reduzir a camada de oznio ou evitar as mudanas climticas, por exemplo. Em sntese, essa viso sustenta que as pessoas e as empresas iriam valorizar mais o meio ambiente se ele tivesse preo, pois teriam de pagar. uma viso do mercado, e, em ltima anlise, o mercado passa, nessa perspectiva, a ser o regulador, ainda que seja o Estado que tem a funo pblica e o poder de ordem. Essa a ideia que tem sido mais utilizada para orientar polticas, programas e aes nas reas governamental e empresarial, no Brasil, em relao floresta amaznica. Os trabalhos de Costanza (1994) foram nessa direo a de elaborar modelos e contabilidades para contar os recursos e gastos de energia nos processos produtivos, de modo a possibilitar balanos quantitativos sobre quanto cada pas polui, o que permite avaliar a contribuio de cada um com o aquecimento global. Essa ideia tambm tem sido aplicada. Esse mercado, no sentido de uma economia de servios ambientais, tende a se ampliar. Nicholas Georgescu-Roegen, em 1971, foi quem primeiro chamou ateno para o conceito de entropia em The Entropy Law and the Economic Process (A Lei da Entropia e os Processos Econmicos). A preocupao era sobre o balano energtico entre produo econmica e natureza, altamente desfavorvel para os recursos naturais, em funo do aumento de entropia. A seu ver, a humanidade precisa, para se reproduzir, de energia e calor encontrados na natureza, mas a tendncia aumentar cada vez mais a retirada desses elementos da natureza (combustvel fssil, por exemplo), devido ao modelo intensivo de crescimento industrial, sem possibilidade de reposio. Ele mostrou a relevncia da anlise da entropia gerada nos processos produtivos. Chaves (1997), citando Georgescu-Roegen (1971), concorda com a relevncia dessa anlise, pois:
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
energia e esses dois elementos no podem ser criados, e, portanto tm limites dentro do sistema, ento o processo entrpico se desenvolve tambm em ritmo acelerado. Assim como a tendncia da entropia vai na direo do seu valor mximo, o sistema econmico que incorporou somente a dimenso da valorizao do valor contribui de forma decisiva para a desordem da sua base natural, e tambm de si prprio.
Essa perspectiva foi adotada por Altvater (1995), tomando a Amaznia como reflexo, e Bunker (1985), este no livro Underdeveloping the Amazon: extraction, unequal exchange, and the failure of modern State (Subdesenvolvimento na Amaznia: extrao, mudana desigual e falncia do Estado moderno), no qual o autor interpreta os processos de desestruturao de atividades tradicionais e a emergncia de novas dinmicas na Amaznia, intensivas em capital, na produo mineral. 6 A CRITICA AO DESENVOLVIMENTO COMO CRITICA MODERNIDADE Essas noes e teorias esto continuamente sendo colocadas em questo. Vrios movimentos sociais que, nos anos de 60 do sculo passado, confluram com mltiplas manifestaes coletivas movimento ecolgico, movimento estudantil, movimento feminista, movimento negro, entre outros , demarcam o desencantamento com a cincia e postulam a busca de novos paradigmas do conhecimento cientfico. Nos anos 1970, o debate intelectual e poltico, neste caso puxado pelos movimentos sociais, estava aberto, enfocando os limites sociais e ambientais ao desenvolvimento e ao progresso. H nesse momento uma conscincia dos limites da razo e dos efeitos decorrentes do crescimento econmico sobre a vida social e o planeta. Uma constatao comum o fracasso do projeto ocidental de modernidade, revelando que a razo e a cincia serviram para tornar alguns pases mais ricos, aumentar as contradies sociais, as desigualdades de renda entre classes sociais, regies e pases e a perda irreversvel de recursos naturais, sobretudo os no renovveis, empurrada pela corrida
38
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
5 Sistemas peritos, na viso de Giddens (1991), so sistemas (formados por instituies, prestadores de servios, profissionais etc., que atuam com base em normas e conhecimentos especializados) que organizam diversas reas do ambiente em que se vive seja ele material ou social. Por exemplo: o ambiente do trnsito urbano organizado pelo sistema perito formado pelos organismos pblicos ou instituies particulares responsveis pela abertura e manuteno de vias pblicas, colocao de placas, regulamentao do trfego, fabricao de veculos etc. (Nota da organizao da srie.)
39
Universidade Federal do Oeste do Par
em direo ao aumento da produtividade, da produo e do consumo. Habermas (1987) mostra que a modernidade como a hegemonia da razo instrumental dominam a esfera do sistema e da razo comunicativa. Isso leva a permitir que o sistema da economia e o sistema do poder-Estado sejam controlados pelas grandes empresas. Um nmero reduzido de empresrios determina as regras do jogo social, poltico e econmico sem consultar a sociedade, declarando o filsofo que, medida que o sistema se fortalece em detrimento do mundo vivido, ele passa a impor a este ltimo sua prpria lgica e suas regras de jogo (HABERMAS, 1987). O autor considera a necessidade de fortalecer a cultura, as instituies que organizam o cotidiano e a vida social o mundo vivido em detrimento do mundo sistmico (economia e poder). Para Giddens (1991), a modernidade trouxe tenses entre a ordem tradicional e a ordem moderna, em funo da alterao no ritmo de mudanas. O tempo e o espao foram revolucionados, e, com eles, os costumes, e os tipos tradicionais de ordem social, que tendem a se perder. A rapidez das mudanas enorme; altera mesmo dimenses mais profundas da existncia cotidiana, e a comunicao se d cada vez mais pelas redes informacionais, com formas de interconexo com extenso global, configurando-se uma transformao jamais conhecida pela humanidade. Sem precedentes, alteraram-se os sistemas que funcionavam para manter o equilbrio social e, por isso, tinham eficcia simblica. Os saberes dos povos tradicionais sobre a natureza, por exemplo, no so reconhecidos pelo saber cientfico, sendo na realidade estigmatizados. As incertezas e as inseguranas se instalam na ordem moderna, e, por isso, Giddens (1991) mostra que o funcionamento das instituies na sociedade moderna, e as pessoas, precisam de mecanismos de confiana em sistemas abstratos, especialmente em sistemas peritos5, em assessores, em especialistas, que servem como mediadores entre a sociedade e os indivduos.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
A Amaznia contempornea desse processo e est diretamente a ele conectada, sobretudo pela via da problemtica ambiental. A reviso de conceitos que acabamos de fazer informa como as sociedades refletem sobre o presente, se preocupam, se inquietam, buscam solues. E procuram projetar o futuro. Caminho tambm encontrado nas anlises sobre desenvolvimento e meio ambiente na Amaznia. Banerjee (2006) pergunta Quem sustenta o desenvolvimento de quem?, em artigo publicado pela Associao das Universidades Amaznicas (UNAMAZ), e tem razo ao dizer que o discurso do Desenvolvimento Sustentvel focaliza mais os efeitos da destruio ambiental sobre o crescimento econmico do que as consequncias negativas do mesmo (BANERJEE, 2006, p. 88). H necessidade de ir crtica de categorias como racionalidade, no sentido empregado por Habermas (1987), e categorias da modernidade avanada. Considera que, na noo de desenvolvimento sustentvel, a lgica do capital e do mercado nunca est em questo (BANERJEE, 1987, p. 89) e, por isso, insustentvel ambiental e socialmente. 7 SOCIEDADE E NATUREZA NA AMAZNIA Porque a Amaznia importante no debate sobre o meio ambiente? Ter ela, como maior reserva florestal e abrigando diferentes ecossistemas ainda preservados, um papel importante na crise ambiental? Apesar da inigualvel riqueza natural e cultural, a Amaznia tem tido seus recursos naturais explorados de forma intensiva e predatria, sobretudo se pensarmos na velocidade desses processos, a partir da segunda metade do sculo XX, com alta entropia.
Universidade Federal do Oeste do Par
7.1 Amaznia e biodiversidade Primeiramente, devido ao esgotamento das reservas naturais no mundo, como as florestas, a biodiversidade aqutica, os recursos minerais, e tambm em funo dos servios ambientais que a Amaznia possa prestar, alm da disponibilidade ainda de terras no ocupadas pelos processos produtivos do capitalismo, esta regio tornou-se importante no
40
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
41
Universidade Federal do Oeste do Par
interesse nacional e internacional. Isso faz da Amaznia uma regio estratgica para o mundo. Para o Brasil, ela estratgica tambm pelo fato de ocupar uma grande rea (quase 2/3 do pas), ter a maior fronteira contnua (com oito pases da Amrica do Sul) e ter facilidade de acesso aos mercados dos pases das Amricas Central e do Norte e aos dos pases asiticos, atravs do Canal do Panam. Alm disso, ela constitui a parte do planeta com maior diversidade biolgica (floresta e gua), composta por uma rea de 6 milhes de quilmetros quadrados, que corresponde a 61% do territrio nacional. Tem aproximadamente 1/5 da gua doce do planeta, alm de possuir excepcional banco gentico, sobretudo se considerarmos os demais pases sul-americanos que tm reas amaznicas (Venezuela, Colmbia, Peru, Equador, Bolvia, Guiana, Suriname e Guiana Inglesa). A Amaznia um espao de energia e biomassa, e por isso muitos interesses se voltam para ela, principalmente os do mercado. por isso que o principal conceito com que ela vista o de capital natural. Ela no referida ao meio ambiente como natureza e conservao, mas ao meio ambiente como recursos para valorizao do capital. Essa noo encontrada subjacente s polticas governamentais, mesmo as ambientais, e em organizaes no governamentais, talvez ingenuamente, talvez porque no encontrem outra possibilidade real de ao, ou porque acreditam realmente no poder de regulao do mercado. preciso esclarecer que se trata no apenas do mercado de uma larga gama de produtos derivados da floresta e dos cursos dgua, mas tambm do novo mercado de bens e servios ambientais. Lipietz (1997), com um olhar da economia poltica e da teoria da regulao, sustentava nos anos 1990 a tese da emergncia de regulaes nas esferas globais sobre bens comuns (bens de direito comum), tensionando as relaes entre pases pobres e pases ricos, com a emergncia de um novo mercado ambiental da natureza. Efetivamente, a economia no mundo se fez comercializando produtos naturais, e ainda continua; mas agora se amplia o leque do comrcio. Numa outra perspectiva, Ostron, prmio Nobel de Economia em 2008, diz que foi sendo introduzido um novo comrcio, que o das funes dos ecossistemas, e essas funes podem ser um bem comum, cuja natureza objeto de discusses polmicas e atuais (Ostron et al.,1994).
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Como a Amaznia tem ainda um potencial natural enorme, tem estado no foco dos interesses daqueles que querem reduzir a emisso de gases de efeito-estufa, procurando diminuir as queimadas e o desmatamento. Porm, esses objetivos so contraditrios com o crescimento da demanda dos mercados mundiais por commodities (que tem origem justamente com a intensificao da produo pecuria, da agricultura intensiva e da explorao extrativista de madeira e de minrios) e, por isso, esbarram nas incompatibilidades com os interesses que so assinalados como ambientalistas, mas que na realidade dizem respeito preservao da humanidade. 7.2 Amaznia e sociedade Nas ltimas quatro dcadas, a Amaznia brasileira passou por profundas mudanas sociais, econmicas e polticas, acompanhadas por grandes alteraes territoriais. Alguns ngulos desses processos sero demonstrados a seguir, no sentido de contextualizar como a regio se insere no debate global sobre desenvolvimento e meio ambiente. Os princpios da modernizao ou, em outras palavras, do modelo de desenvolvimento da sociedade capitalista moderna, estiveram na base das mudanas que ocorreram na Amaznia nas ltimas dcadas. Assim, vejamos. As elites brasileiras e os governos nacionais viam essa regio nos anos 1950 e 1960 no contexto de um projeto de desenvolvimento nacional. Mas, para isso, era necessrio criar meios de integrao ao territrio brasileiro. O Estado nacional-desenvolvimentista dos anos 1950, com o Presidente Juscelino Kubitschek, formulou seus projetos e, dentre eles, dois materializar-se-iam em grandes obras que definiriam, a partir da, e de forma irreversvel, o futuro da Amaznia e de sua integrao economia nacional: a construo de Braslia, criando assim estruturas de ocupao do Brasil Central, e a construo da rodovia Belm-Braslia, que abriria uma nova rea de terras e recursos naturais, no correr da estrada. Posteriormente, os governos militares levariam em frente um ambicioso projeto nacional de incorporao dessas novas terras ao mercado e s cadeias produtivas da pecuria, agricultura, madeira e minerao, objetivando o crescimento econmico.
42
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
6 Os incentivos fiscais so recursos pblicos destinados pelo Estado a incentivar o financiamento de projetos econmicos, ou seja, so investimentos do Estado visando o crescimento econmico. A SUDAM (Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia Legal), o BASA (Banco da Amaznia), ambas com sede em Belm, e a SUFRAMA (Superintendncia da Zona Franca de Manaus), com sede em Manaus, foram criadas como instituies federais responsveis por gerenciar os planos e programas de desenvolvimento regional, e processar a liberao dos Incentivos Fiscais, segundo projetos econmicos aprovados pelos conselhos deliberativos da SUDAM e da SUFRAMA.
43
Universidade Federal do Oeste do Par
Usando incentivos fiscais6, o Estado procurou atrair capital e empreendedores para diversos setores da economia. Contingentes de brasileiros atravessaram as fronteiras de seus estados em direo Amaznia. Embalados pelo sonho de melhores terras para plantar, deslocaram-se milhares de camponeses para frentes de colonizao, e outros trabalhadores se dirigiram s obras de infraestrutura e a atividades produtivas como madeira, garimpo, grande minerao, pecuria e servios. Tambm se deslocaram empresas de mdio e grande porte, que fizeram dessas novas fronteiras um espao de oportunidades, de investimentos, beneficiando-se em larga escala do financiamento pblico, seguindo inclusive as prioridades setoriais e locacionais definidas nos PNDs (Planos Nacionais de Desenvolvimento) e nos PDAs (Planos de Desenvolvimento da Amaznia). As narrativas sobre a saga dos migrantes compem captulos de uma histria, para uns, trgica, para outros, de sucesso, mas todas contemporneas de uma mesma dinmica, isto , a da incorporao de novas terras do norte economia nacional, com o objetivo de crescimento econmico do Pas. Os programas de interveno do Estado e a predominncia de certos atores na dinmica social acabaram por reconfigurar a geografia da regio. Os territrios de municpios como Santarm, Itaituba, Altamira, Marab e Tucuru, dentre outros, foram desmembrados, e deles nasceram inmeros novos municpios para atender processos econmicos e interesses polticos emergentes. Inmeras cidades surgiriam das estratgias deliberadas pelos projetos de desenvolvimento. As cidades fizeram parte, enquanto um componente do planejamento, dos programas governamentais de desenvolvimento, constituindo eixos de referncia e apoio ocupao e integrao nacional. Porm, no podemos pensar apenas nas cidades que surgiram a partir dos anos 1960, como as que emergiram no correr da construo da estrada Belm-Braslia (Imperatriz, Aailndia e Paragominas),
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
ou entre os anos 1970 e 1980, como Redeno, Rondon do Par, Novo Repartimento, Breu Branco, Medicilndia, Placas, Uruar, Rurpolis, Carajs ou Porto Trombetas, pois tantas outras surgiram espontaneamente, formando um conjunto de cidades bastante expressivo. As redes de sociabilidade nas pequenas e mdias cidades tm um papel fundamental na articulao do espao regional. O movimento de expanso da fronteira foi impulsionado pelo aumento da demanda de produtos agrcolas para mercados nacionais e internacionais de recursos primrios, tais como madeira, minrio e produtos da agropecuria. Esses recursos naturais alimentaram a economia nacional e continuam at hoje com um papel importante no mercado internacional exportador de matrias-primas e de commodities, pois este um dos setores de base das exportaes brasileiras. O balano, portanto, positivo pela tica do desenvolvimento enquanto crescimento econmico. Houve um aumento de produo em vrios setores de produtos primrios (no industriais), que passaram a atender de forma crescente o mercado exportador, gerando divisas para o pas, como era a expectativa do Estado. No entanto, a natureza, como biomassa, tem sido intensivamente colocada em risco, em prol de programas desenvolvimentistas que difundiram um modelo de integrao economia de mercado com base em um padro de apropriao e uso da terra altamente predatrio. Seria possvel pensar em um modelo de desenvolvimento capaz de lidar com a biodiversidade sem destru-la? Poderia a Amaznia vir a ser uma regio com inovao tecnolgica adequada ao padro moderno, mas preservando a floresta tropical? Ou ainda, seria possvel aqui o convvio de tecnologias mais avanadas com os conhecimentos de grupos tradicionais sobre os ecossistemas, sem precisar dilapidar sua riqueza biolgica nem os conhecimentos milenares sobre os ecossistemas? Essas so algumas das questes de fundo que podem servir ao debate sobre a Amaznia na perspectiva de sua sociobiodiversidade. Alm disso, importante lembrar que nessa regio vive a maior parte dos ndios brasileiros. Eles contribuem, junto com outros grupos de populao tradicional (quilombolas, ribeirinhos, pescadores, etc.) para a diversidade de saberes sobre os complexos e variados ecossistemas naturais, saberes esses
44
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
que lhes garantem produzir as condies de existncia material e imaterial, na relao direta com a floresta. Disciplinas como a Histria Ecolgica e a Antropologia Ambiental nos ensinam que a relao entre homem e natureza pode tambm promover o enriquecimento dos ecossistemas existentes em dado territrio, e no apenas destru-los. Um exemplo interessante o caso de certas reas na Amaznia que se destacam por serem extremamente ricas em nutrientes e em biodiversidade, tendo os pesquisadores as associado longa presena de populaes indgenas. Foram encontrados stios arqueolgicos que mostram a antiguidade da ocupao humana nessas reas, o que confirma, de certa forma, essa hiptese da participao humana na construo da biodiversidade da floresta amaznica. citado o exemplo da terra preta de ndio, altamente rica em nutrientes e que coincide com stios arqueolgicos onde foram encontrados muitos objetos da cultura material de ndios da Amaznia. No por acaso, portanto, que a noo de desenvolvimento est associada, na literatura acadmica recente (antropologia, sociologia, etnocincia, antropologia ambiental etc.) com as percepes desses grupos tnicos sobre a relao homem x natureza. uma contribuio milenar que os povos indgenas das Amricas trazem ao debate para validar a possibilidade de outros modelos de desenvolvimento fundados em um padro distinto da relao sociedade x natureza. Essas percepes permitem relativizar o olhar cartesiano da cincia moderna. 7.3 Processos de mudanas e economia na Amaznia
Universidade Federal do Oeste do Par
Observa-se, como efeito econmico da dinmica de avano da fronteira na Amaznia, o aumento da presso sobre os recursos naturais antes explorados em outra escala e intensidade. Efetivamente, houve uma mudana na economia regional, com crescimento em vrios ramos, aumento do PIB e uma modernizao do setor agropecurio, industrial e de servios. Examinaremos alguns aspectos de atividades econmicas que indicam a relao atual entre desenvolvimento e meio ambiente na Amaznia.
45
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
7.3.1
Agricultura e fronteira
A Amaznia brasileira foi concebida, no seio das elites nacionais, enquanto fronteira de recursos com a qual o capital poderia refazer seu ciclo de acumulao com base nos novos estoques disponibilizados. Planejadores governamentais e economistas do desenvolvimento definiram o interesse da interveno do Estado em um espao a ser mudado. A fronteira, por ser mvel, se refaz pelas novas dinmicas dos atores sociais e econmicos. A expanso das frentes pioneiras em direo floresta tropical era vista como o processo de incorporar novos territrios de recursos e oportunidades ao mercado. Por isso, a fronteira constitui um territrio que paulatinamente incorporado ao nacional e global. Certamente est em jogo a discusso do papel da agricultura e de seus novos arranjos na economia que se moderniza e da sociedade que vive um rpido processo de urbanizao. O avano da revoluo verde pressionaria a expanso de terras para a agricultura em regies com vantagens comparativas e, por isso, com possibilidades do desenvolvimento agrcola. A abertura da fronteira em direo ao norte se destinava ao mercado capitalizado, mas tambm s famlias camponesas do sul e do nordeste do Pas. O uso dessa disponibilidade de terras constitui parte da estratgia geopoltica nacional colocada em prtica, mas sem poder, evidentemente, anular as contradies da propriedade da terra enquanto relao social. 7.3.2 A Pecuria e o avano da fronteira
Universidade Federal do Oeste do Par
O preo da terra certamente o motivo maior da vinda crescente de pessoas capitalizadas para adquirir terras em novas reas, como ocorre nesse incio de sculo XXI, por exemplo, nos municpios do oeste do Par e sudeste do Amazonas. So terras reputadas como de excelente qualidade e propcias pecuria e agricultura. Os processos de grilagem vm acompanhando a capitalizao nessas novas reas, como fundamentais para avalizar a alta rentabilidade das fazendas. Em cada nova fronteira aberta tem-se verificado a predominncia da pecuria. H uma modernizao que se amplia e busca ganhar mercados globalizados, a exemplo de projetos de grandes
46
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
47
Universidade Federal do Oeste do Par
pecuaristas do sudeste do Par. Eles pretendem ganhar mercados com o selo verde, ou o boi orgnico, como os pecuaristas nomeiam as caractersticas mercadolgicas de seu gado criado solto no pasto. Agregam, assim, a imagem da Amaznia (verde) ao padro de criao extensiva. Esses grandes empreendimentos, contendo at 40 mil cabeas de gado, com frigorficos de alta tecnologia para abate em cadeia, que se integram aos padres internacionais de medidas, cortes e embalagem especializados, esto direcionando suas negociaes para cadeias de supermercados e mercado de commodities. As atividades econmicas voltadas incorporao de novas reas para a expanso da produo agropecuria na Amaznia tm relao com a dinmica econmica de outras regies no pas. No possvel entender esse processo sem religar com a fronteira consolidada do norte do Mato Grosso, de Gois, Maranho e Tocantins, espao de reproduo de agentes econmicos que se deslocam, capitalizados ou no, Amaznia. Esses so os fluxos mais recentes, na sequncia daqueles que vieram nos anos 1970 e 1980, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, So Paulo e Minas Gerais. Para Margulis (2003), o que conta como atores sociais so justamente os empreendedores modernos na rea de fronteira consolidada, pois eles, em si, definem a presso sobre as novas reas. Contudo, o fazendeiro continua sendo o ator principal no desmatamento, reatualizando, em reas novas, a relao madeireiros + grileiros + fazendas. Atualmente, a pecuria no depende mais, para se expandir, da transferncia dos incentivos fiscais, mas o Estado permanece ainda um fator de capitalizao, pela privatizao de terras pblicas atravs das grilagens e pelos baixos custos sociais e ambientais, que asseguram empreendimentos de reduzido risco econmico. E o que muda ento nas novas reas de fronteira? H disponibilidade por parte de grupos econmicos em financiar o avano da fronteira sobre novas terras. A lgica que eles esto assim dispostos pela alta rentabilidade da pecuria e pela expectativa de venda futura de terras para o agronegcio. Assim, o ciclo do desmatamento se refaz. E, certamente, grupos capitalizados esto investindo tambm em outros setores, notadamente na minerao. Afinal de contas, essa a ltima fronteira de reas florestais contnuas, no somente do pas, mas do mundo e uma provncia mineral, com extraordinria quantidade de minrios e volume das jazidas.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
7.3.3
Dinmica da expanso da soja
A produo de soja vem expandindo-se dos Estados do Mato Grosso e Tocantins para o Maranho e o Par, em um processo de sucesso da terra, que passa da pecuria para a atividade de gros. Inicialmente foram municpios do sudeste do Par (Paragominas) e do Maranho (Balsas), e atualmente do sudoeste, como Santarm, Itaituba e Anapu. Novas frentes chegam a Altamira, e os interesses de sojeiros aparecem no lobby para asfaltamento das estradas (Transamaznica e CuiabSantarm) e para o projeto hidreltrico de Belo Monte. O interesse pela atividade comeou a manifestar-se h cinco anos, por parte de produtores rurais que foram se localizar em municpios da rodovia Cuiab-Santarm, e pela vinda de mdios e grandes produtores rurais de outras regies do pas, atrados pelo baixo custo da terra e pela potencialidade do solo para a produo de gros. A fase atual caracteriza-se ainda pela compra de terras, como estoque. Com a presena de novos produtos, como a soja, o preo da terra dispara. Cinco anos atrs, era relativamente fcil comprar terras boas a preos irrisrios em Santarm. Hoje, esse valor multiplica-se vrias vezes. Qual a lgica econmica de incorporao de novas terras? A lgica est no mercado, a nfase na grande propriedade que se forma pela compra ou pela grilagem de terras ou ainda pela compra de terras dos pequenos produtores, colonos de assentamentos do INCRA (Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria), desanimados pela ausncia de infraestrutura mnima para escoar a sua produo. 7.3.4
Universidade Federal do Oeste do Par
Madeira e medidas regulatrias
A explorao da madeira permanece como uma das bases da economia dessa regio, organizada em um sistema bastante complexo, que articula segmentos e processos tradicionais com os processos mais agressivos na extrao de madeira, como o uso da motosserra, e processos industriais de beneficiamento, produzindo-se pequena variedade de produtos, pois a maior parte do parque madeireiro se concentra em produzir tbuas, lambris, laminados e compensados. O crescimento econmico potencial finalmente pouco aproveitado, o trabalho muito mal remunerado, com grande desperdcio de madeira no processo
48
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
de transformao, pouca diversificao dos produtos gerados e grau incipiente de industrializao (e de tecnologia), o que leva a agregar valor muito abaixo do que se poderia alcanar em um processo considerado eficiente e com inovao tecnolgica. As campanhas pela paralisao da explorao predatria do mogno no oeste do Par, nos anos de 2002 a 2004, e depois em outras regies, conseguiram bons resultados, graas ao coordenada entre rgos do governo federal, do governo estadual, atores locais organizados e organizaes ambientalistas nacionais e internacionais. Por outro lado, mudanas vm ocorrendo no sentido de fortalecer a proposta de explorao madeireira na Amaznia de modo comprometido com a sustentabilidade ambiental. Uma das medidas adotadas o estmulo ao uso da madeira certificada e dos planos de manejo. Nessa situao (e com a particularidade de tratarse de madeira de uma qualidade como a tropical), tal atividade pode gerar alto valor, o que contribuiria para elevar a economia regional a outro patamar de mercado. A dificuldade esbarra no controle e fiscalizao do Estado, permanecendo a explorao e o comrcio clandestinos. O conceito que tem orientado as aes referentes ao setor madeireiro tem sido o de capital natural, com iniciativas de valorao da natureza, e conforme discusses desenvolvidas no mbito da Economia Ecolgica. Mas a atividade madeireira permanece uma questo polmica, pois tem relao direta tambm com o avano do desmatamento, pela forma como explorada. Trata-se, por isso, de um setor no qual as medidas regulatrias e de controle do Estado so fundamentais. 7.3.5 Desmatamento
Universidade Federal do Oeste do Par
Outro impacto do crescimento diz respeito ao desmatamento, que acompanha at hoje o avano das frentes pecuria, madeireira, agrcola e de minerao. Dcadas passadas desde as frentes pioneiras da integrao ps-1960, necessrio fazer balanos e procurar entender as novas dinmicas locais, nacionais e as que se do na arena internacional. Internamente, elas se tecem justamente no jogo de disputas pelo territrio, que acaba alterando a cada momento a geografia das regies. As mudanas na paisagem regional impressionam pela rapidez. As estatsticas oficiais ou as observaes a olho nu feitas em
49
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
sobrevos revelam a enorme alterao ocorrida na floresta. grande o desmatamento, seguindo as reas abertas pelas estradas, com a expanso das pastagens, empreendimentos madeireiros, de minerao ou nas proximidades das cidades, e o pior que ele no mostra sinais efetivos de reduo. Ainda que as estatsticas oficiais mostrem s vezes uma reduo da taxa de desmatamento, isso no significa que este tenha parado. A Amaznia um exemplo do processo de desmatamento que ocorre em todo o pas. Na ltima dcada, o Brasil perdeu 22 milhes de hectares de floresta, grande parte nessa regio. Se fizermos um balano no tempo, constatamos que, do incio da colonizao at o ano de 1978, os desmatamentos tinham atingido cerca de 15,3 milhes de hectares da floresta amaznica. E de 1978 a 1988 passa a haver, nessa floresta, uma rea desmatada de 37,8 milhes de hectares. Em 1990, a rea desmatada ali era de 41,5 milhes de hectares, e atualmente segue na seguinte proporo: a cada ano so devastados mais dois milhes de hectares, segundo dados do MMA (Ministrio do Meio Ambiente) e do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis). Apesar de todo o esforo por parte do Estado e de outros atores sociais, de discursos, de regulamentaes e de aes fiscalizadoras, a tendncia continua sendo a de um contnuo processo de desmatamento na regio. Embora estudos localizados na Amaznia mostrem que o desmatamento tem vrias causas, h uma margem de incerteza sobre estas ltimas e tambm sobre quais as estratgias para reduzi-lo a um nvel que no comprometa a reproduo dos ecossistemas. H relao entre desmatamento na Amaznia e mudanas climticas? Ainda no se sabem as respostas a essa pergunta, de forma precisa, mas h pesquisas em curso. No se sabe ao certo, tambm, a capacidade de resilincia da floresta amaznica, considerando toda a sua biodiversidade (plantas, animais...). Foi aprovada, em 2006, uma Lei de Concesso de Florestas Pblicas iniciativa privada, para explorao certamente com a exigncia de apresentao de planos de manejo, mas sobre estes tambm pairam incertezas de vrias ordens, desde o efeito do seu uso at a eficincia e regularidade do controle do Estado no caso.
50
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
7.4 Dinmica de fronteira e conflitos necessrio avaliar as consequncias sociais das mudanas apontadas, os conflitos e as tenses que definiram, de certa forma, a imagem da Amaznia que foi veiculada no mundo como lugar de pistolagem, de trabalho escravo e de mortes polticas anunciadas. Os ndices de pobreza e de falta de qualidade de vida em todos os estados do Norte7 so graves, e a esse respeito o desafio se coloca gesto pblica, situada no meio de campo dos conflitos8. A lista de sindicalistas e de lideranas rurais que foram mortas certamente inusitada, se comparada s fronteiras abertas anteriormente no pas. Todos esses fatos relacionados violncia tm a ver com a forma de ocupao do territrio, pois resultam da disputa pela terra e pelos recursos, seja por meio legal, como no caso dos assentamentos do INCRA, das terras liberadas pelo Estado para empreendimentos econmicos, das unidades de conservao, das terras indgenas ou dos territrios quilombolas, seja por meio da grilagem de novas terras, das prticas ilegais de derrubada da floresta, da ocupao de cursos dgua para garimpagem, ou das ilegalidades praticadas com o uso dos recursos pblicos. O processo de ocupao de terras sempre tem sido conflitivo, pois implica disputa de interesses de grupos ou de indivduos. Da a necessidade de um Estado atuante para mediar os conflitos, o que no aconteceu na medida necessria nessas dcadas analisadas. 8. O ESTADO E OS PROGRAMAS ESTRUTURAIS PARA A AMAZNIA
Universidade Federal do Oeste do Par
Nos anos 1970, as polticas governamentais no incorporavam os impactos ambientais, pois este problema no fazia parte das preocupaes governamentais da poca. Os impactos tratados pelas pesquisas nas universidades, por exemplo, se referiam principalmente aos efeitos da abertura
7 O IDH dos estados da regio Amaznia Legal, nessas ltimas dcadas, comparativamente aos demais estados do Brasil, revelam uma significativa reduo relativa do IDH. Essa reduo se faz paulatina, a cada dcada, dos anos 1970 aos anos 2000. 8 Os ndices mais utilizados so os que mostram a renda dos indivduos e a produo da coletividade, que so a renda per capita e o PIB.
51
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
da fronteira, dos programas de colonizao, da migrao, da expanso pecuria e, sobretudo, dos conflitos fundirios, que comeavam a surgir na poca. A construo da Hidreltrica de Tucuru, iniciada nessa dcada, desalojou milhares de famlias e inundou vilas, povoados, aldeias, roas e cemitrios. Por isso, acabou desempenhando um papel emblemtico na conscientizao e mobilizao de grupos locais face s mudanas ambientais sentidas no espao local. Os principais impactos dos processos de mudana derivam na Amaznia do modelo de desenvolvimento e das polticas estatais, que, junto com grandes projetos de investimento, acabam por redefinir a ocupao do territrio. O Estado construiu obras estruturais de infraestrutura estradas, aeroportos, telecomunicaes e criou incentivos fiscais para atrair investimentos privados para setores que foram escolhidos como prioritrios. Foram definidas, ainda, reas para onde os programas governamentais de colonizao dirigiriam os fluxos de migrantes. O planejamento e as aes do Estado afirmam o compromisso da integrao de mercado com a implementao de polticas de maior abrangncia (ou macropolticas), a exemplo da implantao dos grandes projetos das dcadas de 1970 e 19809, dos quais destacamos, em especial: 1 - Programa de colonizao dirigida do INCRA na Transamaznica, voltado pequena produo familiar; 2 - Programa de incentivos fiscais para fazendas de pecuria de mdio e grande porte; 3 - Construo de grandes eixos rodovirios a Rodovia Transamaznica (BR-230), a Rodovia CuiabSantarm (BR-163), a Rodovia Porto Velho-Manaus (BR-319) e a Rodovia Perimetral Norte; 4 - Programas de colonizao, como o Polamaznia e o Polonoroeste;
9 Entre os principais programas de governo, est a Operao Amaznia (1966), que teve sequncia no PIN (Programa de Integrao Nacional), de 1970. Ambos foram acompanhados de frentes migratrias formadas por pequenos produtores rurais, colonos, fazendeiros de outras regies, etc., que ocupavam as terras destinadas pelo Estado aos programas de colonizao inicialmente, s margens e ao longo das estradas e, depois, adentrando pelos fundos das terras s vezes j ocupadas por outras frentes, em geral pela grilagem, e por isso esse modelo logrou uma rpida expanso da pecuria.
52
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
53
Universidade Federal do Oeste do Par
5 - Programa de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus; 6 - Programa Grande Carajs e outros projetos dos complexos minerais; 7 - Grandes projetos de investimento em usinas hidreltricas (Tucuru e Balbina). Os projetos de colonizao e a formao de estabelecimentos rurais de mdio e grande porte estavam subordinados ao projeto mais amplo de modernizao e de crescimento econmico. O Estado apostou em implantar o modelo agropecurio adotado em outras regies. Efetivamente conseguiu, pois a Amaznia se tornou uma grande produtora de carne, notadamente os estados de Mato Grosso, Tocantins, Rondnia e Par. Os grandes projetos minerais comearam a operar na dcada de 1980, depois da primeira fase de instalao. O Programa Grande Carajs, com seus megaprojetos minerais, viabilizou e avalizou, junto ao Estado, a entrega dos recursos minerais ao capital internacional. A Companhia Vale do Rio Doce teve um papel fundamental nas negociaes, beneficiandose de ser uma empresa estatal. A segunda fase da minerao, no incio do sculo XXI, com os novos empreendimentos instalados no Par, tem necessariamente de ser submetida a clculos ambientais que avaliem os impactos sobre o meio ambiente e a sociedade. Mesmo que programas de governo ou empresrios no levem suficientemente em conta a legislao e as normas ambientais, h a vigilncia do Ministrio Pblico, federal e estadual, e das organizaes da sociedade. Foi o que ocorreu no que diz respeito instalao de projetos minerais em Juruti, no Par, e no que se refere polmica sobre a aprovao pelo governo do Relatrio de Impacto Ambiental da Hidreltrica Belo Monte, no rio Xingu, que no contemplava questes fundamentais na avaliao dos impactos de grandes projetos de energia. Entre essas ausncias estavam a falta de contabilidade dos impactos sobre o desmatamento e os referentes ao efeito estufa. Hoje, a contabilidade ambiental confere vrios indicadores para medir as emisses de gases que provocam o aquecimento global. Fearnside (2009) considera importante calcular as emisses de gases de efeito estufa de barragens hidreltricas para orientar a tomada de deciso em investimentos
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
pblicos voltados tanto para a gerao de energia como para a sua conservao. Belo Monte, hidreltrica prevista para ser construda no rio Xingu, prximo cidade de Altamira, como mostra o autor citado, est no centro das controvrsias atuais sobre como deveria ser calculada a emisso de gases de efeito estufa de represas. Segundo Fearnside (2009), devido magnitude e natureza dos seus impactos, devem ser estimadas as emisses de Belo Monte e das outras quatro barragens. Contudo, so visveis as dificuldades de avaliao e acompanhamento dos impactos de grandes projetos no meio ambiente por parte dos rgos pblicos, deixando uma responsabilidade enorme para a sociedade em geral. 9 MODERNIDADE E INSTITUCIONALIZAO DA GESTO AMBIENTAL Como vimos anteriormente, os anos de 1970 tm as marcas da Conferncia de Estocolmo, da publicao do Relatrio do Clube de Roma e das lutas sociais importantes que levaram ao desenvolvimento de uma conscincia ecolgica e a uma percepo da associao entre ecologia e poltica. Desde ento muitas mudanas ocorreram. Nas dcadas de 1980 e 1990, os discursos polticos de denncia dos impactos sociais e ambientais iro progressivamente ser substitudos por uma perspectiva pr-ativa que objetiva pensar modelos e projetos de desenvolvimento a partir do que se tem como dado. Inclui-se a a interveno atravs de polticas, de programas de crdito para financiar o desenvolvimento de micro a mdios projetos, de programas de gesto e de educao ambiental, alm da participao de atores locais nesse processo, atravs de diversas modalidades. Nos anos 1980, a gesto do meio ambiente passa a ser considerada como uma nova funo pblica, para a qual o Estado deve criar regras e um modo de funcionamento. No Brasil, o IBAMA nasce nesse contexto e com o objetivo de articular polticas e de se responsabilizar por aes antes dispersas em vrias esferas da administrao pblica. Algumas tenses internas ao aparelho do Estado decorriam e decorrem ainda dessa difcil articulao entre esferas de poder e instncias
54
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
55
Universidade Federal do Oeste do Par
de gesto. Quanto criao do Ministrio do Meio Ambiente, representou o reconhecimento da questo ambiental como problema de macropoltica, o que significou o desenvolvimento de uma conscincia ecolgica produzindo uma relao entre preocupao ambiental e poltica. Um avano, pois a Secretaria de Meio Ambiente, que existia havia mais de 20 anos, sempre teve um raio de ao extremamente limitado. As bases de uma poltica ambiental comeam a se esboar, mas com aplicabilidade reduzida, justamente por se tratar de polticas transversais que s podem ser realmente efetivas se a rea econmica e outras pastas ministeriais forem tambm ambientalizadas e se ocorrer um processo similar de integrao, mas verticalmente, na gesto federativa. Outra dificuldade vem pelo lado da governabilidade, no somente de rgos ambientais, que ainda tm pequeno alcance, mas em funo do rumo planetrio que tomou o debate ambiental, tornando-se objeto de decises em Reunies e Conferncias multilaterais de pases, o que passou a implicar uma ordem de governabilidade global. O ambientalismo um fenmeno da modernidade e, por isso, universal. Emerge justamente na esteira do avano dos processos de globalizao e de inovao tecnolgica dos sistemas de comunicao. A literatura vem associando os esforos de preservao ambiental da biodiversidade ao debate tico sobre a propriedade desse patrimnio (DESCOLA, 1997; CASTRO, 1997). Os saberes tradicionais, ou conhecimentos tradicionais, constituem um patrimnio coletivo, mas sobre eles houve e h ainda um enorme debate interpondo os regras do direito constitucional e um novo direito que se instaura pelo confronto de olhares de grupos sociais e tnicos antes sem voz, mas que trazem agora questes polmicas sobre as quais a atual estrutura jurdica do pas no tem como julgar, enquanto direito difuso. A reinveno do direito fora dos padres conservadores e positivistas parte de outra noo de justia (RAWLS, 2002). Quanto a esse aspecto, observam-se muitas mudanas conceituais, com a participao ativa de grupos tnicos, a exemplo dos conceitos de conhecimentos tradicionais e de propriedade intelectual que foram divulgados na Carta dos Pajs reunidos em So Luis, em 2001. Movidas pelos preparativos da Eco-92, surgem muitas ONGs no pas e na Amaznia. H uma alta mobilidade dessas estruturas, com desaparecimento e surgimento de novas. Na
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
dcada de 1990, avanam os arranjos organizacionais na forma de redes que abrigam associaes segundo diferentes modalidades. O crescimento desses mecanismos de participao na Amaznia foi fantstico. Muitas redes foram criadas, reunindo organizaes ambientalistas e movimentos sociais, como o Frum Carajs e as redes de mulheres, de camponeses, de quilombolas, de grupos indgenas, de ribeirinhos e de pescadores, entre outras. Verificase ainda a interao dessas estruturas na interface com o Estado, a exemplo do Grupo de Trabalho da Amaznia (GTA). Afunilando seus canais de intermediao e aprendendo estratgias de funcionamento em rede, essas organizaes impressionam pela velocidade com que se articularam para recriar as formas de ao na defesa de interesses e na formulao de um projeto de futuro comum sob outro modo de funcionamento da relao entre sociedade, economia e meio ambiente. Atualmente, acompanhando o debate ambiental que cada vez mais ocorre em esferas de deciso globalizadas, atores locais se deslocam com frequncia em espaos locais, nacionais e globais, para discutir e procurar interferir nas decises relativas problemtica ambiental. Embora para alguns atores locais a luta ambientalista ressoasse como estranha ao universo das questes sociais (como as sindicais, por exemplo), ela estava posta. No incio dos anos 1980, os seringueiros do Acre praticavam os empate10. Os pequenos agricultores rurais de Marab, por sua vez, realizavam nessa poca seus primeiros Encontros para discutir a relao entre agricultura e meio ambiente inicialmente com muita dificuldade de encaminhamento, por ser dominante a percepo da agricultura familiar como uma das causas do desmatamento (levando-se em conta dados relativos justamente s reas de colonizao), e depois como parte indissocivel do debate sobre desenvolvimento e meio ambiente. Se o ambientalismo brasileiro em sua vertente amaznica difundiu e politizou os princpios de preservao e de precauo, de valorizao da natureza e de biodiversidade e valorizou os saberes de populaes tradicionais, o fez com leituras variadas.
10 Ficaram conhecidas pelo nome de empate as aes dos seringueiros do Acre que tentavam impedir o desmatamento dos seringais pelos trabalhadores dos fazendeiros. Nessas aes, os seringueiros ficavam nas reas, com as famlias, empatando o desmatamento.
56
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Essa complexidade de percepes e de formas de apropriao do tema ambiental passou a fazer parte integrante do campo ambiental. CONCLUSO Como vimos, o tema desenvolvimento e meio ambiente constitui-se como um campo complexo compreenso. Isto porque, para alm do debate acadmico e de formulao de estratgias e aes governamentais, implica um projeto bem concreto de sociedade. Trata-se de construir um novo ideal de sociedade, na direo de um desenvolvimento que redefina os paradigmas da relao homem x natureza. Como crescer em um mundo com limites de recursos naturais? Como pensar um modelo alternativo que nos preserve do aquecimento global? Esse o dilema que nos cerca na atualidade. Somos desafiados a pensar o presente e o futuro, o sonho e a realidade. A COP-15 (15a Conferncia das Partes sobre o Clima), realizada em Copenhague, na Dinamarca, em dezembro de 2009, era o evento global esperado como um dos mais importantes do ano, justamente em funo dos resultados de pesquisas recentes sobre o clima e o aquecimento global e da urgncia de decises e polticas consensuadas no plano mundial. Porm, no conseguiu atender s expectativas. O objetivo era discutir acordos multilaterais ambientais e construir as bases de um tratado que substitusse o Protocolo de Quioto, vigente de 2008 a 2012. A reunio nos mostrou a complexidade do jogo poltico e da governabilidade global para tomar decises difceis, no plano governamental, pois elas esbarram em questes de desenvolvimento, em particular as relativas ao crescimento econmico de cada pas. Afinal, quais os pases que querem abrir mo da corrida pelo crescimento? Quais os pases que podem? Quem se permite desistir da corrida que convoca todos ao consumo? Como se observa, as sociedades atuais tm pela frente o compromisso de enfrentar, de forma clara e objetiva, os problemas sociais e econmicos criados por um desenvolvimento pensado e produzido por outras geraes, no passado. Cabe registrar, por fim, que o exame da evoluo do debate sobre a questo ambiental, como procuramos mostrar,
57
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
bastante revelador das mudanas e das interrelaes entre as esferas do local, do nacional e do global. Por isso, tambm elucida os novos desafios que a problemtica ambiental da Amaznia coloca. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ALTVATER, Elmar. O Preo da riqueza. So Paulo: UNESP, 1995. BANERJEE, Subhabrata Bobby. Quem sustenta o desenvolvimento de quem. O desenvolvimento sustentvel e a reinveno da natureza. In: FERNANDES, Marcionila; GUERRA, Lemuel (orgs.). Contra-discurso do desenvolvimento sustentvel. 2 ed. Belm: UNAMAZ, 2006. BRSEKE, Franz Josef. A crtica da razo do caos global. Belm: NAEA/UFPA, 1993. BUNKER, Stephen. Underdeveloping the Amazon: extraction, unequal exchange, and the failure of modern State. Chicago, EUA: Urbana, 1985. CARDOSO, Fernando Henrique. As ideias e seu lugar: ensaio sobre as teorias do desenvolvimento. Petrpolis: Vozes, l993. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. So Paulo: Paz e Terra, 2000. CASTRO, Edna. Territrio, biodiversidade e saberes de populaes tradicionais. In: CASTRO. Edna; PINTON, Florence (orgs.). Faces do Trpico mido. Belm: Cejup, 1997. CASTRO, Edna. Estado e polticas pblicas em face da globalizao e da integrao de mercados. In: MATHIS, Armim; CASTRO, Edna; FENZL, Norbert (orgs.). Estado e polticas pblicas. Belm: CEJUP, 2004. CASTRO, Edna. Dinmica socioeconmica e desmatamento na Amaznia. In: NOVOS CADERNOS NAEA. V. 8, N. 2. Belm: NAEA/UFPA, 2005, p. 5-39. CHAVES, Daniel. A paradoxal unidade do discurso do desenvolvimento. In: PAPER DO NAEA. Belm: NAEA/UFPA, nov. 1997.
58
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
COSTANZA, Robert. Economia Ecolgica: uma grande agenda de pesquisa. In: MAY, Peter; MOTA, Ronaldo Serra da (orgs.). Valorando a natureza: anlise econmica para o desenvolvimento sustentvel. Rio de Janeiro: Campus, 1994. COSTA, Francisco de Assis. As cincias, o uso de recursos na Amaznia e a noo de desenvolvimento sustentvel: por uma interdisciplinaridade ampla. In: PAPER DO NAEA. N. 69. Belm: NAEA/UFPA, 1996. DESCOLA, Philippe. Ecologia e cosmologia. In: CASTRO. Edna; PINTON, Florence. (Orgs.). In: Faces do Trpico mido. Belm: Cejup, 1997. DIESEL, Vivien. Leituras sobre a crise do desenvolvimento. In: PAPER DO NAEA. N. 52. Belm: NAEA/UFPA, dez. 1995. FALCON, Francisco Jos Calazans. Iluminismo. 3 ed. So Paulo: tica, l991. FEARNSIDE, Philip M. As Hidreltricas de Belo Monte e Altamira (Babaquara) como fontes de gases de efeito estufa. In: NOVOS CADERNOS NAEA. N. 1, V. 12, Belm:NAEA/UFPA, jun. 2009. FRANK, Andr Gunder. Amrica Latina al margen del sistema mundial; historia y presente. Santiago, Chile: s. e., 1971. FURTADO, Celso. Anlise do modelo brasileiro. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1982. GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. The entropy law and economic process. Cambridge, London: Harvard University Press, 1971. GIDDENS, Anthony. As consequncias da modernidade. 2 ed. So Paulo: Ed. da UNESP, 1991. HABERMAS, Jrgen. Teora de la accin comunicativa II. Crtica de la razn funcionalista. Madrid, Espanha: Taurus, 1987. HIRSCHMAN, Albert. Auge y ocaso de la teoria econmica del desarrollo. In: EL TRIMESTRE ECONOMICO. N 188.Vol. 47, 1980, p. 1055-1077. HUNT, Diana. Economic theories of development: an analysis of competing paradigms. New York, EUA: Harvester Wheatsheaf, 1989.
59
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
HURTIENNE, Thomas. Theories of development, differentiation of the periphery and development strategies of the NICs. In: VTH, W. (Org.). Political regulation in the great crisis. Berlin, Alemanha, s. e., 1989. IANNI, Octvio. A Sociedade global. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1992. LIPIETZ, Alain. Cercando os bens comuns globais: negociaes sobre o meio ambiente global em uma abordagem do conflito Norte/Sul. In: CASTRO. Edna; PINTON, Florence (orgs.). Faces do Trpico mido. Belm: Cejup, 1997. MARGULIS, Srgio. Causas do desmatamento da Amaznia Brasileira. Braslia, DF: Banco Mundial, 2003. OSTROM, Elinor; GARDNER, Roy; WALKER, James. Rules, ames & common-pool resources. Ann Arbour: University of Michigan Press, 1994. POLANYI, Karl. A grande transformao. As origens da nossa poca. 3 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1980. RAWLS, John. Uma teoria da justia. So Paulo: Martins Fontes, 2002. SACHS, Ignacy. Estratgias de transio para o sculo XXI. In: BURSZTYN, Marcel (org.). Para pensar o desenvolvimento sustentvel. 2 ed. So Paulo: Brasiliense, 1994. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. So Paulo: Companhia das Letras, 1999. VEIGA, Jos Eli. Desenvolvimento sustentvel. O desafio do sculo XXI. 3 ed. Rio de Janeiro: Garamont, 2008.
Universidade Federal do Oeste do Par
WEBER, Max. A tica protestante e o esprito do capitalismo. So Paulo: Pioneira, 1989.
60
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Texto 2 CONFLITOS SOCIAIS NO BRASIL NO INCIO DO PERODO REPUBLICANO
Joo Tristan Vargas1
INTRODUO No territrio hoje conhecido como Brasil, inmeros conflitos sociais ocorreram ao longo do perodo colonial e durante o Imprio, envolvendo grupos sociais diversos, como escravos, senhores de terra e trabalhadores livres, assalariados ou no. Na regio norte do pas, entre 1835 e 1840, uma guerra civil de que participaram dezenas de milhares de pessoas das faixas sociais mais oprimidas virou de pernas para o ar a ordem institucional ali vigente: foi o movimento conhecido como Cabanagem. A partir da dcada de 1840, quando imigrantes europeus comearam a chegar para trabalhar nas fazendas de caf estabelecidas no Sudeste, frequentes conflitos se verificaram entre eles e os fazendeiros que os contratavam. Tais conflitos atravessaram a poca do Imprio e continuaram durante a Repblica. Conflitos que poderamos chamar de tnico-sociais (pois envolviam identidades indgenas ou africanas em situaes de opresso social) tambm foram numerosos na histria do Brasil. Alm dos inmeros confrontos entre grupos indgenas e no-ndios empenhados na escravizao e na tomada de territrios, a prpria Cabanagem pode ser considerada um desses conflitos de carter tnico-social, j que em geral os cabanos eram ndios, negros ou mestios movidos pela esperana de melhoria em suas condies de vida. Outros exemplos, bastante conhecidos, so as revoltas de escravos negros (como a insurreio de 1835, em Salvador da Bahia) e as lutas dos quilombolas, de que se tem registro em diversas partes do territrio nacional.
1
Doutor em Histria Social pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e professor do CFI (Centro de Formao Interdisciplinar) da UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Par).
61
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
Greves de operrios e movimentos reivindicatrios de empregados do comrcio ocorreram, de forma espaada, desde pelo menos os meados do sculo XIX. Em 1857, em Salvador (Bahia) um grupo de carregadores negros, alguns escravos, outros no, paralisaram o trabalho para protestar contra uma postura municipal que os prejudicava. Esta provavelmente foi a primeira greve realizada no Brasil. Em 1858, os tipgrafos da cidade do Rio de Janeiro fizeram a primeira greve da categoria no pas. Em 1877, carregadores de sacas de caf do porto de Santos (So Paulo) pararam por aumento de salrio. Porm, a partir do golpe de Estado de 1889, que deu incio ao perodo republicano, os conflitos sociais, no meio rural ou urbano, intensificaram-se, tornando-se, em certos casos, mais violentos, e alguns dos mais importantes vamos discutir neste texto. Esses conflitos estavam relacionados s transformaes polticas, econmicas, sociais e culturais que vinham ocorrendo desde o final do sculo XIX e que muitos identificavam, na poca, como sinais de modernidade e progresso do pas. Entre essas transformaes estava a prpria mudana de regime poltico (de monarquia para repblica), o crescimento da indstria, a construo de ferrovias pelo interior do Brasil e a remodelao urbana da capital federal na poca (a cidade do Rio de Janeiro). Focalizam-se aqui as primeiras dcadas do perodo republicano (do final da dcada de 1880 aos anos 1940) porque a construo das bases da forma de cidadania que conhecemos hoje no Brasil o tema que atravessa todo o texto e, na viso deste autor, foi ao longo desse recorte temporal que tais bases se construram. Aps esse perodo ocorreram outros conflitos importantes, tambm relacionados construo da esfera da cidadania no pas. Porm, o texto privilegiou aqueles conflitos que estavam mais diretamente relacionados s transformaes polticas, econmicas, sociais e culturais mencionadas acima. A maior parte do texto dedicada ao perodo da Primeira Repblica porque foi nele que tais conflitos ocorreram. Nos anos que seguiram instaurao da ditadura Vargas, que, ao contrrio do que se poderia imaginar, no esteve livre de conflitos sociais relacionados a questes de cidadania, estes, embora tivessem relevantes semelhanas ou analogias com os anteriores, assumiram de modo geral formas bastante diversas deles. O texto se encerra com algumas consideraes sobre os direitos trabalhistas decretados durante o Estado Novo e
62
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
os debates a seu respeito na atualidade, porque tais direitos permanecem como uma importante referncia para a discusso do tema da cidadania na histria do Brasil. 1 A GUERRA DE CANUDOS: NUM POVOADO DIFERENTE, REINVENTA-SE O MODO DE VIDA SERTANEJO O cearense Antnio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antnio Conselheiro, tinha um certo grau de estudo; escreveu sermes que mostram boa redao e conhecimento de latim. Quando jovem, no Cear, trabalhou no estabelecimento comercial do pai. Aps casar-se, exerceu diversos ofcios, como os de caixeiro e escrivo. O casamento no deu certo, e ele ficou s. Em 1874, com cerca de 40 anos, tornou-se um asceta: deixou de comer carne, passou a jejuar e a peregrinar pelos caminhos do serto. Em suas andanas, percorreu extensas reas, em Pernambuco, Bahia e Sergipe. Vestia um camisolo de brim azul (um tecido semelhante ao usado nos jeans de hoje) e dormia ao relento. Vivia de esmolas e pregava nas povoaes. Como no era padre, seus sermes eram chamados de conselhos, e, por isso, passou a ser chamado de Conselheiro. Antnio no era o nico leigo a vagar pelo serto fazendo pregaes. A todos os outros que faziam isso o povo tambm chamava de conselheiros. Logo, pessoas comearam a se reunir em torno dele, para ouvir suas pregaes e rezar e o nmero de seus seguidores aumentou cada vez mais. H informaes sobre plateias de dois mil ou trs mil fiis a ouvi-lo. No tempo em que viveu o Conselheiro, a religio era, por si s, um dos aspectos fundamentais da vida dos sertanejos nordestinos. Mas, a situao de total desamparo em que a maioria deles vivia os estimulava ainda mais a voltarem-se para a religio, em busca de esperana. Os perodos de seca acentuavam-se cada vez mais, num fenmeno que alguns atribuem mudana climtica provocada pela transformao do meio natural decorrente da ocupao humana. Entre 1877 e 1879, a seca foi avassaladora. Estima-se que tenha causado centenas de milhares de mortes. O Conselheiro se colocava abertamente a favor da monarquia e contra a forma de governo republicana. Os motivos
63
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
para ele ter adotado essa posio estavam relacionados ao fato de o Estado, com a proclamao da Repblica, ter assumido um carter laico, separando-se da Igreja. Entre as consequncias dessa separao estava a possibilidade de o casamento ser apenas um contrato, e no um sacramento. O Conselheiro e parte da populao sertaneja viam em mudanas como essa um afastamento em relao a Deus. Essa indisposio com a Repblica, motivada por razes religiosas, era reforada pelo inconformismo com outras mudanas ocorridas aps a alterao do regime poltico, entre elas a criao de novos impostos. Entre a populao pobre do Brasil, era comum as pessoas pensarem no rei como um bom pai, um protetor contra os poderosos. Contra a Repblica Trechos de sermes do Conselheiro: [...] um novo governo [a repblica] acaba de ter o seu invento [de ser inventado] e do seu emprego [da inveno desse governo] se lana mo como meio mais eficaz e pronto para o extermnio da religio. [...] Todo poder legtimo emanado da Onipotncia eterna de Deus e est sujeito a uma regra divina, tanto na ordem temporal como na espiritual, de sorte que, obedecendo ao pontfice, ao prncipe, ao pai, a quem realmente ministro de Deus para o bem, a Deus s obedecemos. [...] evidente que a Repblica permanece sobre um princpio falso e dele no se pode tirar consequncia legtima [...] [...] ainda que ela trouxesse o bem para o pas, por si m, porque vai de encontro vontade de Deus, com manifesta ofensa de sua divina lei. Como podem conciliar-se a lei divina e a humana, tirando o direito de quem tem [o rei] para dar a quem no tem [o presidente da repblica]? Quem no sabe que o digno prncipe o senhor dom Pedro 3o tem poder legitimamente constitudo por Deus para governar o Brasil? Quem no sabe que o seu digno av o senhor dom Pedro 2o, de saudosa memria, no obstante ter sido vtima de uma traio a ponto de ser lanado fora do seu governo, [...] que prevalece o seu direito e, consequentemente, s sua real famlia tem poder para governar o Brasil?
Universidade Federal do Oeste do Par
64
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
[...] o casamento puramente da competncia da santa Igreja, que s seus ministros tm poder para celebr-lo; no pode portanto o poder temporal de forma alguma intervir neste casamento [...] Assim, pois, prudente e justo que os pais de famlia no obedeam lei do casamento civil, evitando a gravssima ofensa em matria religiosa que toca diretamente a conscincia e a alma. [...] O casamento civil incontestavelmente nulo, ocasiona o pecado do escndalo [...] A Repblica h de cair por terra para confuso daquele que concebeu to horrorosa ideia. Convenam-se, republicanos, que no ho de triunfar porque a sua causa filha da incredulidade, que a cada movimento, a cada passo est sujeita a sofrer o castigo de to horroroso procedimento. [...] (NOGUEIRA, 1978, p. 175-180). medida que crescia o prestgio do Conselheiro, os sertanejos o procuravam para ser padrinho de seus filhos. Quem fosse seu afilhado considerava-se tambm afilhado de Nossa Senhora, de quem ele era devoto. Assim, pouco a pouco foi se formando, na regio, uma grande teia de compadrio centrada no Conselheiro. Os laos entre padrinho e afilhado, na poca, estavam entre os mais importantes que poderiam existir entre duas pessoas, pois pressupunham proteo, de um lado, e fidelidade, do outro. Em geral, as famlias abastadas da regio tambm prestigiavam o Conselheiro, comparecendo a suas pregaes e convidando-o a suas casas. Havia mesmo algumas pessoas de posses que vendiam seus bens e passavam a seguir Antnio em suas peregrinaes. Contudo, um dos maiores latifundirios locais, o baro de Jeremoabo, colocava-se contra ele, recriminando-o por declarar oposio Repblica. Muitos padres e autoridades civis desconfiavam do Conselheiro, considerando-o um fantico. Porm, consideravamno til, pois mobilizava os sertanejos para reparar ou construir igrejas, cemitrios e audes de graa. s vezes, at lhe pediam que fizesse isso em suas localidades. Entre as pessoas que realizavam esses trabalhos, muitos o faziam como um ato de penitncia. Assim, para a Igreja Catlica e o governo, a ao do Conselheiro representava economia de gastos.
65
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Em 1893, novos impostos haviam sido baixados. Na porta de cada cmara municipal, era colocada uma tbua na qual se afixava o edital que anunciava a cobrana do tributo. A regio vinha sendo atingida por terrveis e sucessivas secas, e a maior parte de seus habitantes enfrentava grande carncia de meios de subsistncia. Assim, a medida provocou forte descontentamento. Nesse momento, Antnio colocou-se abertamente contra as autoridades governamentais, liderando manifestaes contra os tributos em cinco municpios. No protesto, os manifestantes queimavam a tbua com o edital dos impostos. Essa forma de protesto popular no era nova: havia ocorrido no Nordeste na poca da monarquia. Depois das manifestaes, uma tropa estadual, formada por 30 policiais, chegou para prender os seguidores do Conselheiro, mas foi derrotada. A partir da, Antnio decidiu interromper sua peregrinao. Estabeleceu-se com seu grupo no interior do estado da Bahia, numa das margens do Vaza-Barris, numa rea cercada por uma grande curva desse rio e por numerosos montes. Bem distante das reas mais povoadas, o local era uma fazenda abandonada, ocupada por um diminuto povoado, chamado Canudos. Ali o Conselheiro fundou o arraial de Belo Monte, que se sobreps ao j existente. Apesar do novo nome, o povoado continuou a ser conhecido como Canudos, denominao de uma planta em forma de tubo que crescia na beira do rio. 1.1 A vida em Canudos A regio onde se localizava o arraial seca, e o rio que corre por ali intermitente (s tem gua trs meses durante o ano). Apesar disso, o local permitia a atividade agrcola e a pecuria, e provavelmente por isso que havia sido escolhido: plantavam-se gneros como mandioca, feijo, milho, batata, cana-de-acar, abbora e melo, e se criavam cabras e carneiros. Os rios ali so intermitentes. Assim, em Canudos, faziam-se cacimbas: quando o rio secava, escavavam-se de trs a quatro palmos de terra, e do local esperava-se emanar a gua, que era empregada no cultivo. Quanto ao couro que ali se produzia, era, segundo acredita Nogueira (1978), levado a Juazeiro, dali enviado a Salvador, de onde era exportado para o exterior. Para esse estudioso, a fabricao do couro ocupava a maior parte da
66
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
67
Universidade Federal do Oeste do Par
populao canudense, e a venda desse produto seria a principal fonte de renda do arraial. De modo geral, a terra na povoao era considerada propriedade comum. Mesmo assim, havia diferenas sociais entre os moradores de Canudos. A maioria chegava com muito pouco ou quase nada, e os recm-chegados doavam a maior parte do que possuam para uma caixa comunitria. Mas, para diversas pessoas, mesmo tendo feito essa doao, ainda sobrava algum dinheiro, alm de outros bens. Havia tambm os antigos moradores do local, alguns dos quais tinham fazendas ou pequenos negcios. Representantes do arraial percorriam a regio pedindo doaes em roupas, alimentos ou dinheiro, que eram levadas a Canudos e l distribudas aos que delas precisavam. Apesar de a grande maioria de seus seguidores ser muito pobre, o Conselheiro no pregava a igualdade social. Sua viso a respeito correspondia concepo catlica tradicional. Num de seus sermes, ele aceitava a existncia de ricos e pobres, afirmando, porm, que os primeiros deviam ajudar os ltimos, por meio da caridade. Um padre mantinha residncia no arraial, ali chegando a cada quinze dias, para realizar os rituais catlicos. O povoado contava com uma professora para educar as crianas. Havia tambm um homem que tratava os doentes com plantas medicinais e rituais: um paj da etnia tux. Muitos dos habitantes de Canudos eram ndios, principalmente das etnias kiriri e kaimb, ou ex-escravos. O arraial era protegido por uma fora de entre 1.000 e 1.200 homens uniformizados. Algumas mulheres tambm faziam parte da tropa, que tinha um comandante geral e vrios subcomandantes. A comunidade tinha ainda um chefe civil. Com a formao de Belo Monte, diversas localidades da regio se despovoaram, e muitos dos trabalhadores das fazendas prximas deixaram-nas e foram para l. Alm disso, os ndios que moravam no arraial vinham de antigos aldeamentos criados por jesutas, e seu trabalho, antes de se fixarem em Canudos, era explorado por fazendeiros. Toda essa migrao para Belo Monte provocou grande escassez de mo de obra. Por isso, os latifundirios locais, que antes da fundao do arraial toleravam o Conselheiro, passaram a exigir que as autoridades dessem fim ao povoado.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
1.2 A guerra medida que a populao de Canudos cresce, a preocupao dos latifundirios muda: passam a temer que os pobres de Canudos invadam e tomem suas terras (coisa que nem sequer era cogitada pelo Conselheiro ou seus seguidores). As coisas esto nesse p quando, em outubro de 1896, um carregamento de madeira que deveria ter sido entregue no arraial no chega. O material havia sido comprado pelos canudenses na cidade de Juazeiro, destinando-se construo do telhado de uma das duas igrejas do povoado. Um juiz local, antigo desafeto do Conselheiro, tinha convencido o negociante a no fazer a entrega. O Conselheiro decide mandar buscar a madeira. Surge o boato de que os sertanejos fariam isso com violncia, saqueando o comrcio. Entre os estudiosos do assunto, alguns admitem ter existido alguma inteno de violncia, e outros a negam taxativamente. O juiz pede ajuda ao governo estadual, que em novembro de 1896 envia uma tropa composta por cerca de 100 homens. Os soldados acampam na localidade de Uau, distante mais de 100 quilmetros de Canudos, para onde deveriam se dirigir em seguida. Ao clarear o dia, chega ali uma procisso de talvez uns mil homens, cantando hinos religiosos, com uma bandeira do Divino e uma grande cruz frente. So os canudenses em busca da madeira. Assustados, os sentinelas atiram, o que provoca o incio de um combate. A multido avana para o acampamento. Suas armas so apenas instrumentos de trabalho, como chuos e foices, e algumas velhas espingardas. Cerca de 150 sertanejos caem mortos. Do lado da tropa estadual, morrem 10. Os sertanejos acabam abandonando o local. Os soldados esto exaustos e espantados com o mpeto e a tenacidade com que os canudenses lutaram, e seu comandante decide voltar para Juazeiro. A notcia da batalha corre, surgem boatos de que o Conselheiro pretendia massacrar os republicanos da regio, e os mais abastados comeam a entrar em pnico. Enquanto isso, ainda em janeiro de 1897, uma segunda expedio, composta por foras estaduais e federais, com cerca de 600 homens, dirige-se a Canudos. Torna-se evidente para os habitantes do arraial que uma guerra est iniciando-se, e eles pedem que
68
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
69
Universidade Federal do Oeste do Par
amigos e parentes mudem para o povoado e o defendam. Eles o comparam Arca de No num mundo fadado destruio. A migrao para l imensa, e Canudos cresce ainda mais. Seus habitantes chegam a 25 ou 30 mil. A segunda expedio derrotada. Prevenidos, os canudenses fizeram emboscadas durante o trajeto dos soldados, que acabaram totalmente cercados e recuaram. Diante da resistncia do arraial, o Conselheiro comeou a ser visto, nos grandes centros urbanos do pas, como o lder de um forte movimento pela restaurao da Monarquia. Contudo, os historiadores so unnimes em afirmar que a nica inteno dos canudenses em sua luta era manter seu modo de vida. Sem condies de reunir maior fora militar para enfrentar os canudenses, o governador pede ajuda ao governo federal, que envia uma terceira expedio, com 1300 homens e 6 canhes. Canudos atacado em maro de 1897. Essa fora tambm derrotada. Seu comandante, o prestigiado Coronel Moreira Csar, conhecido por mandar degolar seus prisioneiros, morto em combate. Ao saber de sua morte, os soldados entraram em pnico e fugiram desordenadamente, abandonando o armamento e tudo que pesasse demais durante a fuga. As armas e munies abandonadas foram apanhadas pelos canudenses. No decorrer do conflito, eles passaram a atacar carros de boi que transportavam munio e alimentos para o exrcito. Os sertanejos levavam a munio e deixavam a comida, que consideravam impura, por ser republicana. Tambm atacam algumas fazendas, pertencentes a inimigos de Canudos. No Rio de Janeiro e em So Paulo, quando chega a notcia da derrota da fora federal, violentas manifestaes pblicas e toda a imprensa republicana passam a exigir que o presidente Prudente de Morais esmague Canudos. Com base apenas em suposies (erradas), a imprensa acusa o Conselheiro de receber dinheiro dos monarquistas, e um dos lderes dessa vertente poltica, o coronel Gentil de Castro, acaba assassinado por um grupo de militares.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Os chamados jacobinos2, grupo formado por indivduos de classe mdia, muitos deles militares, eram os mais exaltados opositores de Prudente de Morais, acusando-o de falta de pulso. Para mostrar firmeza na defesa da Repblica, abalada pouco tempo antes pela Revoluo Federalista e pela Revolta da Armada, o presidente faz de tudo para acabar com Canudos. enviada uma quarta expedio, composta por cerca de 10 ou 12 mil homens, na maior parte do exrcito, mas tambm pertencentes a foras dos estados da Bahia, So Paulo, Par e Amazonas. O nmero de soldados equivalia a quase a metade do exrcito brasileiro. Acompanhavam-nos 17 canhes, puxados por bois. Os combates iniciam-se em junho de 1897. Durante algumas semanas, os canudenses ficaram em vantagem: usando tticas de guerrilha, escondendo-se e deslocando-se de um ponto a outro rapidamente, conseguiram causar pesadas baixas ao inimigo, que, empregando tticas de guerra convencionais, ficava exposto aos ataques. Contudo, as foras governamentais so muito superiores. O Conselheiro morre em setembro. No incio de outubro, querosene jogado na rea do povoado, que ainda resistia, e bananas de dinamite explodidas a seguir, queimando casas e pessoas. Canudos resiste tenazmente at o dia 5 de outubro de 1897. Dois dias antes, representantes do arraial pedem uma trgua para entregar cerca de 300 mulheres, crianas e velhos, doentes e feridos. No final da guerra, cerca de 800 prisioneiros foram degolados pelos soldados. Ao todo, morreram 910 militares e a maior parte dos milhares de habitantes do arraial. Encerrado o conflito e conhecida a realidade sobre Canudos e os mtodos empregados para o extermnio de seus habitantes, os militares caem em descrdito. Sua presena na poltica se retrai por longos anos.
Universidade Federal do Oeste do Par
2 A REVOLTA DA VACINA: TRANSFORMAES URBANAS E RESISTENCIA CULTURAL NO RIO DE JANEIRO
2 Os jacobinos foram assim chamados por comparao com o grupo poltico de mesmo nome que, durante a Revoluo Francesa (sculo XVIII), estavam entre os mais radicais.
70
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Em 1904, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro uma violenta revolta popular. No confronto com as foras do governo, at barricadas foram construdas. O que ocasionou o movimento foi a vacinao contra a varola, que pela primeira vez era praticada de forma obrigatria no pas. 2.1 As Condies sanitrias da cidade, no incio do sculo XX No incio do sculo XX, a capital federal estava infestada por doenas transmissveis. Havia um intenso comrcio de ambulantes e quiosques nas ruas e no porto, e boa parte da populao aglomerava-se em habitaes precrias, como cortios e favelas. Tudo isso multiplicava as possibilidades de contgio por vrus e bactrias, que se reproduziam praticamente sem controle devido s pssimas condies de higiene da cidade. Como em outras grandes cidades do mundo na poca, era muito reduzida a rede de esgotos no Rio de Janeiro. Dela estavam excludos os mais pobres. gua em torneiras, dentro de casa, era coisa para poucos. Para obter o lquido, em geral era preciso busc-lo no chafariz pblico, em poos, cisternas ou bicas. Alm da varola, havia a malria, a febre amarela, a clera e at a peste bubnica. Essas molstias, ocorrendo na prpria capital brasileira, eram um risco para a elite que ali vivia. No vero, para fugir do contgio, as famlias ricas partiam rumo a Petrpolis, cidade localizada na serra prxima baa da Guanabara. As doenas tambm manchavam a imagem do pas e desestimulavam a vinda de imigrantes europeus, numa poca em que a cultura do caf, embora s voltas com uma crise de superproduo, continuava a exigir cada vez mais braos. Eram um desestmulo tambm para os investimentos estrangeiros e, por essas razes, vistas como um entrave economia do pas. Diante disso, o presidente Rodrigues Alves (importante cafeicultor paulista), ao assumir em 1902, tomou providncias para sanear a cidade. Ao mesmo tempo, deu incio a uma profunda remodelao urbana, para modernizar a capital e torn-la um local mais saudvel, de acordo com a concepo de sade da poca.
71
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
2.2 A remodelao urbana e as condies de vida dos mais pobres Naquele tempo, era o governo federal que designava o prefeito do Rio de Janeiro, e para esse cargo o presidente nomeou, em 1903, um prestigiado engenheiro civil: Pereira Passos. Ele ficaria responsvel pela reforma urbana, que previa eliminar muitas das ruas estreitas que caracterizavam o Rio na poca e construir no lugar amplas avenidas e modernos edifcios pblicos. Alm de facilitar a circulao e embelezar a capital, o objetivo da reforma tambm era favorecer a sade, tornando a cidade mais arejada. Com esses fins, foram demolidas centenas de edifcios (incluindo numerosas construes do perodo colonial). As demolies, que o povo chamava de bota-abaixo, produziram um grande problema social. Os mais pobres, que eram a grande maioria dos atingidos, tiveram que deslocar-se para locais mais distantes, amontoar-se em moradias ocupadas por outras famlias ou construir barracos nos morros da cidade. A partir da, as favelas, que at ento ocupavam apenas pequenas reas, comearam a crescer como nunca. Para sanear a cidade, foi indicado, tambm em 1903, um mdico jovem mas altamente qualificado: Osvaldo Cruz. Ele passaria a chefiar a Diretoria Geral de Sade Pblica, rgo responsvel pelo combate s doenas no municpio e no pas. O extermnio de ratos, mosquitos e ces vadios, de um lado, e a vacinao, de outro, foram as principais medidas adotadas. Brigadas de homens apelidados de mata-mosquitos passaram a percorrer as ruas, enquanto outros exterminavam ratos, e vacinadores batiam porta das pessoas. Agindo de acordo com a vontade do Poder Executivo, o Congresso Nacional aprovou em maro de 1904 uma lei que dava amplos poderes s autoridades sanitrias. Os fiscais da Sade poderiam entrar nas casas e recolher tudo que fosse considerado prejudicial higiene. As autoridades tambm poderiam determinar a demolio de construes sem que seus moradores ou proprietrios pudessem recorrer justia comum contra a deciso. O objetivo era derrubar habitaes consideradas inadequadas sade (como os cortios que no permitiam boa circulao do ar).
72
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
2.3 A recusa da vacina Na capital e em diversas partes do pas, muitas pessoas se recusavam a receber a vacina. Diante disso, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei para tornar obrigatria a vacinao. Em outubro de 1904, a lei foi aprovada. Na poca, no havia consenso entre os mdicos sobre a maneira como as doenas infecciosas se propagavam. Muitos no aceitavam, por exemplo, a ideia de que o mosquito fosse transmissor da febre amarela, e um grande nmero de pessoas, incluindo algumas das mais cultas do pas, avaliavam que a vacina contra a varola, em vez de imunizar o indivduo, podia transmitir a prpria doena. Assim, as prticas adotadas por Osvaldo Cruz para o combate s molstias infecciosas foram fortemente criticadas nos meios polticos e na imprensa. Em discurso no Senado, Rui Barbosa disse:
Assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a conscincia, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Logo no tem nome, na categoria dos crimes do poder, a violncia, a tirania, a que ele se aventura, expondo-se, voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar, com a introduo, no meu sangue, de um vrus, em cuja influncia existem os mais fundados receios de que seja condutor da molstia, ou da morte. (NOSSO SCULO, 1985, p. 54.)
2.4 A revolta Em 10 de novembro, o dia seguinte regulamentao da lei sobre a vacina, comeam a ocorrer choques entre a populao e a polcia, encarregada de fazer cumprir a medida. Os ajuntamentos estavam proibidos, e policiais a cavalo atacam as
73
Universidade Federal do Oeste do Par
Entre os que protestavam contra as medidas do governo, estavam os positivistas, vrios polticos da oposio, diversos militares e lderes operrios. O tenente-coronel Lauro Sodr, que era senador, chegou a fundar uma entidade chamada Liga Contra a Vacinao Obrigatria.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
aglomeraes de descontentes que se formam espontaneamente aqui e ali. H numerosas prises. Ao longo dos dias seguintes, o movimento cresce. H cada vez mais manifestantes nas ruas. Para se defenderem da polcia, viram bondes e carroas, amontoam paraleleppedos e outros materiais e constroem barricadas. Rolhas so jogadas para que os cavalos da polcia escorreguem. No dia 15 de novembro, data da proclamao da Repblica, oficiais do exrcito e alunos das duas escolas militares da capital (a do Realengo e a da Praia Vermelha) tentam dar um golpe para derrubar o presidente Rodrigues Alves. Entre outros motivos, eles estavam descontentes com a perda do espao que os militares tinham no incio da Repblica, e havia tempos vinham conspirando para derrubar o governo. Contudo, o movimento fica restrito s escolas, e derrotado pelas foras governistas, que chegam a bombardear os rebeldes. Enquanto isso, a revolta da populao contra a vacina prossegue. Porm, diante dos acontecimentos, o governo argumenta que essa revolta era uma preparao para a tentativa de golpe dos militares, o que se torna uma forte justificativa para o presidente, no dia 16, pedir ao Congresso e obter a decretao do estado de stio. Essa medida suspende as garantias constitucionais para as liberdades civis e assim permite reprimir com mais facilidade a revolta popular. Os revoltosos combatem com grande tenacidade, mas acabam sendo derrotados. No final, so muitos os mortos e feridos. 2.5 As razes da revolta H vrias explicaes sobre o que ocasionou a Revolta da Vacina. Os historiadores do tema concordam entre si quanto aos seguintes motivos para a insatisfao da populao mais pobre: a alta do custo de vida na poca, a falta de empregos, o agravamento das condies de moradia resultante do botaabaixo e o fato de a vacina ser aplicada mesmo contra a vontade das pessoas, com auxlio de fora policial. Alm dessas razes, alguns estudiosos apontam outras, que continuam a ser discutidas. O historiador Jos Murilo de Carvalho enfatiza, entre as motivaes, uma questo de ordem moral. Como a injeo era aplicada no brao, as mulheres
74
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
tinham de levantar as mangas de suas roupas, o que na poca muitos consideravam uma ofensa honra do marido ou do pai (Carvalho, 1987). Outro historiador, Sidney Chalhoub (Chalhoub, 1996), cita evidncias de que a revolta pode ter tido um motivo ligado religio. Muitos dos que praticavam cultos de origem africana acreditavam que se uma doena ocorria era porque no haviam sido cumpridos os deveres para com certas entidades, como Omulu, tambm conhecido como Obaluai, do candombl. Segundo essa religio, Omulu que traz os cereais para as pessoas, e ele tambm que faz surgir os gros da varola na pele. Assim, na viso dos adeptos do candombl da poca, a varola, sendo causada por um ser sobrenatural, deveria ser curada por meio de certos rituais, que reconciliariam a pessoa com a entidade. Nesse modo de pensar, como a molstia seria uma punio, interferncias no seu desenrolar (como a vacina) teriam como resultado no a melhora na sade da pessoa, e sim a piora no seu estado. Uma das evidncias, apontadas por Chalhoub (1996), de que essa pode ter sido uma importante motivao para a revolta, que a maior resistncia popular, durante o movimento, ocorreu justamente nos bairros onde, antes do bota-abaixo, localizavase a maioria dos terreiros de candombl, desalojados juntamente com a demolio dos cortios pelo poder pblico. 3 A GUERRA DO CONTESTADO: NOVAS FORMAS DE VIVER NO SERTO DO SUL3 At o incio do sculo XX, uma vasta rea entre a poro norte de Santa Catarina e o Paran era disputada por esses dois estados e mesmo pela Argentina, pas com o qual a regio faz fronteira. Por essa razo, o territrio era chamado de Contestado. Era grande a rivalidade entre os grupos dominantes nos dois estados. Em certos trechos do Contestado ocupados por Santa Catarina, era comum tropas paranaenses atacarem povoaes para afugentar as autoridades catarinenses e anular o que elas
3 Todas as informaes a respeito da Guerra do Contestado utilizadas aqui foram obtidas em Machado (2004).
75
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
tivessem determinado, como a transferncia de propriedades e at casamentos. Nessa regio e proximidades, ocorreu um prolongado conflito que envolveu milhares de habitantes pertencentes s camadas mais pobres da sociedade e durou de 1912 a 1916. Por ter ocorrido ali, esse conflito ficou conhecido como Guerra do Contestado, mas suas principais motivaes no esto ligadas disputa entre os dois estados. 3.1 O ambiente geogrfico e as relaes sociais A rea do Contestado era habitada por ndios desde muito tempo. Porm, sua ocupao por uma populao no ndia, formada por mestios de negros, indgenas e brancos de origem nacional, era relativamente recente: ocorreu nas ltimas dcadas do sculo XIX. Havia tambm imigrantes alemes, poloneses e ucranianos. A vegetao nativa era composta muito mais por matas e campos de erva-mate do que pelas pradarias caractersticas do sul do Brasil. As reas com bons pastos, muito procuradas pelos grandes criadores de gado, situavam-se mais na poro sul de Santa Catarina (em torno da cidade de Lages, por exemplo), onde as terras eram ocupadas por grandes fazendeiros. Devido a isso, a populao na parte sul do estado era formada em grande parte por pees e agregados, inteiramente submetidos ao poder dos coronis. Como observa o historiador Paulo Pinheiro Machado, na regio do Contestado, a menor presena de pastos e a existncia de terras devolutas, que ainda podiam ser ocupadas, contriburam para que ali vivesse uma populao muito menos submetida ao coronelismo e formada em grande parte por pequenos posseiros e sitiantes donos de suas terras. Essa populao, que tinha na cultura do mate um de seus principais meios de vida, tinha vindo, em sua quase totalidade, do Paran, mas em geral preferia que a regio viesse a pertencer ao estado de Santa Catarina. A razo da preferncia era o desejo de escapar ao poder dos coronis paranaenses, que avanavam cada vez mais sobre as posses dos sertanejos.
76
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
3.2 A repblica e o poder dos coronis Na poca, a transformao do Brasil em repblica ainda era muito recente. Muitos habitantes da regio achavam que essa no havia sido uma mudana positiva. Um dos motivos dessa avaliao era o fato de que a mudana poltica havia reforado o poder dos coronis, isto , dos grandes fazendeiros. que, com a formao da repblica federativa, as provncias, transformadas em estados, passaram a ter grande autonomia em relao ao governo federal. As terras devolutas e o direito de criar leis sobre elas passaram para os estados. Isso facilitou a apropriao dessas terras pelos coronis: afinal, a maior parte dos representantes eleitos nos congressos estaduais estavam ligados a esses grandes proprietrios. Os grupos polticos dominantes nos governos estaduais apoiavam-se no poder dos coronis. Com apoio dos governos estaduais de Santa Catarina e Paran, os coronis dominavam os municpios pertencentes a esses estados e procuravam se apropriar das terras ocupadas por posseiros e sitiantes, em busca de pastos e da erva-mate, o principal gnero exportado pela regio. Para se ter uma ideia do poder dos latifundirios nos municpios catarinenses, basta mencionar a lei criada em Lages, em 1904, a qual classificava como zona de pecuria todas as terras localizadas numa faixa de at 6 quilmetros depois das reas efetivamente ocupadas pela criao de gado. Apoiados nessa lei, os pecuaristas deixavam o gado pastar nas terras prximas a suas propriedades, mesmo que estivessem ocupadas por roas feitas por sertanejos, situadas naquela faixa. 3.3 A ferrovia: duro golpe nos meios de vida dos sertanejos A situao dos habitantes mais pobres da regio complicou-se ainda mais quando uma ferrovia comeou a ser construda ali. A estrada de ferro tinha incio no estado de So Paulo e deveria chegar ao Rio Grande do Sul. Estava a cargo da Brazil Railway, empresa estadunidense que, como parte do contrato com o governo federal, recebeu uma faixa de terras com largura de at 15 quilmetros em cada lado da linha, para utilizar em projetos de colonizao. Ela tinha como subsidiria
77
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
a madeireira Lumber. Enquanto a primeira construa a linha de trem, a outra explorava a madeira da regio e loteava as terras para vend-las a imigrantes. O problema que grande parte dessas terras j estava ocupada por habitantes da regio, que na maioria no possuam ttulos de propriedade e que, entre outras atividades, extraam o mate em ervais ali existentes. Essas pessoas foram pouco a pouco expulsas por homens armados a servio da madeireira. Em 1910, foi concludo o trecho da ferrovia que cortava a regio do Contestado, indo de Unio da Vitria, cidade paranaense s margens do rio Iguau, at Marcelino Ramos, municpio gacho prximo ao rio Uruguai. A ferrovia trouxe outro grande problema para a populao local. At ser construda, havia na regio um intenso movimento de tropas de mulas, que faziam o transporte de praticamente tudo que era comerciado ali. Essa atividade fornecia meios de vida a muita gente, que trabalhava em atividades como a conduo e criao de muares e o comrcio ao longo das trilhas por onde passavam os animais. Quando os trens comearam a se deslocar pela estrada de ferro e a concorrer com os tropeiros no transporte de passageiros e mercadorias, um nmero muito grande de pessoas ficou sem ter do que sobreviver. A elas somaram-se os que haviam sido empregados na construo da ferrovia e que, depois de terminarem os trabalhos, tambm perderam seus meios de sobrevivncia. Para Machado (2004), provvel que a maior parte desses trabalhadores fosse da prpria regio, e no de outras, como acreditavam diversos estudiosos. 3.4 Os monges do Contestado: o primeiro e o segundo Joo Maria
Universidade Federal do Oeste do Par
Desde a dcada de 1840, ouvia-se falar, na regio, de um personagem envolto em mistrio: o monge Joo Maria, que percorria os sertes com um cajado, roupas simples e um bon feito de couro de jaguatirica. Fazia pregaes, profecias e curas e no comia carne. De acordo com o historiador Oswaldo Cabral (CABRAL, 1979, apud MACHADO, 2004), houve na verdade dois homens que apareceram na regio um depois do outro e ficaram ambos conhecidos como Joo Maria. Nenhum deles pertencia ao clero.
78
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
O primeiro, de origem italiana, era bem recebido pelos padres catlicos, os quais viam nele algum que (como Antnio Conselheiro no incio) poderia ajudar a reforar a f dos sertanejos. Nunca mais foi visto, desde 1870. A partir de 1890, apareceu o segundo, que alguns acreditam ter origem sria e haver chegado ao Brasil vindo da Argentina. Era parecido com o primeiro e agia de modo muito semelhante a ele, erguendo cruzes em certos locais e apontando fontes de gua santa que se acreditava ter poder curativo. Como no caso do primeiro Joo Maria, onde o segundo monge aparecia sempre se formava um ajuntamento de pessoas em busca de bnos e curas. Tanto um como outro permaneciam pouco tempo em cada local, para evitar que essas aglomeraes crescessem. Contudo, havia importantes diferenas. O segundo Joo Maria declarava-se contra a Repblica e pouco se submetia ao clero, com quem costumava entrar em atrito, principalmente pelo fato de batizar crianas. Esse ato era visto pelos padres como intromisso inaceitvel numa atribuio que consideravam exclusiva do clero. Os atritos ocorriam tambm porque, a partir do final do sculo XIX, o clero da regio passou a ser formado cada vez mais por imigrantes alemes, italianos e poloneses. De orientao mais rgida que os padres nacionais, eles se espantavam, por exemplo, com o pequeno comparecimento da populao s missas e toleravam muito pouco as prticas do catolicismo popular da regio, como as festas dedicadas a santos. 3.5 O monge Jos Maria Cerca de 1908 ou 1910, Joo Maria deixou de ser visto. Em 1912, surge um terceiro monge: Jos Maria, que alguns acreditavam ser irmo de Joo Maria. Segundo testemunhos da poca, alm de se dedicar s prticas religiosas, ele tinha grande conhecimento de ervas medicinais, sendo muito procurado pela populao local em busca de tratamento para problemas de sade. Contudo, nesse momento ainda no chegava a ser considerado um santo, como Joo Maria.
79
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
3.6 O primeiro ajuntamento sertanejo em torno de Jos Maria Em agosto de 1912, Jos Maria compareceu a uma festa do Bom Jesus no povoado de Taquaruu, s margens do rio de mesmo nome, convidado por lderes de povoaes locais, que costumavam atuar como festeiros. O arraial formado para a festa continuou em p depois que ela terminou. Atradas pela presena do monge ali, muitas pessoas continuavam a chegar. Entre elas, grande parte era de sertanejos expulsos pela madeireira e pela ferrovia estadunidenses, que no tinham para onde ir. Muitos tambm estavam l para aguardar o retorno do mtico monge Joo Maria. O coronel Albuquerque, superintendente (o cargo correspondia ao de prefeito, na poca) do vizinho municpio de Curitibanos, mandou que Jos Maria fosse sua presena, com o pretexto de que um doente de sua famlia precisava de tratamento. Na verdade, o coronel pretendia esclarecer o que estava ocorrendo: segundo alguns, ele acreditava que o monge podia estar aliado a um coronel oposicionista. De acordo com relatos da poca, Jos Maria respondeu que Albuquerque que devia se dirigir a ele, visto que a distncia entre os dois era a mesma. Irritado, o superintendente telegrafou ao governador de Santa Catarina, seu compadre, dizendo que em Taquaruu havia sido proclamada a monarquia e formado um governo provisrio. 3.7 A transferncia do arraial e o primeiro confronto improvvel que o governador tenha acreditado na fantstica mensagem. Como vimos no caso de Canudos, a viso tradicional do rei como um pai protetor era frequente entre os mais pobres. Pelo que se contava na poca, a monarquia havia sido mencionada (como lei de Deus, em conformidade com a viso de Joo Maria) apenas num desafio de repentistas durante o festejo. Contudo, a insubordinao dos sertanejos de Taquaruu era motivo suficiente para dar fim ao ajuntamento. Tropas estaduais e federais foram enviadas. Para evitar um confronto, Jos Maria, acompanhado de cerca de 40 homens e mulheres, abandonou o local e se dirigiu regio do Irani, onde o grupo se fixou. Prxima dali, a regio
80
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
fazia parte de uma rea que o Supremo Tribunal Federal havia atribudo a Santa Catarina, mas que ainda estava sob domnio do Paran. Os governantes dali imaginaram que os sertanejos tinham ido para l por terem sido enxotados pelo governo catarinense. Para as autoridades paranaenses, isso teria sido feito para fornecer um motivo para as tropas federais se dirigirem ao local e colocarem em execuo a sentena do Supremo favorvel a Santa Catarina. Com base nessa suposio, o governo do Paran enviou tropas ao Irani. Diante da ameaa, Jos Maria decidiu dispersar os sertanejos, mas as tropas paranaenses atacaram o ajuntamento antes que isso fosse possvel. No combate, que se deu em outubro de 1912 e envolveu cerca de 200 sertanejos e 64 soldados, morreram Jos Maria e vrios seguidores, mas as foras do governo foram derrotadas, e seu comandante, morto. 3.8 Novas instituies no Contestado: a vida no reduto sertanejo Depois desse combate, comeou a tomar forma, entre os sertanejos que se haviam reunido em torno do monge, um conjunto de ideias e instituies novas. Eles comearam a considerar Jos Maria como um santo, que retornaria terra junto com um exrcito encantado comandado por So Sebastio, do qual fariam parte os sertanejos que haviam perdido a vida no combate do Irani. No povoado de Perdizes, um ano aps a morte de Jos Maria, uma menina de 11 anos chamada Teodora, neta do mdio fazendeiro Eusbio Ferreira, um dos festeiros que haviam chamado o monge para a festa de Bom Jesus, comeou a narrar sonhos e vises nos quais ele aparecia. Ela dizia que todos deveriam ir regio de Taquaruu para esperar a chegada de Jos Maria e seu exrcito encantado. Diante disso, em dezembro de 1913, Eusbio, sua famlia e cerca de 20 outras pessoas dirigiram-se a Taquaruu, estabelecendo-se nas terras de Chico Ventura, um dos seguidores do monge. Surgiu assim um povoado, cuja fundao havia bastante tempo vinha sendo aguardada pelos sertanejos da regio. A comunidade vivia de acordo com os preceitos de Jos Maria. O monge, segundo se acreditava, podia aparecer e
81
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
transmitir suas orientaes para certas crianas ou adolescentes, mas no para adultos. Por isso, quem liderava a comunidade era sempre uma pessoa muito jovem. Quem primeiro cumpriu esse papel foi a menina Teodora, pouco depois substituda por Manoel, de 18 anos, filho de Eusbio. Mais tarde Manoel foi substitudo pelo neto de Eusbio: Joaquim, de 11 anos, que foi chamado de menino-de-Deus ou menino-Deus. A partir desse momento, as orientaes dos jovens chefes passaram a ser interpretadas por um conselho formado de pessoas mais velhas, antes de serem executadas. Entre os motivos para a liderana dos jovens ter sido respeitada estava o fato de sua autoridade ter aval de Eusbio e sua esposa Querubina, prestigiados pelo grupo de pessoas que os seguiram a Taquaruu. Em pouco tempo, eram centenas os moradores do reduto ou cidade santa, como passou a ser chamado o novo arraial, e a populao crescia dia a dia. Cada um que entrava no reduto era chamado de irmo e devia colocar seus bens (como bois, porcos e galinhas) disposio de todos os moradores (porm, cavalos, armas e dinheiro eram considerados como propriedade individual e no eram compartilhados). Cada membro da comunidade (chamada de irmandade) devia ser sustentado por todos, mesmo que no houvesse trazido nada quando chegou. No local, havia roas, e tudo que era produzido nelas pertencia irmandade. Contudo, provvel que a maior parte dos moradores do reduto possusse pequenos pedaos de terra na regio e voltasse para eles quando era tempo de plantar ou colher. No reduto, passaram a ser realizadas procisses duas a trs vezes por semana. Tambm comearam a ser feitas as formas, isto , reunies com todos os habitantes, separados em filas por sexo e idade. Nessas ocasies, as pessoas gritavam viva a So Sebastio, Jos Maria e a monarquia. tarde, as pessoas se juntavam para rezar. A disciplina era frrea: quem se mostrava descrente ou tinha um comportamento moral considerado errado apanhava. Os homens do reduto no usavam barba, e seu cabelo era cortado bem rente. Por isso, os inimigos passaram a chamlos de pelados. Em contrapartida, os sertanejos chamavam os homens do governo de peludos. No reduto, destacava-se um grupo de 24 ou mais homens, chamados de os pares de Frana, ou pares de So Sebastio. Eram os combatentes mais
82
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
hbeis, corajosos e fervorosos. Eles compunham a guarda de honra que receberia Jos Maria em seu desejado retorno. Eram comandados pelo chefe do reduto. A formao do grupo foi inspirada na histria medieval de Carlos Magno e os 12 pares de Frana, epopeia que caiu no gosto dos sertanejos do Contestado. Eles se identificaram com essa narrativa de uma guerra santa (dos cristos contra os mouros), que dava nfase a valores como lealdade, honra e coragem e que tinha um rei como personagem principal. O retorno de Jos Maria
Um poema que os sertanejos dos redutos costumavam recitar mostra como se imaginava o retorno de Jos Maria: Alegria vir na terra Ao cheg Jos Maria, Os arroio vira leite, De cus-cuiz nossas coxia. Ningum mais fica doente Ao vort Jos Maria, Casa e mesa a todo mundo Bia quente e gua fria. No percisa mais dinheiro Chega a f em Z Maria, Temo forga vontade Pra cri nossas famia. Se alegremo minha gente Esperando Z Maria Viveremo em Paraso Como nunca se vivia. Temo f no Santo Monge [Joo Maria] E tambm em Z Maria, Mais So Jorge e So Migu, So Bastio que nis confia. (MACHADO, 2004, p. 205-206)
3.9 Tropas governamentais atacam; os redutos se multiplicam
Universidade Federal do Oeste do Par
Menos de um ms depois da criao do reduto, foras estaduais o atacaram. Como da outra vez, foram derrotadas, o que aumentou a atrao de Taquaruu sobre os sertanejos da regio. Porm, pouco depois, em janeiro de 1914, o menino Joaquim ordenou que a povoao fosse transferida de lugar, dizendo que o prximo ataque das tropas do governo resultaria na destruio do reduto. Assim, novo reduto foi construdo em Caraguat, regio prxima dali. Ele seria chefiado por uma virgem (isto , uma jovem que teria a capacidade de se comunicar com o monge): Maria Rosa, de cerca de 15 anos,
83
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
que dizia ter sido orientada por Jos Maria para liderar uma guerra santa contra os peludos. A migrao foi realizada aos poucos. Os que se mantinham em Taquaruu aguardando o momento de se mudar eram chefiados por Linhares, menino negro de 10 anos. Em fevereiro de 1914, por volta de 300 pessoas ainda estavam l e foram atacadas pelas foras do governo, compostas por cerca de 700 homens. O local foi bombardeado, e os moradores, na maioria mulheres e crianas, foram massacrados. Em maro, o governo voltou suas foras contra o reduto de Caraguat, mas os sertanejos, conhecedores da mata e hbeis com seus faces de ao ou madeira, conseguiram derrot-las. Pouco tempo depois, porm, tiveram que abandonar o local devido a uma epidemia de tifo. As mais de 2 mil pessoas que ali estavam mudaram-se para um novo reduto: Bom Sossego. Vrios outros redutos e povoaes menores de sertanejos seguidores de Jos Maria foram formados nos anos seguintes. Todos eles, porm, estavam subordinados a um reduto principal. A certa altura, os participantes do movimento pretenderam expandir seu modo de vida para outras regies. Em 1914, chegaram a ocupar a vila de Curitibanos, em Santa Catarina, e algumas povoaes paranaenses. O territrio sob seu domnio cobria centenas de quilmetros quadrados, entre o rio Iguau e seu afluente Negro e o rio Uruguai. Estima-se que por volta de 30 mil pessoas viveram em Santa Maria, o ltimo reduto principal. Relaes comerciais foram estabelecidas com povoaes vizinhas, para as quais os redutos vendiam mate e couro. 3.10 A resistncia dos redutos e o fim da guerra medida que a guerra prosseguia, a vida nos redutos se tornava mais difcil, pois os mantimentos comearam a escassear. Diante disso, uma das solues encontradas pelos sertanejos para tornar possvel a resistncia s foras governamentais foi realizar ataques a fazendas para arrebanhar gado. Os rebeldes chegaram a levar fora pessoas da regio para dentro dos redutos, provavelmente para reduzir o nmero de homens disponveis para serem recrutados pelo governo.
84
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Devido necessidade de organizar os redutos para a guerra, acabaram surgindo lderes militares, chamados comandantes de briga. O ltimo e mais temido desses comandantes foi o jovem tropeiro Adeodato, que chegou chefia geral do movimento com 26 anos e manteve uma disciplina extremamente rgida no reduto principal. Em dezembro de 1915, depois de muita resistncia, o reduto final foi destrudo. Em janeiro de 1916 os ltimos rebeldes se renderam.
4 A REVOLTA DA CHIBATA4 Em 1910, a populao do Rio de Janeiro, o governo federal e a imprensa foram surpreendidos por uma grande revolta de marinheiros. Assumindo o controle de modernos navios de guerra, eles exigiam o fim da punio pela chibata, entre outras reivindicaes. Essa foi a mais importante de uma srie de rebelies de marinheiros ocorridas no incio do perodo republicano. Sob ameaa de bombardeio capital federal, o movimento questionou seriamente os limites da cidadania a que podiam ter acesso os mais pobres na Primeira Repblica. 4.1 Homens forados a embarcar; meninos treinados para a vida no mar Boa parte dos homens que serviam como marinheiros nos navios de guerra do Brasil no incio da Repblica haviam sido recrutados fora, depois de capturados pela polcia por terem sido considerados vadios ou responsveis por infraes lei. O recrutamento forado era uma prtica que vinha desde os tempos coloniais e tinha sido comum em vrios outros pases. Ele continuou sendo usado pelas autoridades at o incio do sculo XX, embora uma lei de 1874 o tivesse proibido, substituindo-o por um sorteio. Com frequncia, autoridades policiais, para se livrarem de indivduos que consideravam prejudiciais ordem, enviavam-nos para a Marinha; outras vezes, comandantes
4 At o item 4.2, as informaes aqui mencionadas foram colhidas em Nascimento (2001).
85
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
navais pediam a essas autoridades o envio desses homens. O mesmo ocorria no caso do Exrcito. Em geral, procurava-se fugir do alistamento, e praticamente s os mais pobres eram engajados, pois quem tinha recursos conseguia comprar o favor das autoridades para livrar os filhos cujos nomes haviam sido sorteados. Estavam isentos fazendeiros, donos de estabelecimentos industriais, sacerdotes, estudantes e graduados de nvel superior e praticantes de certos ofcios, como maquinista de locomotiva. Os voluntrios eram poucos: menos de um dcimo do total. Quem entrasse para a Marinha era obrigado a servir por no mnimo 6 anos. Estima-se que cerca de 90% dos marinheiros entre o final do sculo XIX e o incio do XX eram negros ou mestios. Quando promoviam algum, os oficiais davam preferncia aos brancos. Contudo, o servio no mar no deixava de ser uma opo para quem se encontrava sem meios de vida, principalmente durante a crise econmica dos tempos do encilhamento. Uma grande parte dos marinheiros havia sido treinada em escolas de aprendizes da Marinha. Muitos dos jovens que se encontravam nesses estabelecimentos eram rfos, ou garotos que haviam praticado alguma contraveno e tinham sido apanhados pela polcia. Outros haviam sido enviados para l por pais que no tinham como cuidar deles ou que viam no alistamento uma alternativa para evitar que o filho se tornasse um malfeitor. Os aprendizes se tornavam marinheiros logo que completassem 18 anos ou apresentassem vigor fsico considerado suficiente para o embarque. 4.2 Disciplina a bordo: os castigos fsicos mantm-se na Repblica
Universidade Federal do Oeste do Par
Nos navios, os marujos enfrentavam as mais duras condies. Alm disso, a indisciplina podia ser punida com chibatadas. De acordo com o regulamento do Imprio, seriam no mximo 25 por dia, mas frequentemente o nmero de golpes era ultrapassado. H informaes oficiais de punies de 200, 300 e at 500 chibatadas e testemunhos confiveis sobre castigos de at 800 chibatadas. A punio pela chibata havia sido abolida logo no segundo dia depois da proclamao da Repblica. Nessa ocasio, os marinheiros comemoraram. Porm, poucos
86
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
meses depois, em abril de 1890, provavelmente pressionado pelos oficiais da Marinha, o governo baixou, sem alarde, um decreto que restabelecia a punio. O decreto anterior, contudo, no foi revogado. A medida determinava que 25 golpes de chibata pudessem ser aplicados aos marinheiros que, por serem reincidentes nas faltas disciplinares, fossem inscritos num grupo chamado Companhia Correcional. Esses homens continuariam servindo junto aos outros tripulantes, mas estariam sujeitos a um regime disciplinar diferenciado, bem mais rigoroso, que inclua, entre outras punies, a proibio de sair do navio ou participar das recreaes a bordo, a preferncia para os trabalhos mais duros, a priso a ferros (isto , o aprisionamento a correntes em uma cela) com alimentao a po e gua, em caso de faltas leves, e as chibatadas, para faltas graves. Para o historiador lvaro Pereira do Nascimento, esse regime tornou o sistema de punies a bordo ainda mais severo, j que antes o marinheiro punido retomava suas funes e o convvio com os outros, no ficando segregado num grupo parte. As punies fsicas eram diversas. Uma bastante frequente era o uso da golilha no pescoo. A chibata, no testemunho dos marinheiros Quando no eram as varas de marmelo, era uma corda intitulada corda de barca, linha de barca, e sempre os carrascos colocavam agulhas e pregos, preguinhos pequenos na ponta coberto. Depoimento em udio, de Joo Cndido ao historiador Hlio Silva. Rio de Janeiro, maro de 1968. Museu da Imagem e do Som e Arquivo Edgard Leuenroth. (NASCIMENTO, 2001, p. 63)
Universidade Federal do Oeste do Par
Muitas vezes apanhei com a vara de marmelo. Mas chicotadas e lambadas que levei quebraram meu gnio e fizeram com que eu entrasse na compreenso do que ser cidado brasileiro. (SANTOS, 1988, apud NASCIMENTO, 2001, p. 67.) Muitos comandantes de navios continuavam a ultrapassar em muito o nmero de 25 chibatadas, ao punirem subordinados. Essa prtica provocou revoltas entre os marinheiros. No h
87
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
certeza se ocorreram durante o Imprio. Mas h informaes sobre essas revoltas no incio do perodo republicano. Em junho de 1893, os marinheiros de um navio de guerra do Rio Grande do Sul se revoltaram, apoderando-se da embarcao (ancorada prxima cidade gacha de Rio Grande). Liderados pelo marujo Juvino de S Barreto, eles no exigiam o fim do castigo pela chibata, e sim a substituio de oficiais acusados de excessos nessa forma de punio. Segundo o historiador lvaro Pereira do Nascimento, que estudou essa revolta (e de cuja obra os dados a respeito do movimento, mencionados aqui, foram obtidos), at o incio do perodo republicano a existncia do castigo fsico no era questionada pela maior parte das pessoas, que o viam como algo normal, desde que no fosse exagerado. (NASCIMENTO, 2001.) Os amotinados acabaram presos, sendo desconhecida a sentena que tiveram. H notcias de outras revoltas, motivadas pelo uso da chibata, ocorridas em 1901, 1904 e 1908, das quais se tm poucas informaes. 4.3 A revolta de 19105 A maior revolta de marinheiros foi a de 1910. Ficou conhecida com o nome de Revolta da Chibata. Seu principal lder era o marinheiro de primeira classe Joo Cndido Felisberto, gacho negro de 30 anos. O movimento exigia a abolio da chibata e de outros castigos fsicos. Protestava ainda contra a m alimentao, os baixos soldos e o excesso de trabalho. O pessoal a bordo era insuficiente, e em 1910 foram adquiridos grandes e modernos navios de guerra. O servio tornou-se ainda mais pesado, pois o nmero de marinheiros no aumentou nas propores necessrias. Entre outros problemas, essa situao trouxe grandes dificuldades para que os marujos cumprissem as tarefas a contento. Os oficiais muitas vezes entendiam isso como preguia e respondiam com punies. A rebelio teve incio em novembro, pouco depois da posse do marechal Hermes da Fonseca na presidncia. Meses antes, em maio de 1910, Joo Cndido havia pedido o fim da
5 As informaes contida neste item foram obtidas em Morel (1979) e Nascimento (2001).
Universidade Federal do Oeste do Par
88
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
6 Couraado (ou encouraado): grande navio de guerra, cujo casco inteiramente protegido por uma couraa de ao. 7
Cruzador: navio de guerra menor e menos protegido que o couraado.
89
Universidade Federal do Oeste do Par
chibata ao presidente anterior, Nilo Peanha. A audincia com o presidente havia sido obtida por intermdio do ento ministro da Marinha, com quem o marinheiro, apesar de sua origem humilde, tinha boas relaes. A revolta estava preparada havia vrios meses. O comit que liderava o movimento decidiu inici-lo no dia 22, pois nessa data um marinheiro do encouraado Minas Gerais, ancorado na baa da Guanabara (Rio de Janeiro), havia sido submetido a uma punio de 250 chibatadas. Mesmo depois de desmaiar, o castigo continuou, at completar-se o nmero de golpes a que tinha sido sentenciado. O motivo da punio: o marujo havia atingido um superior (um cabo) com uma navalha, depois que ele o denunciou por ter trazido cachaa a bordo. Os marinheiros tomaram o navio. Houve luta, e vrios oficiais e marinheiros morreram. Um tiro de canho foi disparado, como sinal para as tripulaes de outros trs navios de guerra prximos (o encouraado6 So Paulo e os cruzadores7 Bahia e Deodoro), que estavam comprometidas com a rebelio. No Bahia, houve luta e mortes dos dois lados, mas os marujos se apoderaram da nave. No So Paulo, os marinheiros gritaram viva a liberdade, e uma comisso pediu aos oficiais que abandonassem o navio. Um deles, que havia tentado resistir, foi morto. Os outros foram para terra firme. Mais tarde, a tripulao do Deodoro aderiu ao movimento. Os marujos de diversos outros navios tambm aderiram, mas se transferiram para os quatro maiores, cuja tripulao estava incompleta. No total, os revoltosos eram mais de 2.300. No Congresso Nacional, o senador gacho Pinheiro Machado, que era o poltico mais poderoso do pas na poca, pediu que o deputado Jos Carlos Carvalho, comandante da Marinha e tambm gacho, fosse conversar com os amotinados. O deputado visitou o So Paulo e o Minas Gerais, ouviu as tripulaes e retornou com uma carta ao presidente, assinada Marinheiros. Acredita-se que tenha sido escrita pelo marujo Francisco Dias Martins, que tinha bastante habilidade com a redao e era uma das principais lideranas da revolta. O texto expunha as razes e as reivindicaes do movimento.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Provavelmente antes de o deputado Jos Carlos ter retornado, o governo ameaou torpedear os navios rebeldes. Em resposta dirigida ao Povo e ao Chefe da Nao, os marinheiros asseguraram que no pretendiam fazer mal a ningum, que s agiriam se atacados ou de todo perdidos e pediram, alm do fim da chibata, uma anistia geral. Declararam tambm sua simpatia pelo presidente Hermes. Em outra mensagem, enviada ao ministro da Marinha, pedem mais uma vez o fim da chibata e outros brbaros castigos, a fim de que a Marinha brasileira seja uma Armada de cidados e no uma fazenda de escravos que s tm dos seus senhores o direito de serem chicoteados. Em terra, enquanto muitas das famlias mais abastadas procuram refugiar-se em Petrpolis, Joo Cndido comea a ser visto como um heri pela populao mais pobre e por diversos jornais. Os oficiais haviam planejado um ataque aos amotinados, que deveria ocorrer no dia 25, empregando os navios que permaneceram fiis ao governo. Porm, o presidente ordenou suspender a misso, que era praticamente suicida, pois o poder de fogo dos couraados era imensamente superior. De qualquer modo, Joo Cndido j tinha conhecimento do possvel ataque: havia sido informado pelo radiotelegrafista de um dos navios no revoltados. 4.4 A anistia Diante dos fatos, um grupo de influentes senadores props ao Congresso Nacional um projeto de lei para anistiar os revoltosos. O projeto foi apresentado aos parlamentares por Rui Barbosa. O senador baiano condenava os meios utilizados pelos insurretos, mas reconhecia que os motivos eram justos e que, apesar de tudo, eles se haviam comportado de forma digna durante a revolta. Pinheiro Machado concordou com os argumentos de Rui Barbosa, mas advertiu que ceder aos revoltosos sob coao seria criar um precedente perigoso: significaria dar o aval do Congresso quebra do princpio da autoridade, o que poderia estimular o aparecimento de outros movimentos revoltosos no futuro. Criou-se um impasse, que foi quebrado por um telefonema avisando que os insurretos estavam arrependidos e haviam decidido depor as armas, confiando em que o
90
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
4.5 A anistia burlada: demisses, prises e nova revolta Apesar da anistia, no dia 28 de novembro de 1910, um decreto autorizou demitir os marinheiros cuja permanncia se tornar inconveniente disciplina. A inteno era excluir
91
Universidade Federal do Oeste do Par
Congresso aprovaria a anistia. Tratava-se de uma informao falsa, enviada por indivduos ligados ao prprio governo. Com isso, os parlamentares tinham uma sada honrosa, acreditando que aprovavam a anistia sem faz-lo sob coao. Com a anistia aprovada, o movimento foi encerrado, embora nem todos os marinheiros concordassem: os tripulantes do Deodoro preferiam esperar at que outras reivindicaes fossem atendidas. O principal objetivo dos rebeldes foi alcanado: o uso da chibata foi abolido. Um novo cdigo disciplinar para a Marinha foi elaborado, extinguindo os castigos fsicos. Cabe indagar: por que os marinheiros no recorreram a meios pacficos? Praticamente no existiam meios pacficos para os marinheiros obterem aquilo que reivindicavam. Os marinheiros no poderiam recorrer, por exemplo, greve. Como estavam includos numa hierarquia militar, deixar de trabalhar seria deixar de cumprir ordens superiores, o que significaria insubordinao, punvel pelos regulamentos da Marinha. Havia tambm o medo de sofrerem represlias por parte dos oficiais, que consideravam as punies fsicas uma necessidade, e no estavam dispostos a aceitar nem mesmo limitaes a essa forma de castigo. Os marujos nem sequer podiam se manifestar pelo voto: alm de estarem excludos desse direito por serem militares de baixa patente, na maior parte eram analfabetos (como a maioria da populao). Alm disso, pela forma como eram tratados, os marinheiros se sentiam totalmente excludos da esfera da cidadania e no tinham a expectativa de que por meios pacficos pudessem obter um tratamento condizente com a condio de cidado. Joo Cndido havia mesmo pedido pessoalmente ao presidente da Repblica o fim da chibata, sem sucesso. Como diz a carta dos marinheiros de 1910, vinte anos de repblica no haviam sido suficientes para serem tratados como cidados. Sem a revolta, provavelmente a chibata continuaria a ser usada ainda por muitos anos.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
os envolvidos na revolta. Mais de 1.200 foram dispensados. Os navios ficaram to esvaziados que foi preciso contratar portugueses para ocupar o lugar dos demitidos. No incio de dezembro, as prises da sede dos Fuzileiros Navais, localizada na Ilha das Cobras, comearam a encher-se de marinheiros acusados de conspirao. Segundo testemunhos da poca, diante disso marujos que pertenciam ao quadro dos fuzileiros iniciaram, em 9 de dezembro, uma rebelio no local e libertaram os presos. Comearam a circular boatos de que o Exrcito atacaria os marinheiros. No cruzador Rio Grande do Sul, ali perto, circulavam os mesmos boatos, e ali tambm comeou uma rebelio, que logo se encerrou por iniciativa dos prprios marujos. Enquanto isso, a Ilha das Cobras passou a ser bombardeada pelos navios situados nas proximidades, entre eles os quatro cuja tripulao havia participado da Revolta da Chibata. Os marinheiros desses navios (como o prprio Joo Cndido) procuravam dar mostras de que se mantinham fiis hierarquia de comando. A revolta foi esmagada. Como resultado do bombardeio, estima-se que centenas tenham morrido na ilha. O governo aproveitou a situao para pedir e obter ao Congresso a decretao do estado de stio, que lhe daria maiores poderes. Apesar de ter ajudado a combater a rebelio, Joo Cndido e outras trs lideranas da Revolta da Chibata foram presos no dia 10 de dezembro. Cerca de 600 outros tambm caram aprisionados. Por volta de 250 marinheiros (juntamente com centenas de operrios e criminosos comuns, alm de dezenas de prostitutas) foram levados em navio para a selva amaznica, onde seriam obrigados a trabalhar na construo de uma linha telegrfica e em seringais. Durante a viagem, 7 marujos foram fuzilados e 2 morreram afogados pulando ao mar com ps e mos amarrados, na tentativa de escapar execuo. Ao chegarem nos locais de destino, inmeros morreram, abatidos a tiros ou vtimas de doenas. Joo Cndido e 17 outros lderes dos marinheiros ficaram presos na Ilha das Cobras, numa pequena cela subterrnea cavada na rocha e mida, sem iluminao nem ventilao. Depois de alguns dias, foi jogada gua com cal l dentro, com a justificativa de desinfetar o local. Evaporando-se a gua, ficou a cal, que provocou a morte por sufocamento de 16 dos presos.
92
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Joo Cndido estava entre os dois sobreviventes. Passou a ouvir os gemidos dos companheiros mortos e, meses depois, foi levado a um hospcio, como louco. Depois de certo perodo, constatada sua sanidade, voltou priso. Foi solto em 1912, e desde ento, expulso da Marinha, sobreviveu trabalhando como estivador e vendedor de peixes. 5 NAS CIDADES, A CLASSE OPERARIA: EM BUSCA DE MELHORES CONDIES DE VIDA Enquanto ocorriam as lutas dos habitantes de Canudos e do Contestado, a Revolta da Vacina e o movimento dos marinheiros contra a chibata, era intensa a atuao da classe operria em prol de seus interesses. A movimentao dos operrios se fazia de mltiplas formas. A partir da segunda metade do sculo XIX, cresce de maneira considervel a produo industrial no Brasil, realizada em oficinas que empregavam mtodos artesanais, ou em manufaturas e fbricas com acentuada diviso de trabalho. O crescimento se acelera no fim desse sculo. Quando a escravido foi abolida e o regime poltico mudou de Monarquia para Repblica, o pas continuava predominantemente agrcola, mas, contava com um bom nmero de estabelecimentos industriais, que usavam a mo de obra de milhares de trabalhadores. A circulao de mercadorias e pessoas era intensa, com trens, veculos movidos a trao animal e embarcaes percorrendo o pas em inmeras direes. Os lucros na indstria eram com frequncia compensadores. 5.1 Quem pertence classe operria? Antes de falarmos sobre a classe operria, cabe definir o que ela . Porm, isso no nada simples. As tentativas de formular definies a respeito foram frequentemente objeto de crtica por suas imprecises. Entre os historiadores, firmou-se a noo (pois no chega a ser uma definio) utilizada por Marx no conjunto de sua obra: a de que a classe operria comeou a formarse a partir da Revoluo Industrial e corresponde ao conjunto dos trabalhadores manuais que dependem essencialmente de
93
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
seu trabalho para sobreviver e que exercem, como assalariados, atividades ligadas produo de mercadorias. Essa noo est relacionada ao papel ocupado pelos membros dessa classe no conjunto das atividades econmicas. Segundo essa noo, no fazem parte da classe operria os empregados no comrcio, bancos e escritrios, nem os que desempenham servios domsticos. Contudo, numa obra que provocou muita polmica (publicada pela primeira vez em 1963), o historiador marxista Edward Thompson props que uma classe tambm pode ser definida pelo modo como os seus membros vem a si mesmos e pelo modo como agem a partir disso. Assim, integrariam a classe operria todos os trabalhadores que se identificassem como pertencentes a um conjunto de pessoas portadoras de interesses comuns e opostos aos dos membros de outro conjunto de pessoas, a classe patronal ou burguesa, e que buscassem unir-se em torno de objetivos em comum (Thompson, 1997). Tal noo parte da concepo de Marx de que as classes sociais s existem dentro de uma relao com outras classes sociais. Essa noo obteve grande aceitao entre os historiadores que estudam os movimentos de trabalhadores, ensejando a formao de uma importante corrente de estudiosos que incluem na histria da classe operria no apenas os operrios de fbricas e oficinas, mas tambm diversos outros grupos de trabalhadores manuais no ligados produo, como estivadores, carroceiros, motoristas, ferrovirios e varredores. Tambm com base nessa noo, diversos historiadores entendem que a experincia de trabalhadores como os empregados no comrcio e no sistema bancrio, desde pelo menos o sculo XIX, em diversos pases, tem sido com frequncia muito similar da classe operria e deve por isso ser tratada como um tema que pertence histria dessa classe8.
Universidade Federal do Oeste do Par
5.2 As condies de existncia dos trabalhadores e sua mobilizao Contudo, as condies de trabalho nos estabelecimentos industriais eram, na maior parte dos casos, muito ruins, as jornadas excessivamente extensas (era comum trabalhar 12
8
Essa parece ser a opo de Popinigis (2007).
94
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
5.2.1
Represso ao movimento operrio: uma poltica de Estado?
Para a maior parte dos historiadores que estudaram o movimento operrio no Brasil, a poltica em relao a
95
Universidade Federal do Oeste do Par
horas ou mais por dia), e a disciplina imposta com dureza. Nas fbricas, era grande o nmero de mulheres e crianas. Em alguns desses estabelecimentos, tais trabalhadores formavam a maioria. Os jovens s vezes eram espancados pelos capatazes. Boa parte dos trabalhadores na indstria e no setor de servios morava em habitaes precrias, como cortios ou barracos, pois os salrios em geral eram insuficientes para os gastos cotidianos. Certos patres construam vilas para a moradia de seus operrios, prximas aos locais de trabalho, o que tornava esses trabalhadores ainda mais sujeitos ao controle da empresa. Para melhorar sua situao, defender seus interesses de modo geral e encontrar meios para usufruir de lazer e convvio social, os operrios fabris e outros trabalhadores formaram organizaes de diversos tipos, como sociedades de ajuda mtua (que proporcionavam aos associados auxlio em caso de doena ou funeral, por exemplo), clubes recreativos ou culturais, cooperativas e sindicatos. Com ou sem sindicatos, os trabalhadores organizaram inmeras greves durante a Primeira Repblica. Os empregados do comrcio tambm se movimentavam em busca de melhorias. Uma de suas principais reivindicaes era a regulamentao do horrio de abertura e fechamento dos estabelecimentos. Para obt-la, faziam presso junto s autoridades municipais, polticos e opinio pblica. Quando conseguiam que o horrio fosse regulamentado, pressionavam os patres para que o respeitassem. As greves no eram proibidas. A lei proibia apenas que os grevistas forassem outros trabalhadores a entrar em greve. Contudo, frequentemente os movimentos grevistas, mesmo se totalmente pacficos, eram reprimidos pela polcia, muitas vezes com violncia. Os estrangeiros podiam ser expulsos. Os brasileiros podiam ser deportados para regies muito distantes dos principais centros urbanos, como o ento territrio do Acre.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
este geralmente adotada pelos governos durante a Primeira Repblica teria sido a represso. Essa teria sido a atitude mais constante e caracterstica dos governantes no perodo. Contudo, existe tambm a viso de que a ao repressiva da polcia no se devia, de modo geral, a uma poltica deliberada (isto , uma atitude sistemtica dos governantes), e sim ao poder de influncia que muitos patres exerciam diretamente sobre os policiais. Segundo essa concepo9, em certos casos os governantes de fato determinavam as aes repressivas, por considerarem que a ordem pblica havia sido ameaada. O governo paulista, por exemplo, teria adotado essa atitude a certa altura da greve de 1917. Mas a represso aos movimentos de trabalhadores teria sido obtida, inmeras vezes, por meio de propina e outras compensaes aos membros das foras policiais. 5.3 As orientaes polticas existentes no meio operrio Entre os trabalhadores no Brasil, havia diversas posies polticas. Muitos eram anarquistas, especialmente em So Paulo e no Rio de Janeiro, e praticavam a ao direta10. Outros se definiam como socialistas, e alm de defenderem mtodos de ao direta, como a greve, tambm propunham que os trabalhadores buscassem meios para atuar na esfera poltica, como a formao de um partido. Havia tambm os que apoiavam este ou aquele poltico, no pertencente classe operria, de uma ou outra orientao poltica, no qual depositavam sua confiana, como ocorria no Rio de Janeiro ou na Bahia, por exemplo. Em 1922, entraram em cena tambm os comunistas, que nessa data fundaram seu partido. Os fundadores do Partido Comunista do Brasil eram quase todos ex-anarquistas. 5.4 As grandes mobilizaes operrias do perodo
9 10
Universidade Federal do Oeste do Par
Tal viso defendida pelo autor deste texto (Vargas, 2004).
Ao direta: presso exercida diretamente pelos trabalhadores sobre os patres (por meio de greves, por exemplo), sem intermedirios (como autoridades ou membros do poder legislativo).
96
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
97
Universidade Federal do Oeste do Par
Algumas das greves organizadas no perodo foram to massivas, que surpreenderam e chegaram a preocupar os grupos dominantes nos meios polticos da poca. Foi esse, em especial, o caso das greves gerais de 1917 em So Paulo e Porto Alegre que, sob liderana anarquista, paralisaram completamente essas cidades durante vrios dias, espalhando-se tambm por outras localidades. Estava-se em plena Primeira Guerra, uma poca de grande carestia no pas, devido s dificuldades colocadas pelo conflito para a importao de gneros alimentcios. Nas regies do Brasil com grande densidade de imigrantes e de seus descendentes (como So Paulo, Rio de Janeiro e estados do sul), a populao mantinha hbitos de alimentao europeus, entre eles o consumo de po feito de farinha de trigo. O gro era pouco produzido no pas, e a produo mundial desse gnero e tambm de outros importantes itens de consumo estava sendo dirigida para os pases envolvidos diretamente no conflito mundial. A carestia revoltava a populao mais pobre, que j tinha de lidar com toda as outras dificuldades advindas da precria remunerao obtida por seu trabalho. A revolta popular aumentava ainda mais devido ao do aambarcador e comparao entre os baixos salrios e os altos lucros dos industriais. Com a elevao dos preos durante a guerra, muitos negociantes estocavam gneros para vendlos mais caro, ou preferiam export-los. A indstria, por seu lado, vivia um perodo de grande lucratividade, pois, devido ao conflito mundial, as importaes estavam muito dificultadas, o que abria espao para a produo, no pas, dos artigos antes importados. No ano seguinte, no Rio de Janeiro, lideranas anarquistas buscaram organizar uma insurreio para derrubar o governo. O movimento deveria ter incio a partir de uma greve geral. No dia marcado, milhares de txteis entraram em greve. Contudo, as reunies para a preparao do levante eram frequentadas por um agente policial infiltrado: o movimento foi rapidamente desbaratado, e sua ocorrncia foi usada como justificativa para prises, deportaes e expulses determinadas da por diante. Mesmo assim, houve ainda grandes mobilizaes operrias em 1919 e 1920.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
5.4.1 A gripe espanhola Os trabalhadores ainda se depararam com uma dificuldade inesperada, durante a Primeira Repblica: a gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 e 1919. Foi causada pelo vrus Influenza A, subtipo H1N1, e fez entre 30 e 100 milhes de mortes no mundo inteiro. Apesar do nome, no foi na Espanha que a molstia se iniciou. Os motivos para ter-se popularizado a denominao gripe espanhola so incertos. Contudo, provvel que se deva ao fato de, entre os pases atingidos, somente a Espanha, que no participava da Primeira Guerra, poder noticiar a existncia da doena em seu territrio. Assim, mesmo com a molstia espalhando-se pelas naes aliadas, a imprensa desses pases falava apenas de uma gripe espanhola, informando que atingia a Espanha. A ocorrncia da gripe entre os aliados era ocultada, a fim de que o enfraquecimento causado pela molstia em suas tropas no fosse descoberto pela Alemanha. Em novembro de 1918, quando se iniciou a greve txtil no Rio de Janeiro, as autoridades calculavam que 401.950 pessoas tinham pegado a doena. Para se ter uma ideia do que representava esse nmero, j por si espantoso, basta dizer que a populao total da cidade era, pelos registros oficiais, de 914.292 habitantes. No total, morreram 14.459 pessoas em decorrncia da gripe.11 5.5 A legislao repressiva: os anarquistas so o alvo principal Leis foram criadas para permitir a expulso de militantes do movimento operrio, especialmente anarquistas, que defendiam abertamente a destruio da sociedade capitalista e que representavam a principal orientao poltica no movimento operrio da poca. Os anarquistas eram o alvo preferencial da represso policial. As leis de expulso ficaram conhecidas como leis celeradas, porque contrariavam direitos estabelecidos na Constituio: 1 - Em 1907, foi decretada uma lei que permitia expulso e deportao de estrangeiros que pudessem comprometer a segurana nacional ou a tranquilidade
11
Universidade Federal do Oeste do Par
Os dados constantes deste pargrafo foram colhidos em Fausto (1986, p. 214).
98
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
pblica, a no ser que tivessem residido no pas por dois anos ou menos que isso (se casados com brasileiras ou vivos com filhos brasileiros). 2 - Em 1913, essa lei modificada, permitindo a expulso de estrangeiros com dois anos de residncia no pas ou casados com brasileiras. 3 - Em 1921, uma segunda lei determina que o tempo de residncia para que no se esteja sujeito a expulso de 5 anos. Esta lei e a de 1907 so conhecidas como leis Adolfo Gordo, por terem sido propostas por esse senador. 4 - Tambm em 1921, outra lei baixa medidas contra os anarquistas e autoriza o fechamento de associaes, sindicatos e sociedades civis em geral que pratiquem atos nocivos ao bem pblico. Em 1926, o Congresso Nacional faz uma reforma da Constituio, e uma de suas modificaes autoriza a expulso de estrangeiros considerados perigosos ordem pblica ou nocivos aos interesses da Repblica. Principalmente operrios, mas tambm outras pessoas, como advogados, jornalistas e escritores, protestavam contra essas medidas legais. Em alguns casos, foi possvel impedir a expulso de militantes operrios, por meio de defesas nos tribunais (chamando a ateno para a inconstitucionalidade das leis celeradas) e ao mesmo tempo campanhas junto opinio pblica, para pressionar governantes. 5.6 A mobilizao operria e o debate sobre a questo social No eram poucos os obstculos que os trabalhadores tinham pela frente quando se decidiam a lutar coletivamente por seus interesses na Primeira Repblica. Porm, sua ao, com freqncia, tinha resultados positivos. Grande parte das greves foram vitoriosas e resultaram em conquistas, como aumentos salariais e reduo da jornada de trabalho. Foi durante a Primeira Repblica que ocorreram pela primeira vez grandes manifestaes operrias, abrangendo cidades inteiras ou vrios municpios no mesmo perodo de tempo. Esse era um fato indito no pas, e provocava a discusso de um tema novo nos meios polticos (Congresso Nacional,
99
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
cmaras municipais, partidos), nos quais predominavam membros dos grupos sociais dominantes: aquilo que foi chamado de questo social12. Nas discusses sobre a questo social que ocorriam no Congresso Nacional, em assembleias legislativas estaduais e em cmaras municipais, alguns propunham que fossem criadas leis para regulamentar as relaes de trabalho. De modo geral, os empresrios industriais pressionavam os membros do Legislativo ou do Executivo, buscando influenci-los para que no permitissem a aprovao ou execuo dessas leis, ou para que as modificassem, tornando-as mais adequadas a seus interesses. Os representantes do executivo, por seu lado, mostravam pouco empenho em decretar tais leis. Mesmo assim, foram criadas algumas leis sociais13 durante a Primeira Repblica. Foram poucas; as mais importantes foram as seguintes: Em 1919: indenizao por acidente de trabalho. Em 1923: aposentadoria para os ferrovirios. Em 1925: lei de frias, fixando 15 quinze dias de descanso em cada ano. Em 1927: o Cdigo de Menores (determinava, entre outros itens, jornada de 6 horas e proibio do trabalho noturno para os menores de 18 anos). Os operrios a servio do Estado estavam submetidos a um regime especial, que variava conforme o rgo ou instituio para o qual trabalhassem. Tinham diversos direitos, dos quais os outros trabalhadores estiveram excludos na maior parte do perodo da Primeira Repblica, como frias e aposentadoria. Quanto ao trabalhador rural, durante a Primeira Repblica esteve totalmente excludo de qualquer direito social garantido por lei.
Universidade Federal do Oeste do Par
12 Questo social: o conjunto dos problemas relacionados (a) s condies em que trabalhavam e viviam os trabalhadores e (b) s consequncias que essa situao poderia trazer para a sociedade como um todo (alguns temiam que, se as condies de existncia do trabalhador no melhorassem, as correntes polticas que propunham a destruio do capitalismo poderiam ganhar maior fora entre os trabalhadores, e a forma de sociedade existente no pas poderia ser destruda). 13 Leis sociais: leis que instituem direitos sociais, isto , direitos que dizem respeito s condies de existncia dos trabalhadores. O conjunto das leis sociais compe a legislao social.
100
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
6 COMO FICOU A QUESTO SOCIAL DEPOIS DA PRIMEIRA REPUBLICA? Em outubro de 1930, em final de mandato, o presidente Washington Lus (que representava foras polticas principalmente de So Paulo), foi derrubado em decorrncia de um movimento que envolvia grupos polticos gachos, mineiros e paraibanos. Desse modo, foi impedida a posse de Jlio Prestes, eleito para suced-lo no cargo. Os vitoriosos passaram a chamar de Revoluo de 1930 o seu movimento. O novo governo, chefiado por Getlio Vargas, que at ento era o governador do Rio Grande do Sul, empenhou-se em divulgar uma imagem de inovao e ruptura em relao aos governos anteriores. O perodo republicano anterior passou a ser chamado de Repblica Velha, e com isso desejava-se sinalizar que tudo a seguir era novo e melhor, inclusive as relaes entre trabalhadores e governo. Getlio buscou o apoio do operariado e ampliou os direitos trabalhistas que vinham sendo fixados em lei durante a Primeira Repblica. Em 1943, ainda durante o seu governo, foi criada a CLT (Consolidao das Leis de Trabalho), que sistematizava num cdigo nico todas as leis nacionais que regulamentavam as relaes de trabalho (como no momento anterior, os trabalhadores rurais permaneceram excludos da legislao social). A ampliao dos direitos trabalhistas foi propalada como a grande inovao da ordem poltica posterior Primeira Repblica (e de fato foi), porm no se pode asseverar que tais direitos no houvessem crescido caso Washington Lus no tivesse sido derrubado. O que se pode afirmar com certeza que a nova ordem poltica alterou profundamente as relaes entre Estado e classe trabalhadora. Ao mesmo tempo em que eram ampliados os direitos trabalhistas, os novos governantes buscavam submeter da maneira mais completa possvel o movimento operrio: a partir de 1931, uma legislao especial foi colocando os sindicatos sob o controle do Estado. Em lugar de centros voltados organizao independente dos trabalhadores e reivindicao por salrios e melhores condies de vida, os sindicatos passaram a ser considerados rgos do Estado, voltados harmonia entre patres e trabalhadores. A polcia passou a vigiar e prender anarquistas, comunistas, socialistas e todo e qualquer grupo que defendesse
101
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
a independncia da classe trabalhadora em relao ao Estado, e o governo empenhava-se para que as diretorias dos sindicatos fossem formadas por pessoas que aceitassem as novas regras. Nessa poca, trabalhadores continuaram a se colocar em atitude de resistncia, mesmo dentro dos sindicatos, porm isso tornouse cada vez mais difcil, principalmente quando, a partir de 1937, o governo Vargas assumiu claramente o carter de ditadura (esse foi o perodo do Estado Novo, que se manteve at 1945). Os direitos trabalhistas hoje existentes foram em grande parte criados durante a chamada Era Vargas. Na atualidade, como se sabe, vem ocorrendo um movimento inverso ao que ocorreu na poca: o empresariado e at mesmo parte dos sindicalistas clamam por uma flexibilizao desses direitos, isto , a sua no-aplicao ou alterao em certos casos, para que (de acordo com essa viso) o nmero de empregos seja ampliado por meio da reduo dos custos da contratao. Dentro dessa mesma viso, alguns chegam a afirmar que tal flexibilizao seja uma das condies que poderiam estimular o desenvolvimento do pas. Outros, discordando dessa posio, defendem que os direitos trabalhistas devem ser mantidos, ampliados e, se forem alterados, devero s-lo no sentido da melhoria das condies de vida dos trabalhadores (como no caso da reduo da jornada) e que isso seria um dos sinais de desenvolvimento do Brasil. Entre uma e outra das posies, h diversas variantes, e o debate permanece em aberto. Por fim, cabe notar que, como no incio da Primeira Repblica, embora num contexto muito diferente, aguam-se na atualidade, em certos pontos do Brasil, conflitos ou situaes conflituosas, os quais tambm esto relacionados, em medida considervel, como nos casos da Revolta da Vacina e da Guerra do Contestado naquela poca, ao avano do capital e implementao de grandes empreendimentos governamentais ou avalizados pelo Estado. No estamos propondo aqui uma comparao entre estes conflitos e os da poca atual (o que no teria cabimento), porm no h como deixar de constatar certa similaridade entre ambos os contextos, separados por cerca de um sculo. No contexto atual, temos, por exemplo, o caso notrio da construo de mais hidreltricas (ou da inteno de constru-las) na Amaznia (empreendimento que sem dvida favorecer interesses de grandes grupos econmicos, como os das empresas mineradoras), em regies onde prevaleciam ou prevalecem modos de vida tradicionais, como os de ribeirinhos e
102
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
ndios. Temos, tambm, na mesma regio, o avano dos grandes pecuaristas e sojeiros sobre reas de florestas. Este autor no acredita que a histria tenha qualquer moral nem que seu estudo deva servir a qualquer finalidade pragmtica (quanto menos servir, melhor), mas entre os historiadores aceita em certa medida a ideia de que a reflexo sobre a experincia dos que viveram antes de ns pode trazer um enriquecimento de nossa capacidade de pensar as situaes presentes. Tal parece ser o caso da mencionada situao. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS CARVALHO, Jos Murilo de. Os bestializados: o Rio de janeiro e a Repblica que no foi. So Paulo: Companhia das Letras, 1987. CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortios e epidemias na corte imperial. So Paulo: Companhia das Letras, 1996. FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social. 4. ed. So Paulo: Difel, 1986. MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranas do contestado: a formao e a atuao das chefias caboclas (1912-1916). Campinas: Ed. da Unicamp, 2004. MOREL, Edmar. A revolta da chibata (subsdios para a histria da sublevao na Esquadra pelo marinheiro Joo Cndido em 1910). 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979. NASCIMENTO, lvaro Pereira do. A ressaca da marujada: recrutamento e disciplina na Armada Imperial. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. NOGUEIRA, Jos Carlos de Ataliba. Antnio Conselheiro e Canudos: reviso histrica. 2. ed. So Paulo: Nacional, 1978. NOSSO sculo. 1900/1910. V. 1. So Paulo: Abril, 1985. POPINIGIS, Fabiane. Proletrios de casaca: trabalhadores do comrcio carioca, 1850-1911. Campinas: Ed. da Unicamp, 2007. THOMPSON, E. P. A formao da classe operria inglesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. VARGAS, Joo Tristan. O trabalho na ordem liberal: o movimento operrio e a construo do Estado na Primeira Repblica. Campinas: Centro de Memria da Unicamp, 2004.
103
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Texto 3 GEOGRAFIA DO BRASIL
Josilda Rodrigues da Silva de Moura Ivaldo Gonalves de Lima 1
APRESENTAO Abordar a geografia do Brasil implica, inicialmente, reconhecer as relaes entre espao e tempo, mbito no qual o papel da sociedade e da natureza assume uma relevncia fundamental. Em outras palavras, trata-se de uma abordagem sobre a histria territorial brasileira. Por isso, comear um texto acerca da geografia do Brasil identificando e comentando os principais aspectos da formao territorial do pas traduzse como um passo oportuno e necessrio. Nesse processo de formao, analisar as distintas configuraes do espao nacional equivale a decifrar as mltiplas geografias que, ao longo de cinco sculos, conduziram organizao territorial que hoje nos apresentada. Este texto est estruturado em trs partes principais. A primeira, de acordo com o exposto acima, refere-se anlise da formao territorial do Brasil, destacando-se os aspectos estruturalmente mais significativos. Nessa anlise, tomarse- como ponto de partida uma breve discusso sobre o mito fundador da formao social e territorial brasileira para chegar a uma apresentao crtica do espao nacional, transfigurado na atualidade pela dinmica de fatores internos e externos, cada vez mais complexos. A segunda parte contempla a anlise da posio do Brasil no mundo, identificando-se as dimenses geopolticas e geoeconmicas que conferem ao pas, simultaneamente, caractersticas de potncia regional e de semiperiferia na economia-mundo ou sistema-mundo. Por fim, uma terceira parte reporta-se s dinmicas regionais, suas
1 Josilda Rodrigues da Silva de Moura doutora em Geologia pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e professora do Departamento de Geografia (Instituto de Geocincias) da mesma universidade. Ivaldo Gonalves de Lima doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e professor do Centro de Estudos Gerais (Instituto de Geocincias) dessa universidade.
105
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
potencialidades e vulnerabilidades, sociais e naturais. Assim, depreende-se facilmente que a estruturao do texto reflete o jogo de escalas geogrficas nacional, regional, mundial, como recurso metodolgico e didtico capaz de explicitar e de conferir sentido aos caminhos percorridos. 1 FORMAO TERRITORIAL DO BRASIL: DO MITO FUNDADOR AO ESPAO TRANSFIGURADO Ao longo do tempo, uma combinao nem sempre tranquila e explcita de variados elementos responde pelas configuraes assumidas pelo territrio brasileiro. E, como uma espcie de guia desse processo, muitos autores apontam o papel desempenhado por um mito fundador. Um desses autores a filsofa Marilena Chau, que nos oferece a seguinte explicao para o mito:
O Brasil foi institudo como colnia de Portugal e inventado como terra abenoada por Deus, qual, se dermos crdito a Pero Vaz de Caminha, Nosso senhor no nos trouxe sem causa, palavras que ecoaro nas de Afonso Celso, quando quatro sculos depois escreveu: se deus aquinhoou o Brasil de modo especialmente magnnimo, porque lhe reserva alevantados destinos. essa construo que estamos designando como mito fundador (CHAU, 2000, p. 58).
Universidade Federal do Oeste do Par
Os elementos constituintes do mito fundador do Brasil transparecem um carter vinculado ao divino e nos remete, de certo modo, s ideias de paraso, eldorado, uma espcie de terra prometida. Chau (2000, p. 58) nos alerta que tais elementos constituintes aparecem, nos sculos XVI e XVII, sob a forma das trs operaes divinas que, no mito fundador, respondem pelo Brasil: a obra de Deus, isto , a natureza, a palavra de Deus, isto , a Histria, e a vontade de Deus, isto , o Estado. Se nos ativermos ltima sentena, o Estado como vontade de Deus, devemos lembrar que se tratava de um Estado monrquico, centralizador e que incentivava para si um territrio centralizado, unificado. essa dimenso geogrfica do mito fundador que pretendemos entender melhor. Essa dimenso
106
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
107
Universidade Federal do Oeste do Par
corresponde centralidade territorial do Estado e ao esforo para que se delineie e se mantenha a unidade territorial. De acordo com Mann (1992, p. 183): S o Estado inerentemente centralizado em um territrio delimitado, sobre o qual ele tem um poder autoritrio [...]. O Estado , realmente, um lugar tanto um lugar central, quanto um alcance territorial definido. A gegrafa Lia Machado explica o mito fundador do Brasil discutindo os artifcios polticos presentes na origem da unidade territorial do Brasil. Para essa autora, a unidade territorial foi, ao mesmo tempo, produto partcipe do processo de formao do Estado brasileiro, sendo errnea a afirmao de que foi uma herana dos tempos coloniais mantida pela ao de uma elite (MACHADO, 1990, p. 232). Para essa autora, as elites brasileiras adotaram artifcios polticos diferenciados no tempo. Assim, segue a anlise, no perodo imediatamente posterior independncia poltica, o artifcio utilizado foi a tese da continuidade de um governo centralizado como condio de manuteno de uma pretensa herana da unidade territorial. Pouco mais tarde, o artifcio poltico foram os cdigos jurdicoadministrativos que favoreciam o papel articulador do governo central e a continuidade do exerccio do poder das oligarquias no mbito local. Para o xito desses artifcios, Machado (1990, p. 234) ressalta que foi fundamental a organizao da propriedade em geral e do trabalho escravo, reproduzindo-se no pas a imagem do Estado como organismo territorial e produto da unidade poltica das elites regionais. A partir dessas consideraes, impe-se uma questo: o que tensiona essa unidade territorial? O que refora ou fragiliza o mito? Decerto, seria um equvoco infantil confundir unidade com homogeneidade. H, portando, um aspecto complexo do tema em foco: a unidade mltipla. Deve-se admitir que o territrio resulte de profundos movimentos de diferenciao, resultando em diversidades, de ordem natural e social. A diviso territorial do trabalho assumir um papel crucial na explicao dessa unidade mltipla, a qual acompanha os imperativos de um desenvolvimento geograficamente desigual, para usar a expresso do gegrafo Neil Smith. Recorre-se, nessa explicao, lei do desenvolvimento desigual e combinado, responsvel, em grande medida, pela diferenciao interna e externa do territrio brasileiro, seus contrastes e contradies, suas potencialidades e expectativas. Segundo Becker e Egler (1993), o Brasil um pas de
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
mltiplos tempos e mltiplos espaos. Brasil um continente, afirmam os autores. Sua extenso territorial o coloca na quinta posio entre os maiores pases do globo. A potencialidade de recursos se amplia pela disponibilidade de espao til de sua posio geogrfica. O Brasil corresponde a dois teros da Amrica Latina e seguramente o maior pas situado na faixa intertropical (BECKER; EGLER, 1993, p. 21). Desde o perodo colonial, o territrio brasileiro vem se consolidando atravs de uma impressionante capacidade de incorporar novas terras, fazendo com que o papel de diferentes fronteiras, desde o sul do pas, no passado, Amaznia, no presente, jogasse uma importncia notria nos formatos territoriais definidos. O acesso terra tornou-se, historicamente, um critrio fundamental para se entender a geografia do Brasil. Dois processos distintos e complementares a apropriao e a ocupao de terras constituram a base do poder de grupos sociais dominantes. O controle de recursos naturais condicionado ao controle social de cima para baixo (a chamada via prussiana) vincula-se incorporao de novas terras, garantindo a oferta de produtos agrcolas, sem tocar na estrutura fundiria preestabelecida, reproduzindo-se velhos mecanismos de poder at hoje, resumem Becker e Egler (1993). Um padro de ocupao intensivo, do ponto de vista dos recursos, e extensivo, no que tange ao espao, domina genericamente a histria nacional, de acordo com Moraes (1999, p. 44), acrescentando que a expanso territorial despovoadora na perspectiva dos ndios, povoadora na tica do colonizador marcou o desenvolvimento histrico do Brasil. Moraes (1999, p. 43) afirma que nos pases de formao colonial, a dimenso espacial adquire singular relevo na explicao dos processos sociais e da vida poltica em particular. Cabe destacar que a economia colonial brasileira apresentou marcos importantes: at meados do sculo XVII, o Nordeste, a regio em torno da capitania de Pernambuco, se tornou o maior produtor mundial de acar e, durante o sculo seguinte, o Brasil foi tambm o maior produtor mundial de ouro. Becker e Egler (1993, p. 52) explicam que estrutura econmica e social da agroexportao se associou uma estrutura espacial especifica. Para estes ltimos autores, o primeiro trao marcante da estrutura espacial durante a colnia era a profunda diversidade entre a marinha (o litoral) e o serto (o interior).
108
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
109
Universidade Federal do Oeste do Par
No sculo XIX, 60% da populao concentravam-se na faixa costeira, de uns 20 Km de largura. Na marinha estavam as plantations aucareiras, as cidades e os portos exportadores. Um segundo trao daquela estrutura espacial era a concentrao da produo e da organizao social na prpria faixa costeira. O isolamento relativo dos ncleos dessa faixa configurou uma estrutura espacial em arquiplago, pois a articulao do conjunto era mantida por fracas conexes comerciais voltada ao mercado interno. Segundo Becker e Egler (1993, p. 54), a era colonial terminou para o pas em 1808, antes da Independncia. Dentre outros aspectos, os autores ressaltaram que a quebra do monoplio portugus e a formao do Estado-nao marcam o final da crise da economia colonial e que o caf, novo produto, viria constituir a economia mercantil escravista nacional e mudar os rumos da crise. Assim, no final do sculo XIX, proclamase a Repblica, surge a Constituio de 1891, e um pacto oligrquico mantm a hegemonia do bloco regional cafeeiro, geograficamente localizado no entorno do centro poltico do pas, o Rio de Janeiro. No sculo XX, sobretudo a partir da dcada de 1930, a geografia do pas vai-se afastando de um modelo agroexportador e se aproxima cada vez mais de um modelo urbano-industrial. Reconfiguram-se estruturas territoriais, capitaneadas pelos processos de urbanizao e de industrializao. Nessa nova capitalizao da economia e modernizao dos espaos territoriais, a formao do mercado de trabalho foi condio essencial. Nas reas cafeeiras, os imigrantes tornaram-se trabalhadores assalariados. Os capitais acumulados com caf foram cruciais para a industrializao do pas, conforme magistralmente analisado por Silva (1985, p. 19), onde a expanso cafeeira e a industrializao aparecem como dois estgios da transio capitalista no Brasil. Vale ressaltar tambm que, mesmo com a predominncia do caf, a partir do sculo XIX, o pas experimentou uma diversificao no padro das exportaes primrias, com a explorao da borracha na Amaznia e com o cultivo do cacau na Bahia. Com o Estado Novo, parte significativa da infraestrutura necessria industrializao nacional ficou a cargo do governo central. nesse perodo que so criadas importantes empresas estatais, como a CSN (Companhia Siderrgica Nacional) e
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
a CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), ambas em 1942. A unidade do territrio nacional tornou-se o recurso simblico fundamental para legitimao do Estado. Ao mesmo tempo, assinalam Becker e Egler (1993, p. 79), o governo Vargas deu inicio campanha da marcha para o Oeste, isto , a conquista dos espaos vazios brasileiros, incluindo todo o interior vizinho costa. Na dcada de 1930, segundo Moraes (1999, p. 46), se instituiu o moderno aparelho de Estado no Brasil, criando-se agncias e normas governamentais, como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) e os Cdigos Florestal e de guas. Na dcada de 1950, Moraes (1999, p. 46) reconhece a consolidao de uma estrutura de planejamento estatal, que tem na interveno do territrio a linha mestra de atuao. A construo de Braslia exemplo inconteste. Cinquenta anos em cinco e energia e transporte, slogans do governo Kubitschek (1956-1960), traduzem o ritmo e a orientao do capitalismo no Brasil, redefinindo as estruturas espaciais, sob a gide da integrao do pas. Com o surgimento do planejamento regional, Becker e Egler (1993, p. 87) afirmam que foi reforado o papel da urbanizao como base para a industrializao, favorecendo novamente a concentrao econmica no sudeste, e que nesse processo esfacelou-se gradativamente a estrutura espacial em arquiplago, substituda por uma de tipo centro-periferia. Os diversos modelos do territrio e sua configurao articulada podem ser confrontados nos cartogramas das Figuras 1 e 2, e a estrutura centro-periferia, atravs do mapa da Figura 3.
Universidade Federal do Oeste do Par
110
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Figura 1 - Modelos do territrio brasileiro. Fonte: Thry e Mello (2008).
111
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Figura 2 - Do arquiplago ao continente. Fonte: Thry, H.; Mello, N. A. (2008).
Universidade Federal do Oeste do Par
112
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Figura 3 - Tipos de regio em funo das interaes espaciais na dcada de 1960. Fonte: Becker (1992).
113
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
Esse processo de formao territorial traduzido nas palavras de Santos e Silveira (2001, p. 31) como uma sucesso de divises territoriais do trabalho fundadas em graus diversos de tecnificao, ou seja, uma longa passagem que parte de meios naturais ao meio tcnico-cientfico-informacional. Como se nota, a diviso territorial do trabalho e as especializaes produtivas em cada espao por elas provocadas tornam-se um eixo metodolgico para se entender a geografia do Brasil. Os meios geogrficos no pas sero marcados, progressivamente, pela combinao heterognea da urbanizao com a industrializao, o que significa dizer que o espao nacional vai se transfigurando, haja vista que os traos rurais deixam de ser a caracterstica principal do territrio. A dinmica demogrfica e as formas de povoamento sero uma expresso clara dessa transfigurao territorial. Fluxos migratrios em direes e sentidos distintos, ao longo dos sculos, e uma constante reacomodao da hierarquia das cidades do o tom do processo geral da configurao geogrfica do pas. A partir da dcada de 1930, o estado de So Paulo comea a atrair migrantes de todo o pas, e a partir de 1945-1950 se afirma como a grande metrpole fabril do pas, criando-se, ento, as condies de formao do que hoje a regio polarizada ou regio concentrada, o que, segundo Santos e Silveira (2001, p. 43), foi um momento preliminar da integrao territorial, dado por uma integrao regional do Sudeste e do Sul. Geiger (1995, p. 31) diz que o quadro urbano brasileiro atual mostra So Paulo como principal centro do sistema, por ser o local da articulao da economia brasileira com a cidade mundial. Contudo, deve-se evitar o que Gunn (1995, p. 87) denomina de viso metropolitana paulicntrica, sustentada por uma roupagem ideolgica de integrao nacional, focada em So Paulo. Com relao metropolizao brasileira e ao caso de So Paulo, especificamente, Santos (1994, p. 75) avalia que a regio cresce mais que a metrpole, da empregar a expresso involuo metropolitana advertindo que ela no se confunde com o conceito de involuo urbana proposto nos fins dos anos 1960, nem com a ideia de ruralizao urbana apresentada anos frente daquele conceito. Santos (1994, p. 75) argumenta que evidncia emprica nos permite falar, no Brasil, de involuo metropolitana, devida, em boa parte, capacidade de atrao dos pobres pela metrpole. Os principais indicadores dessa involuo urbana seriam: a) o PIB cresce menos nas
114
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
metrpoles do que no Pas como um todo e em certas reas de sua regio de influncia; b) nas reas onde o capitalismo amadurece h tendncias reverso do leque salarial [...]; c) certos ndices de qualidade de vida tendem a ser melhores no interior do que nas regies metropolitanas (SANTOS, 1994, p. 76). Adverte este autor: A metrpole no para de crescer, mas outras reas crescem mais depressa (SANTOS, 1994, p. 76). Considerar a geografia do Brasil reconhecer as diferenas do territrio redefinidas no tempo histrico. Santos e Silveira (2001) propem que essas diferenciaes sejam analisadas a partir de alguns critrios, tais como: 1) novas desigualdades territoriais; 2) zonas de densidade e rarefao densidades urbana, rural, produtivas do emprego, do consumo, dos movimentos; 3) fluidez e viscosidade-circulao dos homens, dos produtos, das mercadorias, do dinheiro, da informao, das ordens; 4) espaos da rapidez e da lentido nmero de vias, de veculos privados, transportes pblicos, a vida social de relaes; 5) espaos luminosos e espaos opacos variao na densidade tcnica e informacional; 6) espaos que mandam e espaos que obedecem acmulo de funes diretoras em certos lugares; 7) novas lgicas centro-periferia desde um Brasil policntrico, um arquiplago, no Governo Geral, no Vice-Reinado e no Imprio, passando pela unificao atravs dos transportes e da indstria, a partir de meados do sculo XIX, at o perodo atual, cujo motor passa a ser a informao. A anlise precedente permite distintas interpretaes e cartografias do Brasil atual; destacaremos duas dentre elas. A primeira apresentada por Becker e Egler (1993, p. 204), no que designaro como espao transfigurado. Com a palavra, os autores:
A estrutura centro-periferia foi transfigurada pela modernizao conservadora, redefinindo hierarquias e posies de poder, reestruturando funes e unidades de produo, distribuio e gesto. A consolidao da cidade mundial, do domnio, e a abertura de fronteiras so expresses desse processo. As novas territorialidades que emergem do conflito entre a malha programada e o espao vivido assumem feies especificas em cada uma destas formaes espao-tempo. Ver Figura 4. 115
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Figura 4 - O espao transfigurado. Fonte: Becker e Egler (1993).
Universidade Federal do Oeste do Par
A segunda interpretao, apresentada pelo gegrafo Ruy Moreira (Moreira, 2004), corresponde regionalizao do trabalho industrial atual. Essa nova diviso territorial do trabalho segmenta o territrio nacional em quatro grandes regies, a saber: a) polgono industrial referindo-se redistribuio industrial da regio metropolitana para o interior de So Paulo, que, de certo modo, ser copiada pelas cidades de mesmo porte e capacidade de industrializao dos estados do Sudeste e do Sul, formando uma grande regio industrial estendida de Belo Horizonte para o Sul at Porto Alegre; b) complexo agroindustrial alojado no Planalto Central, referese a uma extenso do territrio que avana das fronteiras da
116
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
regio Sul para as fronteiras com a Amaznia (norto de Mato Grosso) e o Nordeste (oeste da Bahia e Sul do Maranho e Piau), e grande parte da qual se sobrepe ao territrio da regio do polgono industrial; c) difuso da agroindstria e indstria de no-durveis, e nos cerrados do oeste da Bahia, Sul do Piau e do Maranho, o avano do complexo sojfero; e d) fronteira biolgica trata-se de Amaznia e seu papel como fronteira agrcola, mineral e energtica. Ver Figura 5.
FIGURA 5: Brasil - a nova diviso do trabalho. Fonte: Limonad e Moreira, 2004.
117
Universidade Federal do Oeste do Par
At aqui, foi possvel perceber o modo diferenciado com que a tenso unidade/diversidade territorial conduziu a distintas geografias para o Brasil. Fatores de ordem natural e social desempenham papel fundamental nas configuraes territoriais e nas dinmicas espaciais destacadas. Isso nos incita a aprofundar as anlises regionais, a fim de melhor compreender a geografia do Brasil. Contudo, parece oportuno recorrer escala supranacional continental e mundial, com o intuito de avaliar a posio do Brasil no mundo contemporneo. o que faremos na prxima seo, antes de retomarmos a escala regional.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
2 A POSIO DO BRASIL NO MUNDO CONTEMPORNEO: UMA ARTICULAO GEOPOLTICA E GEOECONMICA Em primeiro lugar, apresentaremos o Brasil como uma semiperiferia do sistema-mundo atual. Para tanto, necessrio esclarecer a amplitude e o sentido do conceito de semiperiferia. Esse termo atribudo criao intelectual do economista Immanuel Wallerstein. Para ele, uma zona, regio ou estado se converte em perifrico ou central se neles predominarem processos de periferia ou de centro. Esses processos, de modo simplificado, de acordo com Taylor e Flint (2001, p. 21), podem ser assim descritos: os processos de centro consistem em relaes que combinam salrios relativamente altos, tecnologia moderna e um tipo de produo diversificada; enquanto que os processos de periferia so uma combinao de salrios baixos, tecnologia mais rudimentar e um tipo de produo simples. Wallerstein (2005, p. 136) esclarece que:
No existem produtos semiperifricos, o que existe so produtos centrais e perifricos. Assim, se calcula qual proporo da produo de um pas central e qual perifrica, identificam-se alguns pases com uma distribuio aproximadamente meio a meio, quer dizer, que enviam produtos centrais para zonas perifricas e produtos perifricos para zonas centrais. Por isso, podemos falar, ento, de pases semiperifricos e vemos que contam com um tipo especial de polticas que jogam um papel particular no funcionamento do sistema-mundo.
Universidade Federal do Oeste do Par
Assim, depreende-se que a semiperiferia no centro nem periferia, mas que combina de forma particular ambos os processos. De acordo com Taylor e Flint (2001, p. 21), a semiperiferia interessante porque a categoria dinmica da economia-mundo. Ento, ressalta a articulao entre as dimenses geopoltica e geoeconmica, na qual o Estado desempenha relevante papel. Para Becker e Egler (1993, p. 29):
A semiperiferia a sntese das contradies do capitalismo histrico dentro de uma 118
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
mesma economia nacional. o lcus da profunda heterogeneidade estrutural acumulada pelo capitalismo na sua longa histria, do qual o Brasil um magnfico exemplo. Mas a categoria de semiperiferia no esgota a especificidade do Brasil como potncia regional. preciso historiciz-la.
119
Universidade Federal do Oeste do Par
nesse sentido, de uma historicizao, que Becker e Egler (1993) reportam-se a uma via autoritria para a modernidade no que se refere incorporao do Brasil na economia-mundo. Assim, os autores em foco falam de um certo autoritarismo, um certo capitalismo e uma certa territorialidade. Com o intuito, igualmente, de complexificar a anlise do sistema-mundo moderno e a insero de pases latino-americanos, Mignolo (2005, p. 73) recorre noo de sistema-mundo moderno, proposta por Wallerstein (2005), mas se desviando dela, em parte, ao introduzir o conceito de colonialidade como o outro lado (o lado escuro?) da modernidade. Este autor latino-americano considera fundamental levar em conta a colonialidade do poder e do saber eurocntrico e reconhecer a diferena colonial, outro imaginrio distinto do eurocntrico. Por isso, Mignolo (2005) emprega a expresso sistema-mundo moderno colonial, para se referir histria do capitalismo e da modernidade/ colonialidade, da qual o Brasil (a Amrica Latina) partcipe em condio subalternizada. As categorias centro-periferia, uma vez atualizadas, seguem como vlidas na interpretao do mundo contemporneo, e por isso que gegrafos e cientistas polticos franceses propuseram uma cartografia de centros e periferias para essa interpretao. Na Figura 6, pode-se confrontar o Brasil e sua posio no mundo, a partir da identificao de uma poro do territrio como periferia integrada ao centro, polarizada pelas metrpoles So Paulo e Rio de Janeiro, bem como o restante do pas categorizado como periferia explorada, destacando-se na poro equatorial do Brasil uma vasta rea geogrfica designada como ngulo morto ou reserva territorial estratgica ou espao de colonizao pioneira, a qual corresponde Amaznia sul-americana. Parece-nos um exerccio bastante interessante a confrontao das categorias e designaes aplicadas ao Brasil nesse cartograma da Figura 6 com aquelas aplicadas ao pas nos cartogramas das Figuras 4 e 5. Ento, a que concluses chegar?
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Figura 6 - Centros e periferias do mundo, 1992. Uma Rede Hierarquizada. Fonte: Durand e Retall (1992).
Universidade Federal do Oeste do Par
Para alm do modelo centro-periferia, possvel analisar a posio do Brasil no mundo atual por meio de alianas estratgicas estabelecidas com outros pases, seja atravs de acordos e iniciativas multilaterais, seja por intermdio da formao de blocos econmicos supranacionais. Assim, no exemplo de novos territrios regionais e de alianas geoeconmicas e geoestratgias intercontinentais, o Brasil assume posies muito particulares no sistema-mundo. Trataremos de mencionar alguns desses exemplos, como o MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e a ALCA (rea de Livre Comrcio das Amricas), a iniciativa IBAS (ndia-Brasil-frica do Sul) e a proposta do BRIC (Brasil-Rssiandia-China-frica do Sul). O MERCOSUL entrou em vigor em 1995, aps vastas negociaes, tendo sido o ano de 1985 um ponto de partida, com o encontro entre os presidentes Raul Alfonsn (Argentina) e Jos
120
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
121
Universidade Federal do Oeste do Par
Sarney (Brasil), estabelecendo-se em 1986 o PICE (Programa de Integrao e Cooperao Econmica), assinado pelos presidentes citados. Inicialmente, o MERCOSUL integrado por quatro pases Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mais tarde associam-se Bolvia e Chile, mais a proposta da Venezuela, com participaes diferenciadas dos quatro originais. Um dos pontos relevantes para se entender o MERCOSUL o fato de este modelo de integrao regional ter sido precedido por outros esforos na Amrica Latina, como a ALALC (Aliana Latino-Americana de Livre Comrcio), em 1962, o Pacto Andino, em 1969, e a ALADI (Associao Latino-Americana de Desenvolvimento Integrado), em 1980. O que teria conduzido aqueles esforos ao fracasso? Seria o MERCOSUL uma reedio previsvel daquelas experincias malfadadas? Integrao para quem? Seria uma promessa ilusria? Em que pesem as disparidades em termos econmicos, sociais, culturais e polticos entre os pases-membros, o MERCOSUL instaura um novo territrio na Amrica Latina e uma nova arena de poder e de diviso estratgica. Para Rattner (2002, p. 67), os principais promotores dessa integrao regional so as empresas e conglomerados transnacionais, alm da tecnoburocracia dos Estados-membros, o que impe a necessidade de se afirmar que a celebrao de um novo contrato social em nvel internacional s se afigura vivel quando lastrado nos direitos humanos e nos princpios de justia social. Em outras palavras, deve-se lutar por um processo de integrao por baixo. Isto implicaria no desenvolvimento de um paradigma alternativo, democrtico, pluralista e participativo, respeitoso das tradies e da diversidade cultural, conclui Rattner (2002). O MERCOSUL corre o risco de se consolidar apenas como um espao privilegiado para as trocas comerciais. Nesse sentido, alerta-nos Arroyo (2002, p. 129) para um possvel cenrio comercialista, no qual predominam as velhas tendncias, isto , um esquema de intercmbio no qual s se beneficiam os setores mais concentrados, os que detm um importante grau de controle da economia. O comrcio regional, sem dvida, foi incrementado na rea integrada, mas no sem altos e baixos devido s crises particulares, como a Argentina, e em certa medida, outras crises mais globais. Vale destacar que os problemas sugeridos at agora tm sido resolvidos
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
de forma negociada. Ou seja, o processo integracionista no foi interrompido no primeiro obstculo. Para o Brasil, o MERCOSUL tem sido economicamente importante e vice-versa, mas tambm ocorrem ganhos polticos, sobretudo em face de interesses estratgicos norte-americanos, europeus e asiticos. Ao assumir certa liderana no bloco regional, o Brasil ganha vantagens polticas competitivas. Negocia com maior poder de barganha nas relaes internacionais, e o prprio MERCOSUL apresenta uma linguagem nica nas discusses e decises a serem tomadas, como foi o caso das negociaes finais sobre a ALCA, em Miami (2003) e Puebla (2004). Antes de tudo, o MERCOSUL um espao geoeconmico e geopoltico de oportunidades para o Brasil e para o papel deste pas na Amrica Latina e no mundo. Fala-se em certo entusiasmo regional, a partir de novas adeses, como se exemplifica com a assinatura do acordo para se criar a CSN (Comunidade Sul-Americana de Naes), qual pertencem todos os pases da Amrica do Sul, com exceo da Guiana Francesa (MENEZES; PENNA FILHO, 2006). Vislumbra-se, neste inciso, um enfrentamento com a proposta da ALCA, liderado pelo Brasil? Em 1990, o governo dos Estados Unidos falava pela primeira vez na iniciativa para as Amricas, cuja inteno era criar uma rea de livre comrcio que abarcasse todo o continente americano, do Alasca Patagnia, com exceo de Cuba. Polmicas e desconfianas no tardaram a se multiplicar na Amrica Latina. O Brasil finda por protagonizar uma espcie de resistncia proposta da ALCA, sendo o MERCOSUL uma pea fundamental no jogo estratgico de enfrentamentos. Os Estados Unidos insistem na iniciativa e estabelecem acordos em separado com pases latino-americanos. De acordo com Menezes e Penna Filho (2006, p. 122), nesse sentido, o receio que o Brasil, ao usar o MERCOSUL como arma para futuras discusses no mbito da ALCA, seja neutralizado e acabe aceitando mais tarde um acordo com os EUA (Estados Unidos) no to vantajoso como o desejado, da falar-se tanto na formao de unidade geoeconmica com a integrao do MERCOSUL com os pases da comunidade andina, criando-se a ALCSA, rebatizada de Comunidade Sul-Americana de Naes. Vrios autores combatem a proposta de ALCA, relatando que a mesma representa risco soberania dos pases latino122
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
americanos face s presses dos Estados Unidos, reportandose a ameaas aos programas sociais, sustentabilidade ambiental e justia social, alm do reforo ao imperialismo norte-americano e a um tipo de recolonizao. So exemplos os trabalhos de Sader (2001) e da Campanha Nacional contra a ALCA (2002). Soberania e perspectiva federadora entrechocamse com prticas de integrao econmica. Trata-se de mais um desafio para o Brasil. Em termos de cooperao internacional e da posio do Brasil no mundo, podem ser citados os exemplos da iniciativa IBAS e os denominados BRICs. A iniciativa IBAS, englobando ndia, Brasil e frica do Sul da o acrnimo , foi instituda em 2003 e um exemplo paradigmtico do novo dinamismo adquirido pelas relaes Sul-Sul. Sua peculiaridade o fato de ser formada por potncias regionais ou mdias, ou pases intermedirios, para os quais preferimos, como exposto, a designao de semiperiferias do sistema-mundo moderno colonial. De acordo com Lima e Hirst (2009, p. 8), a:
[...] parceria estratgica entre os trs est ancorada nos seguintes interesses compartilhados: 1) compromisso com instituies e valores democrticos; 2) empenho em vincular a luta contra a pobreza a polticas de desenvolvimento; 3) convico de que instituies e procedimentos multilaterais devem ser fortalecidos para fazer face a turbulncias econmicas, polticas e de segurana.
123
Universidade Federal do Oeste do Par
Trata-se de uma novidade e uma oportunidade na esfera da poltica internacional, visto que tradicionalmente as relaes de cooperao tendiam a ser estabelecidas entre pases do Norte. O impacto desse tipo de iniciativa no sistema internacional e as potencialidades que o Brasil poder desenvolver por meio dela fazem desse tema algo extremamente valioso para se entender o Brasil no mundo. Ver, a respeito, a Figura 7.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Figura 7 - O Brasil e suas posies no mundo. Fonte: Magnier (2008c).
Outro acrnimo frequenta o temrio da geografia do mundo contemporneo. Trata-se dos BRICs Brasil, Rssia, ndia e China , outro tipo de coalizo estratgica em nvel internacional. Um relatrio de 2003 da Goldman Sachs identificou quatro Estados que se tornariam uma fora muito maior na economia mundial, num perodo de 50 anos - eram as economias BRICs. Por que focar esses quatro pases em particular? Para Hurrell et al. (2009, p. 10):
A primeira razo que todos parecem dispor de recursos de poder militar, poltico e econmico, alguma capacidade de contribuir para a gesto da ordem internacional em termos regionais ou globais, alm de algum grau de coeso interna e capacidade de ao estatal efetiva.
Universidade Federal do Oeste do Par
Ento, o Brasil se comportaria como Estado piv no jogo geoeconmico e geopoltico global? Que peso assumiro as alianas internacionais estabelecidas pelo governo brasileiro? preciso conhecer bem a geografia desse pas para se avaliar o papel que ele desempenha na histria. Na prxima seo, avanaremos em direo s peculiaridades regionais da geografia brasileira.
124
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
3 A ORGANIZAO REGIONAL DO ESPAO BRASILEIRO A imensa diversidade territorial a caracterstica marcante da organizao regional do espao brasileiro. Este fato tem levantado divergncias quanto identidade territorial brasileira. E, logo de sada, levanta-se a questo: de quantos Brasis se est falando? So dois, trs, quatro, mltiplos? Na literatura geogrfica encontram-se respostas variadas a essa questo. Inicialmente pode-se destacar a de Jacques Lambert, em seu bem conhecido livro Os dois Brasis, bastante divulgado na dcada de 1960. O autor refere-se a uma sociedade dualista e luta do pas novo com o velho pas colonial e, quando se reporta industrializao, afirma que o Brasil mais um pas desigualmente desenvolvido que subdesenvolvido. Dentre os esforos de superao da viso dualstica de Lambert (1960), gegrafos como Roberto Lobato Corra (2001) e Milton Santos (2007) falam em trs e quatro Brasis respectivamente. Santos e Silveira (2001, p. 268) afirmam que possvel reconhecer a existncia de quatro Brasis: uma Regio Concentrada, formada pelo Sudeste e pelo Sul; o Brasil do Nordeste; o Centro Oeste; e a Amaznia (ver figura 8).
Figura 8 A diviso em quatro regies, na viso de Santos e Silveira (2001). Fonte: Santos e Silveira (2001). Figura 8 A diviso em quatro regies, na viso de Santos e Silveira (2001). Fonte: Santos e Silveira (2001).
125
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Corra (2001, p. 199) afirma que se pode falar de uma nova regionalizao, a partir das dcadas de 1950 e 1960, caracterizadas por trs grandes regies: o Centro-Sul, o Nordeste e a Amaznia. O Centro-Sul definido pelas regies Sudeste, Sul e os estados do Mato Grosso do Sul, Gois e o Distrito Federal. O Nordeste constitudo por oito estados, desde a Bahia at o Piau. A Amaznia, por sua vez, definida pelas unidades federativas da regio Norte mais os estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranho. Segundo Corra (2001, p. 199):
As trs grandes regies podem ser reconhecidas como expresso de uma nova viso territorial do trabalho vinculada dinmica de acumulao capitalista internacional e brasileira e aos numerosos conflitos de classe. [...] A nova diviso territorial do trabalho desfaz e refaz a organizao espacial, e a cada etapa a desigualdade socioespacial refeita: a regionalizao refeita, desfazendo antigas regies que tiveram existncia sob outros processos e condies. Neste aspecto, o Brasil um amplo laboratrio de experincias j realizadas e a se realizarem, isto , de construo e reconstruo do territrio.
Universidade Federal do Oeste do Par
A respeito da diversidade territorial do Brasil, Arajo (1998, p. 180) a v como potencial e complementa que a diversidade do Brasil no um problema, mas uma vantagem. S que ela no cabe em modelos centralizados, concentrados, excludentes (para esses modelos que a diversidade problemtica). A autora advoga a construo de modelos descentralizados e coordenados, alm de projetos includentes. Para essa autora, o corte macrorregional se tornou insuficiente. Seriam necessrios cortes mais finos. No faz muito sentido dizer: o Sudeste vai bem, o Nordeste vai mal. A partir desses cortes finos, fruns de coordenao precisam definir objetivos comuns, negociados, que nos levam a uma trajetria desejada por ns e
126
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
2 Hub palavra do idioma ingls que significa a parte central e mais importante de um lugar ou atividade em particular. Portanto, hub porto significa porto concentrador, ou seja, um porto de transbordo (no qual se faz transferncia de carga etc. de uma embarcao para outra) que concentra cargas e linhas de navegao.
127
Universidade Federal do Oeste do Par
no a uma trajetria em que vamos a reboque de agentes cuja lgica decisria a do interesse individual (ARAJO, 1998). Vejamos os recortes regionais Centro-Sul, Nordeste e Amaznia mais de perto, sistematizando Corra (2001), Santos e Silveira (2001) e Becker e Stenner (2008). O Centro-Sul pode ser definido como a core area do Brasil, corao econmico e poltico da nao. Concentra os principais centros de gesto econmica e poltica do pas So Paulo, Rio de Janeiro e Braslia constituindo-se como os mais importantes. A metrpole paulista a capital do capital, principal centro de gesto e acumulao da nao, sendo, para muitos analistas, uma cidade global. Outros centros se destacam, como Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, alm de Campinas, Ribeiro Preto, Blumenau, Joinvile e Caxias do Sul. O Centro-Sul corresponde Regio Concentrada, marcada pela implementao mais consolidada dos dados de cincia, da tcnica e da informao. O Centro-Sul apresenta uma urbanizao, um padro de consumo das empresas e das famlias, uma vida comercial mais intensa que o restante do pas, com novssimas formas especficas de tercirio superior, um quaternrio e um quinquenrio ligado finana, assistncia tcnica e poltica e informao em suas diferentes modalidades. Consolidam-se, outrossim, belts modernos, destinados produo de laranjas e cana de acar em So Paulo, vinculados produo de suco e de lcool. Nessa regio ou complexo regional, concentra-se a produo industrial do pas. Nela, localiza-se o embrio de uma grande megalpole (So Paulo-Santos-Sorocaba-Vale do Paraba-Rio de Janeiro-Campinas-Piracicaba-Ribeiro Preto). Na regio em questo, esto os principais portos do pas, como Santos, Rio de Janeiro, Paranagu e Rio Grande, alm do hub porto de Itagua2. Articulando aeroportos, rede rodoferroviria e modernos meios de comunicao, a integrao intrarregional apresenta forte grau e projeta o Centro-Sul em todo territrio nacional e no sistema-mundo. Tambm a principal rea de agropecuria do pas. O
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
Centro-Sul apresenta produes nesse setor, extremamente variadas, tendo sido a mais afetada pela modernizao agrcola, incluindo no apenas investimentos tcnicos, mas, tambm, alteraes na estrutura fundiria e nas relaes de produo, a denominada modernizao dolorosa. Alguns complexos agroindustriais modernos e recentes, como a soja, avanam do CentroSul em direo Amaznia, expandindo a consolidao de um meio tcnico-cientfico. no Centro-Sul que se espraiam, partem e chegam fortes correntes migratrias, internas e inter-regionais, portanto. Tambm nessa poro do Brasil que est uma forte concentrao de renda nacional, acompanhada de significativa expanso da massa de cidados precariamente includos. Como principal rea poltica do pas, a regio de maior efervescncia poltica, palco de conflitos sociais e polo atrator de grandes manifestaes e movimentos sociais, alm de eventos internacionais de peso, como espetculos artsticos, cientficos e desportivos. O Nordeste uma regio de povoamento antigo, onde a consolidao do meio tcnico ocorreu de forma pontual e menos densa, comparando-se quela ocorrida no Centro-Sul. Para alguns autores, o Nordeste pode ser considerado como a regio das perdas, cujo conjunto poderia ser sistematizado por: a) importncia declinante da agropecuria no contexto nacional; b) perda demogrfica; c) atividades mais dinmicas controladas de fora da regio, estando voltadas para fora; d) ratificao de um pequeno grau de articulao interna, ou seja, uma pequena diviso intrarregional do trabalho. O baixo nvel de renda da maior parte da populao outra caracterstica regional do Nordeste. H contrastes entre, de um lado, os ndices baixos de escolaridade e qualidade de vida e o elevado ndice de mortalidade infantil e, de outro, um limitado mas poderoso grupo de elevada renda que se localiza nas suntuosas orlas litorneas das grandes cidades e de poucos centros do interior. H, no Nordeste, menor variedade e densidade de formas espaciais. Contrariamente regio Centro-Sul, o Nordeste caracteriza-se por um menor acmulo de obras do homem sobre o territrio, sejam elas cidades, vias de comunicao, hidreltricas ou campos agrcolas modernos. No que se refere a perdas econmicas e demogrficas, contudo, o Nordeste
128
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
129
Universidade Federal do Oeste do Par
apresenta no plano poltico uma importncia desmesurada face ao que representa economicamente. A gegrafa In de Castro analisou esse aspecto no seu livro O mito da necessidade, sobre o discurso e a prtica do regionalismo nordestino (CASTRO,1992). A Amaznia uma regio de rarefaes demogrficas herdadas e baixas densidades tcnicas, porm com elevado potencial de transformao, apresentando-se como a grande fronteira nacional. Para alguns, a fronteira do capital. Tratase, de fato, de novas modalidades de integrao que atingem a regio, sobretudo ps-1970. Essa integrao implica em: a) apropriao dos recursos naturais, incluindo a prpria terra e definindo novos capitais de realizao futura; b) dizimao fsica e cultural da base social prvia, referindo-se aos ndios, em primeiro plano, e a outras populaes amaznicas longamente enraizadas na regio; c) correntes migratrias para a regio; d) investimentos pontuais de capital, atravs da construo de hidreltricas, aeroportos e portos, ncleos de minerao e de transformao; e) integrao ao mercado do Centro-Sul, envolvendo tanto matrias-primas como produtos industrializados, alm da construo de rodovias ligando o Centro-Sul Amaznia; f) diferentes tipos de conflitos sociais, envolvendo a grande empresa capitalista, o latifndio pecuarista, a populao indgena, os pequenos produtores, pees das fazendas, seringueiros e garimpeiros. A Amaznia tambm a fronteira do capital pelo fato de ainda ter muito espao a ser ocupado, muitos recursos a serem incorporados e muitos conflitos a serem negociados. Certamente, a Amaznia brasileira no se reduz noo de fronteira, ou melhor, deve ser compreendida como fronteira em mltiplas direes. Becker (2004, p. 33) considera a Amaznia como o corao ecolgico do planeta, heartland. Isto porque a regio teve seu significado alterado, com uma valorizao dupla: a) a da sobrevivncia humana, com destaque para a biodiversidade, a especiaria do sc. XXI (BECKER; STENNER, 2008, p. 33); b) a do capital natural, sobretudo a megadiversidade e a gua. Trata-se de uma fronteira do capital natural, isto , do uso cientfico-tecnolgico da natureza, e constitui um dos trs
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
grandes eldorados contemporneos, ao lado da Antrtica e dos fundos ocenicos. A Amaznia tambm assume um novo lugar no Brasil. Se, no nvel global, a regio uma fronteira do capital, em nvel nacional ela assume um novo significado geopoltico e tende a no ser mais a grande fronteira de expanso territorial. Seria uma tendncia ao esgotamento da Amaznia como fronteira mvel, consolidando a sua participao no processo geral de transformao territorial do Brasil. Becker (2004) fornece o exemplo de uma imensa rea, correspondente ao leste do Par, Maranho, Tocantins, Mato Grosso e Rondnia, que compe um grande arco de povoamento, um cinturo de 300 a 500 km de largura, ocupando cerca de 500 mil quilmetros quadrados. Segundo Becker (2004, p. 6):
Por ter sido a grande rea de expanso da fronteira, onde se sucedeu durante dcadas, abrindo novos espaos, a reproduo do ciclo expanso da pecuria/explorao de madeira/desflorestamento/queimada, este grande arco passou a ser chamado Arco de fogo, ou do Desmatamento, ou de Terras degradadas. Hoje, [...] em vasta rea no mais uma fronteira de ocupao, mas sim uma rea de povoamento consolidado, com significativo potencial de desenvolvimento.
A disponibilidade do territrio parece se alterar de forma acentuada, expressando certa desacelerao da incorporao de terras. Segundo Becker (2004, p. 83):
O que se observa, portanto, em relao tendncia de evoluo do uso da terra da Amaznia a reproduo de um processo semelhante [...] no sentido de convergncia dos padres regionais de ocupao e uso da terra queles consolidados no CentroSul do pas.
Universidade Federal do Oeste do Par
Ento, poder-se-ia considerar uma nova geografia amaznica, tendo em vista uma regionalizao como estratgia de desenvolvimento. Becker (2004) sistematiza as macrorregies e as sub-regies da Amaznia da seguinte forma: 1) macrorregio do Povoamento Consolidado, englobando as sub-regies do
130
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Arco da Embocadura, os ncleos de modernizao do leste e sudeste do Par, o corredor Araguaia-Tocantins, as reas intensivas em tecnologias agroindustriais, alm da sub-regio da agropecuria regional e do sistema agroflorestal; 2) macrorregio da Amaznia Central, abarcando as sub-regies da Fronteira de Preservao, do Vale do Amazonas, da produo familiar da Transamaznica, das frentes de expanso; e 3) macrorregio da Amaznia Ocidental, envolvendo as sub-regies da Fronteira de Integrao Continental, do Alto Rio Negro, das Vrzeas do Solimes, da florestania e por fim, de Manaus e seu entorno. Para concluir as consideraes acerca da Amaznia, parece oportuno lembrar que se trata de uma regio do pas com enorme potencial natural e humano: uma regio que apresenta a maioria da sua populao vivendo em reas urbanas e uma perspectiva de futuro(s) a partir do que os amaznidas conseguem sonhar e realizar, seja no investimento na sua qualificao cientficotecnolgico e produtiva, seja nas resistncias pela qualidade de um patrimnio sociocultural diverso, envolvendo, como escreve PortoGonalves (2001), as re-existncias dos seringueiros, dos ndios, dos trabalhadores rurais, das populaes negras, das mulheres quebradeiras de coco de babau, dos ribeirinhos, dos atingidos pelas barragens. Trata-se de se vislumbrar um futuro para a regio, ou vrios, de se pensar a Amaznia e outras amaznias possveis e desejveis. PARA CONCLUIR: REDESCOBRIR O BRASIL? Para concluir este texto, apresentamos sete proposies para redescobrir o Brasil, sugeridas pela gegrafa Bertha Becker (2000). So elas: 1. Qual o grau em que as estruturas socioespaciais podem se adaptar ou resistir ao novo contexto? Ou seja, qual o grau de adaptabilidade do Brasil ao novo contexto? a questo do Brasil e de um projeto nacional. O Brasil no mundo que se redefine rapidamente. Seria interessante ver trabalhos como os de Moscardo e Cardim (2007), de Benjamin et al. (1998), de Ituassu e Almeida (2007) e de Giambiagi e Barros (2009).
131
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
2. Descobrir e ouvir o novo: quais os novos atores da sociedade brasileira? O ponto central a sociedade que se reinventa. Devemse consultar trabalhos como os de Sobral e Aguiar (2001), Sachs et al. (2001) e Chiappini et al. (2000). 3. Qual o locus da inovao? Repensar as cidades. Aqui, ressalta o contexto urbano como potencialmente promissor. A respeito oportuno consultar Souza (2006), Dak e Schiffer (1999) e Ribeiro (2004). 4. Que foi feito da potncia regional? Os caminhos do Brasil entre o passado e o futuro. Pode ser consultado Furtado (1992), Bocayuva (2001), Castro et al. (1996) e Oliveira et ali. (2008). 5. Por que o meio ambiente hoje uma questo fundamental e como se inscreve nos espao nacional, regional e local? A questo a contraditria relao entre a sociedade e a natureza. So trabalhos alusivos questo: Becker e Miranda (1997), Becker et al. (1995), Bursztyn (1993) e Mendona et al. (2009). 6. Qual o significado da questo territorial? O debate central na Geografia. So trabalhos valiosos: Haesbaert (2004), Souza (2003), Piquet e Ribeiro (1991) e Santos et al. (2007). 7. A questo regional. Como redefinir contextos e recortes? Consultas relevantes so os trabalhos de Lavinas et al. (1993) e Santos et al. (2007). REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ARAJO, T. B. de. O elogio da diversidade regional brasileira. In: MINEIRO, A. dos S.; ELIAS, L. A.; BENJAMIN, C. (orgs.). Vises da crise. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. ARROYO, M. M. Mercosul: novo territrio ou ampliao de velhas tendncias? In: SANTOS, M; SOUZA. M. A. A;
132
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
SCARLATO, F; ARROYO, M. (orgs.). Globalizao e espao latinoamericano. 4. ed. So Paulo: Hucitec, 2002. BECKER. B. Por um redescobrimento do Brasil. In: CASTRO, I et al. (orgs.) Redescobrindo o Brasil 500 anos depois. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. BECKER, B. Amaznia. Geopoltica na virada do III milnio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. BECKER, B.; EGLER, C. Brasil, uma nova potncia regional do mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. BECKER, B.; MIRANDA, M. (orgs.) A geografia poltica do desenvolvimento sustentvel. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1997. BECKER, B.; STENNER, C. Um futuro para a Amaznia. So Paulo: Oficina de Textos, 2008. BECKER, B et al. (orgs.). Geografia e meio ambiente no Brasil. So Paulo: Hucitec, 1995. BENJAMIN, C. et al. A opo brasileira. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. BOCAYUVA, P. C. (org.). Afinal, que pas esse? Rio de Janeiro: DP&A, 2001. BURSZTYN, M. (org.). Para pensar o desenvolvimento sustentvel. So Paulo: Brasiliense, 1993. CAMPANHA Nacional Contra a ALCA. Soberania sim, ALCA no. So Paulo: Expresso Popular, 2002. regionalismo nordestino. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.
CASTRO, In Elias de. O Mito da Necessidade: discurso e prtica do
Universidade Federal do Oeste do Par
CASTRO, I. et al. (orgs.). Brasil. Questes atuais da reorganizao do territrio. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. CHAU, M. Brasil. Mito fundador e sociedade autoritria. So Paulo: Perseu Abramo, 2000. CHIAPPINI, L. et al. (orgs.). Brasil. Pas do passado? So Paulo: EDUSP/Boitempo, 2000. CORRA, R. L. Trajetrias geogrficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
133
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
DAK, C.; SCHIFFER, S. (orgs.). O processo de urbanizao no Brasil. So Paulo: EDUSP, 1999. FURTADO, C. Brasil. A construo interrompida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. GEIGER, P. P. A urbanizao brasileira nos novos contextos contemporneos. In: GONALVES, F. (org.). O novo Brasil urbano. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1995. GIAMBIAGI, F. e BARROS, O. (orgs.). Brasil ps-crise. Rio de Janeiro: Campus, 2009. GUNN, F. Urbanizao do Sudeste: dominao das metrpoles? In: GONALVES, F. (org.). O novo Brasil urbano. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1995. HAESBAERT, R. O mito da desterritorializao. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. HURRELL, A. et al. Os BRICs e o Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2009. ITUASSU, A.; ALMEIDA, R. (orgs.). O Brasil tem jeito? Rio de Janeiro: s.e., 2007. LAMBERT, J. Os dois Brasis. So Paulo: Cia. Editora Nacional, 1969. LAVINAS, L. et al. (orgs.). Reestruturao do espao urbano e regional no Brasil. So Paulo: Hucitec, 1993. LIMA, M. R. e HIRST, M. Orgs.) Brasil, ndia e frica do Sul. Desafios e oportunidades para novas parcerias. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.
Universidade Federal do Oeste do Par
LIMA, M. R.; HIRST, M. Brasil como pas intermedirio e poder regional. In: HURRELL, A. et al. Os BRICs e o Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2009. LIMONAD, E; HAESBAERT, R.; MOREIRA, R. (orgs). Brasil, sculo XXI por uma nova regionalizao? Agentes, processos e escalas. Max Limonad, 2004. MACHADO, L. Artifcio poltico en el origen de la unidad territorial de Brasil. In: CAPEL, H. (org.). Los espacios acotados. Geografa y dominacin social. Barcelona, Espanha: PPU, 1990.
134
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
MANN, M. O poder autnomo dos Estados: suas origens, mecanismos e resultados. In: HALL, J. (org.). Os Estados na histria. Rio de Janeiro: Imago, 1992. MENDONA, F. et al. (orgs.). Espao e Tempo. Complexidade e desafios do pensar e do fazer geogrficos. Curitiba: Ademadan, 2009. OLIVEIRA, M. et al. (orgs.). O Brasil, a Amrica Latina e o mundo. Rio de Janeiro: Lamparina/ANPEGE/FAPERJ, 2008. SANTOS, M. et al. Territrio Territrios. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. SANTOS, M; SILVEIRA, M. L. O Brasil. Territrio e sociedade no incio do sculo XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001. THIRY. H; MELLO, N. A. Atlas do Brasil disparidades e dinmicas do territrio. So Paulo: EDUSP, 2008.
135
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Texto 4 CINCIA ECONMICA: ELEMENTOS DE UMA SNTESE INTRODUTRIA
Jos Nilo de Oliveira Junior1 Marcelo Bentes Diniz2
INTRODUO Como escopo geral, Economia entendida como a cincia social que estuda a produo, distribuio e consumo de bens e servios. Ela estuda as formas de comportamento humano, resultantes da relao entre as necessidades dos homens e os recursos disponveis para satisfaz-las. Assim sendo, esta cincia est intimamente ligada poltica das naes e vida das pessoas, sendo que uma das suas principais funes explicar como funcionam os sistemas econmicos e as relaes dos agentes econmicos, propondo solues para os problemas existentes. Vale ressaltar que a cincia econmica tem como principais problemas econmicos: o que produzir; quando produzir; em que quantidade produzir; e para quem produzir. E cada vez mais aplicado a campos que envolvem pessoas em decises sociais, como o religioso, o industrial, o educacional, o poltico, o de sade, o institucional, o de guerra, etc. Portanto, por essas caractersticas, poucas so as cincias sociais cujo senso comum seja to prximo na formao de seu objeto, mas to distante enquanto mtodo de apreenso da realidade. De fato, notadamente quanto ao seu significado e propsitos, duas das mais desafiantes caractersticas da Economia enquanto cincia so: a delimitao entre o senso comum2 e o
1 Doutores em Economia pela UFC (Universidade Federal do Cear) e professores da UFPA (Universidade Federal do Par). Jos Nilo de Oliveira Junior pertence ao Instituto de Cincias Sociais Aplicadas (Mestrado em Economia), e Marcelo Bentes Diniz, ao Departamento de Economia (Centro Scio-Econmico). 2 Refere-se tanto ao entendimento superficial acerca da coisa pretensamente conhecida e dominada, quanto vivncia prtica, sem, contudo, explicar por que as coisas acontecem ou por que determinados fenmenos se manifestam (Rossetti, 2002).
137
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
conhecimento econmico cientificamente sistematizado3; e a vinculao da sistematizao cientifica a elementos de natureza ideolgica4. A dificuldade de delimitao entre senso comum, cincia e ideologia no se restringe Economia. Porm, na Economia, as dificuldades de delimitao parecem superar a de outros ramos da cincia, pela fora e pela capacidade de presso dos agentes econmicos e pela magnitude dos interesses envolvidos. Decorre da, inclusive, a convergncia ou divergncia dos economistas acerca de diversos fatos ou fenmenos econmicos e sua interpretao e, por seu turno, sua vinculao direta com a poltica, enquanto elemento norteador da repartio da riqueza material, que se depreende da economia real. Por isso mesmo, alguns defendem a denominao de Economia Poltica5. Desse modo, til aprofundar esses conceitos, no que diz respeito aos seus significados e atributos. A clara compreenso de cada um deles tem muito a ver com a construo do conhecimento cientfico em Economia e com sua compartimentalizao usual. O ponto de partida para uma primeira aproximao pode ser a definio usual da cincia econmica, atribuda a Robbins (1984), como a cincia que estuda o comportamento humano, como uma relao entre fins e meios escassos, os quais possuem usos alternativos. Ou ainda uma definio que privilegia uma viso quanto finalidade da cincia econmica (instrumental) como a que aparece em Marshall (1920), o qual a vislumbra como a cincia que traa as leis dos fenmenos sociais, que derivam das operaes combinadas da humanidade para produzir riquezas. Qualquer uma das duas definies acima, ainda que incompletas, fornecem elementos importantes. O primeiro
Universidade Federal do Oeste do Par
3 Cujos critrios de cientificidade podem ser resumidos como: primeiro, a coerncia, significando falta de contradies, argumentao estruturada, corpo no contraditrio de enunciados, desdobramento do conhecimento de forma organizada, concluses a partir de dedues lgicas. Segundo, a consistncia, no sentido de resistncia argumentao contrria. E, terceiro, a objetividade, no sentido de reproduo da realidade como ela , no como o observador gostaria que fosse (ROSSETI, 2002). 4 Que, segundo Teixeira (2000), leva dificuldade da prpria cincia econmica de se autodefinir. 5 Se bem que, nos primrdios da cincia econmica, o entendimento sobre economia poltica voltava-se aos problemas da sociedade humana relacionados produo, circulao e a distribuio da riqueza, bem como para as questes de natureza prtica a elas associadas (TEIXEIRA, 2000).
138
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
que os fenmenos econmicos derivam de decises (escolhas), feitas pelos chamados agentes econmicos. A segunda que a produo, o seu crescimento e a forma como este distribudo so elementos fundamentais de interesse e tm em si mesmo uma natureza histrica, sendo envoltos em diversas mediaes sociais. O caminho crtico da formao das teorias econmicas est intimamente relacionado ao processo de formao dessas escolhas, suas motivaes, relaes entre os diferentes agentes econmicos e seus resultados, condicionados a um ambiente historicamente determinado. 1 A CONSTRUO DO OBJETO Antes de tudo, preciso contextualizar os fenmenos econmicos como fenmenos sociais, surgidos a partir das decises de carter individual ou coletivo (social). Como abstrao geral, entende-se que as decises tomadas pelos agentes econmicos seguem uma racionalidade, na busca do melhor resultado possvel (otimizao) da relao entre fins e meios. De um lado, esto os desejos a partir das necessidades a serem satisfeitas, quer individualmente, quer coletivamente. De outro, esto as restries existentes para se chegar aos resultados desejados. A explicao acerca da realidade econmica concreta, por convenincia metodolgica, subdividida em duas grandes categorias: a macroeconomia e a microeconomia. A primeira est relacionada ao entendimento dos fenmenos de forma agregada, ou seja, formados por um conjunto muito grande de decises individuais, cujas categorias analticas refletem esse carter coletivo, de modo que cada deciso individual, de uma maneira geral, tem pouca influncia sobre esse comportamento conjunto expresso por aquela varivel econmica. A segunda reflete o comportamento individual dos agentes econmicos. Em todo caso, a primeira sempre microfundamentada, e a segunda, influenciada de forma decisiva pelo ambiente macroeconmico. Pelo campo da microeconomia derivam diversas teorias que procuram explicar a atuao dos agentes econmicos,
139
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
indivduos e empresas, e estes entre si, a partir de diversos tipos de comportamentos/motivaes (ou ausncia destes):
Preferncias; satisfao; barganha; incentivos; confiana; cooperao/concorrncia; eficincia; incerteza; coordenao; expectativas.
E dos resultados desses processos:
Mercado e suas estruturas; bem-estar social; concentrao produtiva e espacial; efeitos ambientais; regulao econmica e ambiental.
Universidade Federal do Oeste do Par
As aes em cada tipo de comportamento partem do entendimento prvio de uma racionalidade que segue os seguintes pressupostos: a) os agentes so capazes de decidir o que melhor para si, individualmente ou corporativamente; b) os agentes se deparam com trade-offs6 entre objetivos excludentes, em face das restries que dispem. Isto quer dizer que a escolha que tomam em uma direo exclui a possibilidade de outras escolhas alternativas; c) agentes racionais decidem comparando benefcios e custos marginais; d) o custo de qualquer ao medido em termos de oportunidades abandonadas; e) as pessoas reagem a incentivos; f) os mercados so uma boa forma de organizao da atividade econmica deriva da que uma economia de mercado aquela em que as decises dos agentes
6 Nota da organizadora do livro: trade-off expresso utilizada para designar uma escolha conflitante. Por exemplo: devido limitao de recursos, nenhum pas consegue produzir tudo de que precisa ao se concentrar na sade poder deixar de lado parte dos investimentos em educao, em transporte ou na estrutura militar. Ou, ao dedicar mais recursos s demandas militares, poder sobrar menos para sade, educao ou bens de consumo. Assim como as pessoas, as sociedades enfrentam situaes de escassez e precisam fazer escolhas ou seja, tm trade-offs.
140
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
so descentralizadas; g) os governos podem s vezes melhorar os resultados de mercado. (MANKIW, 1999) Pelo campo da macroeconomia, tambm derivam diversas teorias, que procuram explicar a relao entre os agregados da economia (o comportamento dos pases e as relaes que estabelecem entre si), destacando-se:
Desemprego; distribuio de rendimento; inflao; investimento; poupana; produtividade; crescimento econmico; ciclos econmicos; desenvolvimento econmico.
Particularmente quanto ao nvel de produo, quanto s taxas de crescimento desse produto e quanto forma como distribudo, derivam construes tericas e/ou conceitos fundamentais, como:
Capital fsico; educao; sade (capital humano); progresso tcnico; desenvolvimento institucional; capital natural; capital social.
Pelo menos com relao corrente principal neoclssica.
141
Universidade Federal do Oeste do Par
Uma noo importante em Economia7 diz respeito ideia de equilbrio, enquanto a situao desejada pelos agentes econmicos, na direo do alcance de seu objetivo melhor resultado frente s restries que lhes so impostas. O equilbrio pode ser individual (equilbrio parcial) ou coletivo (equilbrio geral), e sua contraparte econmica o equilbrio de um mercado ou o equilbrio de todos os mercados.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
Destarte, uma das formas de equilbrio em economia o chamado Equilbrio de Nash, que pode ser simplificado da seguinte forma: considere uma relao econmica que se estabelea entre pelo menos dois agentes econmicos, cada qual buscando seu melhor resultado, mas que este resultado individual dependa do comportamento conjunto dos mesmos, a partir de uma relao de confiana/desconfiana que se estabelea entre eles. Assim, para que as partes acreditem/confiem na conduta acordada do outro, so necessrias duas condies, embora no sejam suficientes de forma isolada: 1) em cada etapa da linha de ao combinada, haja interesse mtuo de cada uma das partes em manter o acordo, se todos assim o fizerem; 2) em cada etapa da linha de ao combinada, cada parte isoladamente acredite que as outras partes mantero o acordo. (DASGUPTA, 2008) Portanto, sob as circunstncias acima, nenhuma das partes ter motivo para se desviar de sua linha de ao (estratgia) se todas as outras mantiverem as delas, configurando, dessa maneira, o equilbrio de Nash. Importante ressaltar que o equilbrio que se espera atingir (pela cooperao mtua ou no-cooperao mtua) depender em parte do comportamento pregresso dos agentes, que daro uma importante sinalizao para seus rivais de qual comportamento se pode esperar dos mesmos. Por essa via, algumas coisas so importantes para que, efetivamente deem certo. A primeira que a histria importa. Ela a base para a formao de expectativas, opinies, crenas, valores, condutas sociais. A segunda que a qualidade das informaes que os agentes tm sobre si mesmos e sobre os outros , tambm, de valor estratgico. Portanto, informaes incompletas, imperfeitas, que configurem assimetria de informaes entre os agentes podem levar ao insucesso da relao que se estabelea, cooperada ou no cooperada. E, ainda, o ambiente institucional pode ou no favorecer/fortalecer os vnculos entre os agentes, criando uma coordenao tcita ou legal entre os mesmos. Falhas de coordenao a partir das relaes que se estabeleam somente pelo mercado podem ser fatores decisivos para induzir a interveno do Estado sobre a economia. A regulao do Estado, em vrias esferas sociais, pode significar fragilidades e falhas de mercado, que, ao mesmo tempo, levem impossibilidade de que se chegue aos melhores resultados (eficientes).
142
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
143
Universidade Federal do Oeste do Par
Outro conceito no menos importante (e que se liga ao anterior) em Economia diz respeito eficincia. A eficincia uma relao entre fins e meios. Quando se afirma que uma relao ineficiente, sugere-se que os fins desejados poderiam ser atingidos com menos meios, ou que os meios utilizados poderiam ter produzido maior quantidade dos fins desejados. Menos e mais, nesse contexto, referem-se necessariamente a menos e mais valor. Assim, a eficincia econmica medida no s pela relao entre quantidades fsicas de fins e meios, mas tambm pela relao entre valor dos fins e valor dos meios (HEYNE, 2001). Ressalte-se que, quando se fala em eficincia de qualquer processo ou instituio em Economia, naturalmente se admite que a mesma utilize estimativas monetrias, referindo-se relao entre o valor monetrio dos fins e o valor monetrio dos meios. A medida monetria usada pela Economia acaba por ser vasta e til. Permite considerar e comparar as estimativas feitas por muitas pessoas diferentes e responder adequadamente. Ainda segundo o autor acima citado, os pr-requisitos cruciais para a criao desses valores monetrios so a propriedade privada dos recursos e direitos relativamente ilimitados para a troca de propriedade. Quando essas condies so satisfeitas, desejos concorrentes para o uso de recursos estabelecem valores monetrios que indicam o valor de cada recurso no seu uso atual. Na ausncia de valores monetrios para recursos escassos, os agentes econmicos, segundo a generalizao feita por Adam Smith, so guiados por uma mo invisvel para fomentar um fim que no fazia parte de suas intenes. Neste caso, contudo, o fim no o interesse pblico, mas o resultado que ningum quer. Por fim, os crticos da eficincia econmica sustentam que a mesma um guia pobre para a poltica pblica, porque ignora valores importantes para alm do dinheiro. Entretanto, a utilidade social de direitos de propriedade bem definidos, do comrcio livre e do sistema de valores monetrios relativos que emerge destas condies foi talvez demonstrada mais convincentemente pelo fracasso catastrfico, no sculo XX, das sociedades que tentaram funcionar sem eles.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
2 MICRO VERSUS MACROECONOMIA At o final dos anos 1930 e 1940, as duas reas da teoria econmica foram tipicamente designadas por teoria monetria e teoria dos preos. Atualmente, a dicotomia situa-se entre a macroeconomia e a microeconomia. A fora motivadora para a alterao veio do lado macro, com a macroeconomia moderna a ser bastante mais explcita sobre as flutuaes do rendimento, do emprego e do nvel de preos do que a velha teoria monetria. Por outro lado, no h qualquer revoluo a separar a microeconomia de hoje da teoria dos preos anterior: uma surgiu naturalmente a partir da outra (HARBERGER, 2001). A fora da microeconomia resulta da simplicidade da sua estrutura e da sua proximidade com o mundo real. Resumindo, a microeconomia tem a ver com a oferta e a procura, e com a forma como elas interagem, nos vrios mercados. A anlise microeconmica move-se facilmente e sem dificuldade de um tpico para outro e est no centro da maior parte dos setores da economia, a saber: economia do trabalho, organizao industrial, economia internacional, economia agrria, finanas pblicas, etc. A economia da oferta e da procura tem uma espcie de conotao moral ou normativa, pelo menos enquanto se ocupa com um vasto nmero de distores do mercado. Num mercado no distorcido, os compradores pagam o preo do mercado at o ponto em que consideram que as unidades adicionais no valem esse preo, enquanto que os vendedores competitivos fornecem unidades adicionais enquanto conseguem ganhar dinheiro com cada unidade adicional. No ponto em que a oferta iguala a procura, o preo d a medida do valor do produto tanto para os compradores quanto para os vendedores. Portanto, os grandes princpios unificadores da microeconomia so a oferta e a procura. O tom normativo da microeconomia vem do fato de o preo da oferta competitiva representar um valor percebido pelos fornecedores, e o preo da procura competitiva representar um valor percebido pelos clientes. A fora motivadora a dos seres humanos, sempre a gravitarem para escolhas e acordos que refletem os seus gostos. Por outro lado, a teoria macroeconmica ganhou grande impulso a partir da dcada de 1930, com a obra Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda, elaborada por John Maynard Keynes e publicado em 1936. Aps o surgimento desse livro,
144
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
145
Universidade Federal do Oeste do Par
a teoria macroeconmica recebeu um impulso considervel, passando a constituir um campo bastante frtil de anlise da teoria econmica e propiciando um arcabouo terico bastante profcuo para a prpria poltica econmica. Na obra, o autor mostrou que, contrariamente aos resultados apontados pela teoria neoclssica, as economias capitalistas no tinham a capacidade de promover automaticamente o pleno emprego. Assim, abria-se a oportunidade para a ao governamental, atravs de seus clssicos instrumentos de poltica econmica, para direcionar a economia utilizao total dos recursos (LUQUE, 1998). Pelo que foi dito, pode-se usar a orientao de Dasgupta (2008), que simplifica a tarefa do economista em duas direes interligadas: tenta descobrir o que levou as pessoas a ter a vida que tm e, ao mesmo tempo, identificar maneiras de influenciar esses fatos, para melhorar a vida de quem tem poucas chances de se realizar. Sob esta perspectiva, ainda segundo esse autor, a primeira tarefa requer que se encontrem explicaes, enquanto a segunda procura identificar diretrizes econmicas. Uma distino metodolgica importante da Economia na direo acima entre Economia Positiva e Economia Normativa. A Economia Positiva aquela que independe de qualquer posio tica ou anlise normativa, mas cujo resultado final a realizao de previses (FRIEDMAN, 1953). Sua tarefa , a partir de generalizaes, poder fazer previses corretas acerca das consequncias de quaisquer mudanas das circunstncias. Seu funcionamento deve ser julgado pela preciso, alcance e conformidade das previses, dando-lhe um carter objetivo. A Economia Normativa, por seu turno, versa sobre a construo de um mundo idealizado, do dever ser. , por esse sentido, uma arte que no pode ser independente da Economia Positiva. Isto porque qualquer concluso de poltica se baseia em uma previso que deve estar baseada implcita ou explicitamente na Economia Positiva. Nesse sentido, a Economia Descritiva e a teoria econmica situam-se, preponderantemente, no campo da Economia Positiva, enquanto que a poltica econmica , preponderantemente, normativa. No obstante os diferentes troncos da teoria econmica estejam impregnados pelas ideologias subjacentes a sua apario e desenvolvimento, eles buscam estabelecer verdades cientificamente comprovveis
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
pelas metodologias convencionais da deduo e da induo. Diferentemente, as proposies da poltica econmica so, quanto a sua prpria significao, normativas. Necessariamente, envolvem escolhas fundamentadas em juzo de valor. Essa distino simples entre proposies normativas e positivas conduz a uma questo metodolgica relevante: a impossibilidade lgica de se deduzirem afirmaes positivas de juzos normativos, e vice-versa. Esta ressalva metodolgica no implica a inexistncia de conexes entre os compartimentos positivo e normativo, em Economia, como mostra a Figura 1 abaixo. Observa-se que os diferentes compartimentos em que usualmente se subdivide a Economia Positiva alimentam o processo poltico de escolha da Economia Normativa. O desdobramento dos diferentes segmentos da Economia Positiva fundamenta-se na diviso usual entre microeconomia e macroeconomia.
ECONOMIA DESCRITIVA
Observao sistematizada do mundo real. Descrio e mensurao de fatos econmicos. Contabilidade Social. Sistemas de Contas nacionais e matrizes de relaes interindustriais
O consumidor e a anlise de procura
TEORIA ECONMICA
A empresa e a anlise da oferta
Teoria Macroeconmica
Princpios, teorias, leis e modelos da economia.
Teoria Microeconmica
Universidade Federal do Oeste do Par
Anlise de macrovariveis: renda, consumo, poupana, investimento, exportaes, importaes, tributos e dispndios pblicos, oferta e demanda monetrias POLTICA ECONMICA A conduo do processo econmico agregativamente considerado
Remunerao dos fatores de produo e repartio da renda
Estrutura concorrencial e equilbrio dos mercados
Atuao sobre a realidade, com trs objetivos bsicos: Crescimento Estabilidade Equidade
A regulao da atividade dos agentes econmicos: o interajuste de custos e benefcios privados e sociais
Figura 1: Compartimentos usuais da economia: conexes entre principais segmentos. Fonte: Rossetti (2002, p. 67).
146
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
3 QUANTIFICAO E ECONOMIA Existem diversos aspectos particulares da realidade social que se entrelaam com o campo de interesse da Economia. Dentre as diversas relaes econmicas, destacam-se as relaes produo-distribuio-dispndio-acumulao (SAY, 1983), riqueza-pobreza-bem-estar (MARSHALL, 1920), crescimentodesenvolvimento (KUZNETS, 1966), bem como recursosnecessidades-prioridades (ROBBINS, 1984). Ressalte-se que uma lista mais extensa das relaes de que se ocupa a economia deveria incluir, tambm: escassez, emprego, produo, agentes, trocas, valor, moeda, preos, mercados, concorrncia, remuneraes, agregados, crescimento, equilbrio, dentre outros (ROSSETI, 2002). Todas essas relaes guardam uma caracterstica comum: so passveis de alguma forma de mensurao. Esta caracterstica costuma ser apontada como uma diferena marcante entre a Economia e outros ramos do conhecimento social. Em Economia possvel quantificar resultados, construir identidades quantificveis, desenvolver modelos explicativos da realidade, etc. Esta particularidade da Economia possibilitou o surgimento de correntes econmicas fundamentadas no mtodo matemtico, bem como o desenvolvimento de um importante ramo auxiliar de investigao econmica, a econometria. Outro ponto importante a unidade monetria, que a base do processo de quantificao em Economia. Alm de exercer outras funes, a moeda , fundamentalmente, unidade de conta e denominador comum de valores. Para quantificar atividades econmicas internas, a unidade de referncia a moeda corrente do pas. Para transaes ou comparaes externas, usamse divisas internacionalmente aceitas, as chamadas moedas fortes de grandes economias, como, por exemplo, o dlar. Na converso de uma unidade monetria para outra, adota-se a relao de troca entre elas a taxa de cmbio. Uma das mais importantes distines, no campo da economia quantificada, diz respeito natureza das variveis. Desta forma, variveis econmicas so expresses indicativas de diferentes categorias transaes, processos, resultados. Essa denominao genrica resulta de que elas variam em determinado perodo de tempo. Quanto a sua natureza, as
147
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
variveis econmicas so usualmente classificadas em duas categorias: variveis-fluxo e variveis-estoque. Variveis-fluxo so indicadores que se referem, necessariamente, a transaes ocorridas ao longo de determinado perodo de tempo. As variveis-estoque so medidas que expressam magnitudes em determinado momento. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BIANCHI, Ana Maria. Muitos mtodos e o mtodo: a respeito do pluralismo metodolgico. Revista de Economia Poltica, v. 12, n. 2, (46), abril-jun. 1992. BLAUG, Mark. A Metodologia da Economia. Ou como os economistas explicam. 2. ed. Lisboa, Portugal: Gradiva, 1994. DASGUPTA, Partha. Economia. Traduo Silvana Vieira. So Paulo: tica, 2008. FRIEDMAN, Milton. The metodology of positive economics. Essays in positive economics. Chicago, EUA: University Chicago Press, 1953. HARBERGER, Arnold C. Microeconomia. In: HENDERSON, David R.; NEVES, Joo Csar (org.). Enciclopdia de Economia. Lisboa, Portugal: Principia, 2001. HEYNE, Paul. Eficincia. In: HENDERSON, David R.; NEVES, Joo Csar (orgs.). Enciclopdia de Economia. Lisboa, Protugal: Principia, 2001. KUZNETS, Simon S. Modern economic growth: rate, structure and spread. New Haven: Yale University Press, 1966. LUQUE, Carlos Antonio. Teoria macroeconmica: evoluo e situao atual. In: PINHO, Diva B.; VASCONCELLOS, Marco A. S (orgs.). Manual de Economia. 3. ed. So Paulo: Saraiva, 1998. MANKIW, N. G. Introduo Economia. Princpios de macro e microeconomia. Trad. Maria Jos Cyhlar Monteiro. Rio de Janeiro: Campus, 1998. MARSHALL, Alfred. Principles of economics: an introductory volume. 8th ed. London: Macmillan, 1920. PINHO, Diva B.; VASCONCELLOS, Marco A. S (orgs.). Manual de Economia. 3. ed. So Paulo: Saraiva, 1998.
148
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
ROBBINS, Lionel. An essay on nature and significance of economic science. 3th ed. London: Macmillan, 1984. ROSSETTI, Jos Paschoal. Introduo Economia. 19 ed. So Paulo: Atlas, 2002. SAY, Jean Baptiste. Tratado de Economia poltica. So Paulo: Abril, 1983. SCHUMPETER, J. A. Fundamentos do pensamento econmico. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. SILBERBERG, E.; SUEN, W. The Structure of economics: a mathematical analysis. 3th ed. New York: Irwin/McGraw-Hill, 2001. TEIXEIRA, Aloisio. Marx e a Economia poltica: a crtica como conceito. Econmica, n. 4, dez. 2000, p. 85-109.
149
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Texto 5 TICA, SOCIEDADE E CIDADANIA
Jos Claudinei Lombardi Mara Regina Martins Jacomeli1
INTRODUO Vivemos um momento da sociedade em que a vida do cidado discursivamente eleita fundamento de tudo, mas em que, na prtica, ela, a vida, foi banalizada. Sabemos que a vida humana, nesta sociedade regida pelo mercado, tem realmente muito pouco valor. Mas isso quando pensamos na maioria da sociedade, pois, para a minoria endinheirada, a vida vale muito. Uma questo presente em nossas vidas que a sociedade democrtica deve dar condies para que todos tenham acesso a tudo, como se todos fossem iguais e no houvesse distino de classes sociais nem de posses. Na sociedade contempornea, o conceito de cidadania se tornou um termo da moda. Tomado como expresso fenomnica, foi alado a panaceia de todos os males, funcionando como uma espcie de equalizador das graves crises sociais e da misria que afeta a maioria da populao. As crises sociais, entretanto, so produtos da explorao desmesurada do homem, da destruio ambiental; mostram a todos os homens o carter predatrio da explorao do capital, que, para a desenfreada acumulao, no poupa nada nem ningum. No , portanto, uma questo de ser ou no ser cidado. Etimologicamente, o termo cidadania deriva do latim civitas (cidade) e era usado para indicar a situao poltica da pessoa que, como membro do Estado, no gozo de seus direitos, podia participar da vida pblica. Cidadania expressava, pois, a situao poltica de uma pessoa e o direito que tinha de atuar publicamente. Entretanto, como as formaes sociais gregas, as cidades-Estado eram uma forma de sociedade excludente:
1 Doutores em Educao pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e professores do Departamento de Filosofia e Histria da Educao (Faculdade de Educao) dessa mesma universidade.
151
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
algumas categorias sociais no gozavam de cidadania, tais como as mulheres, os escravos, as crianas e os estrangeiros. A expresso ainda chega com esse contedo contemporaneidade, conforme a definio de Dallari (1998, p. 14):
A cidadania expressa um conjunto de direitos que d pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem no tem cidadania est marginalizado ou excludo da vida social e da tomada de decises, ficando numa posio de inferioridade dentro do grupo social.
Universidade Federal do Oeste do Par
De modo geral, quando os autores tratam do tema, buscam, na Grcia Clssica e, depois, no Imprio Romano, a origem histrica da noo de cidadania. Tal noo, na maioria dos casos, explicita que se trata de um conceito, de uma representao socialmente produzida que, dadas as profundas diferenas entre as classes, no passa de uma formulao ideolgica da classe que se apropriou das terras e dos meios de produo e que criou uma organizao garantidora de seus supostos direitos, qual seja: o Estado. Do governo e da democracia da cidade-Estado grega, como instrumento de exerccio do poder de classe, s participavam os homens, gregos e livres. Da cidadania estavam excludos os homens que se ocupavam de trabalhos manuais, como os artesos e comerciantes, as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Praticamente apenas os proprietrios de terras eram considerados livres, tendo o direito de decidir sobre os destinos do Estado. Em Roma fica claramente expressa a ideia de cidadania como capacidade para exercer direitos polticos e civis, mas sendo tambm clara a distino entre os que podiam e os que no podiam exercer essa qualidade. O exerccio da cidadania era o fator justificador das trs classes sociais do imprio: os patrcios, descendentes dos fundadores; os plebeus, descendentes dos estrangeiros; e os escravos (prisioneiros de guerra e aqueles que no saldavam suas dvidas). Havia tambm os clientes, homens supostamente livres, mas dependentes de um aristocrata romano que lhes fornecia terra para cultivar em troca de uma taxa e de trabalho. Nessa estrutura social, somente os patrcios gozavam de todos os direitos polticos, civis e religiosos. Essa situao foi se alterando com a expanso do imprio e com a
152
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
evidente transformao da estrutura social romana e, com ela, do prprio Estado. Comumente os textos que tratam sobre o tema reconhecem que o atual conceito de cidadania fruto das revolues burguesas, particularmente da Independncia dos EUA (Estados Unidos)2 (1776) e da Revoluo Francesa (1789), processos que, a seu tempo, expressaram as revolues burguesas em curso nos sculos XVII, XVIII e XIX. A Declarao de Independncia dos EUA (1776) e a Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado, promulgada em 1789 em plena Revoluo Francesa, fundamentaram os princpios liberais da cidadania moderna, os quais, em linhas gerais, estabeleceram que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direito vida, felicidade e liberdade. Apesar de que a inteno dos princpios promulgados na Declarao tivesse um carter universal, no se pode esquecer que, mesmo nesse ambiente gestado por uma burguesia revolucionria, tais princpios no se aplicavam a todos os membros das diversas formaes sociais de ento, que, entretanto, os usaram para alavancar lutas sociais diversas, como ainda era o caso das mulheres, dos negros e dos pobres:
[...] apesar do contedo universalista da Declarao francesa, as mulheres eram excludas do voto. J nos Estados Unidos, alm das mulheres, a excluso atingia escravos e brancos pobres. Esses excludos tiveram de empreender longas lutas antes de serem contemplados pelos direitos bsicos definidos pelas revolues burguesas. [...] esses documentos tinham imenso potencial revolucionrio, e muitos daqueles que foram inicialmente excludos da vida poltica, depois usariam o mesmo discurso liberal para alcanar os direitos previstos por essas declaraes [...] (SILVA; SILVA, 2005, p. 48-49).
Justificando-se nessas razes histricas, ainda hoje a cidadania definida por referncia aos direitos e aos deveres que se supem inerentes ao seu exerccio, como segue:
2 A Independncia dos EUA marca um longo processo de uma Era caracterizada pelas Revolues, como bem expressou Hobsbawm (1986), tendo como marcos: 1776 Declarao de Independncia; 1781 fim da Guerra; e 1783 Tratado de Paris.
153
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Ser cidado ter conscincia de que sujeito de direitos. Direitos vida, liberdade, propriedade, igualdade, enfim, direitos civis, polticos e sociais. Mas este um dos lados da moeda. Cidadania pressupe tambm deveres. O cidado tem de ser cnscio das suas responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo que a coletividade, a nao, o Estado, para cujo bom funcionamento todos tm de dar sua parcela de contribuio (SANTANA, 2007, [s.p.]).
Universidade Federal do Oeste do Par
Trazendo o debate para a atualidade, destacamos que Ivo Tonet, em Educao, Cidadania e Emancipao Humana, indicou as limitadas possibilidades reformistas do projeto neoliberal em que a perspectiva de cidadania desemboca e, em contraposio, a opo por um caminho para a emancipao do homem (TONET, 2001; TONET, 2005). Etimologicamente, podemos compreender o significado das palavras, mas hoje elas parecem sombras plidas do sentido original: cidadania, no sentido posto anteriormente, diz respeito condio poltica de uma pessoa que, em seus direitos privados, pode exercer a fruio de uma vida pblica, como membro do Estado. Como o Estado formalmente um Estado de Direito, a cidadania articula os espaos privados e pblicos nessa sociedade. Segundo Lombardi et al. (2005), o pblico no expressa o que de todos, mas o que, sob o Estado-nao moderno, no passa de sinnimo de estatal; privado no tem o mero sentido de despojar ou despojado, mas praticamente sinnimo de apropriado particularmente, de algo particular. Para isso, faz-se necessrio conceituar qual a concepo de Estado de que estamos falando, e apresentar um exemplo dessa relao pblico e privado, em especial na educao. Segundo Bottomore (1997 apud SANFELICE, 2005, p. 177) no mbito do marxismo, o Estado a instituio que, acima de todas as outras, tem como funo assegurar e conservar a dominao e a explorao de classe. Porque essa definio importante? Por conta do fato de que o entendimento que temos quanto ao conceito, por exemplo, de educao pblica muitas vezes no problematizado, j que referimo-nos educao pblica para expressarmos a educao oferecida pela escola
154
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
pblica, e muito raramente, a defesa da escola pblica no outra coisa seno a defesa da escola estatal. (SANFELICE, 2005, p. 178). Sendo assim, segundo o mesmo autor, rigorosamente escola estatal no escola pblica, a no ser no sentido derivado pelo qual o adjetivo pblico se relaciona ao governo de um pas ou estado: o poder pblico (SANFELICE, 2005, p. 178):
A escola estatal no necessariamente pblica quando tomamos o adjetivo pblico na forma da qualificao daquilo que pertence a um povo, a uma coletividade, que pertence a todos, que comum, aberto a quaisquer pessoas, que no tem carter secreto, que manifesto e transparente. O substantivo pblico, por sua, vez designa o homem comum, do povo de um determinado lugar com caractersticas ou interesses comuns (HOUAISS, 2001 apud SANFELICE, 2005, p. 178-179).
A anlise acima enseja o entendimento de que, sendo o Estado o defensor dos interesses de classe, no caso, o Estado capitalista, sai luta na defesa dos interesses privados do capital, em detrimento de interesses comuns: o do pblico, o do povo. Sanfelice (2005, p. 179) nos alerta:
Enquanto Estado defensor dos interesses da propriedade privada, a educao estatal pode estar, portanto, atrelada aos mesmos objetivos. O que ideologicamente explicitado como educao pblica, na realidade destina-se ao interesse privado, e educao estatal assim deve ser denominada pois no do interesse comum, do pblico, mas do privado. Assim, o Estado e a educao estatal esto constitudos no para preservar o interesse comum dos seres humanos que no possuem a propriedade privada dos meios de produo, mas para garantir que estes sobrevivam em certas condies e que possam vender a sua fora de trabalho, nica fonte de riqueza, para os proprietrios dos meios de produo, para os possuidores do capital e, se possvel, dentro de uma ordem poltica que se convencionou chamar democracia. 155
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
179):
Vale a pena salientar um lembrete de Sanfelice (2005, p.
[...] o Estado, enquanto associado de determinada classe social, cumpre com o papel regulador da luta de classes e da ordem social. Assim, embora o Estado assuma historicamente formas polticas diferenciadas, numa sociedade de classes antagnicas, qualquer que seja a poltica vigente, esta ser sempre domnio de uma classe.
Universidade Federal do Oeste do Par
Tambm a confuso que fazemos ao tomarmos o conceito de educao estatal como sinnimo de educao pblica decorre do prprio ordenamento jurdico das democracias capitalistas. Segundo esse ordenamento jurdico, vrios servios estatais considerados pblicos so de prestao privativa do Estado, ou s podem ser realizados pela iniciativa privada sob concesso. Outros, os no-privativos, podem ser oferecidos livremente pela iniciativa privada. E a educao considerada um servio pblico que pode tanto ser oferecida pelo Estado, como pela iniciativa privada. E desse argumento de prestao de servio pblico que a iniciativa privada, ao longo da histria da educao brasileira, sempre se valeu como argumento para conseguir (e ainda consegue) recursos estatais para seu subsdio (SANFELICE, 2005a). Assim, a partir dessas reflexes, conveniente lembrar que muitas vezes fazemos a defesa de uma poltica educacional pblica, sem atentarmos para o fato de que estamos defendendo uma educao e escola que atende aos interesses no da populao em geral, mas de um pequeno grupo social. Isso no quer dizer que defendemos a sada do Estado do investimento em educao escolar. Pelo contrrio, concordamos com Saviani (2005, p. 174) quando afirma que no podemos abrir mo:
[...] que o Estado assuma plenamente os encargos que garantam as melhores condies possveis de funcionamento da rede de escolas pblicas [estatais]. E isto ser vivel na medida em que as organizaes populares exeram severo controle sobre a educao em geral e, principalmente, sobre 156
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
a educao ministrada nas escolas mantidas pelo Estado.
Tais palavras, pblico e privado, tm, portanto, um significado formal e normatizador, decorrendo da circunstncia de que o sentido de pblico e privado s entendido por referncia poca moderna, ao advento do modo capitalista de produo. Nossa sociedade re-introduziu tais termos de forma a mascarar o exerccio do poder do Estado por uma classe, que age em seu prprio benefcio, jogando uma cortina de fumaa sobre as relaes sociais, como se o Estado moderno fosse um bem comum e o exerccio administrativo fosse para o bem de todos. Isso fica explicitado se acompanharmos o longo processo de transio do feudalismo ao capitalismo, momento que foi o de formao e consolidao do modo capitalista de produo. fundamental entendermos, a partir da filosofia poltica, que no processo contraditrio de rompimento com o pensamento escolstico, no feudalismo, se construa uma nova matriz terica e um novo aparato ideolgico. Tal aparato buscava, por um lado, teorizar sobre a economia, a sociedade, a poltica, o Estado, o direito e o conhecimento e, por outro, atravs da implementao da ideologia liberal, consolidava o acesso e o controle do poder de Estado pela burguesia. Na impossibilidade de uma longa incurso pelo conjunto dos clssicos que problematizaram a questo, faremos uma rpida apresentao das bases filosficas que tornam possvel trilhar o caminho para o entendimento da moderna construo do conceito de cidadania. 1 RAZES HISTRICO-FILOSFICAS DA CIDADANIA No nosso entendimento, o caminho mais rico para o entendimento do conceito de cidadania encontra-se na filosofia poltica. Sabemos que antes da transio do feudalismo para o capitalismo, mais especificamente antes do advento do Estado moderno, as teorizaes sobre a sociedade, a poltica e o Estado colocavam-se no mbito da especulao filosfica, mesmo considerando que tambm ela expressava as condies de vida material dos diferentes momentos em que foi produzida.
157
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
Tomando as consideraes de Plato (428-348 a.C.), Aristteles (384-322 a.C.), Toms de Aquino (1225-1274) ou Dante (12651321), o estudo dessas questes fazia-se por referncia moral, ao abstrato universo da ao dos homens, no passando de uma metafsica da organizao social e poltica. Ainda em Erasmo de Rotterdam (1465-1536) ou Thomas More (1478-1535), a partir de um aparente humanismo geral, entretanto abstrato, como que descolado da base material, buscava-se construir utopias, no sentido de modelos ideais, do bom governante ou de uma sociedade justa. A diferenciao entre uma esfera privada e uma outra, pblica, ambas permeando a cidadania, foi reaparecendo no transcurso da longa transio do feudalismo para o capitalismo, acompanhando o processo de desagregao das relaes feudais. Por volta dos sculos XV e XVI, a descentralizao feudal foi sendo gradualmente substituda pela formao de Estados nacionais unificados e pela centralizao do poder. A nascente burguesia, fortalecida pelo incremento e ampliao do comrcio, precisava de um mercado nacional unificado e regulamentado, com o apoio de todo o povo, para o combate aos entraves feudais, liberdade para a prtica da usura, do lucro, da explorao de trabalhadores libertos da vassalagem e, enfim, possibilidade de ampla acumulao de capital. S quando emergiram historicamente os Estados nacionais, no sentido moderno desse conceito, como um Estado unitrio dotado de poder prprio independente de quaisquer outros poderes, que tambm nasceu a moderna reflexo sobre o Estado, a poltica e o exerccio do poder poltico, base e fundamento da cidadania moderna. Acompanhar a trajetria histrica dessa construo filosfica extremamente interessante, e nela tm importncia pensadores como Nicolau Maquiavel (1469-1527), Jean Bodin (1530-1596), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (16321704), Emmanuel Kant (1724-1804), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e Charles Tocqueville (1805-1859). Foram autores que, cada qual a seu tempo, teorizaram sobre o processo de transformao da sociedade e do Estado, estabelecendo as bases tericas do Estado liberal ou burgus. Foi Maquiavel quem melhor expressou as transformaes renascentistas que estavam em curso e se expressavam na formao de um Estado nacional italiano unificado e centralizado
158
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
159
Universidade Federal do Oeste do Par
nas mos de seu Prncipe. Maquiavel produziu uma reflexo terica no propriamente sobre o Estado moderno, mas sobre a formao desse Estado moderno promotor da unificao italiana. Ao tratar da formao do Estado, este era pensado como um Estado unitrio e absoluto. Com Maquiavel, a poltica, a moral e o Estado foram tirados de um plano transcendente, isto , do plano das ideias, para serem colocados num patamar imanente, mundano, estabelecido no relacionamento entre os homens, obra do cidado (GRUPPI, 1983). Se Maquiavel foi o primeiro a tratar a poltica e o Estado como construo do homem, como historicamente produzidas, as bases do que conhecemos como uma Teoria do Estado foi primordialmente obra de Jean Bodin. Este polemizou contra Maquiavel e teorizou sobre um Estado unitrio que j existia, o da Frana, centrando sua ateno sobre o consenso e a hegemonia, sobre a autonomia e a soberania do Estado moderno. Para ele, no era necessariamente nem o territrio, nem o povo, nem a lngua que definiam o Estado, mas este era constitudo essencialmente pelo poder. Para Bodin o monarca era o intrprete das leis divinas, sendo a soberania a pedra angular sobre a qual se edificava toda a estrutura do Estado e da qual dependiam as leis, os magistrados, as ordenaes, etc. O Estado, para Bodin, poder absoluto, a coeso de todos os elementos da sociedade (GRUPPI, 1983, p. 12). Assim se consolidavam, no plano ideolgico, os fundamentos de que a burguesia em ascenso precisava para consolidar-se. Num contexto rico em contradies polticas e religiosas, a teoria moderna do Estado avanou com Hobbes, que participou ativamente das inmeras polmicas de seu tempo. Para Hobbes, no estado natural, os homens se jogavam uns contra os outros, movidos pelo desejo de poder, de riquezas e de propriedades. Para ele, os seres humanos eram movidos pelo egosmo, por um perptuo e irrequieto desejo de poder e mais poder que s terminaria com a morte. Por esse desejo os homens acabariam se destruindo uns aos outros, mas, alm do egosmo, todos os homens tambm eram naturalmente iguais, e esta igualdade baseava-se no desejo universal de autopreservao. O instinto de preservao fazia com que os indivduos entrassem em acordo e vivessem em sociedade, em uma forma de cooperao que no natural, como nas organizaes sociais de abelhas ou formigas, mas artificial. Foi para evitar que os
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
homens destrussem uns aos outros, afirmava Hobbes, que surgiu a necessidade de estabeleceram entre si um acordo, um contrato, um pacto de transferncia mtua de direito, cuja validade se mantinha enquanto a conservao da vida no estivesse sendo ameaada. Por esse contrato, os membros do grupo concordavam em renunciar a seus direitos e entreglo a um soberano. O contrato era, portanto, o fundamento de um Estado absoluto, com o exerccio de um poder igualmente absoluto. Era a manifestao, portanto, do absolutismo. (GRUPPI, 1983) Hobbes filosofou sobre a natureza do homem em seu estado natural, mas acabou descrevendo o surgimento da burguesia, a formao do mercado, a luta e a crueldade que o caracterizaram. O impulso egosta, o desejo de poder, de riquezas e de propriedades, a noo do Estado como contrato foram os aspectos apreendidos por Hobbes e que eram reveladores da atividade da burguesia em formao e do carter mercantil das relaes comerciais. (GRUPPI, 1983) Manifestando o avano econmico, social e poltico da Inglaterra, a primeira concepo tipicamente burguesa, que se constitua em expresso da revoluo liberal inglesa, foi sistematizada por John Locke. Para ele, os homens no estado natural eram plenamente livres, havendo entre eles uma permanente luta que acabava no garantindo uma liberdade durvel e, por consequncia, nem mesmo a propriedade. Para garantir a propriedade, foi necessrio ao homem colocar limites sua prpria liberdade. Para tanto, os homens se juntaram em sociedades polticas e se submeteram a um governo, constituindo um Estado. Para Locke, o estabelecimento de um contrato originava, conjuntamente, a sociedade e o Estado. Em Hobbes o contrato era o fundamento do Estado absoluto; em Locke, por similitude ao contrato comercial, que podia ser desfeito se uma das partes no cumprisse o livremente contratado, o Estado ou o governo podia ser feito e desfeito. Para Locke, o governo deveria garantir primordialmente o fundamento da liberdade dos indivduos, a propriedade, mas tambm a liberdade poltica e a segurana pessoal, sem as quais seria impossvel o exerccio da propriedade e da prpria liberdade. Numa sociedade caracterizada pelo mercado, como a inglesa, evidente a base material burguesa dessa concepo: pressupunha ideologicamente que a relao entre os indivduos
160
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
161
Universidade Federal do Oeste do Par
se dava atravs de contratos de compra e de venda, da transferncia de propriedade, etc. A justificao individualista da sociedade burguesa, alicerada em relaes mercantis e contratuais, se expressava numa ideologia poltica na qual era estrita a conexo entre propriedade e liberdade: a liberdade se justificava em funo da propriedade, e esta era o alicerce da liberdade burguesa. O Estado deveria garantir a propriedade, e este no poderia tirar, de forma alguma, o poder supremo do homem sobre sua propriedade. Tem razo Gruppi (1983) em afirmar que essa viso de Locke essencialmente uma viso burguesa e que ela inaugurou a teorizao da distino entre sociedade poltica (o Estado) e a sociedade civil e, por conseguinte, entre pblico e privado (GRUPPI, 1983, p. 15). No pensamento de Locke sobre o Estado, portanto, se encontra a fundamentao moderna, capitalista, burguesa, da dicotomia entre pblico e privado, base da moderna concepo de cidadania. Foi introduzida para que o Estado preservasse a propriedade e, para justificar a ao do governo, estabeleceu a conexo entre propriedade e liberdade: a liberdade est em funo da propriedade e ela o alicerce da liberdade burguesa. Como para Locke a sociedade poltica e a sociedade civil obedeciam a normas e leis diferentes, sendo os direitos de propriedade presentes no mbito da sociedade civil, o Estado no deveria interferir; ao contrrio, lhe cabia garantir e tutelar o livre exerccio da propriedade. Essa teorizao continuou com outros autores, que avanaram teoricamente na elaborao da concepo liberal. o caso de Rousseau, que tratou da emergncia de uma concepo democrtico-burguesa do Estado. O entendimento de que existe uma relao indissocivel entre propriedade e liberdade foi aprofundado e ampliado por Kant. Em Tocqueville, encontramos o embate entre a concepo liberal e a concepo democrtica de Estado. Uma densa e historicista retomada da distino entre Estado e sociedade civil foi feita por Hegel (1770-1831), que, entendendo o Estado como fundamento da sociedade civil, seguiu um profundo e complexo caminho no mbito da Filosofia do Direito. No h como avanar nessa direo, infelizmente. Esperamos, porm, que o percurso trilhado seja suficiente para mostrar que a concepo de cidadania, aparente mediao entre pblico e privado, s faz sentido enquanto fundamentao burguesa, capitalista, do Estado moderno. uma elaborao
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
terica que apenas cumpria uma funo de justificao ideolgica burguesa, articulada como princpio fundamental do iderio liberal: liberdade, propriedade, sociedade civil e, enfim, Estado, como uma instituio contratualmente criada pelos homens para garantir a liberdade e a igualdade de direitos a todos os cidados. Na filosofia poltica burguesa, portanto, tem-se uma mera justificao ideolgica do Estado existente e a aniquilao do profundo abismo entre classes sociais antagnicas, sob uma categoria que, formalmente, reconhece todos como iguais: a cidadania. Esses conceitos de Estado democrtico, de cidado, de pblico e privado, certamente que se constituem em categorias filosficas e polticas fundamentais, mas no servem para explicar a existncia de interesses divergentes entre classes sociais com interesses e, portanto, concepes opostas. So essenciais, portanto, s diversas vertentes da concepo liberal. Enquanto parte dessa concepo de mundo, servem para fundamentar e justificar a indissociabilidade entre a liberdade e a propriedade privada, bem como a distino burguesa entre sociedade civil e Estado. Uma vez estabelecido o fundamento ideolgico da elaborao filosfica, poltica ou jurdica burguesa, transparente o carter mistificador dessas categorias: privado aparece como uma referncia aos direitos e liberdades dos indivduos, enquanto cidados; pblico, como referido constituio e competncia do Estado burgus, bem como do governo e dos servios pblicos articulados a esse Estado. Ao contrrio da ideologizao burguesa, numa perspectiva crtica deve-se conceber o Estado como um aparelho de classe a servio da burguesia, e as categorias pblico e privado, como noes ideolgicas usadas para a legitimao da propriedade privada e para possibilitar as condies de funcionamento da economia capitalista. Uma viso crtica do Estado pressupe o entendimento do contedo de classe do Estado, qual seja, que o Estado burgus um instrumento de dominao de uma minoria contra a maioria, dos proprietrios contra os no-proprietrios; que a igualdade burguesa meramente formal e que a liberdade no para todos. Foi com Marx e Engels que se deu o mais profundo e ainda insuperado desvelamento crtico do modo capitalista de produo, inclusive das concepes ideolgicas que lhes do
162
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
sustentao. Na anlise terica marxiana sobre a sociedade burguesa, o conceito de Estado certamente de importncia central, apesar de todos os estudiosos do assunto saberem, e nunca demais relembrar, que Marx e Engels no produziram uma anlise sistemtica do Estado, mas que esta foi uma problemtica permanentemente presente na elaborao tanto de Marx3 quanto de Engels4. Consideramos importante essa discusso a partir da segunda5 obra conjunta de Marx e Engels, A Ideologia Alem, escrita entre 1845 e 1846, deixada critica corrosiva dos ratos6 e publicada pela primeira vez em 1932. A partir do embate com o idealismo hegeliano, com o empirismo fenomnico e a-histrico feuerbachiano e com as utopias da esquerda hegeliana, j aparecem os aspectos fundamentais da concepo marxiana de Estado: 1 - A determinao material, econmica, do Estado; 2 - O Estado como um produto histrico dos homens, produzido no interior do prprio processo histrico de produo da vida, como um resultado da diviso do trabalho e do aparecimento da propriedade privada; 3 - O Estado simultaneamente como instrumento de exerccio do poder poltico de uma classe dominante sobre todas as demais e como escamoteador das lutas reais entre as classes, transformadas em lutas polticas;
3 As anlises de Marx relacionadas questo do Estado encontram-se presentes em seus primeiros escritos de rompimento com a perspectiva hegeliana, como Crtica da Filosofia do direito de Hegel (1843) e A questo judaica (1844). Tambm central nos chamados escritos conjunturais e histricos, como: Critica da filosofia do direito de Hegel: introduo (1844); As lutas de classe na Frana de 1848 a 1850 (1850); o Dezoito de Brumrio de Lus Bonaparte (1852); e A guerra civil na Frana (1871). destaque fundamental para o entendimento de como os interesses econmicos, de classe, conformam-se na estrutura e organizao poltica, presentes nos principais escritos econmicos, como Contribuio Crtica da Economia Poltica (1859) e em O Capital... (cujos volumes comearam a ser publicados em 1867). 4 Engels tratou demoradamente do Estado em vrios de seus escritos; entre esses uma problemtica central em: Anti-Dring (1878), A origem da famlia, da propriedade privada e do Estado (1884). 5 No se pode esquecer que a primeira obra elaborada da colaborao conjunta de Marx e Engels foi A Sagrada Famlia, escrita e publicada em 1845. 6 A frase encontra-se no Prefcio escrito para Contribuio crtica da economia poltica (MARX, 1983, p. 26).
163
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
4 - A conquista do poder poltico, isto , do poder de Estado, como etapa intermediria necessria revoluo e abolio de toda forma de dominao. Em oposio s concepes filosficas alems, Marx e Engels situaram o Estado a partir de sua base material, tratando-o como uma produo social dos homens, como resultante da produo da vida material pelos homens. Contrariamente ao idealismo da filosofia alem, centraram na vida dos homens, e no em suas ideias, o fundamento para o entendimento das relaes entre os homens e de suas relaes com a natureza (MARX; ENGELS, s/d). Contrariamente a toda forma de idealizao e eternizao das formas de existncia social, Marx e Engels, em A Ideologia Alem, vincularam o Estado ao processo histrico, como um resultado do processo de produo da vida econmica, social e poltica dos homens. Para Marx e Engels (s/d), o entendimento sobre os pressupostos materiais da histria dos homens o que explica a existncia individual e social dos homens: para viverem os homens precisam produzir os meios que satisfaam suas necessidades elementares. Trata-se da produo da prpria vida material, condio que possibilita a prpria vida individual e social (MARX; ENGELS, s/d). Na produo dos bens necessrios satisfao das necessidades de existncia dos homens, a prpria ao de satisfazer e os instrumentos usados para tanto conduzem continuamente a novas necessidades, a uma reproduo continua das condies de produo (MARX; ENGELS, s/d). Os homens que continuamente produzem e reproduzem as condies de sua prpria vida, continuamente tambm renovam a prpria vida, criando outros homens, reproduzindo-se. Trata-se da famlia, a primeira relao social e da qual decorre, com o crescimento populacional, uma ampliao das relaes sociais e a criao de novas formas de organizao social (MARX; ENGELS, s/d). Tal como o homem produz e reproduz as condies naturais e sociais de sua existncia, ele tambm tem conscincia. No se trata de conscincia pura, ideia que se autocria e se expressa, mas a conscincia como expresso da vida dos homens, como expresso do que existe para os homens. Essa conscincia um produto social, resultante da necessidade de os prprios homens se relacionarem. A forma prtica dessa conscincia a linguagem, pela qual, atravs de palavras e smbolos, os homens transmitem as suas ideias (MARX; ENGELS, s/d).
164
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
165
Universidade Federal do Oeste do Par
Com o desenvolvimento da produo, resultado do desenvolvimento das foras produtivas, aumenta o desenvolvimento da produtividade, acompanhando a ampliao das necessidades e da populao. Desse modo, desenvolveu-se a diviso do trabalho: inicialmente decorrente da prpria diviso de funes sexuais, mais tarde de uma diviso do trabalho conforme os dotes fsicos, at que se operou uma diviso entre o trabalho material e o intelectual. A partir desse momento, a conscincia pode supor-se algo mais do que a conscincia da prtica existente (MARX; ENGELS, s/d) e passa a representar qualquer coisa sem representar algo de real. Ao emancipar o trabalho intelectual do trabalho manual, a conscincia pode emancipar-se do mundo realmente existente e passar formao da teoria pura, teologia, filosofia, moral, etc. (MARX; ENGELS, s/d). Foi dessa diviso do trabalho que ocorreu uma ciso profunda entre os homens na sociedade: entre quem executa a atividade material e a intelectual, entre o gozo e o trabalho, entre a produo e o consumo (MARX; ENGELS, s/d). A diviso do trabalho implicou no somente na repartio desigual do trabalho e dos seus produtos, mas tambm no estabelecimento da propriedade privada (MARX; ENGELS, s/d). A propriedade privada, resultado e resultante da diviso do trabalho, fez com que surgisse a contradio entre o interesse do indivduo ou da famlia singular e o interesse coletivo de todos os indivduos que se relacionavam entre si, entre o interesse de grupos e o de toda a formao social. Foi para tornar possvel a manuteno da vida coletiva, isto , do conjunto da formao social, que os homens criaram o Estado, com uma forma independente, como que separada dos interesses reais do indivduo e que adquiriu a aparncia de comunidade ilusria. Em sua origem, o Estado correspondeu, assim, a uma forma social de organizao poltica que, entretanto, adquiriu a aparncia de situar-se para alm dos indivduos, como se fosse uma instituio que tivesse por objetivo a defesa do interesse comum de todos os homens (MARX; ENGELS, s/d). Constituindo-se o Estado na forma de organizao poltica entre os homens de uma mesma formao social, este teve sua base concreta nos laos que articulam socialmente os indivduos. O Estado, com a diviso social e a correspondente diviso entre as classes, passou a ser simultaneamente um
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
instrumento de exerccio do poder poltico de uma classe dominante sobre todas as demais e, ao mesmo tempo, um poder que transforma as lutas reais entre as classes em lutas meramente polticas, em formas ilusrias que escamoteiam as efetivas lutas entre as diferentes classes:
[...] entre esses interesses ressaltam particularmente os interesses das classes j condicionadas pela diviso do trabalho, que se diferenciam em qualquer agrupamento deste tipo e entre as quais existe uma que domina as restantes. Daqui se depreende que todas as lutas no seio do Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito de voto, etc., etc., so apenas formas ilusrias que encobrem as lutas efetivas das diferentes classes entre si [...] (MARX; ENGEL, s/d, p. 39).
Universidade Federal do Oeste do Par
Os interesses das classes dominantes, portanto, conformam modos determinados de essas classes utilizarem foras produtivas determinadas para garantir as condies de dominao. Disso decorre que cada etapa de desenvolvimento das foras produtivas serve de base ao domnio de uma determinada classe (MARX; ENGELS, s/d, p. 47). O poder social dessa classe, em cada momento histrico, encontra regularmente a sua expresso prtica sob a forma idealista no tipo de Estado prprio de cada poca (MARX; ENGELS, s/d, p. 47). Como no se trata de um movimento linear, cumulativo, progressivo, mas imbricado por profundas contradies entre as classes, cada qual buscando defender seus interesses, Marx e Engels (em A Ideologia Alem) articularam a anlise sobre o Estado problemtica da Revoluo. No mbito poltico, as classes buscam a conquista e o controle do poder de Estado, condio para que se superem as formas sociais anteriores. Foi assim que ocorreu no modo de produo escravista, no modo de produo feudal e assim que tambm ocorre no modo capitalista de produo. Com o capitalismo, chegou-se a uma total subordinao do trabalhador ao capital: este foi sendo separado de todos os seus vnculos produtivos com a terra, com os meios de produo, com a organizao produtiva e at com o prprio resultado do trabalho, transformado em mercadoria. Isso possibilitou que o trabalhador se transformasse
166
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
em um homem livre, mas livre apenas para vender sua fora de trabalho. O controle do poder de Estado pelo proletariado a ditadura do proletariado foi entendido como uma etapa intermediria, mas necessria, revoluo e abolio de toda forma de alienao e de dominao:
[...] toda a classe que aspira ao domnio, mesmo que o seu domnio determine a abolio de todas as antigas formas sociais da dominao em geral, como acontece com o proletariado, deve antes de tudo conquistar o poder poltico para conseguir apresentar o seu interesse prprio como sendo o interesse universal [...] (MARX; ENGELS, s/d, p. 40).
A abolio da alienao e da dominao s pode ser conquistada sob duas condies prticas: a) que a alienao se transforme num poder insuportvel que torne inevitvel a revoluo, mas para que isso ocorra preciso criar uma massa de homens totalmente privada de propriedade, em contradio com o mundo da riqueza; b) que haja um grande desenvolvimento das foras produtivas, suficientemente amplo para colocar a existncia real dos homens no mbito da histria mundial e no no da vida local (MARX; ENGELS, s/d, p. 41-42). Para Marx e Engels (s/d, p. 42):
[...] este desenvolvimento das foras produtivas uma condio prtica prvia absolutamente indispensvel, pois, sem ele, apenas se generalizar a penria e, com a pobreza, recomear paralelamente a luta pelo indispensvel e cair-se- fatalmente na imundcie anterior. [...]
Universidade Federal do Oeste do Par
Pode-se certamente discordar da anlise marxista, porm os vrios sculos de domnio burgus evidenciam que esta classe ocupou o poder de Estado impondo seus interesses, mas criando uma carapaa ideolgica o Estado-nao moderno alicerado em pressupostos formais de igualdade perante a lei, sustentada sob a falcia da democracia representativa e de sua expresso dada pela cidadania. Mas essa concepo de democracia e o exerccio do poder do Estado est cada vez mais enfraquecido, no mais abarcando todos os rinces urbanos e rurais. Cada vez mais debilitado, o Estado no consegue mais camuflar
167
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
que no representa grande parte da populao, submetida ao desemprego, fome, misria e violncia. Numa luta aberta e que ganha as ruas, os becos, as metrpoles e cidades, o campo e a floresta, segmentos crescentes da populao no reconhecem a defesa de seus interesses pela maioria dos representantes no Poder Executivo, Legislativo e Judicirio. Fica cada vez mais evidente que essa representao no passa da defesa dos interesses de uma minoria os possuidores de terra, de negcios, de aes, de bens e de dinheiro. Assim, em vista das condies que hoje expressam a luta de classes, geradas pelas novas formas de explorao do capital, cada vez mais presente a necessidade de se encontrar novas, criativas, avanadas e radicais formas de luta. 2 A TICA: UM TEMA DA MODA OU UM TEMA FILOSFICO E HISTRICO?7 Da mesma forma que o conceito de cidadania, tambm a tica tem sido um tema muito divulgado pela mdia. Tornouse um tema da moda. Apesar dessa apropriao miditica e apressada sobre a tica, acreditamos que a melhor forma de abord-la recolocando-a no mbito do campo do conhecimento em que historicamente tem sido tratada e analisada: a Filosofia. Para incio de conversa, a vida cotidiana coloca-nos questes, e temos que tomar opes quanto ao que e como fazer na vida, nos estudos, no trabalho, na nossa ao no mundo e na sociedade. So desafios e questes prticas que animam nossa ao e estabelecem os parmetros e limites de nossas relaes. Os filsofos buscam cercar tais questes mostrando que somos levados a responder terica e praticamente aos problemas com que nos defrontamos. A maioria dos compndios de filosofia, em sua anlise sobre o verbete tica, iniciam por cercar as situaes e perguntas que temos que responder. Tomemos apenas trs exemplos que esto disponveis no mercado editorial para avanar na discusso. Primeiramente, o manual de filosofia de Marilena Chau, Convite Filosofia. Nos pargrafos iniciais do captulo que trata sobre a tica, constatamos que a autora, para
7 As reflexes que seguem retomam o captulo publicado por Jos Claudinei Lombardi com o ttulo tica, educao e os Parmetros Curriculares Nacionais: algumas reflexes histrico-filosficas, no livro tica e Educao, de Lombardi e Goergen (2005).
Universidade Federal do Oeste do Par
168
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
falar do assunto, inicia por apontar a CONSCINCIA MORAL e depois passa a expor sobre os juzos de valor e, na sequncia, sobre a tica (CHAUI, 1997). O segundo o de Maria Lucia de A. Aranha e Maria Helena Pires Martins, Temas de Filosofia, que abre o captulo sobre tica com uma epgrafe sobre o nosso to propalado jeitinho brasileiro, para igualmente fazer questes sobre nossas aes, que so carregadas de valor, levando a autora a discutir a MORAL e, depois, a TICA (ARANHA; MARTINS, 1998, p. 116). Um autor e uma obra que tambm consideramos referncia para a discusso do assunto, e este o terceiro exemplo, o filsofo mexicano Adolfo Snchez Vzquez e seu livro tica, que ajuda a elucidar um tema to denso, profundo e complexo. Vzquez (2002) entende que a tica deita suas razes na moral e que esta, por sua vez, tratada como forma ou sistema de regulamentao das relaes entre os indivduos e entre estes e a comunidade. Contrapondo-se s tentativas especulativas de construo de um sistema normativo nico e universal, defende que se aborde a moral como uma expresso do comportamento humano e cujos agentes so os indivduos concretos, historicamente determinados (VZQUEZ, 2002). No Prlogo, escrito em 1969, assim explicita seu entendimento quanto ao tratamento que se deve dar ao tema, posicionandose contrariamente a transformar a tica num cdigo de normas:
Nada mais alheio nossa inteno do que nos refugiarmos num neutralismo tico muito em voga hoje em certas correntes , mas igualmente no pretendemos ceder a um normativismo ou dogmatismo tico que transforma a tica, mais do que numa teoria da moral, num cdigo de normas. [...]
Universidade Federal do Oeste do Par
Examinando uma srie de questes cruciais de tica, procuramos expor diversas e at contrrias posies, no ecltica mas criticamente [...] [VZQUES, 2002, p. 9-10]
Pelo exposto, no equivocado afirmar que os autores, geralmente, discutem o assunto com base na moral, para depois se chegar tica. Por rigor de ofcio filosfico levam-nos a entender que, apesar da proximidade, os conceitos de Moral e tica so diferentes. Tomemos por exemplo a distino feita por Aranha e Martins (1998, p. 117):
169
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Na linguagem comum, costumamos usar os conceitos de tica e moral como se fossem sinnimos. No grave que continuemos a denomin-los indistintamente, apesar de existir uma diferena entre eles. A moral o conjunto de regras de conduta assumidas pelos indivduos de um grupo social com a finalidade de organizar as relaes interpessoais segundo os valores do bem e do mal. A tica, ou filosofia moral, mais abstrata, constituindo a parte da filosofia que se ocupa com a reflexo sobre as noes e princpios que fundamentam a vida moral.
Sendo conceitos distintos, necessrio recuperar o significado de cada um desses termos, separadamente, de modo a avanarmos em nossa discusso. Tomemos o Dicionrio da Lngua Portuguesa, de Aurlio B. de H. Ferreira, e dois Dicionrios de Filosofia, de Nicola Abbagnano e de Jos Ferrater Mora, para nos auxiliar nessa empreitada. Tomemos, primeiramente, o termo MORAL:
Dicionrio da Lngua Portuguesa Moral. [Do lat. morale, relativo aos costumes.] s.f. 1. Filos. Conjunto de regras de conduta consideradas como vlidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada [...] 2. Concluso moral que se tira de uma obra, de um fato, etc. S.m. 3. O conjunto das nossas faculdades morais. 4. O que h de moralidade em qualquer coisa. Adj. 5. Relativo moral. 6. Que tem bons costumes [...] (FERREIRA, [s.d.], p. 944) Dicionrios de Filosofia Moral (lat. Moralia; ingl. Morals; franc. Morale...) 1. O mesmo que tica. 2. O objeto da tica, a conduta enquanto dirigida por normas, o conjunto dos mores. Moral (gr. ...; lat. Moralis; ingl. Moral; franc. Moral; Al. Moral). Este adjetivo tem em primeiro lugar os dois significados correspondentes aos do substantivo moral, isto , 1o. atinente doutrina tica, 2o. atinente conduta e portanto susceptvel de avaliao... (ABBAGNANO, 1982, p. 652). [MORA no incluiu o termo em seu Dicionrio]
Universidade Federal do Oeste do Par
170
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Assim, de acordo com os dicionrios, moral um termo que, quando substantivo, designa o prprio costume ou conjunto de costumes, no sentido de conjunto de normas ou regras socialmente construdas; como adjetivo designa o que relativo moralidade, conduta e aos bons costumes. Ao tratar sobre Moral, o dicionrio de Abbagnano (1982) no o distingue da teoria ou da conduta tica. Com relao ao conceito de TICA:
Dicionrio da Lngua Portuguesa tica. [fem. Substantivado do adj. tico.] Estudo dos juzos de apreciao que se referem conduta humana [...]. tico. [Do gr. ethiks, pelo lat. ethicu.] Adj. Pertencente ou relativo tica. (FERREIRA, [s.d.], p. 591) Eto. [Do gr. thos, eous-ous] El. Comp. = costume, uso [...]. (FERREIRA, [s.d.], p. 591) Dicionrios de Filosofia tica (gr. [Ta thik]; lat. Ethica; ingl. Ethics; franc. thique; Al. Ethik). Em geral, a cincia da conduta. (ABBAGNANO, 1982, p. 360-367) tica. O termo tica deriva de [thos], que significa costume, e, por isso, a tica foi definida com frequncia como a doutrina dos costumes [...]. (MORA, 1998, p. 245-252)
171
Universidade Federal do Oeste do Par
Segundo os dicionrios, tica deriva do grego thos e significa, por um lado, modo de ser que construdo historicamente pelos homens; mas o principal sentido usado indica estudo ou anlise dos costumes, da conduta humana. Para alm das explicitaes dos dicionrios, retornemos a Vzquez (2002), para melhor debater a tica. Para esse autor, tica entendida como teoria ou cincia do comportamento moral dos homens (VZQUEZ, 2002, p. 23), e a Moral o objeto de estudo da tica. Completa Vzquez (2002, p. 24), afirmando que: a tica no a moral e, portanto, no pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescries; sua misso explicar a moral efetiva e, nesse sentido, pode influir na prpria moral. A recuperao da dimenso social e histrica da tica por Vzquez (2002) de extrema importncia. Enquanto muitos livros de filosofia exemplificam como a Filosofia Moral (ou a tica) foram tratadas pelos diferentes pensadores, sem se reportar aos contextos que viveram, Vzquez (2002) relembranos que esse tema de estudo tem um carter social e histrico.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Sendo assim, inferimos que, quando so utilizados sem essa devida contextualizao, tais conceitos, por trs de uma aparente neutralidade e naturalidade, escondem uma forma de controle, na maioria das vezes ideolgica, de que as instituies sociais se utilizam para escamotear a viso moral e tica que provm de uma determinada viso de sociedade e de classe social: no nosso caso, a capitalista e burguesa. 3 A TICA PARA ALM DO ABSTRATO E UNIVERSAL: A HISTORICIDADE DO CONTEDO E DA FORMA Como Vzquez (2002), consideramos que tratar do tema TICA exige que a coloquemos como um produto social e histrico dos homens. Essa dimenso histrico-social no deve partir do que os homens dizem, imaginam ou pensam, nem do simples discurso sobre tica, no pensamento ou na representao. O ponto de partida deve ser buscado nas condies reais de existncia dos homens. com base na realidade dos homens que podemos entender seu processo de vida real, bem como as representaes por eles produzidas e como a tica pensada e teorizada. esse o quadro terico que possibilita, a partir do referencial metodolgico e terico de Marx e Engels, entender a moral e, por consequncia, a tica. Estas surgem e desenvolvemse como decorrncia do processo de transformao histrico da sociedade. A forma geral e sinttica do desenvolvimento histrico foi exposta em A Ideologia Alem, como j apontamos neste texto. Sendo assim, tal processo explica a transformao histrica dos modos de produo, a realizao desses nas mais diferentes formaes sociais, como os homens criam suas normas, valores e padres de conduta, isto , sua MORAL, e como adquirem a forma terica de uma cincia do comportamento moral dos homens, ou seja, de uma determinada TICA. Em outras palavras, toda organizao social humana e cada sociedade em sua particularidade e historicidade institui uma moral, qual seja, estabelece valores que dizem respeito ao que bom e ao que mal, ao que permitido e ao que proibido, ao que correto e ao que no socialmente validado. Nas formaes sociais que romperam a plena igualdade entre os homens e estabeleceram diferenas de castas,
172
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
173
Universidade Federal do Oeste do Par
hierarquias ou classes, podem existir vrias morais, cada uma delas referidas aos valores de cada um dos agrupamentos sociais existentes, sendo que as normas, valores e padres da classe econmica, social e poltica dominante tendem a conformaremse como dominantes e impor-se hegemonicamente sobre todos os homens. Certamente toda formao social que existiu ou existe historicamente produziu MORAL. Entretanto, a existncia da moral no significa a elaborao explcita de uma TICA, de uma filosofia moral, de uma teoria que exponha, discuta, problematize e interprete os valores morais (CHAUI, 1997). A reflexo tica surgiu na Grcia antiga quando uma classe de homens liberados do trabalho, graas ao trabalho escravo de outros, pde se dedicar ao trabalho intelectual, elaborao terica, busca da sabedoria, do bem, do bom e do belo. Nesse ponto, seria importante fazermos um rpido passeio por uma filosofia contextualizada para entendermos o carter histrico da FILOSOFIA MORAL. Entretanto, na impossibilidade sequer de um breve passeio histrico pelos principais modos de produo e das concepes filosficas neles produzidas, vale registrar que o estudo histrico e contextualizado da moral e da tica fundamental para o adequado entendimento de que no h uma tica absolutamente abstrata e geral. Cada formao social ao longo da histria produziu a FILOSOFIA MORAL adequada ao modo de produo da vida material e espiritual dos homens. A maioria das formaes sociais, alm da sua constituio histrica, possui uma estrutura e organizao social que explicita as normatizaes e regulamentaes MORAIS e a expresso dessas em formulaes TICAS que, apesar da aparncia abstrata e universal, respondem concretamente s DIFERENAS DE CLASSES, que explicam a conformao da prpria sociedade e explicitam o CARTER IDEOLGICO das teorias produzidas social e historicamente. Todas as formaes sociais e civilizaes produziram contedos e formas para o julgamento das coisas e dos fatos, geralmente entendendo-os como bons ou maus segundo o que representavam para os homens. O que afirmamos que no existe uma moral imparcial, uma tica acima das classes. Engels (s/d) expressa muito claramente essa afirmao, em sua polmica obra Contribuio ao problema da habitao, sobre
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
a problemtica da transformao dos princpios em normas, e destas, em lei. Afirma Engels (s/d) que a justia, tomada como princpio regulador fundamental da sociedade, no pode ser tomada de forma abstrata e natural. Ao contrrio dos que assim a concebem, afirma que o direito exprime as condies de vida da sociedade, as relaes econmicas entre os homens:
[...] Os homens esquecem que seu direito se origina em suas condies econmicas de vida, assim como esqueceram que eles prprios procedem do mundo animal. [...] A partir desse instante, o desenvolvimento do direito... no reside seno no desejo de aproximar cada dia mais a condio dos homens... ao ideal da justia, justia eterna. E essa justia sempre a expresso no plano ideolgico [...] das relaes econmicas existentes, s vezes em seu sentido conservador, outras vezes em seu sentido revolucionrio. A justia dos gregos e dos romanos considerava justa a escravatura; a justia dos burgueses de 1789 exigia a abolio do feudalismo, que considerava injusto... A ideia de justia eterna modificase, pois, no s segundo o tempo e o lugar, mas tambm segundo as pessoas [...] (ENGELS, s/d, p. 173).
Universidade Federal do Oeste do Par
Sendo uma criao humana, tal qual a justia, tambm a TICA reflete as condies materiais de existncia dos homens, seu processo de desenvolvimento e das relaes existentes entre os homens e a natureza e entre os prprios homens. Assim sendo, os conceitos morais mudam da mesma forma que mudam as condies materiais de existncia do homem, suas foras de produo e suas relaes produtivas. Marx e Engels (s/d), conforme citado, afirmavam que em uma sociedade de classes os juzos morais e seus fundamentos diferem segundo as classes, e que as ideias dominantes em uma poca so as ideias das classes dominantes, o que faz com que os interesses e necessidades das diferentes classes sociais permaneam escondidos por trs de uma ideologia aparentemente comum. Encontramos no mundo antigo um imperador e um escravo defendendo a mesma filosofia; e, no mundo atual, burgueses e proletrios advogando, s vezes, o
174
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
mesmo ideal. Apesar de teoricamente ser possvel que uma sociedade escravista estabelea princpios morais baseados na fraternidade e na igualdade entre os homens, essa situao s pode existir por uma imposio ideolgica que camufla as reais condies de vida dos homens nessa sociedade. Somente quando a explorao do homem pelo homem for abolida e toda a humanidade trabalhar pelo interesse comum de todos os homens, a tica existente ser transformada em algo que se encontre alm de toda possibilidade de simples especulao mental. Somente ento a sociedade ir ser regida pelo princpio: de cada um segundo suas possibilidades; a cada um segundo suas necessidades8. Para encerrar, gostaramos de reafirmar nossa convico de que, no momento em que vivemos, de profunda crise estrutural do modo capitalista de produo, quando tenebrosos embates de todo tido de fundamentalismos so visveis em todo o mundo, impe-se como tarefa ticopoltica de todo educador e educando a defesa de uma educao pblica, gratuita, laica e competente. Para alm de contedos simplistas, diludos numa pedagogia da forma, fundamental a defesa da educao pblica, alicerada nos contedos. Sendo a escola uma instituio historicamente determinada, como uma construo humana que se articula ao processo de produo das condies materiais de sua existncia, como uma dimenso da realidade humana, para alm da mera reproduo da sociedade burguesa, pode a educao articular-se plenamente na construo de uma nova sociedade (SAVIANI, 1991, p. 105). Para tanto, o educador precisa romper com as pedagogias da forma, vinculando sua
Universidade Federal do Oeste do Par
8 Marx e Engels nunca estabeleceram uma descrio detalhada do comunismo, mas o definiram como projeto poltico estratgico da organizao poltica do proletariado, que para eles centrava-se no Partido Comunista. Em linhas gerais, pressupuseram que seria um sistema econmico fundado na propriedade comum dos meios de produo, na eliminao das desigualdades de classe e na destruio do Estado e estabelecimento de uma sociedade autogestionria, ou governada coletivamente. Tinham como pressuposto uma formao social em que cada um trabalhasse em prol da coletividade, segundo suas condies, capacidades e possibilidades, recebendo o suficiente para suprir todas as suas necessidades fsicas e intelectuais, biolgicas e espirituais. Superando o reino da necessidade, com sua emancipao, o homem construiria um reino da liberdade e da abundncia, instaurando a repartio segundo o princpio de a cada um segundo sua necessidade. Nota da organizao da srie: os autores se referem, nesta nota, ao princpio mencionado no texto, que expressa a essncia da sociedade comunista, na concepo de Marx e Engels.
175
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
prtica e sua teoria, isto , sua prxis, a uma perspectiva crtica e revolucionria do homem e do mundo existente. eternizao capitalista dada por uma perspectiva terica defensora do fim da histria, preciso demonstrar que as aceleradas transformaes em curso desvelam um processo de constante recomear de uma histria marcada pela contradio. Para alm de uma escola mistificadora e conformista, como educadores precisamos acreditar no futuro, submetendo o presente a uma profunda, radical e rigorosa crtica que, desvinculando-se de tudo o que antiquado e caduco, colabore com o processo de construo do novo. essa a recomendao do reconhecido filsofo e educador polaco Bogdan Suchodolski (1992, p. 130):
[...] a juventude tornar-se- melhor ou pior consoante o modo como seremos capazes de organizar as suas atividades concretas no meio em que vive [...] para que se torne apta a realizar as tarefas futuras e conforme o que soubermos fazer para facilitar o desenvolvimento interior dos jovens. o nico modo de desenvolver as foras criadoras da juventude, de a libertar das peias provocadas pela desiluso que a leva a afirmar nada se pode fazer, portanto no vale a pena fazer o quer que seja. o nico processo para limitar as tendncias dos jovens a basearem a sua vida na exclusiva satisfao das necessidades materiais, o nico recurso para lutar contra um cinismo que hoje, na maior parte das vezes, uma forma de protesto contra o que est mal na vida, mas que corre o risco de se tornar o pior dos males.
Universidade Federal do Oeste do Par
No que diz respeito nossa prtica educativa, como professores e alunos, em lugar de uma escola onde professores fingem que ensinam para alunos que fingem que aprendem, centrada na forma e no no contedo, preciso propiciar a todos os homens o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. preciso romper com uma educao aligeirada e simplista, com o comodismo e a apatia, devolvendo aos homens a possibilidade de colocar-se como construtores de seu prprio futuro. Portanto, discutir
176
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
abstratamente tica, sociedade e cidadania, sem relacion-las com os contextos sociais e histricos, um trabalho que no contribui para a emancipao humana. Devemos, portanto, recha-lo e question-lo. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de Filosofia. So Paulo: Mestre Jou, 1982. ARANHA, Maria Lcia de A.; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. 2. ed. So Paulo: Moderna, 1998. CHAUI, Marilena. Convite Filosofia. So Paulo: tica, 1997. DALLARI, Dalmo. Direitos humanos e cidadania. So Paulo: Moderna, 1998. ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clssica alem. In: MARX, K.; ENGELS, F. Obras escolhidas. Vol. 3. So Paulo: Alfa-Omega, s.d.. ENGELS, F. Contribuio ao problema da habitao. In: MARX, K.; ENGELS, F. Obras escolhidas. Vol. 2. So Paulo: Alfa-Omega, s.d., p. 105-182. FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo dicionrio da lngua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s/d. GRUPPI, Luciano. Tudo comeou com Maquiavel (as concepes de Estado em Marx, Engels, Lnin e Gramsci). Porto Alegre: L&PM, 1983. HOBSBAWM, Eric. J. A era das revolues: Europa 1789-1848. 5. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. LOMBARDI, J. C. (org.). Globalizao, ps-modernidade e educao: histria, filosofia e temas transversais. Campinas: Autores Associados/HISTEDBR; Caador, SC: UnC, 2001. LOMBARDI, J. C. e GOERGEN, P. L. (orgs.). tica e educao: reflexes filosficas e histricas. Campinas: Autores Associados/ HISTEDBR, 2005. LOMBARDI, Jos Claudinei. Pblico e privado como categorias de anlise da educao? Uma reflexo desde o marxismo. In:
177
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
LOMBARDI, J. C.; JACOMELI, M. R. M.; SILVA, T. M. T. da. O pblico e o privado na histria da educao brasileira: concepes e prticas educativas. Campinas: Autores Associados, 2005. MARX, KARL. Contribuio Crtica da Economia Poltica. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1983. MARX, Karl; ENGELS, F. A Ideologia Alem. 3. ed. Lisboa, Portugal: Presena, s/d. MORA, Jos Ferrater. Dicionrio de Filosofia. So Paulo, SP: Martins Fontes, 1998. SANFELICE, J. L. A problemtica do pblico e do privado na Histria da Educao no Brasil. In: LOMBARDI, J. C.; JACOMELI, M. R. M; SILVA, T. M. da. (orgs.). O pblico e o privado na histria da educao brasileira: concepes e prticas. Campinas: Autores Associados/HISTEDBR/UNISAL, 2005. ______. Da escola pblica estatal burguesa escola democrtica e popular: consideraes historiogrficas. In: LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D.; NASCIMENTO, M. I. M. (orgs.). A escola pblica no Brasil: histria e historiografia. Campinas: Autores Associados: HISTEDBR, 2005a. SANTANA, Marcos Silvio de. O que cidadania. Disponvel em: http://www.advogado.adv.br/estudantesdireito/fadipa/ marcossilviodesantana/cidadania.htm. Acesso em 21/10/2007. SAVIANI, D. Educao e questes da atualidade. So Paulo: Livros do Tatu/Cortez, 1991. ______. O pblico e o privado na histria da educao brasileira. In: LOMBARDI, J. C.; JACOMELI, M. R. M.; SILVA, T. M. da. (orgs.). O pblico e o privado na histria da educao brasileira: concepes e prticas. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEDBR: UNISAL, 2005. SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionrio de conceitos histricos. So Paulo: Contexto, 2005. SUCHODOLSKI, Bogdan. A pedagogia e as grandes correntes filosficas: a pedagogia da essncia e a pedagogia da existncia. 4. ed. Lisboa, Portugal: ltima Edio, 1992. TONET, Ivo. Educao, cidadania e emancipao humana. Iju, RS: Ed. Uniju, 2005.
178
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
______. Educao, Cidadania e Emancipao Humana. Tese (Doutorado em Educao). Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho, Marlia-SP, 2001. VZQUEZ, Adolfo Sanchez. tica. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: BOTTOMORE, Tom (ed.). Dicionrio do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. BRASIL. Parmetros curriculares nacionais: apresentao dos temas transversais: tica. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. ______. Parmetros curriculares nacionais: ensino mdio. Braslia, DF: MEC/Secretaria de Educao Mdia e Tecnolgica, 1999. ______. Parmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introduo aos parmetros curriculares nacionais. Braslia, DF: MEC/SEF, 1998. ______. Parmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentao dos Temas Transversais. Braslia, DF: MEC/SEF, 1998. ______. Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais: introduo aos parmetros curriculares nacionais. Braslia, DF: MEC/SEF, 1997. BUSQUETS, Maria Dolors et al. Temas transversais em educao: bases para uma formao integral. 6. Ed. So Paulo: tica, 2001.
Universidade Federal do Oeste do Par
CUNHA, Luiz Antonio. Os parmetros curriculares para o ensino fundamental. Convvio social e tica. Cadernos de Pesquisa, n. 99, So Paulo, nov. 1996, p. 60-72. DELORS, Jacques et al. Educao: um tesouro a descobrir. 6. ed. So Paulo: Cortez; Braslia, DF: MEC /UNESCO, 2001. FREITAS, Helena C. L. de. Formao de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de formao. Educao e Sociedade: Revista de Cincia e Educao, v. 23, N. 80, Campinas, setembro/2002, p. 137-168.
179
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
GALLO, Silvio (coord.). tica e cidadania: caminhos da filosofia (elementos para o ensino de filosofia). Campinas: Papirus, 1997. JACOMELI, Mara Regina Martins Jacomeli. PCNs e temas transversais: anlise histrica das polticas educacionais brasileiras. Campinas: Alnea, 2007. LOMBARDI, J. C. (org.). Pesquisa em educao: histria, filosofia e temas transversais. Campinas: Autores Associados/HISTEDBR; Caador, SC: UnC, 1999. MARX, K. Textos filosficos. Lisboa, Portugal: Estampa, 1975. ______. A misria da filosofia. So Paulo: Global, 1985. NORONHA, Olinda Maria. Polticas neoliberais, conhecimento e educao. Campinas: Alnea, 2002. SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educao: trajetria, limites e perspectivas. Campinas: Autores Associados, 1997. SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educao: por uma outra poltica educacional. Campinas: Autores Associados, 1998. VELLOSO, Jacques (org.). Quem pesquisa o qu em educao 1998. Braslia, DF; So Paulo: ANPEd, 1999.
Universidade Federal do Oeste do Par
180
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
Texto 6 DIVERSIDADE BIOCULTURAL: CONVERSAS SOBRE ANTROPOLOGIA(S) NA AMAZNIA
Jane Felipe Beltro Denise Pahl Schaan Hilton Pereira da Silva1
1 ANTROPOLOGIA(S) E DIVERSIDADE BIOCULTURAL Diversidade biocultural a pedra de toque dos profissionais que trabalham no campo da(s) Antropologia(s), especialmente na Amaznia, pois implica em conversar sobre a pluralidade de sociedades existentes no Brasil. Pluralidade que salta aos olhos e se apresenta como um raro mosaico, que nem sempre compreendido como deveria. Para trabalhar a diversidade na Antropologia preciso considerar que a(s) cultura(s) mantida(s) socialmente se constituem como teia(s) de significados que enlaa(m) os humanos em sua trama e os distinguem a partir do conjunto de comportamentos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam as diversas sociedades ou grupos sociais, o que abrange, para alm das letras e das artes, os modos de vida, as maneiras de viver e conviver, os sistemas polticos, jurdicos, religiosos, econmicos e sociais, as tradies, os valores e as crenas (GEERTZ, 1989). Conjunto que, eleito socialmente, caminho constitutivo de identidades diferenciadas que se apresentam de forma sui generis (nicas) e que devem ser respeitadas como vias legtimas de estarem no mundo, equivalentes a quaisquer outras formas de viver. Portanto, a diferena que aponta para a diversidade biocultural deve ser pensada como equivalente, jamais como desigualdade! Assim refletindo, pode-se pensar os humanos como seres integrados socialmente de tal maneira
1 Jane Felipe Beltro mestre em Antropologia pela UnB (Universidade de Braslia) e doutora em Histria pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Denise Pahl Schaan doutora em Antropologia Social pela University of Pittsburgh. Hilton Pereira da Silva doutor em Bioantropologia pela Ohio State University. Todos so professores do Programa de Ps-Graduao em Antropologia da UFPA (Universidade Federal do Par), atuando no NAEA (Ncleo de Altos Estudos Amaznicos) dessa instituio.
181
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
que se torna impossvel distinguir o animal biolgico do animal cultural, pois as fronteiras se apresentam a cada dia mais rasuradas, borradas, fato que requer referenciais sofisticados para empreender anlises antropolgicas. Parafraseando Doudou Dine (2006)2, que, referindo provrbio senegals, diz: [] noite, na floresta, quando os ramos das rvores se quebram, as razes se abraam [...], podemos pensar as rvores como as mangueiras (que o colonizador importou de longe e que ns transformamos em smbolo no Par), nas quais cada ramo pode ser tomado como povos que, na Amaznia, ainda combatem o colonialismo interno e externo para livrar-se da vulnerabilizao qual foram/so submetidos e que, por razes histricas, lutam contra o grande cerco de paz (SOUZA LIMA, 1995) imposto por muitos, como o fazem os povos indgenas e as populaes tradicionais aqui compreendidas como quilombolas, ribeirinhos e assentados, entre outros, que lutam pela manuteno de seus territrios. O problema que as mangueiras no oferecem sombra como antes e esto, em geral, cheias de erva de passarinho, erva que se constitui em impedimento unio de povos, os quais se tornam antagnicos e combatem entre si, como frequentemente assistimos. A metfora senegalesa pode ser lida primeiro para voltar s razes profundas como os princpios universais pautados por amor, compaixo, fraternidade, solidariedade, justia e demais sentimentos profundos que so compartilhados por todos os povos para evitar que os galhos se rompam, se quebrem; segundo, preciso conservar as mangueiras frondosas e com vitalidade, resguardando suas singularidades, porque nenhuma das centenrias rvores, aqui ou alhures, sobrevive com um nico ramo; terceiro, devemos transformar as mangueiras em ramos dourados que abriguem a diversidade compreendida pelas raas, etnias, culturas e religies, entre tantos outros sistemas considerados necessrios vida com qualidade. Quem sabe assim, de maneira harmoniosa, as mangueiras plantadas e preservadas crescero em busca de alcanar a plenitude; e
2 Dine foi diretor da Diviso de Dilogo Intercultural da UNESCO, responsvel pelos programas sobre as estradas da seda, o trfico de escravos e a escravido, o dilogo inter-religioso e a interculturalidade do reino de Al-Andalus. Atual relator das Naes Unidas contra o racismo, a discriminao, a xenofobia e a intolerncia.
182
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
quarto, as mangueiras podem ser vistas como o Par, a Amaznia e o Mundo, e ns devemos ser ramos, flores e frutos de nosso prprio cultivo. 2 A BIOANTROPOLOGIA E O FASCNIO DAS ORIGENS A histria da origem dos seres humanos sempre gerou grande fascinao. At hoje muitos interessados no tema tm problemas nas escolas religiosas em que estudam ou lecionam, por causa disso, e o catecismo se torna um problema para quem pergunta demais e acredita pouco nos tradicionais livros sagrados. Os bioantroplogos jamais aceitam respostas prontas e sempre tm enorme curiosidade sobre o mundo. Quer-se mesmo ir a todos os lugares, conhecer todas as gentes e saber como eram as coisas no passado e como sero no futuro. Inquietam-se sempre com a existncia de pobres e ricos, pessoas com e sem acesso a sade, adultos que no sabem ler, perdendo assim muitas possibilidades de conhecer e aprender sobre tudo que h e as aparentes diferenas entre as pessoas. Possivelmente por isso alguns profissionais entre ns acabam se envolvendo com ensino, com a rea da sade e com a histria evolutiva humana. A Antropologia , por natureza, uma rea de inquietao, na qual h muitssimo mais perguntas do que respostas. um campo dinmico, que se constri lentamente e muda com muita rapidez. A Bioantropologia, parte da Antropologia que se dedica a entender, do ponto de vista evolutivo, desde o passado mais remoto dos seres humanos e seus ancestrais at o impacto da sociedade contempornea em nossa sade e sobrevivncia futura, um daqueles campos fascinantes de estudo que pode levar qualquer um de ns a alguns dos cenrios mais espetaculares do planeta, como a Garganta de Olduvai, na Tanznia, as montanhas do Witswaterand e a praia entre dois oceanos, onde ficam Blombos, na frica do Sul, as cavernas de Choukoutien, na China, o deserto de Atacama, no Chile, a regio de Atapuerca na Espanha, ou Monte Alegre no Par, Brasil. Pode ajudar a desvendar crimes por meio da Osteobiografia, desenvolver polticas pblicas atravs da biologia humana, e entender porque somos todos to diferentes e ao mesmo tempo to iguais, por meio da Paleoantropologia e da Gentica Antropolgica.
183
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
Diversidade, alis, o pano de fundo de todos os estudos bioantropolgicos. Busca-se sempre entender como a seleo natural e nossa cultura nos fazem singulares e como nossas sociedades lidam com essa variao. Somos todos diferentes, cada um nico; por isso, discutir e compreender a variabilidade humana so to importantes. Nossas diferenas mais relevantes no esto entre os grupos, como pode fazer crer a ideia de raas humanas, mas dentro dos grupos, das famlias, das vilas. A perspectiva de que possvel caracterizar populaes inteiras como raas estanques uma falcia que nasceu no sculo XVI como um dos resultados das grandes navegaes e da formao dos imprios coloniais, adquiriu fora nos dois sculos seguintes por causa das migraes foradas entre os continentes (escravido africana, principalmente) e atingiu maturidade ao longo do sculo XIX por conta dos movimentos eugenistas3, que se misturaram a aes terrveis na primeira metade do sculo XX (o holocausto judaico na Alemanha, que tambm levou morte milhares de negros, ciganos, homossexuais e diversos outros grupos minoritrios europeus), s polticas racistas nos EUA (Estados Unidos) e ao apartheid na frica do Sul. Tal perspectiva foi cientificamente destruda pela biologia nos anos que se seguiram Segunda Guerra Mundial (1939-1945), graas descoberta do DNA e aos avanos da genmica (PENA, 2008; MAGNOLI, 2009). Podemos nos perguntar: mas no h negros e brancos? Estas no so as raas humanas consagradas at nos recenseamentos? A resposta primeira pergunta pode at ser sim, mas a resposta segunda certamente NO! As diferenas observadas na cor da pele, dos olhos e dos cabelos das pessoas so resultantes, principalmente, da quantidade de melanina que cada um tem. A melanina uma substncia natural que ajuda a proteger a pele dos raios do sol, que podem causar danos graves ao organismo, como queimaduras e cncer. As diferentes cores da pele so, em geral, ligadas aos continentes de onde as pessoas e seus ancestrais vieram. Assim, por exemplo, a maioria da populao que pode ser considerada
3 Eugenia significa bom nascimento. O termo foi criado pelo britnico Francis Galton (1822-1911) para indicar o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras geraes, seja fsica ou mentalmente. Disponvel em: http://www.ufrgs.br/bioetica/eugenia.htm.
184
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
negra vive no continente africano, mais precisamente ao sul do deserto do Saara, onde a insolao intensa. A maioria da populao conhecida como branca tem ancestralidade no continente europeu, e a populao considerada classicamente como tendo a cor da pele amarelada tem sua origem na sia, especificamente no leste asitico, e se espalhou tambm, antes da chegada dos europeus, por todo o continente americano. Pode-se observar, porm, que muitas partes do mundo ficam fora das reas geogrficas citadas acima: o norte da frica, o leste da Europa, o norte e o sul da sia, o Oriente Mdio, as Ilhas do Pacfico, a Austrlia. Essas e outras reas so cheias de gente que no se encaixa bem em nenhuma das classificaes e, mesmo dentro dos continentes, os grupos humanos so to diversos entre si que qualquer tentativa de classificao um exerccio em futilidade. A ideia de raas humanas ftil porque no tem qualquer base, seja das Cincias Biolgicas seja das Cincias Sociais, e a diversidade cultural humana alcana sua expresso mxima entre os pequenos grupos sociais, que formam diferentes populaes e etnias, identificando-se de centenas de formas, e no entre os grandes grupos continentais (SILVA, 2009). 3 MAS... DE ONDE VIEMOS?! Ao que se sabe atualmente, entre cerca de quatro milhes e dois milhes de anos atrs, vivia na frica um grupo de criaturas que os paleoantroplogos chamam de australopitecneos: primatas bpedes, pequenos como os chimpanzs atuais, todos com o crebro mais ou menos do mesmo tamanho, bem menor do que o do homem atual. Essas criaturas foram divididas em cerca de oito espcies pelos pesquisadores, e as investigaes demonstram que uma delas , possivelmente, um de nossos parentes distantes mais representativos: o Australopithecus afarensis, cujo exemplar mais conhecido chamado de Lucy (LEWIN, 1999). Ao contrrio de outras espcies, como o Paranthropus boisei e o Paranthropus robustus que eram mais robustos em termos fsicos e comiam principalmente folhas e ramos de plantas, o Australopithecus afarensis tinha uma estrutura ssea mais delicada e a capacidade de comer folhas e frutos, alm
185
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
da carne de outros animais, o que o diferenciava dos demais primatas. Porm, poca em que os australopitecneos viveram, uma grande mudana ambiental estava em curso na frica. Em funo de mudanas climticas em todo o planeta, o clima no continente foi ficando muito seco, diminuindo a quantidade de florestas, uma vez que as rvores precisam de muita gua para sobreviver. Nesse ambiente mais rido, em que h poucas rvores e pouca gua, a disputa pelos recursos naturais muito grande. Muitas espcies morreram porque no encontraram comida. As espcies que conseguiram se adaptar com menos alimentos ou ampliando a sua dieta sobreviveram. As que no se adaptam com menos comida disponvel tm de procurar alternativas ou iro desaparecer (isto se chama seleo natural, um conceito proposto por Charles Darwin, em 1859, e um dos pilares da biologia contempornea). Aquelas espcies que so mais flexveis tm mais chance de sobrevivncia. Foi o que aconteceu com os australopitecneos, embora a maioria deles tenha se extinguido, como tambm o caso dos Paranthropus, por conta de sua alimentao muito restrita. Isso algo que no ocorreu, porm, com Lucy e seus parentes. Com uma dieta mais variada, eles puderam sobreviver e deixar muitos descendentes. Para a Bioantropologia, os ancestrais do homem atual so os australopitecneos que descendem do Australopithecus afarensis. Esse fato fica mais claro quando se analisa outro parente distante do homem moderno, mas um pouco mais recente: o Homo habilis. Essa criatura, fisicamente, era mais semelhante aos Australopithecus afarensis do que aos Paranthropus e tambm tinha outra caracterstica muito importante: essa espcie comeou a fazer utenslios, da seu nome, que significa, em uma traduo livre, homem que faz instrumentos. Em latim, Homo habilis. Um homem habilidoso (SILVA, 2006). Durante o perodo em que viveu o Homo habilis, h cerca de dois milhes e meio de anos, o planeta comeou a se resfriar novamente. Nesse perodo, apareceram animais maiores, o que possivelmente influenciou na extino da maioria dos habilis, bem adaptados a um ambiente tropical, e o surgimento de uma nova espcie, ou duas, muito parecidas, segundo alguns autores, tais como Neves (2006), ensinam: o Homo erectus/ergaster. Provavelmente as mudanas ecolgicas e uma maior disponibilidade de animais para caar, associadas a
186
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
187
Universidade Federal do Oeste do Par
uma maior preferncia por protena animal, contriburam para diferenciar os descendentes do Homo habilis sobreviventes, que se transformaram no Homo erectus/ergaster atravs da seleo natural. Com um crebro e um corpo bem maiores do que os habilis, o Homo erectus/ergaster apareceu na Terra h cerca de dois milhes de anos. Dependia mais de animais para sua sobrevivncia e para ca-los produziu ferramentas mais complexas do que o homem habilidoso. Mas o mais interessante que ele foi o nosso primeiro parente a sair da frica. Essa migrao indica que o Homo erectus/ergaster estaria utilizando pelo menos alguma proteo fsica, como peles de animais (pois, como dito antes, a terra nessa poca passava por um processo de resfriamento), e fazendo uso regular do fogo, alm de utenslios de pedra diferentes (NEVES, 2006; SILVA, 2006). Uma das hipteses para explicar migrao dos erectus/ ergaster que, provavelmente, eles eram caadores ativos e, como tal, tinham de seguir os animais onde quer que eles fossem, diferentemente, do Homo habilis, que, ao que parece, obtinha sua protena animal da carcaa de animais mortos por outros predadores. Assim, ao seguir os animais quando eles migravam, para garantir seu alimento, o Homo erectus/ergaster virou o primeiro andarilho do planeta (SILVA, 2006). Segundo a maioria das pesquisas, alguns dos grupos de erectus/ergaster que deixaram a frica devem ter penetrado na Europa e no Oriente Mdio e, isolado por milhares de anos dos outros grupos que estavam se espalhando pelo mundo graas ao resfriamento do planeta que havia isolado a Europa e o leste do Oriente Mdio com grandes blocos de gelo, este grupo diferenciou-se, dando origem a uma nova espcie, que os pesquisadores chamam de Homo neanderthalensis, os famosos neandertais. Os neandertais, cujos primeiros fsseis foram descobertos no vale do rio Neander, na Alemanha, no incio do sculo XIX eram muito parecidos conosco, sendo apenas mais baixos do que alguns dos humanos modernos, em mdia, e bem mais fortes. No entanto, a imagem que as pessoas tm deles, em geral, a do homem das cavernas: brutos, encurvados e toscos. Isso ocorre por causa de um erro que aconteceu quando o primeiro fssil de Homo neanderthalensis foi descrito, pois este pertencia a um indivduo idoso, que tinha artrite e artrose, sendo, portanto, um
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
esqueleto doente, com aparncia arqueada e grotesca. Estudos contemporneos mostram que, possivelmente, os neandertais eram muito parecidos com os humanos atuais (LEWIN, 1999). As pesquisas genticas mais recentes indicam que, enquanto os neandertais viviam na Europa e em partes do Oriente Mdio, na frica surgia a espcie humana atual, qual ns pertencemos: Homo sapiens. Provavelmente, os Homo sapiens surgiram a partir do isolamento de algum dos grupos de Homo erectus/ergaster, que, nessa poca, eram encontrados na frica e na sia. Os fatores ambientais que contriburam para dar origem nova espcie, porm, ainda so tema de intensos debates. O fato que, segundo o registro fssil, por volta de 200 mil anos atrs os primeiros sapiens apareceram na frica, e em um espao de tempo de pouco mais de 150 mil anos dominaram todos os continentes, exceto a Amrica, que s foi colonizada bem mais tarde (SILVA; RODRIGUES-CARVALHO, 2006). A partir de 30-35 mil anos atrs todos os vestgios de outros homindeos deixam de existir, e passa a haver apenas um humano, o Homo sapiens, ns. Os seres humanos, ao longo de sua evoluo enquanto espcie, migraram pelos continentes, e neste processo houve contnuo fluxo gnico (casamentos) entre as populaes que se espalhavam pelo mundo, o que, desde a pr-histria, contribuiu para a homogeneidade biolgica da Raa Humana, essa sim, bem diferente dos outros primatas (macacos) seus primos. Como visto, a Humanidade tem uma origem nica, na frica subsaariana. Foi daquele continente que os primeiros sapiens evoluram por seleo natural e em seguida migraram para ocupar todas as outras terras do planeta, ao longo de centenas de milhares de anos, o que demonstra indiscutivelmente que, do ponto de vista biolgico, somos um s grupo.
Universidade Federal do Oeste do Par
4 A DIVERSIDADE ATUAL As populaes que se espalhavam pela terra foram gradualmente se adaptando aos diferentes ambientes em que viviam e que eram, simultaneamente, mais quentes na regio do equador e mais frios prximos aos polos do que o clima de hoje. Assim, na frica setentrional, onde ensolarado, quente e h grandes extenses de reas ridas e semi-ridas,
188
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
189
Universidade Federal do Oeste do Par
ao longo de centenas de geraes a cor predominante das pessoas adquiriu um tom mais escuro, graas a um aumento da produo de melanina para proteg-las do sol intenso. Essa era, provavelmente, a cor original de todos os seres humanos. Na Europa e no noroeste da sia, onde o clima frio e h pouca insolao na maior parte do ano, o tom da pele ficou gradualmente mais claro para impedir que nossos ancestrais desenvolvessem doenas causadas pela falta de radiao solar, como o raquitismo, causado pela deficincia de Vitamina D, que formada na pele por ao dos raios ultravioleta (JABLONSKI; CHAPLIN, 2000). Na sia, onde h grande variedade climtica e ambiental, e um predomnio de ventos e chuvas intensos (as mones), os grupos humanos evoluram uma grande variao na cor da pele, desde os mais escuros indianos at os mais claros chineses e japoneses do extremo oriente, que so os mais conhecidos representantes da cor da pele chamada amarela, que tambm como a populao amerndia historicamente classificada. Entre essas reas geogrficas, todas as pessoas tm cores de pele, cabelos, formato e cor dos olhos e estrutura fsica intermedirias, que variam gradualmente de acordo com as regies geogrficas (a chamada variao Clinal) e se combinam em formas muito diversas, expressando a grande variabilidade populacional humana (JABLONSKI, 2006). Somos uma espcie altamente diversa, isto , temos muitos tipos fsicos diferentes nos continentes, embora geneticamente sejamos todos 99,9% parecidos uns com os outros. As pesquisas srias desenvolvidas at hoje no conseguem identificar qualquer evidncia cientfica que indique diferenas intelectuais ou de capacidades fsicas concretas entre as populaes dos diferentes continentes. Embora se possa dizer, em alguns casos, com alguma preciso, a origem geogrfica continental de uma pessoa ou de seus ancestrais olhando a cor da sua pele, isso na verdade nos fala mais sobre as condies climticas nas quais os ancestrais dessa pessoa viviam do que sobre qualquer outra diferena fsica, fisiolgica, gentica, neurolgica ou intelectual que possa ser encontrada nela. As diferenas entre os humanos esto apenas na epiderme, a camada mais externa da pele, onde ficam os melancitos.
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Embora existam tcnicas de Antropologia Forense4 que permitem uma aproximao razovel da ancestralidade continental a partir de anlises do crnio e tcnicas de gentica antropolgica que permitem identificar alguns genes que tm uma maior probabilidade de terem vindo de um continente ou outro, a maior parte da diversidade morfofisiolgica dos humanos est dentro dos continentes e no entre eles. 5 ONDE SURGIU A DIVERSIDADE HUMANA? H QUANTO TEMPO SOMOS DIFERENTES UNS DOS OUTROS? Sempre fomos diferentes uns dos outros, porm todos Humanos. Segundo a teoria evolutiva5 de Charles Darwin (18091882), fundamento para a compreenso de toda a variabilidade de seres vivos na terra, quanto mais uma espcie sobrevive e quanto mais adversos so os seus habitats, mais biologicamente diversa ela se torna. Essa a chave de nosso sucesso adaptativo. A evoluo biocultural humana permite nos adaptarmos aos mais variados ambientes, e o resultado desse processo o que conhecemos hoje uma enorme diversidade humana. Tanto a diversidade biolgica quanto a diversidade cultural nada mais so do que frutos de nossos processos evolutivos e adaptativos. Para conseguirmos sobreviver nos diferentes ambientes em que habitamos, preciso termos condies fsicas e caractersticas socioculturais particulares, que permitam nossa reproduo biolgica enquanto grupo. Aparentemente, somos muito espertos do ponto de vista adaptativo: conseguimos nos adequar rapidamente a qualquer ambiente e, por isso, somos um dos mais numerosos grupos de vertebrados do planeta.
4 Antropologia forense a rea das cincias forenses que aplica tcnicas e mtodos antropolgicos para a resoluo de casos judiciais. 5 Segundo a Teoria Evolutiva Darwiniana, evoluo significa descendncia com modificao, ou seja, mudana de uma gerao para outra. Isso no implica de forma alguma em melhoria, superioridade ou aumento da complexidade, apenas que ancestrais e seus descendentes so biologicamente diferentes entre si. essa variao que permite a adaptao dos organismos aos diferentes ambientes naturais, que esto em constante modificao.
Universidade Federal do Oeste do Par
190
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
6 Meme, termo cunhado por Richard Dawkins, considerada uma unidade de evoluo cultural, da mesma forma que um gene uma unidade de evoluo biolgica.
191
Universidade Federal do Oeste do Par
Criar novas variedades biocomportamentais, principalmente a partir de nossa evoluo cultural ao longo do tempo, tem sido essencial para nossa sobrevivncia. Hoje, a cultura a nossa principal forma de adaptao. Os mecanismos de mudana cultural so muito mais rpidos que a evoluo biolgica, e so mais fceis de passar de uma gerao para outra, espalhando-se muito mais rapidamente em uma populao, uma vez que os indivduos no precisam ser parentes biolgicos para compartilhar os mesmos hbitos e regras sociais. Richard Dawkins chama as unidades de evoluo cultural de Memes6 (SILVA, 2009). Est claro que, desde que emergimos na frica enquanto Homo sapiens, jamais existiram raas puras. A populao humana sempre foi muito pequena e homognea, embora bastante dispersa at a revoluo agrcola, iniciada cerca de 10 mil anos atrs (e objeto de estudo de outro ramo da Antropologia, a Arqueologia). Nossa diversidade gentica muito menor que a dos outros primatas nossos parentes mais prximos, como os gorilas e chimpanzs, embora sejamos muito mais numerosos atualmente do que qualquer outro grupo de primatas. So seis bilhes de pessoas no planeta, mas h apenas cerca de 125 mil gorilas e aproximadamente 150 mil chimpanzs no mundo. Porm, geneticamente, eles so mais diversos do que ns (PENA, 2008). Como dito linhas atrs, possvel identificar, atravs de alguns genes, que uma pessoa tenha maior percentual de ancestralidade africana ou asitica, ou que venha de determinada regio da Europa. No entanto, isso no quer dizer que a diferena gentica se traduza em diferenas do ponto de vista de nosso desempenho, de qualquer forma que ele seja medido: teste de QI (Quociente de Inteligncia), teste de fora, acuidade visual, velocidade, fertilidade, tamanho do crebro, entre tantos outros). Ou seja, isso no quer dizer que esses genes sejam importantes em nossa sobrevivncia atualmente; eles so apenas resultados de variaes genticas aleatrias e resqucios dos lugares de onde nossos ancestrais vieram. Todos os grupos do mundo se consideram diferentes dos seus vizinhos; assim que as identidades culturais so
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
institudas. E a criao do processo identitrio o que vem a caracterizar o que chamamos, em Antropologia, de etnia. Cientificamente, a etnia se estrutura de forma muito mais ampla do que a noo de raa, pois inclui e transcende o parentesco biolgico, ampliando significativamente a noo de identidade do grupo. De outro lado, quando se tenta definir raa esbarrase no fato de que esta invariavelmente interpretada de forma diferente de um lugar para outro. Algum classificado como negro nos EUA pode ser enquadrado como branco, no Brasil, e de cor, uma categoria diferente de negro e de branco, na frica do Sul. Cerca de um tero dos estadunidenses que se consideram brancos tm menos de 90% de ancestralidade europeia. No Brasil, muitas pessoas que se declaram negras tm cerca de metade dos seus genes de origem europeia, e em nenhum outro lugar do mundo algum classificado como pardo. Da, novamente, a constatao da impropriedade de se tentar subdividir as populaes humanas em raas estanques. Dentro de cada um dos grupos continentais existem centenas ou milhares de subgrupos, com suas caractersticas prprias, como cultura, hbitos, estilo e histria de vida, lngua7, padres econmicos e socioecolgicos diferentes, e, portanto, a ideia de homogeneiz-los, considerando-os uma coisa s, nada mais do que uma proposio incoerente para lidar com a diversidade humana (SILVA, 2009). A experincia tem demonstrado que a ideia de raa no contribui para a compreenso da variabilidade sociocultural e biolgica humana e dificulta a aceitao da diversidade como algo positivo, necessrio sobrevivncia. A ideia, pelas implicaes histricas, refora o racismo, a xenofobia e a intolerncia, nada acrescenta ao debate contemporneo sobre diversidade e direitos humanos, no soma para a discusso sobre a necessidade de respeito diversidade cultural e no ajuda a entender e lidar melhor com a complexidade e a heterogeneidade que se encontram dentro de todas as sociedades
7 A Lingustica Antropolgica a rea da antropologia que investiga a histria evolutiva, biolgica e cultural das lnguas. Por exemplo, h no Brasil risco de extino de vrias lnguas faladas por grupos indgenas. Alguns levantamentos mostram que 154 lnguas so faladas no Brasil por diferentes etnias indgenas e que 21% desses idiomas esto ameaados de extino. Uma lngua considerada ameaada de extino se falada por poucas pessoas e no mais ensinada s prximas geraes. Disponvel em: http://cienciahoje.uol.com.br/152761.
192
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
atuais. Os conceitos ligados a raas so culturalmente criados e aplicados (e temporalmente subscritos), organizados a partir de uma determinada perspectiva e cultura, e com objetivos bem definidos. Eles no so entidades naturais, no so essenciais da biologia, no existem de maneira independente. A natureza nada tem a ver com o conceito de raas ou com as polticas de relaes inter-raciais. Estas so criaes culturais. A Antropologia contempornea em sua amplitude pode contribuir para, como diz a musica Imagine, de John Lennon (1940-1980), fazer cair as barreiras entre as pessoas e os pases, levando a que nos reconheamos todos enquanto cidados do mundo, como seres humanos, valorizados a partir de sua especificidade, de sua individualidade, com direitos e responsabilidades, com possibilidades concretas de sobreviver dignamente, com qualidade de vida e, fundamentalmente, em condies de interagir de maneira harmoniosa com a totalidade da humanidade, independente de gnero, ancestralidade, origem geogrfica, opo religiosa, ou outros fatores que atualmente so to valorizados e que tanta violncia tm gerado (SILVA, 2009). 6 O QUE ARQUEOLOGIA? Enquanto parte do grande campo disciplinar abrangido pela Antropologia, a Arqueologia pode ser vista como uma Antropologia do passado. Diferentemente da Antropologia, que se faz no presente, que observa, analisa e interage com comunidades vivas, a Arqueologia estuda o comportamento dos seres humanos em sociedade a partir dos vestgios materiais que resultaram de suas atividades. Os vestgios so materiais descartados, perdidos, esquecidos, assim como as transformaes que as sociedades imprimiram nas paisagens, ou seja, nos lugares onde viveram. A Arqueologia torna-se imprescindvel para conhecer como viveram as pessoas durante vastos lapsos de tempo para os quais no se possuem documentos escritos. Pensada assim, fica evidente, portanto, a importncia da Arqueologia na Amaznia, habitada h mais de onze mil anos, mas includa no mundo letrado h somente pouco mais de 400 anos. Portanto, a maior parte da histria dos povos indgenas da regio, que implica entender o processo migratrio de grupos
193
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
asiticos ao continente americano, a disperso dos mesmos de norte a sul, a penetrao dos migrantes na Amaznia, o desenvolvimento das diferentes sociedades, os processos de ocupao do territrio, as mudanas culturais, as aes sobre as paisagens, depende fundamentalmente da Arqueologia. Pode-se dizer que a Arqueologia uma disciplina ainda pouco conhecida no pas, no raro percebida como esoterismo, diletantismo, aventura ou mistrio. Muitas pessoas pensam que arquelogos escavam dinossauros sem se dar conta de que os dinossauros foram extintos muitos milhes de anos antes que os seres humanos aparecessem na face da terra! Enfim, a imagem do arquelogo como Indiana Jones, ou Lara Croft, personagens hollywoodianos que saem caa de tesouros e enfrentam grandes perigos, est muito longe da realidade. A Arqueologia uma cincia social, e como qualquer cincia possui objeto de estudo, teorias e mtodos prprios. A Arqueologia procura explicar o que aconteceu a um grupo especfico de seres humanos no passado e fazer generalizaes a respeito do processo de mudana cultural (TRIGGER, 2004, p. 18). Com relao aos mtodos de trabalho, pode-se comparar o arquelogo a um detetive que se depara com a cena de um crime: h uma srie de pistas presentes, que devem ser cuidadosamente observadas e registradas, amostras devem ser recolhidas para anlises posteriores, fotos so tiradas, croquis so desenhados. O que a Arqueologia produz, assim como o investigador policial, uma interpretao dessas cenas do passado, a partir das quais se reconstitui a histria dos fatos ocorridos e se propem razes que indiquem seu encadeamento. Outra imagem que nos ajuda a pensar sobre o trabalho da Arqueologia a de um grande quebra-cabea, do qual a maioria das peas encontram-se irremediavelmente perdidas, sendo por isso necessrio preencher os vazios com dedues a partir do conjunto que restou. Quanto mais coerente e verossmil for a reconstituio, tanto melhor a Arqueologia que fazemos. Obviamente, posteriormente, outros pesquisadores podem agregar novos dados e interpretaes, questionando as proposies e teorias, anteriormente formuladas. E assim se produz cincia! Os limites da Arqueologia, no entanto, no devem obscurecer as enormes possibilidades de investigao que a disciplina oferece para perodos de tempo para os quais outras
194
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
195
Universidade Federal do Oeste do Par
fontes de informaes (relatos orais ou escritos) simplesmente no existem. Desde a dcada de 1950 possvel datar resduos orgnicos pelo mtodo do radiocarbono, com preciso que pode chegar a 20 ou 40 anos. Esse pode parecer um intervalo de tempo grande, mas se pensarmos em acontecimentos que tiveram lugar h centenas ou milhares de anos, essa impreciso no significativa. H mtodos para anlise de plen e fitlitos, que so fsseis botnicos que podem nos informar sobre antigos hbitos alimentares e as mudanas climticas e paleoambientais no passado. Alm disso, a anlise de aspectos tecnolgicos e simblicos dos artefatos produzidos, utilizados e descartados nos informa sobre prticas, comportamentos e organizao social, trocas, diviso do trabalho, acesso diferenciado a bens, rituais, cerimnias, entre muitos outros caminhos sociais. Percebe-se, ento, que a Arqueologia, utilizando-se de diversos mtodos, alguns deles emprestados das Cincias Naturais, produz narrativas sobre o passado. As narrativas so produzidas a partir do presente. Diferentemente da Antropologia, cujos objetos de estudo esto andando por a, dispostos a confrontar os antroplogos com suas construes tericas sobre o outro, os arquelogos, via de regra, nos informam sobre povos desaparecidos. Mas o fato no isenta os arquelogos de responsabilidade tica, pelo contrrio. H inmeros exemplos na histria ocidental sobre o controle poltico da interpretao arqueolgica, atravs da manipulao do passado. Por exemplo, a sustica, utilizada como smbolo do povo ariano pelo nazismo, foi uma representao encontrada em um antigo vaso pelo arquelogo Heinrich Schliemann (18221890), tendo sido utilizada como prova da ligao dos antigos gregos e vedas com os germanos. A Arqueologia, portanto, est imersa na realidade sociopoltica de seu tempo, e suas descobertas podem vir a ser utilizadas nas negociaes de poder entre os diversos grupos sociais. A Arqueologia feita nas Amricas difere da Arqueologia feita na Europa. L ela estuda a longa histria dos povos europeus, dividindo-se em dois ramos disciplinares, que investigam dois grandes perodos: Arqueologia Pr-histrica antes da inveno e adoo da escrita nas diversas regies e Arqueologia Histrica. Nas Amricas, a Arqueologia dividese em Pr-colonial antes da chegada dos invasores europeus no sculo XVI e Arqueologia Colonial aps 1492, quando
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
se inicia o contato , podendo haver ainda outras divises e especializaes internas. A Arqueologia pr-colonial feita nas Amricas Histria Indgena, pois estuda a histria dos diversos povos que para c migraram antes da chegada dos europeus, buscando compreender suas interaes e relaes com as paisagens locais. A grande diversidade cultural dos povos indgenas percebida pela Arqueologia a partir do estudo das muitas formas de organizao social, modos de subsistncia e padres de ocupao do espao desenvolvidos. Na Amaznia, especialmente, desenvolveram-se mltiplas formas de relao dos grupos humanos com as florestas e as savanas tropicais, tendo esses povos deixado marcas indelveis nas paisagens. 7 PAISAGENS E POVOS NA AMAZNIA O conceito de paisagem, utilizado pela Geografia Histrica, Ecologia Histrica e Arqueologia, nos ajuda a entender os processos de desenvolvimento social e cultural dos povos amaznicos. Acostumamo-nos a entender paisagem como uma viso da natureza separada dos seres humanos. Os cientistas das disciplinas acima mencionadas, entretanto, entendem as paisagens como constitudas por elementos naturais e culturais. Paisagens naturais s existiriam antes da presena humana. A partir do momento em que os seres humanos ocupam determinado ambiente, transformam-no de tal maneira que no mais podem ser considerados puramente naturais. Nesse sentido, quase todos os ambientes do planeta foram modificados pelas sociedades humanas. Em muitos locais, essas transformaes geraram verdadeiras catstrofes ecolgicas, com a poluio de rios e destruio de flora e fauna, com consequncias nefastas para o clima do planeta. Em outros locais, a ao humana deu-se de maneira positiva: em grandes extenses da Amaznia, em locais antes habitados por povos indgenas, diversas espcies de rvores frutferas e palmeiras teis s populaes humanas cresceram, gerando um aumento da biodiversidade local. O etnobilogo William Bale, professor da Universidade de Tulane, considera que possivelmente 11% da floresta tropical foi alterada pelos povos indgenas.
196
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
197
Universidade Federal do Oeste do Par
Quando se verificam as reas de desmatamento em imagens de satlite, por exemplo, salta aos olhos o fato de que, sobre o arco do desmatamento, que se desenha na periferia amaznica a partir do sul do Acre e Amazonas, passando pelo norte do Mato Grosso, sul do Par e quase todo o Maranho, existem poucas reas ainda verdes, que so exatamente as reservas indgenas como o caso da reserva Turiau, no oeste do Maranho, e o Parque Nacional do Xingu, no norte do Mato Grosso. Bale (1993) chama as reas impactadas positivamente pelos povos indgenas de matas culturais, onde a alterao das espcies teve consequncias positivas. A estreita relao entre povos indgenas e floresta tropical iniciou-se na Amaznia quando os primeiros grupos de caadores-coletores adentraram o territrio, cerca de 10 mil anos. Em seus trajetos de caa e coleta, manipularam espcies de plantas, levando-as em suas jornadas, transplantando-as propositalmente ou no, e criando ambientes distintos. A biodiversidade amaznica, portanto, que nos acostumamos a ver como algo natural, teve e tem forte participao humana. Os seres humanos no modificam seu entorno sempre de maneira igual, e suas aes sobre o ambiente no so intrinsecamente negativas ou positivas. A maneira como se relacionam com o ambiente, entretanto, depende de seu entendimento sobre a natureza das relaes dos seres humanos com as paisagens; enquanto algumas sociedades procuram retirar o mximo da natureza para satisfazer suas necessidades imediatas, outras entendem que necessrio manter um cuidadoso equilbrio entre os diversos seres que compem as paisagens, pois desse equilbrio depende, em ltima instncia, o bem-estar de todos. A investigao de prticas e comportamentos culturais de sociedades indgenas contemporneas na Amaznia feita pelos antroplogos sociais, bioantroplogos e outros especialistas, tem ajudado os arquelogos a compreender como viviam as populaes pretritas na regio. Isso no quer dizer que as sociedades indgenas vivam hoje de maneira primitiva ou que tenham mantido suas culturas imutveis durante milhares de anos. Entretanto, a observao de determinados comportamentos, por meio da Etnoarqueologia, pode proporcionar importantes pistas para a investigao arqueolgica. Por exemplo, a produo de panelas e objetos de cermica, entre alguns grupos indgenas
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
e entre as populaes caboclas, parece conservar prticas milenares quanto preparao da massa de argila, formao das peas e mesmo a queima, feita a cu aberto. A Etnoarqueologia a disciplina que se preocupa em observar os comportamentos de sociedades vivas registrando os processos de formao do registro arqueolgico. Nesse sentido, o etnoarquelogo um etngrafo que, acompanhando populaes atuais, presta ateno nas consequncias desses comportamentos principalmente as prticas de descarte, pois daquilo que permaneceu que a Arqueologia tira suas concluses. Pesquisas etnoarqueolgicas realizadas entre povos Maku na Amaznia colombiana e brasileira, por exemplo, tm produzido importantes dados sobre as prticas desses grupos caadores-coletores. A variabilidade no tamanho dos grupos, formas de organizao social, redes de relaes intergrupos, preceitos com relao caa, manipulao de plantas nos caminhos de caa e cosmologias tem chamado a ateno para a complexidade existente nos stios de caadorescoletores, exigindo dos arquelogos interpretaes mais complexas de seus achados. 8 O QUE DIZEM OS STIOS ARQUEOLGICOS? A Amaznia est repleta de stios arqueolgicos, que guardam testemunhos das antigas populaes da regio. Na Amaznia brasileira foram encontrados vestgios arqueolgicos de populaes paleondias na Serra dos Carajs (sul do Par) e em Monte Alegre (Baixo Amazonas), aonde os primeiros grupos chegaram h onze mil anos. Segundo a arqueloga Anna Roosevelt, que realiza pesquisas na regio, as pinturas encontradas sobre paredes de rochas e grutas e abrigos tinham como motivao a necessidade de definir e defender territrios. Alm disso, pesquisas recentes tm sugerido, tambm, preocupaes astronmicas, registradas na forma de pinturas. As primeiras populaes sedentrias da Amaznia so estudadas a partir dos sambaquis, stios formados principalmente pelo acmulo de conchas de moluscos consumidos por populaes que baseavam sua subsistncia em uma grande variedade de recursos aquticos, vivendo prximas a enseadas, lagos, igaraps e furos, tanto no litoral quanto no esturio amaznico e suas ilhas. Esses stios so
198
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
199
Universidade Federal do Oeste do Par
testemunhos das primeiras populaes que conseguiram crescer demogrfica e culturalmente graas oferta abundante de alimentos nestes ambientes lacustres, martimos e ribeirinhos. Alm disso, por causa do alto teor de clcio existente nas conchas, remanescentes humanos e resduos da fauna consumida so encontrados bem preservados nesses locais, o que no ocorre com frequncia em outros stios amaznicos. Como se trata de ocupaes antigas (entre 2 e 8 mil anos antes do presente), seu estudo extremamente importante entre outras coisas, para que se conhea a variabilidade gentica da populao que deu origem aos povos atuais da regio e se entenda melhor a histria das mudanas geolgicas, geogrficas e climticas na costa Amaznica. Diferentemente dos sambaquis no sudeste e sul do Brasil, nos sambaquis amaznicos so encontrados remanescentes de vasilhas cermicas que esto dentre as mais antigas da regio. No sambaqui da Taperinha, no baixo Amazonas, foi encontrada a cermica mais antiga das Amricas, com 7 mil anos, colocando a Amaznia como possvel centro inicial de inveno dessa tecnologia no continente. Por ser muito resistente, a cermica um dos vestgios mais presentes em stios arqueolgicos. H stios onde existem vasos de cermica que foram utilizados pelas populaes nativas para colocar os restos mortais de indivduos de prestgio na sociedade que datam de at 2 mil anos. Em sua maioria, so stios que contm tambm vestgios habitacionais, uma vez que as prticas funerrias consistiam geralmente em conservar a urna funerria no interior da casa. Pela importncia desses mortos ilustres, os vasos utilizados eram decorados de maneira especial, com riqueza de recursos plsticos e pictricos, e acompanhados por outros objetos, feitos de cermica e rocha. Tendo em vista o seu tamanho (os maiores podem chegar a um metro de altura), muitos moradores ribeirinhos hoje em dia buscam esses grandes vasos para armazenar gua ou farinha de mandioca em suas casas. Muitos stios arqueolgicos so reconhecidos por apresentarem solo de colorao escura, muito frtil, onde se encontram fragmentos de antigos utenslios de cermica e rocha, resultantes de ocupao densa e prolongada. Esses stios variam muito em extenso e profundidade, mas podem
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
alcanar at 90 hectares, com profundidades que atingem, em alguns pontos, de 1 a 2 metros. Stios investigados recentemente na rea de Manaus mostram datas que vo de 500 a 2.500 anos antes do presente, mas alguns destes stios podem datar em at 4.800 anos, de acordo com pesquisas no sudeste da Amaznia. Uma vez que so locais elevados e geralmente protegidos de inundaes, so procurados pelas populaes ribeirinhas para moradia e cultivo. Em alguns desses stios aparecem tambm bordas de vasilhas enterradas, que vo sendo descobertas e retiradas pelos moradores. H tambm na Amaznia stios que se caracterizam por obras de terra de tamanho monumental, que podem vir a ser confundidos como naturais e no serem reconhecidos enquanto obras de sociedades nativas, pois acabam integrando-se paisagem ou sendo encobertos por vegetao. o caso dos geoglifos do Acre, estruturas de terra de formato geomtrico formadas por um conjunto de trincheiras e muros, com at 300 metros de dimetro, que circundavam antigas aldeias. A maior parte destes stios foi descoberta a partir de sobrevos e devido supresso da vegetao original para a criao de gado. So tambm stios monumentais, entre outros: as estradas, estruturas defensivas e barragens encontradas no alto Xingu; os tesos (barragens e escavaes de lagos na ilha de Maraj); e os alinhamentos de pedras na regio de Caloene, no Amap. Por ltimo, h os stios coloniais e de contato, existentes em todos os municpios mais antigos. Caracterizam-se por apresentarem estruturas remanescentes de construes do perodo colonial, algumas delas erigidas sobre aldeias indgenas. So as igrejas, as misses, os fortes, os engenhos de acar, as olarias, as fazendas e as casas que, construdas principalmente entre os sculos XVI e XVIII, guardam informaes deste perodo importante do contato nada pacfico dos europeus com as sociedades nativas. Alm das edificaes de pedra, revelam superfcie louas e metais, alm de cermica indgena de diferentes pocas. Alguns podem ser achados em reas desabitadas e s vezes cobertas por mato, como o caso das runas da cidade de Nova Mazago, cidade portuguesa do Marrocos transplantada para o Amap h 334 anos.
200
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
9 DIVERSIDADE E PATRIMNIO Toda essa diversidade de modos de vida que se desenvolveram na Amaznia durante mais de dez mil anos, com a produo de tecnologias locais e visveis transformaes das paisagens, no pode ser perdida para projetos desenvolvimentistas que ignoram os saberes locais sobre a preservao e incremento da biodiversidade da regio. O patrimnio arqueolgico precisa ser preservado e estudado, pois registra a longa histria que resulta na diversidade cultural presente hoje entre os povos amaznicos. Diversas populaes hoje moram sobre stios arqueolgicos. As populaes amaznicas atuais, assim como as do passado, buscam os melhores locais para moradia. So locais em geral considerados propcios, por sua elevao, a salvo dos alagamentos peridicos durante o inverno amaznico, por possuir viso privilegiada do entorno, ou por estarem prximos s zonas de recursos naturais e, portanto, possibilitarem a captao de alimentos com maior facilidade e segurana. Na Amaznia, h ainda outras razes para que as populaes contemporneas ocupem locais de antigas aldeias indgenas: o solo destas extremamente frtil (a chamada terra preta de ndio) e h muitas rvores frutferas e palmeiras que se desenvolvem nos locais de antigas roas, tornando esses locais extremamente convidativos. O reaproveitamento de antigas paisagens traz consigo a consequente ressignificao desses lugares, atravs da construo de memrias que englobam tambm os bens arqueolgicos. So diversas as interpretaes sobre os materiais encontrados. As lminas de machados feitas de basalto e granito, por exemplo, que eram trocadas entre as populaes indgenas do passado, so consideradas por algumas comunidades como pedras de raio, que teriam surgido depois de tempestades uma explicao considerada plausvel, uma vez que esses objetos so frequentemente encontrados em locais onde no h rochas. Alguns grupos indgenas incorporam os artefatos e as pinturas ou gravuras rupestres em suas histrias sobre o passado, considerando-os como obras de seus antepassados. As muitas estrias que surgem sobre o passado mostram a fora que os objetos arqueolgicos possuem sobre as construes das memrias locais.
201
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Os stios arqueolgicos e os objetos que eles contm fazem parte do patrimnio arqueolgico, cultural e histrico das populaes amaznicas e devem ser preservados e estudados para que se possa dar continuidade ao dilogo com o passado que existe em todas as sociedades humanas. O genocdio das populaes indgenas que se seguiu chegada dos europeus s Amricas causou uma irremedivel ruptura na histria das populaes nativas; com o decrscimo demogrfico e desaparecimento de grupos inteiros, muito do conhecimento produzido por centenas ou milhares de anos se perdeu. Durante o perodo colonial, populaes africanas trazidas foradamente para a Amaznia tambm ocuparam e transformaram paisagens, e a falta de documentos sobre seus modos de vida tambm exige da Arqueologia um protagonismo no estudo de suas trajetrias. Portanto, mesmo estudando o passado remoto, a Arqueologia possui contornos polticos expressivos. Os arquelogos no so as nicas vozes a produzir narrativas sobre o passado. Tambm as populaes do presente engendram suas prprias narrativas histricas, que precisam ser respeitadas e valorizadas. O respeito ao outro e diversidade cultural, do ponto de vista da Arqueologia, implica reconhecer os aspectos subjetivos, sociais e polticos da prtica da disciplina e assim permitir que ela seja exercida de maneira democrtica e inclusiva. 10 QUEM ESTUDA A DIVERSIDADE SOCIAL, HOJE! O antroplogo social estuda a diversidade hoje, sincronicamente (no seu tempo, na contemporaneidade), sem desprezar os aspectos diacrnicos (relacionados ao tempo). Na verdade, os antroplogos so protagonistas das mudanas que se processam no momento em que realizam suas pesquisas. Estudam a organizao social e poltica de sociedades diferenciadas entre si; descobrem as formas de relaes de parentesco entre ns, na Amaznia, ou alhures, mais longe, na tentativa de apresentar as infinitas formas de os grupos humanos se organizarem. Os temas podem ser estudados no mundo urbano, em cidades, onde as tribos so diferenciadas e ocupam espaos sociais diversos. Os cortes para estudo obedecem, tambm, diferentes critrios; possvel estudar os grupos humanos por faixas etrias: crianas, jovens, adultos e velhos. O antroplogo pode escolher trabalhar
202
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
com povos indgenas e populaes tradicionais de modo geral: ribeirinhos, remanescentes de quilombos, caboclos, entre tantos outros segmentos sociais. Os trabalhos de Antropologia Social podem ser originados de preocupaes acadmicas, identificadas pelos profissionais como prioridades, mas podem tambm ser oriundas de demandas sociais. Na Amaznia, os antroplogos podem registrar dilogos e conflitos intertnicos. Os profissionais de antropologia podem, ainda, produzir vistorias, laudos e percias antropolgicas por solicitao de autoridades judicirias, para dirimir as dvidas e favorecer a soluo de litgios entre partes que querelam. A Antropologia Social realizada na Amaznia no pode, nos dias atuais, desprezar a relao direta entre os grupos tornados vulnerveis e os direitos sociais, oferecendo especial ateno aos Direitos Humanos, pois infelizmente em alguns territrios a lei e a justia parecem adormecidas. Portanto, parece impossvel fechar os olhos realidade social. Na Amaznia, a Antropologia necessariamente implicada, comprometida, com os destinos dos povos que estuda. Os antroplogos podem trabalhar em estreita colaborao com lideranas indgenas e quilombolas, tornando o trabalho uma das etapas de luta pela autodeterminao e avanando na tentativa de incluso social. Hoje, inmeros profissionais coordenam propostas de polticas afirmativas. Parece que no permitido cruzar os braos na Amaznia, pois muito h por fazer. 11 ANTROPOLOGIA(S) E AMAZNIA(S)
Universidade Federal do Oeste do Par
Para atender s demandas polticas de estar e trabalhar na Amaznia, antroplogos sociais, arquelogos e bioantroplogos devem permanecer de braos bem abertos para acolher, discutir e trabalhar pela sociedade que quereremos, sob pena de ser testemunha muda da possibilidade de ins/ constituir a sociedade plural e inclusiva. A Antropologia na Amaznia importante se praticada nos campos da tradio da disciplina (Antropologia Social, Arqueologia, Bioantropologia e Lingustica Antropolgica), pois permite compreender as formas multifacetadas dos seres humanos para os quais
203
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
Universidade Federal do Oeste do Par
voltamos nossos estudos. A interdependncia dos campos da tradio se apresenta como ferramentas essenciais, e para alm deles as relaes com os demais campos cientficos no devem ser negligenciadas. A utopia de coexistncia harmnica entre grupos tnica e culturalmente diferenciados e a existncia de uma sociedade plural de direito e de fato implica em ultrapassar a extenso dos sentidos e transformar o discurso sobre a sociedade utpica (no sentido de sonhada e produzida) em polticas, em aes prticas. Diz respeito experimentao do novo, ao colocar-se no lugar do outro. Para compreender o protagonismo da Antropologia Social em associao com a Arqueologia e a Bioantropologia, imagine encontrar-se s escuras, como no Museu do Dilogo, em Campinas (SP), local onde se aprende a ver o mundo sem usar os olhos. Imagine, experimente, feche os olhos e tente percorrer um caminho sem abrir os olhos. Pise devagar, um pouco atordoado, por vezes constrangido, mas pense que assim estaremos obrigados a ver que as coisas existem de outra maneira, a ver com os demais sentidos, para alm das palavras, para alm da Antropologia. Ao voltar luz, abra os olhos devagar, sinta o incmodo da luz solar ou artificial, e aos poucos talvez voc compreenda, com muito esforo, o que ter algum tipo de deficincia visual. Pois , olhar a diversidade biocultural dos humanos exige treinar sensibilidades outras e aprender que os cortes de compreenso que geram conhecimento requerem ser e ter diamante fino que ilumine os caminhos para eliminar as formas de racismo, de intolerncia. A Antropologia pode funcionar como a ponta do diamante que, cuidadosamente, permite incorporar e aceitar os diferentes grupos tnicos, religiosos, prticas culturais e diversidades lingusticas, alm de tentar articular valores como igualdade e diferena. Articular igualdade e diferena a exigncia poltica do momento social vivido e chega revestida de relevncia social, pois para alguns a construo da democracia deve colocar a nfase nas questes relativas igualdade e, portanto, eliminar ou relativizar as diferenas. preciso tomar as bengalas brancas que se nos oferecem e puxar a coleira dos ces guias, aceitar de bom grado as orientaes que se apresentam, deixando-nos conduzir pelo mundo de cheiros que no so
204
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
patchouli ou priprioca, sabores que fogem aos do piracu, do pato no tucupi e da manioba, to conhecidos de todos ns, sons que no lembram o Carimb do mestre Lucindo, toques que no recordam a toada do Boi de Mscara de So Caetano, deixando-nos surpreender pelo novo, sem consider-lo bizarro, procurando nos acostumarmos aos poucos e, devagar, nos colocarmos no lugar do outro, para podermos cantar, em noite de lua cheia, sem culpas, s margens dos pranteados Tapajs, Xingu, Tocantins, Guam e outros rios associados s nossas aldeias, as cantigas que nos foram ensinadas. A misso dos antroplogos, sejam eles arquelogos, bioantroplogos ou antroplogos sociais, estudar as diferenas impostas pela diversidade. Portanto, para melhor compreender as formas de estar no mundo, preciso pensar em igualdade incorporando as diferenas, sobretudo as locais, o que supe lutar contra o preconceito, evitando a discriminao que corri, tornando-nos, metaforicamente, cegos, surdos e mudos. A Antropologia abre as portas para escolher caminhos que fujam do racismo e do preconceito, oferecendo chances de tornar-se humano, com H maisculo, alm de possibilitar amenizar a tenso que nos sufoca, pensando e fazendo valer a igualdade entre os diferentes, mas evitando que a diferena nos descaracterize eis a proposta dos estudos em Antropologia. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BALE, W. Biodiversidade e os ndios amaznicos In: CASTRO, E. Viveiros de; CUNHA, M. Carneiro da (orgs.). Amaznia: etnologia e histria indgena. So Paulo: NHII-USP-FAPESP, 1993, p. 385-393. DINE, Doudou. A Diversidade nossa fora In: Observatrio Intenacional das Reformas Universitrias (ORUS), n. 2, maio de 2006. Disponvel em: www.orus-int.org/revue/article.php3?id_ article=78. Acesso em 25.02.2008. GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. JABLONSKI, N. Skin: a natural history. Berkeley, EUA: University of California Press, 2006.
205
Universidade Federal do Oeste do Par
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
JABLONSKI, N. G.; Chaplin, G. The evolution of human skincoloration. Journal of Human Evolution (39), 2000, p. 57-106. LEWIN, R. Evoluo Humana. So Paulo: Atheneu, 1999. MAGNOLI, D. Uma gota de sangue: histria do pensamento racial. So Paulo: Contexto, 2009. NEVES, W. A. E no princpio... era o macaco! Estudos Avanados, v. 20, n. 58, 2006, p. 249-285. Disponvel em http://www.scielo. br/pdf/ea/v20n58/21.pdf. Acesso em: 23.09.2009. PENA, S. D. Humanidade sem raas? So Paulo: Publifolha, 2008. SILVA, H.P.; RODRIGUES-CARVALHO, C (orgs.). Nossa origem, o povoamento das Amricas: vises multidisciplinares. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006. SILVA, H. P. frica, Bero da Humanidade. Cincia Hoje das Crianas, v. l. 168, n. 8, maio, 2006, p. 12. SILVA, H. P. Variabilidade, raa e racismo: conversando sobre nossa diversidade biocultural. In: BELTRO, J.; MASTOPLIMA, L. Diversidade, educao e direito. etnologia indgena. No prelo, 2009. SOUZA LIMA, Antonio Carlos. Um grande cerco de Paz: poder tutelar, indianidade e formao do estado no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1995.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA BELTRO, Jane Felipe. Haraxare Krokti Ronore Konxarti e a vigilncia do territrio Gavio Parketj laudo antropolgico Humanitas. Belm: CFCH/UFPA, v. 13, n. 1/2, 2004, p. 101-111. ____________. Direitos Humanos e Povos Indgenas: um desafio para a Antropologia. In: COSTA, Paulo Srgio Weyl A. (org.). Direitos humanos em concreto. Curitiba: Juru, 2008, p. 157-174. ____________. Diversidade cultural rima com universidade(s) ou conversa propsito de conviver e construir. Srie Aula Magna, n. 4. Belm: Ed. UFPA, 2008.
206
Universidade Federal do Oeste do Par
Joo Ricardo Gama e Andra Simone Rente Leo
___________. Diversidade cultural ou conversas a propsito do Brasil Plural. Rede da Educao em Direitos Humanos, 2008. Disponvel em: http://www.redhbrasil.net/documentos/bilbioteca_on_ line/modulo3/mod_3_3.3.1b_diver_cultural_jane.pdf BELTRO, Jane Felipe; MASTOP-LIMA, Luiza de Nazar; MOREIRA, Hlio Luiz Fonseca. De agredidos a indiciados, um processo de ponta-cabea: Suru-Aikewra versus Divino Eterno Laudo Antropolgico. Espao Amerndio, N. 2, 2008, p. 194-258. Disponvel em: http://www.espaoamerindio.ufrgs.br. Acesso em: 23.09.2009. CARNEIRO, R. L. A Base Ecolgica dos Cacicados Amaznicos. Revista de Arqueologia, n. 20, 2007, p. 117-154. GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios de Antropologia interpretativa. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. _______. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2001. LUCIANO, Gersem dos Santos. O ndio brasileiro: o que voc precisa saber sobre os povos indgenas no Brasil de hoje. Vol. 1. Braslia: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006. Disponvel em http://www.laced.mn.ufrj.br/trilhas/ NEVES, Eduardo Ges. O lugar dos lugares. Escala e intensidade das modificaes paisagsticas na Amaznia Central pr-colonial em comparao com a Amaznia contempornea. Cincia e Ambiente. (Amaznia: recursos naturais e histria), v. 31. 2005, p. 79-91. PORRO, Antonio. O antigo comrcio indgena. In: PORRO, Antonio. O povo das guas. Ensaios de etno-histria amaznica. Petrpolis: Vozes, 1996, p. 125-132.
Universidade Federal do Oeste do Par
RENFREW, Colin; BAHN, Paul. Arqueologa: teoras, mtodos y prctica. Espaa: Akal, 1993. ROOSEVELT, Anna C. O Povoamento das Amricas: o Panorama Brasileiro. In: Tenrio, Maria Cristina. Pr-histria da terra Brasilis. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. Roosevelt, Anna. Determinismo ecolgico na interpretao do desenvolvimento social indgena da Amaznia In: Neves, W. A. (org.). Origens, adaptaes e diversidade biolgica do homem nativo da Amaznia. Belm: MPEG/CNPq/SCT/PR, 1991, p. 103-141.
207
SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO - SND
SCHAAN, D. P. Os Filhos da Serpente: rito, mito e subsistncia nos cacicados da Ilha de Maraj. International Journal of South American Archaeology, n. 1, 2007, p. 50-56. SCHAAN, D. P.; PRSSINEN, M.; Ranz, A.; PICCOLI., J. C. Geoglifos da Amaznia ocidental: evidncia de complexidade social entre povos da terra firme. Revista de Arqueologia, n. 20, 2007, p. 67-82. ______________. Maraj: arqueologia, iconografia, histria e patrimnio. Textos selecionados. Erechim, Habilis, 2009a. ______________. Paisagens, imagens e memrias da Amaznia pr-colombiana. In: SILVEIRA, F. L. A.; CANCELA, C. D. (orgs.). Paisagem e cultura: dinmicas do patrimnio e da memria na atualidade. Belm: Ed. UFPA, 2009b, p. 7-20. SILVEIRA, Maura I.; SCHAAN, Denise P. Onde a Amaznia encontra o mar: estudando os sambaquis do Par. Revista de Arqueologia, n. 18, 2005, p. 67-80. TRINDADE, Jos Damio de Lima. Histria social dos direitos humanos. So Paulo: Petrpolis, 2002.
Universidade Federal do Oeste do Par
208
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Trabalho de LiteraturaDokument10 SeitenTrabalho de LiteraturaVictorDieselDieselNoch keine Bewertungen
- 04 - Desmonte de Rocha Plano de Fogo Rev2Dokument57 Seiten04 - Desmonte de Rocha Plano de Fogo Rev2Larissa CarolineNoch keine Bewertungen
- Cloreto de Benzalconio 50%Dokument2 SeitenCloreto de Benzalconio 50%vaniacarvalhoNoch keine Bewertungen
- A Kroton Educacional e o Discurso de Negação Da Docência Como ProfissãoDokument6 SeitenA Kroton Educacional e o Discurso de Negação Da Docência Como ProfissãolopesmelopcNoch keine Bewertungen
- Curriculo2 Antonio KengueDokument1 SeiteCurriculo2 Antonio KengueAntonio Kengue KengueNoch keine Bewertungen
- Luz Sobre Hildegarda PDFDokument26 SeitenLuz Sobre Hildegarda PDFRafael FrotaNoch keine Bewertungen
- Carta Pedido Créditos LaboraisDokument3 SeitenCarta Pedido Créditos LaboraisFernanda CostaNoch keine Bewertungen
- Planilha Diagnostico VendasDokument20 SeitenPlanilha Diagnostico VendasBianca NunesNoch keine Bewertungen
- Direito Penal II Aulas Praticas Dra Ana Rita Alfaiate 20212022Dokument31 SeitenDireito Penal II Aulas Praticas Dra Ana Rita Alfaiate 20212022Sara LNoch keine Bewertungen
- Check List - Talha - MensalDokument1 SeiteCheck List - Talha - MensalRafael HerdyNoch keine Bewertungen
- Aula 1 Tutela Direitos Da PersonalidadeDokument25 SeitenAula 1 Tutela Direitos Da Personalidademaracir ataidesNoch keine Bewertungen
- Sergio Ferro O Concreto Como ArmaDokument22 SeitenSergio Ferro O Concreto Como ArmaamandaNoch keine Bewertungen
- Salvador Gentile - o Passe MagnéticoDokument106 SeitenSalvador Gentile - o Passe MagnéticoKahel_Seraph100% (3)
- Módulo I - Introdução À Educação EspecialDokument10 SeitenMódulo I - Introdução À Educação EspecialProfDiogoSouzaNoch keine Bewertungen
- Acidente Do Trabalho FATEC PDFDokument24 SeitenAcidente Do Trabalho FATEC PDFGabriel SantosNoch keine Bewertungen
- Balanço PatrimonialDokument57 SeitenBalanço Patrimonialmorais_phillip5327Noch keine Bewertungen
- Tratar Bem Detento - Entender o Papel Estado - 09-01-17Dokument3 SeitenTratar Bem Detento - Entender o Papel Estado - 09-01-17Laerte Moreira Dos SantosNoch keine Bewertungen
- Teologia e Pratica Da Igreja Catolica TrechoDokument19 SeitenTeologia e Pratica Da Igreja Catolica TrechoJuliara BragéNoch keine Bewertungen
- EDITAL 004 21 PPGCAF Mestrado 2022 Com ERRATADokument29 SeitenEDITAL 004 21 PPGCAF Mestrado 2022 Com ERRATAcarolcruzrjNoch keine Bewertungen
- Entendendo o Southern RockDokument29 SeitenEntendendo o Southern RockwesleyNoch keine Bewertungen
- ExameDokument2 SeitenExameBeatriz AguiarNoch keine Bewertungen
- Sotaques Da Região Sudeste Do BrasilDokument3 SeitenSotaques Da Região Sudeste Do BrasilLeide Dos Santos RosarioNoch keine Bewertungen
- Regulamento Geral Dos Colégios Da EspecialidadeDokument11 SeitenRegulamento Geral Dos Colégios Da EspecialidadeSara LopesNoch keine Bewertungen
- Fatura: Signature Not VerifiedDokument1 SeiteFatura: Signature Not VerifiedpaubernardoNoch keine Bewertungen
- Sermão de Santo António Aos PeixesDokument7 SeitenSermão de Santo António Aos PeixesInês PereiraNoch keine Bewertungen
- Aconselhamento Espiritual FUMODokument111 SeitenAconselhamento Espiritual FUMOLuciana CassiaNoch keine Bewertungen
- Estratificacao e Mobilidade Social.Dokument17 SeitenEstratificacao e Mobilidade Social.mineliochemaneNoch keine Bewertungen
- Teste de Português 9º AnoDokument1 SeiteTeste de Português 9º AnoRikkLetrasNoch keine Bewertungen
- Ciências 9 ANO - Unidade 03Dokument16 SeitenCiências 9 ANO - Unidade 03Fórmula On-line 50 ideiasNoch keine Bewertungen
- TCC - Fernanda SampaioDokument33 SeitenTCC - Fernanda SampaioLia VieiraNoch keine Bewertungen