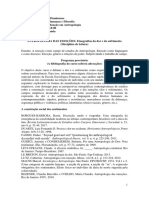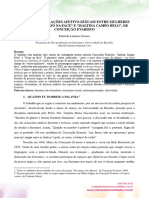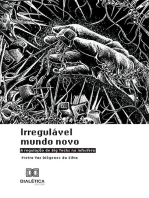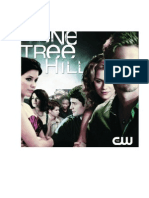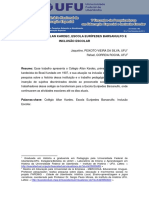Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Os Corpos Na Antropologia Minayo-9788575413920-10
Hochgeladen von
Stella RodriguezCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Os Corpos Na Antropologia Minayo-9788575413920-10
Hochgeladen von
Stella RodriguezCopyright:
Verfügbare Formate
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
MINAYO, MCS., and COIMBRA JR, CEA., orgs. Crticas e atuantes: cincias sociais e humanas em
sade na Amrica Latina [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. 708 p. ISBN 85-7541-
061-X. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.
All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o contedo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, publicado sob a licena Creative Commons Atribuio -
Uso No Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 No adaptada.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, est bajo licencia de la licencia Creative Commons
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
II. Abordagens disciplinares
os corpos na antropologia
Jos Carlos Rodrigues
157
Os Corpos na Antropologia
O estudo do corpo sempre foi uma das preocupaes centrais da antropologia. Por den-
tes, crnios, ossadas, coloraes de peles, caracterizaes antropomtricas, posturas..., a disci-
plina tornou-se conhecida do grande pblico e teve primeiro reconhecida sua legitimidade
cientfica. Mesmo nos dias de hoje no perfeitamente unnime para o senso comum a ima-
gem do antroplogo como um cientista social. Em ambientes leigos ou eruditos, embora de
modo cada vez mais tnue, ainda tem prevalecido a representao do antroplogo como al-
gum preocupado em buscar a explicao dos comportamentos, pensamentos e sentimentos
dos seres humanos nas origens primatas de suas caractersticas corporais.
Fortemente influenciada pela herana de Darwin, que ainda no compreendia bem a vida
coletiva de primatas humanos e no-humanos, essa perspectiva, conhecida como antropologia
biolgica (ou fsica), enfatizou os traos hereditrios do corpo, colocando entre parnteses e na
prtica ignorando os seus aspectos sociais. Sobretudo, esse tipo de antropologia praticamente
desprezou as dimenses aprendidas e culturais da corporeidade de modo que ainda hoje
pode soar estranho, tanto em domnio leigo quanto em territrio cientfico, que uma aborda-
gem sociolgica de tais dimenses seja reivindicada.
claro que uma certa preocupao com a influncia dos fatores ambientais em que vivem
animais e plantas sempre esteve presente na tradio darwiniana e com fora ainda maior nos
estudos sobre os homindeos. Por esse caminho atingiram-se os estudos antropolgicos sobre o
corpo. Mas at recentemente esses fatores ambientais foram identificados mais como as circuns-
tncias fsicas da existncia (temperatura, umidade, altitude, disponibilidade de alimentos etc.)
do que como o envolvimento coletivo que preside a coexistncia dos organismos.
igualmente notrio que uma ateno importante votada para os aspectos comportamen-
tais dos seres vivos deve ser atribuda a essa tradio. Tambm deve ser reconhecido que essa
preocupao de algum modo afetou a antropologia do corpo. Contudo, esse olhar no enfati-
zou sistemas holsticos de organizao social. Somente nas ltimas trs ou quatro dcadas uma
OS CORPOS NA ANTROPOLOGIA
Jos Carlos Rodrigues
9.
158
CRTICAS E ATUANTES
considerao mais orgnica e sistemtica tem sido pretendida e praticada, especialmente por
algumas vertentes do pensamento biolgico que se inspiraram na noo de ecossistema e que se
materializaram em abordagens como a da etologia e a da zoossemitica. Como se sabe, o olhar
comportamentalista sempre se limitou a direcionar seus holofotes para aes e reaes de
organismos individuais, com vistas a adaptaes diante de situaes especficas, tais como cor-
tejamento, reproduo, predao ou defesa.
ONTEM
Franz Boas foi um dos pioneiros dos estudos socioculturais que tomaram o corpo humano
como objeto especfico. O seu Relatrio sobre as Mudanas na Forma dos Descendentes de Imigrantes,
publicado em 1911, foi um dos primeiros estudos antropolgicos a mostrar que caractersticas
corporais que eram tidas por fixas, j que determinadas pela natureza, revelavam-se passveis
de influncia pelo ambiente social. Em um texto no qual se detm na mincia de comparar as
posies de dormir de crianas de diferentes nacionalidades (para exclu-las, alis, como fator
explicativo), Boas, entre outras caractersticas corporais, ps em destaque o formato da cabea
de descendentes de imigrantes em Nova York.
O ndice ceflico sempre havia sido considerado um dos mais estveis e permanentes
traos das populaes humanas. Mas Boas mostra as transformaes que por razes ainda
obscuras (1974:339) o formato do crnio sofria nos descendentes daqueles que se transferiam
do solo europeu para o norte-americano: Por exemplo, os judeus da Europa oriental, que tm
a cabea muito redonda, se tornam de cabea mais alongada; os italianos do sul, que na Itlia
tm cabea extremamente alongada, passam a ter cabea mais curta (Boas, 1974:322). E um
pouco mais adiante: quanto mais tempo os pais esto na Amrica, maior a divergncia dos
descendentes em relao ao tipo europeu (Boas, 1974:324).
Ao receber no mesmo ano uma verso mais acessvel ao grande pblico, diluda em seu
livro The Mind of Primitive Man, que foi reeditado em 1922 e 1938, o Relatrio obteve importante
repercusso acadmica e extra-acadmica. Publicado tambm em alemo em 1914 com o ttulo
de Kultur und Rasse e includo no ndice de publicaes desaprovadas pelo regime nazista, essa
repercusso se concentrou sobretudo nos pontos em que Boas tematizou de modo especfico
a questo racial na sociedade moderna. Um dos pontos a ressaltar que a partir de ento, em
vez de artigos e manifestaes esparsos, aqueles que se posicionavam contra as teorias racistas
passaram a dispor de um livro referencial de feitura cientfica, baseada em medidas e em
anlise objetiva.
Estudando traos corporais como estatura, peso, largura e comprimento da cabea, Boas cha-
mou a ateno para os erros subjacentes teoria que sustenta que a origem racial determine os
comportamentos social e mental. E contra aqueles que imagina(va)m que os homens sejam produ-
tos de seus corpos, com palavras categricas cujo sentido se enriquece se considerarmos o contexto
em que foram proferidas, o grande antroplogo advertia que o oposto que era verdadeiro:
159
Os Corpos na Antropologia
nem mesmo aquelas caractersticas de uma raa que se provaram mais permanentes no seu
antigo domiclio permanecem as mesmas em novas vizinhanas; somos compelidos a concluir
que quando estes traos do corpo mudam, todo o corpo e a disposio mental dos imigrantes
pode mudar. (Boas, 1974:322)
Seria impossvel minimizar o valor dessa experincia americana, tendo em vista tantos frutos
materializados na preocupao com o corpo sempre presente em obras de antroplogos importan-
tssimos que Boas influenciou, como Ruth Benedict, Margaret Mead, Cora Du Bois e Clyde Klu-
ckhohn, nos Estados Unidos, e Gilberto Freyre, no Brasil. No obstante, as contribuies mais
efetivas e orgnicas para a constituio de uma antropologia do corpo resultaram, no meu entender,
talvez meio indiretamente, do esforo sistemtico desenvolvido pela Escola Sociolgica Francesa
para constituir o social como domnio autnomo e legtimo de investigao cientfica.
Como se sabe, Durkheim, Mauss e seus companheiros empenharam-se arduamente na
tarefa de convencer o mundo acadmico das primeiras dcadas do sculo passado de que os
fenmenos coletivos eram regidos por uma lgica prpria, irredutvel do psiquismo indivi-
dual ou da natureza biolgica. De modo involuntrio ou proposital, muitos dos temas esco-
lhidos para as investigaes da Escola (religio, educao, suicdio, morte, sacrifcio, individu-
alizao, categorias mentais, noo de pessoa, reciprocidade...) parecem ter sido eleitos de
forma a obedecer a uma estratgia especial. Essa estratgia consistia em evidenciar do modo
mais cristalino possvel o quanto uma cincia especfica do social teria de importante a dizer
sobre fenmenos tradicionalmente tidos como atinentes a outras disciplinas, especialmente a
biologia e a psicologia.
Ora, no mbito dessa estratgia, a corporeidade humana e suas manifestaes encontra-
ram quase naturalmente um lugar bastante previsvel, coerente e particular. Um espao que se
materializou em trabalhos escassos, talvez, mas muito preciosos que so at hoje verdadei-
ros clssicos da antropologia do corpo e que constituem referncias fundamentais para qual-
quer praticante deste campo, nefito ou mesmo experiente. Tais estudos, interrompidos em
parte durante a primeira grande guerra, vieram luz entre 1897, com o aparecimento de O
Suicdio, de mile Durkheim, e 1936, quando Marcel Mauss publicou As tcnicas corporais.
Entre as datas mencionadas encontramos pesquisas que comeavam a descobrir que o
corpo humano era muito mais do que um dado biolgico: estudos que punham em evidncia
as diferenas gigantescas entre o humano e o corpo simplesmente animal. Com grande ousadia
intelectual, tais trabalhos defendiam que o corpo no se reduzia a uma propriedade privada
individual e que ele no se limitava a ser o domiclio particular de uma conscincia subjetiva.
Fundamentalmente, essas investigaes, algumas das quais valer a pena rememorar nas pgi-
nas seguintes, perseguiam a idia de que seria possvel fazer uma reflexo de ndole sociolgica
e simblica sobre o corpo humano.
Em O Suicdio, por exemplo, Durkheim (1971) contestou a possibilidade de explicao
desse fenmeno por fatores do meio fsico (clima, por exemplo), da constituio orgnica (ori-
160
CRTICAS E ATUANTES
gem racial, predisposio gentica) ou da disposio psicolgica (loucura, depresso, alcoolis-
mo etc.). Recusando-se a se conformar com a idia de que constitussem acontecimentos isola-
dos que deveriam ser considerados separadamente, Durkheim procurou demonstrar que, em
vez de resultar das profundezas misteriosas do psiquismo, um fenmeno to individual e to
psicolgico, como a extino voluntria da prpria vida, exibia em cada sociedade europia
uma admirvel constncia estatstica dentro de um intervalo determinado de tempo.
Segundo Durkheim, aquela constncia estatstica se dava no apenas quanto tipologia
sociolgica de suicdios (individualistas, altrustas ou anmicos). Podia tambm ser demonstra-
da no que diz respeito forma de execuo (afogamento, envenenamento, enforcamento, ar-
mas de fogo, queda, asfixia etc.), muito particularmente quando essa forma fosse valorizada de
maneira positiva ou negativa dentro de um determinado grupo social. De acordo com os
dados que Durkheim apresentou, em cada sociedade europia o suicdio se relacionava tam-
bm de modo coerente, consistente e razoavelmente persistente com as variveis socioeconmi-
cas de idade, gnero, profisso, renda, estado civil, situao familiar, religio, instruo, mora-
dia rural ou urbana... At mesmo os ritmos do calendrio social, como as estaes do ano, os
dias da semana, os meses, as horas diurnas ou noturnas e as datas festivas mostravam-se atuan-
tes nas prticas de auto-extino.
O argumento principal de Durkheim lastreava-se na constatao de que, embora os indi-
vduos que compem uma sociedade mudem de ano para ano, o nmero de suicidas e suas
categorias permanecem os mesmos enquanto essa sociedade no se transforma. Observou que
existem circunstncias nas quais, por dever moral, a sociedade pede e at mesmo obriga que
esse ato extremo seja praticado, como o caso do sati das vivas hindus e de algumas formas de
suicdio ritual no Japo. Sustentou que a auto-extino funo da maior ou menor intensida-
de ou efervescncia da vida social, variando em razo inversa ao grau de integrao dos
grupos sociais de que o indivduo faz parte (Durkheim, 1971:164). Em suma, Durkheim
(1971:107) procurou demonstrar que em cada sociedade existe uma tendncia especfica para
o suicdio, que no se explica nem pela constituio orgnico-psquica dos indivduos nem pela
natureza do meio fsico.
O raciocnio de Durkheim continha vrios pontos que estavam destinados a exercer im-
portncia crucial na constituio da antropologia do corpo. Entre eles, a idia de que a at
mesmo a vida individual seja um valor isto , o pensamento de que cada sociedade
oferece a seus membros as razes pelas quais vale a pena viver ou deixar de viver veio a
permitir que as noes de corpo, morte, sade, doena etc. fossem relativizadas cultural-
mente. Por outro lado, a constatao de que o suicdio caracterstica humana exclusiva,
presente em todas as sociedades embora extremamente rara em crianas no inteiramen-
te socializadas e em pessoas que apresentem comprometimento importante das funes
intelectuais veio a propiciar que uma reflexo antropolgica sobre a vida humana se estabe-
lecesse a partir de novas premissas.
161
Os Corpos na Antropologia
de 1909 a publicao de A Preeminncia da Mo Direita, de Robert Hertz (1980). O prop-
sito desse texto, como est bem claramente explicitado no subttulo, era constituir um estudo
sobre a polaridade religiosa entre o sagrado e o profano. Portanto, a despeito do enunciado no
ttulo principal, no seu conjunto o trabalho no tinha ainda o objetivo manifesto de ser especi-
ficamente uma investigao a respeito do corpo humano. No obstante, isso no impediu que
viesse a representar um dos eventos fundadores da antropologia do corpo um daqueles
trabalhos em que, como dizamos linhas atrs, a corporeidade humana e suas manifestaes
encontraram o lugar mais importante, ainda que indireto, nas preocupaes do grupo reuni-
do em torno da revista Anne Sociologique.
Apoiado em abundante material etnogrfico, Hertz toma o prprio corpo humano como
domnio no qual se pode comprovar a tese durkheimiana de precedncia e exterioridade do
social com relao ao individual psquico ou orgnico. Sua curiosidade fundamental: por
que razo a imensa maioria dos seres humanos destra, enquanto apenas alguns poucos so
canhotos? E mais: como explicar a desigualdade entre a destra e a sinistra, que se observa em
todas as sociedades? A que atribuir as honras, prerrogativas e lisonjas destinadas primeira,
que contrastam com o desprezo e a humilhao de que padece a segunda? Por que, para a
direita, a idia do poder sagrado, regular e benfico, o princpio de toda atividade afetiva, a
fonte de tudo que bom, favorvel e legtimo e, para a esquerda, esta concepo do profano
e do impuro, o fraco e incapaz que tambm malfico e temido? (Hertz, 1980:111).
Para atacar essas questes, Hertz no precisou se contrapor frontalmente s teorias, ento
vigentes e ainda hoje hegemnicas, que procuram explicar a preferncia pelo lado direito do
corpo com base na preeminncia do hemisfrio cerebral esquerdo. Admitiu tranqilamente
que uma conexo regular deveria existir entre desteridade e o desenvolvimento da parte es-
querda do crebro. Nesses termos, Hertz concordou com a formulao, atribuda a Broca,
segundo a qual somos destros na mo porque canhotos no crebro.
Sua reflexo introduziu, entretanto, um questionamento fundamental, que definia um
quase completo redirecionamento do raciocnio: Mas, destes dois fenmenos, qual a causa e
qual o efeito?. O que nos impede de dizer que os homens so canhotos do crebro por serem
destros do corpo? E aduziu: Se abstrairmos os efeitos produzidos pelo exerccio e pelos hbi-
tos adquiridos, a superioridade fisiolgica do hemisfrio esquerdo reduz-se a to pouco que
pode no mximo determinar uma leve preferncia em favor do lado direito (Hertz, 1980:101).
Tal desconfiana se reforava ainda pela conscincia do fato de que se um acidente priva
um homem de sua mo direita, a esquerda adquire depois de algum tempo a fora e a habili-
dade que no tinha (Hertz, 1980:103). Portanto, algo mais deveria estar atuando na lateralida-
de humana, principalmente quando se considera que, diferindo da predileo superior a 90%
entre os seres humanos pela mo direita, os animais mais prximos destes ou so ambidestros
ou apresentam uma distribuio estatstica muito mais proporcional e democrtica nas suas
opes por um dos lados.
162
CRTICAS E ATUANTES
Com base em documentos etnogrficos, Hertz chamou a ateno para o fato de que a prefern-
cia pela mo direita no se limita a ser uma tendncia natural. Por toda parte, em vez de um esforo
educativo que procurasse redimir a esquerda de suas fraquezas como seria bastante razovel
esperar , esta ltima , pelo contrrio, subjugada, reprimida, mantida em inatividade e tem seu
desenvolvimento metodicamente frustrado. Pode-se constatar, ento, que em nenhum lugar a des-
teridade aceita como uma necessidade natural apenas: representa tambm um ideal ao qual todos
devem se conformar, uma meta moral que a sociedade nos fora a respeitar. Sem essa presso
coletiva, argumenta Hertz, bastante duvidoso que a destra obtivesse essa maioria to consagradora.
E, conseqentemente, provvel que o nmero de canhotos fosse expressivamente maior.
Nessa linha de raciocnio, em contraste com a verdadeira apoteose de que objeto a mo
direita, Hertz cita sociedades em que as crianas so repreendidas e punidas por permitirem
atividade sinistra, ou tm a mo esquerda amarrada para aprenderem a dela no se servirem
seno para tocar as coisas impuras. Relembra povos em que os canhoteiros so encarados como
feiticeiros ou demnios e faz referncia a grupos em que as refeies podem ser feitas apenas
com a destra. Evoca populaes em que a esquerda no deve ser lavada ou ter as unhas apara-
das, de forma que a crena na profunda disparidade entre as duas mos s vezes chega at a
produzir uma assimetria fsica visvel (Hertz, 1980:107). Em toda sociedade, diz Hertz
(1980:104), o mancinismo uma transgresso, que traz para o infrator uma reprovao social
mais ou menos explcita, pois o poder da mo esquerda sempre algo oculto e ilegtimo, que
inspira terror e repulsa (Hertz, 1980:117).
No necessrio, entretanto, permanecermos nesse domnio de smbolos religiosos, por
assim dizer, macrocosmolgicos da reflexo de Hertz, em que a mo esquerda sofre uma ver-
dadeira amputao. Em adio a isso, por toda parte as sociedades cuidam de se municiar de
todo um dispositivo de prticas e de disposies microscpicas que no dia-a-dia faam do
canhoto um verdadeiro gauche. Um simples olhar em nossas vizinhanas o demonstra: para
realar o mutismo da mo esquerda, abridores de latas, cadernos com espiral, relgios de
pulso, carteiras escolares, maanetas de portas, tesouras, saca-rolhas, instrumentos musicais,
acessrios de computador e at colheres entortadas feitas para uso de bebs, parecem ter sido
concebidos apenas para a mo direita.
Eis nesses poucos exemplos uma represso silenciosa, presente at mesmo em pleno cen-
rio das sociedades ocidentais contemporneas, que por obra do individualismo nelas reinante
crem ser bastante mais tolerantes com relao aos canhotos do que o foram seus ancestrais. De
fato, essa tolerncia maior talvez seja efetiva, pois parece que os canhotos esto crescendo em
nmero (como Hertz havia prefigurado provvel em uma sociedade sob esse aspecto menos
repressiva). Parece tambm que esto se fazendo mais nitidamente presentes nos palcos pbli-
cos, nos quais cada vez mais ocupam posies de primeiro plano. Em vrios casos, os canhotos
se jactam, citando estatsticas que reivindicam uma pretensa superioridade para esta condio,
e se comprazem em arrolar nomes de congneres famosos ou conhecidos por possurem talen-
tos acima do normal.
163
Os Corpos na Antropologia
Essa ltima observao nos ajudar a precisar um ponto muito importante para o desen-
volvimento da antropologia do corpo. A tese de Hertz concebia, em sntese, que a lateralizao
do corpo no era seno um reflexo da polaridade religiosa e social. Sustentava:
Como pode o corpo do homem, o microcosmo, escapar da lei da polaridade que governa tudo?
A sociedade e todo o universo tm um lado que sagrado, nobre e precioso e outro que
profano e comum: um lado masculino, forte e ativo, e outro feminino, fraco e passivo; ou, em
duas palavras, um lado direito e um lado esquerdo. (Hertz, 1980:108)
Portanto, direita e esquerda estariam para sempre e em todos os contextos condenadas a
exprimir respectivamente a cultura e a natureza, a ordem e o caos, o sagrado e o profano, o
puro e o impuro, o conformismo e o desvio, o masculino e o feminino...
Talvez seja importante ressaltar que esse ltimo pensamento constitui uma generalizao
que, no meu entender, em mais de um aspecto a antropologia atual deixou de acolher. Especi-
ficamente do ponto de vista da antropologia do corpo, a proposio ousada e excessiva,
sobretudo por atribuir significados fixos, absolutos e universais aos lados direito e esquerdo
algo que no pode ser confirmado pela etnografia. Tambm no pode ser acolhido pelas teorias
do simbolismo mais aceitas nos dias atuais, pois estas, influenciadas pela lingstica saussuria-
na, em geral tendem a admitir que toda significao de posio em relao a outras significa-
es e dependente dos contextos em que se d.
No obstante, tambm preciso registrar que o ensaio sobre a mo direita foi um episdio
muitssimo especial na histria dos estudos sociolgicos sobre o corpo. Ele constituiu um momento
a partir do qual ficou patenteado, para sempre e de maneira bastante vvida, o quanto a educao,
os valores e os simbolismos diretamente interferiam sobre o comportamento corporal. Apesar de
pretender um estudo sobre a polaridade religiosa, com A Preeminncia da Mo Direita Hertz demons-
trou que essa interferncia da cultura sobre o corpo se dava de um modo muito mais incisivo e
muitssimo mais arraigado do que a antiga antropologia e as disciplinas vizinhas poderiam supor.
Obedecendo mesma linha de questionamento, lembremos que Hertz havia publicado,
em 1907, um estudo particularmente instigante, do ponto de vista da antropologia do corpo,
com o ttulo de Contribuio para um Estudo sobre as Representaes Sociais da Morte (1970). Raciocinan-
do de acordo com a proposta durkheimiana, esse ensaio partiu da observao de que os fen-
menos fisiolgicos no dizem tudo quando se trata da morte de um ser humano. Registrou, em
primeiro lugar, que o desaparecimento dos homens no sempre e em todas as sociedades
representado e sentido como entre ns. Constatou que a morte um processo muitas vezes
lento e que o simples desenlace fsico no basta para configur-la de modo instantneo nas
mentes humanas. Procurou colocar em evidncia o fato de que ao evento orgnico se somava
sempre um conjunto complexo de crenas, de emoes e de atos, que atribuam morte dos
homens um carter sempre singular. O corpo do defunto no considerado como o cadver
de um animal qualquer: necessrio lhe dar cuidados definidos e uma sepultura regular, no
simplesmente por medida de higiene, mas por obrigao moral (Hertz, 1970:1).
164
CRTICAS E ATUANTES
Do ponto de vista da antropologia do corpo, a questo fundamental que Hertz levantou
incidia sobre a razo pela qual diferentemente do que acontece com os animais os seres
humanos manifestam averso, verdadeiro horror em relao ao cadver de seus semelhantes.
Destacou que essa emoo assumia caractersticas extremadas sobretudo quando se tratasse de um
cadver em decomposio. Os defensores de uma explicao inspirada em argumentos de ordem
biolgica ou higinica citavam com freqncia o fato de que universalmente se observam prticas
culturais, como o sepultamento, a cremao, a mumificao etc., que objetivam afastar a putrefa-
o e proteger os vivos das influncias deletrias que a decomposio comporta.
No mbito dessa teoria os costumes preventivos encontrariam uma explicao natural,
baseada em instintos humanos universais. Contudo, na contracorrente dessa perspectiva terica,
como explicar, por exemplo, o fato de que em algumas culturas os ritos faam com que as pessoas
convivam longamente com cadveres em decomposio, ou o de que a cabea putrefata do inimi-
go possa exalar um odor sentido como particularmente agradvel por certos povos indonsios?
Hertz pretendeu, portanto, trazer tona uma problematizao muito mais refinada e sutil
desse assunto. Apoiando-se em dados que levantou entre os dayak de Bornu e fazendo recurso
literatura etnogrfica especializada, observou primeiro que as emoes associadas decom-
posio do corpo no eram as mesmas segundo as culturas. Em seguida, constatou tambm
que esses sentimentos variavam inclusive no prprio mbito de uma mesma sociedade. O
perigo e o asco universalmente percebidos, que a teoria atribua a uma reao natural instintiva
contra as mudanas que o corpo sofre, deveriam ser relativizados e repensados em funo das
significaes particulares que so atribudas por cada grupo humano a tais transformaes.
Hertz argumentou ainda que uma vez que os sentimentos variam de acordo com o
gnero de morte e de morto no se poderia falar em reao instintiva: aqueles que morrem
de modo violento ou acidental, os afogados, os suicidas, os fulminados por raios, as mulheres
virgens, as que falecem no parto... suscitam sentimentos especficos, oferecem perigos mgicos
especiais e requerem cuidados rituais particulares. De maneira anloga, reforando sua posi-
o contrria teoria da origem instintiva dos sentimentos, Hertz ressaltou que tambm no se
repetem os sentimentos de repulsa aos resduos fnebres quando variam as posies sociais dos
cadveres. Em muitas sociedades, por exemplo, as mortes de fetos, de recm-nascidos, de
estrangeiros, de escravos, de indigentes... porque incidem sobre seres pouco socializados, pou-
co valorizados ou significativos, quase no provocam qualquer emoo. Em contraste, a de-
composio do corpo do rei suscita verdadeiras convulses coletivas, produzindo pnico e
comoo desproporcionais, como nas ilhas Fidji e Sandwich. Por conseguinte, os perigos que
a morte e a decomposio contm no caracterizam todos os corpos de modo igual.
Nesse mesmo esprito, Hertz vai um pouco mais longe, registrando que estas emoes
que no so instintivas rigorosamente tambm no so individuais. Lembra, por exemplo,
que entre alguns grupos dayak, os lquidos provenientes da decomposio devem ser recolhi-
dos cuidadosamente em um recipiente, com a finalidade de serem misturados com arroz e
165
Os Corpos na Antropologia
comidos durante o perodo fnebre pelos parentes prximos do falecido (Hertz, 1970:8, 38).
Os dayak alegam que o afeto que sentem pelo morto e a tristeza de que so vtimas por o
haverem perdido no permitiriam fazer diferente. Mas Hertz observa que essa alegao no
basta para dar conta do rito, uma vez que as punies em caso de omisso so to severas que,
na prtica, o costume resulta estritamente obrigatrio. Portanto, conclui Hertz, a averso, ou a
ausncia dela, funo dos valores a que o cadver est associado, no o resultado de sentimen-
tos individuais. Em suas palavras, no se trata, pois, simplesmente da expresso espontnea
de um sentimento individual, mas de uma participao forada de alguns sobreviventes
condio presente do morto (Hertz, 1970:34).
Para Hertz, toda sociedade comunica o seu prprio carter de perenidade aos indivduos
porque ela se sente e se quer imortal, no pode normalmente acreditar que seus membros,
sobretudo aqueles em que se encarna e com quem se identifica, estejam destinados a morrer...
Assim, quando um homem morre, a sociedade no perde apenas uma unidade; ela ferida no
princpio prprio de sua vida, na sua f em si mesma. (Hertz, 1970:71)
Hertz entende, de acordo com esse raciocnio, que todo atentado ao corpo uma ameaa
contra a vida da sociedade. Desse modo, a explicao que fornece para o horror ao corpo em
decomposio em grande parte uma explicao simblica. O corpo um smbolo da socieda-
de, razo pela qual os seres humanos em geral no podem suportar sua decomposio. A
derrocada do smbolo evocaria a da coisa simbolizada.
Com isso, Hertz lanou duas idias fundamentais, que acabaram por orientar uma boa
parte dos estudos posteriores da antropologia do corpo. Primeiro, a de que o corpo huma-
no por excelncia uma expresso simblica da prpria sociedade, de cada sociedade.
Depois, a de que qualquer sociedade se faz fazendo os corpos daqueles em que ela se
materializa. Em sua perspectiva, a primeira e mais fundamental tarefa da educao em
qualquer sociedade seria forjar, sobre os organismos mais ou menos amorfos dos recm-
nascidos, os corpos de que uma sociedade necessita para viver: reproduzir a sociedade,
reproduzindo os corpos dos homens e das mulheres que a concretizam corpos de guer-
reiros, ou de pescadores, ou de operrias...
A questo da espontaneidade dos sentimentos individuais, to presente nas preocupaes
de Hertz, tambm foi considerada por Marcel Mauss (1981). Em 1921, em comunicao diri-
gida Sociedade de Psicologia, publicada com o ttulo sugestivo de A Expresso Obrigatria dos
Sentimentos, Mauss se propunha a mostrar, com base no estudo dos rituais funerrios orais
australianos, que no apenas os choros, mas todos os tipos de expresses orais dos sentimentos
no so fenmenos exclusivamente psicolgicos ou fisiolgicos. So fatos sociais, que carecem
no mais alto grau de todo carter de expresso individual de um sentimento sentido de manei-
ra puramente individual (Mauss, 1981:327). So fenmenos marcados eminentemente pelo
signo da no-espontaneidade (Mauss, 1981:325).
166
CRTICAS E ATUANTES
Os dados so to inmeros, que chegam a configurar o que Mauss chamou de clich
etnogrfico. So narraes sobre como a rotina diria das ocupaes triviais burocratica-
mente interrompida, para dar lugar a uivos, gritos, cantos e invectivas, destinados a apaziguar
a alma de um morto ou a afastar um inimigo csmico; mas tais narrativas tambm mostram
como esse frenesi subitamente quebrado, para que seja retomado o cotidiano tribal. So
relatos dando conta de como essas manifestaes exaltadas so realizadas no por indivduos
isoladamente, mas em grupo, em unssono, em compasso ritmado, em horas e tempos preci-
sos, previstos e designados. Os testemunhos etnogrficos atestam que essas manifestaes algu-
mas vezes se do em clima competitivo em torno de quem atingir o clmax mais extremo e
exagerado na expresso da dor e da tristeza.
Assim, os indivduos no uivam e no berram apenas para exprimir clera, ou medo, ou
pesar, mas porque so encarregados, obrigados a faz-lo (Mauss, 1981:328). Ao contrrio do que
se poderia esperar, as emoes no so expressas pelos parentes do morto que Mauss chama de
parentes de fato, prximos, como pai e filho, mas pelos parentes de direito. Desse modo, se a
descendncia for uterina, o pai ou o filho podem no participar enfaticamente do luto um do outro.
Ademais, essas emoes no so comuns a todos os parentes: na Austrlia, na maioria das vezes
apenas as mulheres choram nos ritos fnebres mas nem todas elas tm razes autnticas para o
fazer. A documentao tambm nos fala das flagelaes que as mulheres se infligem, ou que lhes so
aplicadas, com a finalidade de alimentar os gritos e os choros. A concluso a se retirar desses dados,
portanto, seria simples: emoes to naturais, to individuais, to privadas e to profundas no
seriam nem to naturais, nem to individuais, nem to privadas, nem to profundas.
Contudo, no contrafluxo dessa concluso, o que dizer da dinmica emocional das carpi-
deiras, to comuns em tantas e tantas sociedades? primeira vista, essas mulheres que, como
se sabe, em geral so como atrizes remuneradas para com seu choro alimentar de tristeza o
contexto fnebre confirmariam a inautenticidade das emoes. Mas, como Durkheim j
havia observado, muitas vezes as carpideiras acabam se contaminando pela superexcitao,
pela efervescncia e pela tristeza artificialmente aumentadas do ambiente. E passam a verter
lgrimas efetivamente tristes, sentindo as emoes que foram pagas para fingir lgrimas que
expressam e que suscitam tristezas verdadeiras. Recordando e parodiando as palavras do
grande poeta, nesse caso no terminam todos, carpideiras e seus pblicos, fingindo to com-
pletamente que fingem ser dor a dor que deveras sentem?
Portanto, no nada simples a questo relativa veracidade dos sentimentos individuais
questo que parece apresentar fisionomias diversas quando considerada pelo prisma do antro-
plogo ou pelo ngulo de seu informante nativo. Mas no seria possvel integrar ambas as
perspectivas? Mauss (1981:330) apresenta este problema ponderando sabiamente que o con-
vencionalismo e a regularidade no excluem de modo nenhum a sinceridade e que este
carter coletivo em nada prejudica a intensidade dos sentimentos, muito pelo contrrio (Mauss,
1981:331-322, grifo meu). Argumenta que as manifestaes emotivas padronizadas so expres-
ses compreendidas, isto , so mensagens que constituem uma linguagem.
167
Os Corpos na Antropologia
Estes gritos so como frases e palavras. preciso diz-las, mas se preciso diz-las porque
todo o grupo as compreende. A pessoa faz mais do que expressar seus sentimentos. Ela os
manifesta para outrem... Ela os manifesta para si mesma, exprimindo-os para os outros e por
conta dos outros. Trata-se essencialmente de uma simblica. (Mauss, 1981:332)
Neste ponto Mauss assina um captulo crucial para a antropologia do corpo: a sua concepo
de homem total. Esses uivos, os gritos, as lgrimas, os risos so simultaneamente manifestaes
orgnicas, extroverses de sentimentos, alm de exteriorizaes de idias e de smbolos coletivos.
No esto em relao de causa e efeito, sua lgica a do simbolismo. Com esse conceito, Mauss
corrige uma nfase anterior, talvez necessria at aquele momento, mas certamente excessiva, da
Escola Sociolgica Francesa nas separaes e nas oposies indivduo/sociedade e orgnico/social.
Ao mesmo tempo, entreabre portas e janelas para a possvel e desejvel convivncia com a antro-
pologia biolgica. E mostra que o caminho mais frutfero est na interpenetrao dos trs aspec-
tos: Sociologia, psicologia, fisiologia, tudo aqui deve misturar-se (Mauss, 1981:334).
A demonstrao da fertilidade desse itinerrio que procura no homem a ligao direta
entre o fsico, o psicolgico e o social, o prprio Mauss tratou de realizar em 1926, com a
publicao de uma investigao que trazia o ttulo bastante revelador de Efeito Fsico no Indivduo
da Idia de Morte Sugerida pela Coletividade. Nesse trabalho, Mauss (1974) tematiza o fato estranho,
que a comunidade cientfica muitas vezes considerou inadmissvel, conhecido como morte
vudu um tipo de falecimento envolvendo pessoas que, em virtude de haverem quebrado um
tabu, foram condenadas morte por um feiticeiro, ou que morreram pura e simplesmente
pelo fato de acreditarem que iriam morrer.
Sem leso aparente ou conhecida, sem que qualquer outra causa possa ser apontada para o
bito e sem que qualquer medicamento ou esforo mdico possa impedi-lo, essas pessoas efetiva-
mente vm a falecer ao cabo de alguns dias ou de poucas semanas. Entretanto, quando se trata de
condenao, o destino fatal algumas vezes pode ser modificado pela interferncia do prprio desti-
no ou de um feiticeiro mais poderoso. O fenmeno bem conhecido na literatura etnogrfica e tem
sido reportado por antroplogos, mdicos e missionrios, entre outros que viveram com popula-
es nativas nas mais diversas regies do planeta. Tambm tem sido estudado por cientistas naturais
entre os quais Walter Cannon (1974), um dos mais distintos fisiologistas norte-americanos.
Os casos citados por Mauss a partir da etnografia da Austrlia e da Nova Zelndia e, de
modo aparentemente independente (apesar de sua correspondncia com Lvi-Bruhl), por
Cannon, em 1942, com base em informaes provenientes de reas geogrficas ainda mais
amplas, so como que variaes em torno do mesmo tema. Trata-se sempre de pessoas que
padecem de um intenso e persistente temor morte, de provenincia puramente moral ou
religiosa. Normalmente so condenados que acreditam que este ser o inelutvel destino, aps
haverem inobservado um tabu que acarrete tal punio. A mente desses indivduos inteira-
mente subjugada por idias de origem coletiva que lhes incutem sentimentos de culpa. As
dores de conscincia provocam-lhes estado de melancolia, depresso, apatia, prostrao, falta
de vontade de viver...
168
CRTICAS E ATUANTES
A comunidade reduplica a certeza da morte. Ela tambm cr nos poderes do feiticei-
ro. Igualmente acredita que tais pessoas so culpadas e delas se afasta. Cnjuges, parentes
e amigos mudam de atitude e de comportamento. Agora os infratores so vistos como
pertencentes a uma nova categoria de seres: so classificados no reino do que sagrado e
tabu, deixando de ser enquadrados junto com as pessoas normais que constituem a comu-
nidade terrena. Assim, a organizao da vida social desses condenados entra em colapso:
os pecadores doravante esto ss, no mais fazem parte do grupo. Coerentemente, no
raro que ritos fnebres sejam at mesmo praticados para uma pessoa ainda viva. Isso
porque mister que o destino seja cumprido, que as coisas voltem para os seus devidos
lugares, que o quase-cadver seja logo expulso. Por sua vez, os sacrlegos no fazem qual-
quer esforo para voltarem a ser parte do grupo ou para viver. Cooperam para sua prpria
excluso. Morrem de ruptura de comunho, segundo a significativa expresso de Mar-
cel Mauss (Mauss, 1981:190).
Trata-se, pois, de barreiras puramente imaginrias, cuja transgresso produz a morte
efetiva. De fato, no h qualquer outro distrbio, alm do mal-estar produzido pela conscin-
cia. O condenado morre sem febre, sem dor, sem sintomas ou sinais de doena prvia e,
muitas vezes, sem que exames post mortem possam revelar algo que tenha sido a causa do desen-
lace. Mas, aps o ato de sacrilgio, ele vive sob extremo terror, em constante estado de fadiga e
de insnia. Sem apetite, recusa comida e bebida. Ele se consome. A resistncia se esvanece. O
sistema nervoso se descontrola. Respirao e pulsao se aceleram. Distrbios de presso arte-
rial aparecem. Em sntese, em uma s morte, quatro mortes acontecem: cultural, pela crena;
social, pelo abandono da comunidade; psicolgica, pela melancolia e perda da vontade de
viver; biolgica, enfim, pela desintegrao do ser.
Restringindo-se por razes de mtodo apenas aos casos de morte produzidos por sugesto
da coletividade, Mauss dedicou ateno comparativamente menor a uma questo da mesma
natureza, porm muito mais geral, freqente e prxima da experincia cotidiana de cada um:
se a feitiaria pode matar, por que razo no poderia curar? Como compreender os relatos sem
conta, sobre pessoas de quem se diz que teriam sido curadas pela f, por rezas, benzeduras,
passes ou exorcismos? Aqui estamos diante de um filo de fatos centrais para a antropologia do
corpo, que Lvi-Strauss (1967) viria mais tarde a desenvolver em dois artigos magistrais, O
feiticeiro e sua magia e A eficcia simblica, ambos publicados em 1949.
Incursionando muito mais profundamente pelos caminhos que Mauss havia desbravado,
nesses trabalhos as oposies mstico/racional, orgnico/psquico, normal/patolgico, afetivo/
intelectual e indivduo/sociedade so radicalmente relativizadas. E, em lugar das contradies
que a Escola Sociolgica Francesa sempre considerou difceis de conciliar, entre os plos dessas
oposies emergem agora mediaes e complementaridades. Essa foi uma faanha terica da
qual a antropologia do corpo visceralmente devedora e cuja importncia, mesmo meio scu-
lo aps a publicao dos trabalhos mencionados, no possvel aquilatar com inteira justia.
169
Os Corpos na Antropologia
Normalmente as doenas so superadas pela ao do prprio organismo. Mas, alm disso,
pela via da anlise acurada de alguns casos especficos de tratamentos xamansticos, Lvi-Strauss
considera que feiticeiros, xams, mdicos, psicanalistas e terapeutas de todo gnero geralmente
no esto completamente desprovidos de conhecimentos objetivos e de tcnicas experimentais.
Sustenta tambm que todos os curadores proferem mitos e praticam rituais, quer estes se
alimentem dos poderes de divindades, espritos ou foras csmicas, quer se nutram da mstica
do poder da cincia, da tecnologia ou da racionalidade. Dessas crenas participam no apenas
os doentes, mas tambm as comunidades de que doentes e terapeutas fazem parte. A densidade
significacional da doena e a eficcia simblica do tratamento se insinuam, por conseguinte, no
interior de todo processo de cura: no xamanismo como na medicina cientfica, misticismo e
racionalidade se combinam para constituir, juntos, elementos ao mesmo tempo imanentes e
transcendentes dos procedimentos de superao da doena.
Foi bem antes desses trabalhos, em 1936, com a publicao de As tcnicas corporais
(Mauss, 1974), que se pde finalmente dizer que a Escola tomou o corpo como objeto especfico
e direto de estudo cultural. Nesse texto, uma comunicao que havia feito Sociedade de
Psicologia em 1934, Mauss de certo modo formalizou a fundao da antropologia do corpo, ao
expressar seu inconformismo com o fato de que os fenmenos associados corporeidade hu-
mana persistissem sendo relegados rubrica diversos. Afirmou que no mais seria aceitvel
que tais fatos continuassem sendo desprezados e que as ocorrncias deles persistissem no
sendo agrupadas de modo sistemtico. Para Mauss, no mais seria admissvel que os fenme-
nos corporais continuassem sendo vistos como formadores de um domnio mal partilhado,
como um terreno cientificamente baldio, em que reinasse a ignorncia. Recusou com veemn-
cia essa situao de abandono dos fatos sociais do corpo, que lhe parecia uma verdadeira
abominao (Mauss, 1974:212).
Apoiando-se sobretudo em experincias e observaes pessoais, Mauss se dispe a expor
uma parte de seu ensino, que no encontrada em outros lugares, e a formular uma teoria
da tcnica corporal a partir (...) de uma descrio pura e simples das tcnicas corporais
(Mauss, 1974:211). Com esse propsito, o artigo essencialmente a pintura de uma ampla
paisagem em que despontam costumes corporais contrastantes com aqueles que em geral ob-
servariam os seus ouvintes franceses. Uma estratgia de convencimento, talvez. De qualquer
forma, a um antroplogo de hoje no deixa de causar admirao que em 1936 fatos desse
gnero ainda constitussem novidade at mesmo em ambiente cientfico, como o constitudo
pelos ouvintes de Mauss. Mas, at que ponto j seriam familiares, hoje, a leigos em antropolo-
gia e mesmo a cientistas em geral?
Mauss observa como variam as tcnicas de nadar entre geraes de franceses e como
essas so distintas da dos polinsios. Registra as dificuldades que os ingleses apresentam
para cavar com as ps dos franceses, pois essas lhes exigiam um giro inabitual da mo.
Detm-se nos diversos estilos de marcha militar de acordo com os vrios exrcitos euro-
peus e aponta como so diversificadas as maneiras de cada um dar a meia-volta. Destaca
170
CRTICAS E ATUANTES
como o olhar fixo para algum pode ser expresso de descortesia na vida corrente, mas
gesto corts e obrigatrio na vida militar. Aprecia os incontveis modos de correr, de
andar e de permanecer em p, que no so absolutamente os mesmos segundo as culturas.
Reala como possvel diferenciar uma criana inglesa de uma francesa pela simples posi-
o dos cotovelos e das mos enquanto comem. Tambm no o mesmo o controle corpo-
ral a que meninos e meninas devem se habituar. Evoca as diferentes maneiras de dormir
(com ou sem travesseiro, em camas, em bancos, em redes, em esteiras, em p, a cavalo), os
modos de descansar (em p, sobre uma s perna, sentado, acocorado etc.), as tcnicas de
parto (em p, deitada sobre as costas, acocorada, de quatro, na gua, por exemplo). Os
diversos jeitos de carregar as crianas, os desmames, as ginsticas, os modos de respirar, e
assim por diante.
Seria possvel ir muito alm nesse inventrio panormico que Mauss apenas esboou. E
lembrar que segundo as culturas no so as mesmas as gesticulaes, as expresses faciais, as
posturas corporais, as proibies de tocar esses ou aqueles pontos do corpo. Variam as distn-
cias corporais que devem ser guardadas entre as pessoas, variam tambm os ritmos e os movi-
mentos das diversas partes de seus corpos. Divergem as utilizaes prticas dos produtos e
componentes do corpo, como a saliva para colar selos, para definir a direo do vento ou para
verificar vazamento de ar, os dedos dos ps como auxiliares na tecelagem, as orelhas para
segurar pequenos objetos etc. Poderamos recordar igualmente que necessrio aprender coi-
sas aparentemente to simples como cuspir, gargarejar, engolir comprimidos, beber cafezinho
sem queimar a boca...
Mas o inventrio seria incrivelmente detalhado, alm de rigorosamente interminvel.
Mauss props a noo de tcnicas corporais para fugir ao enquadramento desses fatos na
categoria diversos em que eles so, quando muito, apenas descritos mas nunca organizados.
Por tcnica, entendia a maneira pela qual os homens e as sociedades sabem servir-se de seus
corpos (Mauss, 1974:211). A tcnica, segundo Mauss, um ato tradicional eficaz, que no
difere do ato mgico, religioso ou simblico (Mauss, 1974:217). Haveria tcnicas particulares
de andar, nadar, correr, danar, comer, descansar, dormir, parir, copular...
Assim o corpo entraria no domnio da histria, da sociologia e da antropologia: No h
tcnica e tampouco transmisso se no h tradio. nisso que o homem se distingue sobretu-
do dos animais: pela transmisso de suas tcnicas e muito provavelmente por sua transmisso
oral (Mauss, 1974:217). Como toda tcnica, os usos do corpo so aprendidos: Em todos esses
elementos da arte de utilizar o corpo humano, os fatos de educao dominam (Mauss, 1974:215).
Por conseguinte, para Mauss os fenmenos corporais no mais sero exclusivos da biologia ou
da psicologia: uma viso clara deles exigir uma tripla, em vez de nica, considerao, seja ela
fisiolgica, psicolgica ou sociolgica: o trplice ponto de vista, o do homem total, que
necessrio (Mauss, 1974:215).
171
Os Corpos na Antropologia
HOJE
Hoje em dia existe uma j considervel bibliografia antropolgica, histrica e sociolgica
incidindo diretamente sobre o corpo como fenmeno cultural. Isso talvez explique a admira-
o a que me referi anteriormente, que penso experimentar um antroplogo de nosso tempo
sobre ter constitudo novidade para os ouvintes de Mauss, nos anos 30, a dimenso cultural da
corporeidade. Com efeito, alguns conhecimentos, objeto de discusso acirrada entre especialis-
tas de variadas disciplinas, e que empenharam as melhores energias da Escola Sociolgica
Francesa, parecem em nossos dias bastante esclarecidos e assentados. Pela mesma razo, des-
contando o desconhecimento emprico de aspectos especficos das dimenses culturais do cor-
po que ainda amplo e que em muitos pontos constitui desafio a superar , talvez se possa
afirmar que as polmicas remanescentes se devem na atualidade menos a questes de ordem
terica que a razes de natureza corporativa entre as especialidades cientficas envolvidas.
Alguns desses conhecimentos relativos antropologia do corpo foram estabelecidos de
modo to cristalino, que podem inclusive ser enunciados de maneira inequvoca e categrica.
Em primeiro lugar, como a Escola Sociolgica Francesa nos ensinou, o corpo humano muito
menos biolgico do que se pensava. Em segundo lugar, tambm pudemos aprender que o
corpo humano muito menos individual do que costuma postular o pensamento influenciado
pela viso de mundo de nossa cultura individualista. Sabemos hoje claramente que o procedi-
mento tradicional de retirar um corpo de seu ambiente de coexistncia, intern-lo em um
laboratrio, submet-lo a dissecaes e vivisseces, pensando que com isso se possa surpreen-
der, no ntimo dessa interioridade, aquilo que faz desse corpo algo vvido como se a vida
fosse propriedade privada do organismo individual dista muito de ser satisfatrio para o
entendimento de animais, de plantas e at de microrganismos. Com muitssimo menor razo
podemos continuar a admiti-lo como procedimento que pretenda conhecer o corpo humano.
Sabemos hoje, com toda tranqilidade, em terceiro lugar, que o corpo humano social-
mente construdo. Assim, poderamos meditar, por exemplo, sobre o significado antropolgi-
co do fato de que alguns meninos selvagens, que haviam sobrevivido convivendo com animais
at terem sido reencontrados, alm de beberem gua por lambidas e de farejarem os alimentos
no apresentavam postura ereta e se locomoviam sobre os quatro membros, talvez imitando
seus companheiros (Malson, 1964). Quer dizer: algo to fundamental e caracterstico, algo to
natural ao homem, algo to presente nos manuais de antropologia fsica, como a posio ereta
e o andar bpede, no resulta apenas de uma natureza humana biologicamente dada, mas
tambm de uma construo social. obra da presena de outrem e de seu estmulo.
Quarto ponto: sendo em grande medida uma construo social, o corpo humano apresen-
ta as caractersticas dos fenmenos culturais. Principalmente, ele relativo: varia entre as
sociedades e, dentro de cada uma delas, segundo os grupos, segundo os indivduos, segundo
os contextos e de acordo com os vrios momentos das biografias. Tambm histrico: no o
mesmo segundo os diferentes tempos de indivduos, grupos e sociedades. Quinto ponto: como
172
CRTICAS E ATUANTES
queria a Escola, as sociedades constroem os corpos. Mas, como sabemos principalmente depois
da publicao de Vigiar e Punir, de Michel Foucault (1975), no incio dos anos 70, a recproca
verdadeira pois uma sociedade se faz fazendo os corpos em que existe. Mais radicalmente, talvez
fosse mesmo possvel afirmar que os corpos de seus membros constituem a nica materialidade
efetiva de qualquer sociedade. Ela s existiria nos corpos em que adquire vida: em msculos, fibras,
tendes, nervos, neurnios, sensibilidades, resistncias, habilidades, desejos, temores...
Tambm possvel registrar em nossos dias um considervel progresso das dimenses
que poderamos considerar aplicadas da antropologia do corpo dimenses que alguns pre-
ferem designar como antropologia mdica, ou da sade, entre outras designaes disciplina-
res quase sempre problemticas. H muito tempo os antroplogos sabem que as medicinas
variam de sociedade para sociedade. Assim, por exemplo, est bastante assentado que as cultu-
ras chinesa e indiana, o Ocidente contemporneo e o medieval, bem como as sociedades tribais
espalhadas pelos continentes, dispem de suas prprias medicinas e de suas respectivas con-
cepes e tcnicas teraputicas. Tambm est bastante estabelecido que as diferentes medicinas
apresentam interpretaes prprias do corpo e das doenas, colocando em ao tcnicas e
teraputicas muito especficas, casos em que se encaixam a homeopatia, a alopatia, a osteopatia,
a quiroprtica, a acupuntura...
Igualmente se reconhece que essas medicinas e teraputicas em geral apresentam razovel
eficcia. Sem isso dificilmente elas conseguiriam se manter por longo tempo. A observao das
doenas e dos tratamentos, que os diferentes povos com freqncia vm realizando durante
sculos ou milnios, bem como os intercmbios de experincias que as culturas continuamente
mantm, propiciam que as sabedorias mdicas quase nunca estejam completamente desprovi-
das de conhecimentos objetivos. Contudo, muito importante observar e isto tambm est
razoavelmente aceito hoje em dia que nenhum saber mdico constitudo apenas por conhe-
cimentos autnomos e objetivos.
Entenda-se bem esse ltimo ponto. Alm de expressarem as concepes, experincias e
observaes especficas relacionadas sade, s doenas e aos tratamentos vigorantes em uma
sociedade determinada, as medicinas tambm traduzem inevitavelmente, em cada cultura par-
ticular, os princpios e crenas morais, polticos e cosmolgicos que presidem os demais dom-
nios da experincia nessa sociedade. Em outras palavras, em vez de saber autnomo, objetivo
e neutro, em vez de pura prtica, toda teraputica tambm dispositivo de transformao de
doenas em narrativas nas quais elas, as doenas, adquirem sentido. Por conseguinte, toda
medicina ao mesmo tempo absorve e irradia religio, moral, poltica, parentesco, economia,
sistema jurdico... E esses fatores exteriores se tornam dramaticamente evidentes, sobretudo
nas situaes de carncia de recursos, em que seja imprescindvel definir prioridades.
preciso lembrar, porm, que essa caracterstica em nada diminui a eficcia das vrias
medicinas. Como vimos, a eficincia de qualquer teraputica depende em grande parte exata-
mente de suas dimenses simblicas. Pensemos, a propsito, na capacidade curativa dos place-
173
Os Corpos na Antropologia
bos, isto , no poder dessas substncias em si mesmas desprovidas de qualquer capacidade de
ao teraputica. Apesar disso, os estudos tm revelado uma efetividade paradoxal e muito
mais do que surpreendente desses remdios (Le Breton, 1995). Esse sucesso apenas coloca em
evidncia a importncia das dimenses mtica e ritual do terapeuta que os recomenda, assim
como as da autoridade que o legitima. Os placebos tambm evidenciam a relevncia de conhe-
cer as expectativas de comportamento que os clientes nutrem em relao queles a quem se
confiam. Por conseguinte, em vez de acusativa e preconceituosamente atribuir esses poderes
ignorncia dos doentes, no seria muito mais sbio incluir a ao dos placebos na eficcia
mgica da prpria medicina? E no seria muito mais inteligente retirar disso os frutos que
forem tica e tecnicamente possveis?
No obstante os progressos da antropologia do corpo, tem sido comum entre leigos e at
mesmo entre especialistas de reas da sade a pressuposio de que as doenas, porque biol-
gicas ou naturais, sejam aproximadamente as mesmas atravs das diferentes culturas. A con-
seqncia dessa presuno a crena de que as diferentes medicinas se limitariam a diagnosti-
car e a tratar apenas com graus diferenciados de sucesso doenas que so mais ou menos
universais e coincidentes segundo as diferentes populaes. Ora, aqui preciso lembrar que
uma das contribuies importantes da difuso do estudo das dimenses culturais do corpo
humano foi o crescimento da conscincia de que no apenas as medicinas e as formas de
tratamento sejam relativas, mas a certeza de que tambm as doenas e seus diagnsticos so
passveis de variao segundo os tempos e as sociedades.
Com efeito, pelo menos estatisticamente podemos hoje estar razoavelmente seguros de que
existem enfermidades bastante caractersticas de certas pocas e de grupamentos humanos
definidos. Penso, por exemplo, nas mortes mais ou menos rpidas de recm-vivos e de
recm-aposentados no Ocidente contemporneo. Penso tambm em certas doenas recorren-
tes em alguns profissionais, como as afeces de ouvido e a obesidade entre motoristas de
caminho no Brasil. Da mesma maneira, sabe-se que a incidncia de determinadas doenas est
freqentemente associada a costumes, a valores, a saberes, a modos de vida, bem como a desco-
nhecimentos especficos por parte de culturas particulares.
Na mesma linha, a freqncia de algumas doenas est ligada s identidades sociais: como
as marcas da sfilis e da blenorragia em relao masculinidade no Brasil tradicional, preciso
muitas vezes exibir determinados traos patolgicos como signos que permitam a uma pessoa
ser socialmente identificada como grvida, velha, adolescente etc. Outras tantas, para ser
socialmente aceito ser preciso esconder as marcas de determinadas doenas. Alm disso, a
incidncia especfica de tais doenas tambm costuma estar associada s atitudes existenciais e
aos posicionamentos filosficos de cada sociedade a respeito de o que sejam a natureza, a vida,
a morte, a sade e o bem-estar.
Alguns exemplos tornaro este ponto mais claro. O cncer de pulmo uma doena
muito rara entre os aborgines australianos; mas os que vivem nas cidades so acometidos por
174
CRTICAS E ATUANTES
taxas muito semelhantes s verificveis no geral das populaes urbanas daquele pas. Talvez
associando-se ao costume de ingerir alimentos defumados, o cncer de estmago extrema-
mente freqente no Japo, e o de esfago bastante peculiar ao Rio Grande do Sul. De modo
anlogo, provavelmente relacionado com a presena ou deficincia de fibras, de conservantes
e de colorantes artificiais na alimentao, o cncer do clon, relativamente pouco existente na
frica (at recentemente pelo menos), tornou-se bastante comum nos Estados Unidos. Antes
dos Descobrimentos, a crie, tipicamente europia, associada a determinados costumes, entre
eles, como se sabe, o de ingerir elevadas quantidades de acar, no era conhecida na Amrica,
nem pelos aborgines australianos.
Que dizer, ento, da hipertenso, da obesidade, do estresse, da dependncia de drogas
qumicas sintticas? Todas derivam diretamente de determinados estilos de vida culturalmente
viabilizados. E o que falar da anorexia, tipicamente contempornea, feminina, urbana e adoles-
cente, fortemente relacionada a certos ideais de esttica corporal (que, alis, j no se limitam
mais s mulheres jovens)? E das prises de ventre crnicas, que podem ter a ver com a escolha
dos alimentos, com o uso de conservantes na alimentao, com os tabus em relao excreo
e com o ritmo vertiginoso da vida nas sociedades modernas? As epidemias tambm esto
relacionadas a determinados tipos de organizao social: pelo menos do ponto de vista estats-
tico, so favorecidas por grandes aglomerados populacionais e por contatos sociais densos
entre pessoas e populaes. Essa a razo pela qual sociedades de caadores e coletores nma-
des, que vivam dispersos, apresentam probabilidade menor de as contrair e de as transmitir ao
conjunto de sua populao.
A Aids, por exemplo, tipicamente uma doena de transmisso facilitada pela cultura da
globalizao. Contudo, do ponto de vista estatstico, ela est ou esteve tambm associada a certas
prticas e costumes muito bem definidos e bastante localizados em segmentos populacionais
especficos, tais como o uso de drogas injetveis, acompanhado de compartilhamento de serin-
gas e de agulhas, a transfuso de sangue e a liberalizao das relaes sexuais. Seria, alis, um
bom exerccio verificar a incidncia estatstica da Aids em universos sociais culturalmente
diferenciados, como, por exemplo, entre as Testemunhas de Jeov, que sabidamente no admi-
tem transfuso de sangue e que costumam ser conservadores no que diz respeito ao consumo
de drogas e ao comportamento sexual.
O conhecimento da dimenso cultural da corporeidade humana tambm tem permi-
tido colocar em pauta alguns valores freqentemente tidos como inquestionveis. A higie-
ne, por exemplo, sempre costuma ser apresentada apenas pelos seus lados positivos. Em
geral, tende a ser tratada como um valor quase transcendental, desconsiderando-se inclu-
sive o gigantesco aparato de represso poltica e psicolgica que requereu para se impor
historicamente (Vigarello, 1985; Rodrigues, 1995, 2000). Acontece que nem mesmo do
ponto de vista estritamente sanitrio a higiene pode ser compreendida como um absoluto,
dispensando contextualizao social.
175
Os Corpos na Antropologia
Uma pequena ilustrao desse ltimo ponto: na dcada de 1950, uma epidemia de polio-
mielite em Detroit, nos Estados Unidos, atingiu com maior freqncia crianas das classes
altas, que tinham sido criadas sob rgidos padres higinicos; por seu turno, as crianas dos
guetos e as negras permaneceram comparativamente inatingidas, por estarem naturalmente
mais protegidas que as primeiras. claro que isso se deu antes da descoberta da vacina contra
a poliomielite, pois aps este evento a coisa se inverteu: os brancos de classe alta foram vacina-
dos, de modo que os negros e os pobres passaram a liderar as estatsticas (Leach, 1967). Outro
breve exemplo: o preservativo masculino quase unanimemente considerado instrumento
higinico e de elevada eficcia para prevenir doenas sexualmente transmitidas, entre elas a
infeco por HIV mas como convencer imensos contingentes populacionais africanos a tratar
o esperma, um lquido to rico em potncias e significados para a maioria das culturas africa-
nas, como se fosse um mero dejeto descartvel e, maneira ocidental, tranqilamente destin-
vel ao lixo ou descarga do vaso sanitrio?
No mesmo esprito, seria bem possvel fazer um diagnstico parcial da qualidade de vida
(e, portanto, tambm da sade) de segmentos de uma sociedade a partir desses verdadeiros
sintomas sociolgicos que so os medicamentos que se consomem. Quem usa analgsicos?
Quais so os que adquirem remdios para o fgado? Quem ingere fortificantes, calmantes,
estimulantes, digestivos, emagrecedores, antidepressivos? At que ponto esses medicamentos
desempenham um papel poltico ao tornarem vivel um gnero de vida que de outro modo
seria insuportvel? Os calmantes no nos permitem ficar calmos sem saber que estamos nervo-
sos? Os que tomam analgsico sistematicamente no fariam melhor se mudassem de vida, em
vez de continuar sofrendo sem saber que esto sofrendo? Enfim, solues individuais para
problemas em geral coletivos: em que medida os digestivos tornam digerveis alimentos inde-
glutveis, os analgsicos transformam em indiferentes rotinas de vida na verdade dolorosas, os
calmantes fazem razoveis ritmos e situaes de arrepiar os cabelos? Esses poucos exemplos,
entre muitssimos possveis, so suficientes para colocar questes muito srias e muito aplica-
das sobre o que so ou o que devem ser sade, tratamento e cura.
Correndo o risco de um certo exagero, poderamos ir um pouco adiante no raciocnio e
levantar a hiptese de que os fatores culturais no apenas influenciam doenas, como uma
espcie de varivel ambiental. Em muitos casos, principalmente associados s guerras, s
violncias e s injustias sociais, pode-se mesmo falar de uma bvia, verdadeira e proposital
produo coletiva delas. Mas h casos menos perceptveis a olho nu. certamente o de certas
molstias degenerativas, que so possibilitadas por uma cultura que descobriu meios de pro-
longar a vida individual mdia muito alm do que a histria j havia conhecido. Talvez seja
igualmente a situao de doenas favorecidas por esteretipos e por idias preconcebidas a
respeito dos idosos e da velhice. Pode ser tambm o caso de certas modalidades de impotncia
sexual masculina, associadas a ansiedades geradas pelo medo do fracasso diante de quase olm-
picas expectativas culturais de desempenho sexual.
176
CRTICAS E ATUANTES
De modo semelhante poderiam ser assim consideradas as dificuldades relativas adoles-
cncia. Esta uma categoria de fase de vida desconhecida em tantas e tantas culturas e mesmo
no Ocidente at os finais do sculo XIX (Aris, 1981). Como se sabe pelo menos desde os
trabalhos de Ruth Benedict e Margaret Mead, em muitas sociedades, por meio de ritos bem
especficos e localizados, os jovens so diretamente promovidos vida adulta, com os direitos
e os deveres bastante definidos que se esperam dessa condio. Se existe, a famosa exploso
hormonal, com que atualmente se procura entre ns biologizar e naturalizar a adolescncia,
encontra nessas sociedades canalizaes culturais bastante diferenciadas das que escolhemos
em nossa sociedade. A propsito, at meados do sculo XX, passar direto para a vida adulta
no era o destino socialmente aceito e um ideal almejado por muitas mulheres brasileiras nas
cidades e nos campos (Freyre, 1977, 1985), que se transformavam em esposas e mes muitas
vezes antes de completarem os 15 anos?
Talvez esse seja tambm o caso de certas enfermidades pouco conhecidas ou escassamente
mencionadas na literatura sobre doenas em outras pocas e culturas. Por exemplo, o enjo matinal
na gravidez desconhecido das mulheres arapesh, como Margaret Mead (1969) observou. Especulo
sobre se no seria assim com a tenso pr-menstrual (TPM), pouco mencionada na literatura mdi-
ca ocidental at apenas poucas dcadas atrs, provavelmente por ter sido menos freqente. Como se
sabe, as mulheres passavam longos perodos de suas vidas gestando e amamentando. Certamente
isso se devia em parte impossibilidade de evitar gravidez com o uso de contraceptivos eficazes.
Mas principalmente resultava de estmulos culturais muito potentes para que as proles fossem
numerosas (freqentemente superiores dezena). Havia talvez pouca oportunidade para grande
incidncia de TPM: as mulheres, quase sempre grvidas ou amamentando, talvez menstruassem
menos. Na mesma direo, e dando asas imaginao, caberia conjeturar sobre se a menopausa no
faria parte desse mesmo quadro, em uma sociedade na qual a valorizao da extenso da vida torna
a existncia individual cada vez mais longa. Com efeito, onde o culto da vida extensa no existe, ou
onde no pode ser culturalmente viabilizado, h razovel probabilidade de que a vida da maioria
das mulheres se esgote antes mesmo que tenham esgotado os seus vulos.
Em que medida, para continuar nossos exemplos, a conhecida dor do parto seria tam-
bm funo de fatores culturais? Em algumas culturas so os maridos que observam resguardo
quando da gravidez ou do parto de suas esposas. Estar a dor associada a tcnicas obstetrcias
praticadas por determinada cultura (posio deitada, relativamente contrria gravidade)? Ou
experincia especfica da mulher (primeiro, ou stimo filho)? Ao gnero predominante de
vida, que tem a ver com a fora muscular e a resistncia fsica (burocrata, camponesa, atleta...)?
A determinadas implicaes mitolgicas (Parirs com dor!)? A certas dramatizaes apresen-
tadas como modelos pelos meios de comunicao de massa? Ou, ainda, ao sentido atribudo
por uma cultura dor em geral ou dor de parto em particular sentido que algumas vezes
pode fazer toda a diferena entre sofrimento e prazer?
Embora este no seja ainda um ponto plenamente consagrado, estamos em vias de poder
sustentar que para um conhecimento mais efetivo das doenas, dos sofrimentos e dos tratamen-
177
Os Corpos na Antropologia
tos torna-se cada vez mais impositiva a considerao de hipteses sobre suas possveis dimen-
ses simblicas e comportamentais. Essa considerao particularmente relevante quando
esto em jogo enfermidades de elevada incidncia estatstica em determinada populao. Penso,
como exemplo mas eles poderiam ser tantos! , nos cnceres de prstata e de mamas em nossas
sociedades atuais: alm dos tabus que dificultam o diagnstico precoce, que hbitos (sexuais,
alimentares, de rotinas de vida, de consumo etc.) podem estar lhes fazendo companhia?
Enfim, os trabalhos nessa direo aplicada devem prosseguir e devem continuar os esfor-
os dos profissionais para operacionalizar os conhecimentos concernentes relao entre cul-
tura e sade. S teremos benefcios a receber se esses estudos se diversificarem por mltiplos
caminhos empricos, tematizando conexes sempre novas entre fatores culturais, doenas e
tratamentos. Mas o pragmatismo deve ser matizado pelo fato de que a antropologia do corpo
nos ensina que no h sade em si, passvel de definio normativa, e que talvez valha a pena
levar sempre em considerao a hiptese de que a experincia da doena, como Nietzsche
(1950) observou, possa ter o seu lado saudvel e talvez mesmo indispensvel do ponto de vista
antropolgico. Em sntese e sobretudo , a esta altura dos conhecimentos da antropologia do
corpo, pode-se tranqilamente afirmar que no basta estudar apenas o aspecto laboratorial das
enfermidades e que no satisfatrio compreender delas somente aquilo que possvel perce-
ber por meio do microscpio.
AMANH?
H ainda muito espao para o alargamento horizontal e emprico dos estudos de antropolo-
gia do corpo. Mas encontramos hoje um desafio talvez maior, que o de verticalizar a reflexo
sobre o que seja o corpo humano. Trata-se de aproveitar todos os dados e todos os conhecimentos
que vieram sendo acumulados ao longo da histria dessa especialidade, para recolocar, agora,
porm, em bases certamente muito mais slidas e com novos instrumentos, algumas indagaes
literalmente fundamentais e constitutivas da reflexo neste campo. A essas perguntas, natural-
mente, talvez venham corresponder respostas bastante distintas das que foram possveis nos
tempos primordiais e hericos dos fundadores dos estudos antropolgicos sobre o corpo.
Por exemplo, o que uma vida humana? Que diferena existe entre a vida de um ser
humano e a de uma planta ou de um animal? Nestes ltimos, como no homem, existe algo
como uma fora, um lan que os impulsiona a viver. Neles h o que faz os galhos se estende-
rem, os coraes baterem, os neurnios se conectarem, os olhos enxergarem, os pulmes inspi-
rarem e expirarem... Aquilo, enfim, que leva animais e plantas a crescer e a encontrar seus
destinos. E isso, de certa forma, independentemente de suas vontades; talvez, s vezes, mesmo
contra suas vontades. Essa fora o que constitui qualquer vida, botnica ou zoolgica. E a
humana, na medida em que o homem tambm um animal.
Entretanto, somente essa dimenso de existncia biolgica de todo insuficiente para
explicar a vida humana, em seu sentido propriamente antropolgico. A vida de um ho-
178
CRTICAS E ATUANTES
mem no apenas impulsionada por uma fora ou lan vital. No somente um impositi-
vo biolgico. Ela a vida do nico ser consciente de ser mortal, do nico ente comprova-
damente capaz de se matar, do nico corpo habilitado a se extinguir pela prpria vontade.
A vida humana a de um existente que sempre tem as suas razes muito especificamente
humanas para viver ou para deixar de viver. E o que a antropologia ensina que essas
razes residem exatamente naquilo que o raciocnio puramente biolgico consideraria aces-
srio, superficial ou mesmo frvolo: na dana, na msica, na fala, nos mitos, nos rituais,
nos sistemas de parentesco... Razes encontrveis, em suma, em tudo aquilo que s existe
entre os seres humanos. Por conseguinte, compreender a vida humana em sentido vertical
significa incorporar na reflexo esses elementos fteis, mas especificamente humanos.
Significa entender que a vida humana tem suas razes (amor, dio, honra, vergonha, orgu-
lho etc.) que a biologia desconhece.
No meu entender, a antropologia gira em torno de uma questo ao mesmo tempo central
e geral. E essa questo o desafio de compreender como os seres humanos so simultaneamen-
te animais e algo diferente de animais. Essa indagao geral se materializa, no caso especfico
da antropologia do corpo, em saber como os homens tm uma vida e um corpo animais,
porm diferentes de vidas e de corpos de animais. Um corpo animal, que pulsa, que transpira,
que se reproduz, que se alimenta, que elimina... mas que no mesmo ato no transpira como
um animal, no se reproduz da mesma forma, no se alimenta de modo igual, no elimina de
maneira semelhante. Um corpo animal todavia, sempre adornado, vestido, treinado, medi-
calizado. Um corpo objeto de intervenes rituais que culturalizam o biolgico, ao mesmo
tempo que biologizam e muitas vezes visceralizam o cultural.
ALGUMAS BREVES ILUSTRAES
O humano um corpo que se alimenta, como o de todo animal. Mas, de alimentao
onvora, os homens so capazes de devorar tudo o que seja quimicamente definvel como
alimento, no estando biologicamente obrigados a consumir esta ou aquela comida. Essa a
razo pela qual os esquims so quase exclusivamente carnvoros; os hindus, vegetarianos e
os aborgines australianos escolhem abastecer-se de protenas ingerindo insetos. Por isso
tambm, sendo capazes de colocar para dentro de si at mesmo o que poderia ser definido
como o exato contrrio de alimento (fumaas, txicos e venenos, por exemplo), algumas
vezes os seres humanos alimentam-se daquilo que de modo algum poderia caber na defini-
o qumica de alimento. Nem mesmo um mamfero se pode garantir que os homens este-
jam biologicamente determinados a ser, pois h culturas em que o leite humano rigorosa-
mente negado aos bebs. Enquanto isso, em outras, como a nossa (na qual seria melhor dizer
que os bebs sejam mamadeirferos), realizam-se campanhas de esclarecimento pblico com
a finalidade de que as mes amamentem seus filhos. Aprendemos, assim, com a alimentao,
que os humanos so dotados de corpos destinados a variar de cultura para cultura, de corpos
constitudos para diferir. Aprendemos tambm que, muito alm de qumico, o alimento
179
Os Corpos na Antropologia
incorpora valor de smbolo. E compreendemos por que possvel que cada homem retire
prazer gastronmico de alimentos que, do ponto de vista de outros, seriam tidos como os
mais estapafrdios e mesmo como inimaginveis.
Como o de muitos animais, o humano um corpo que tem relaes sexuais. Contudo,
no est biologicamente restrito a copular com x ou com y. No lhe est organicamente
determinado obedecer ou transgredir proibies de incesto. A biologia no lhe impe cpu-
las em tal ou qual momento dos ciclos de fertilidade, na gravidez ou fora dela, por prazer ou
por obrigao, de modo freqente ou escasso, com esta ou com aquela finalidade, estimulan-
do este ou aquele ponto ergeno. Segundo as sociedades, o sexo pode ser praticado a ss,
com um ou vrios parceiros, com animais, com pessoas de outro ou do mesmo sexo, nesta
ou naquela posio... De modo anlogo ao que acabamos de ver a propsito da alimentao,
entre os humanos o sexo passa a ser imediata e simultaneamente significao: transforma-se
em conformismo, desvio, imaginao, padro esttico, aliana entre grupos, gesto religio-
so, obrigao moral, e assim por diante. De novo encontramos aqui um terreno corporal
propcio diferena, um campo frtil para que cada cultura faa as suas opes e plante a
rvore de sua sexualidade prpria. Essa sexualidade, ao contrrio do que se polemizava
acaloradamente algumas dcadas atrs, no pode mais ser considerada nem como apenas
biolgica, nem como somente cultural.
Desde sempre os antroplogos biolgicos estiveram preocupados em descrever este ser
comparativamente livre das determinaes do ambiente, que o humano. Viver nas tempera-
turas mais elevadas ou nas mais geladas, nas florestas, nos desertos, nas montanhas ou nos
vales, no mar e at no espao extraterrestre... Nenhum ser capaz de tanto. Mas, para os
propsitos da antropologia do corpo, necessrio que caminhemos bem alm da perspectiva
adaptacional, que sempre prevaleceu na reflexo da antropologia fsica sobre este assunto. Mais
ainda: tambm preciso forcejar os limites comparativamente muito mais ousados da antropo-
logia cultural, que quase sempre sustentou que os homens inventam seus ambientes. Ambos
os pontos de vista so vlidos, sem dvida, em seus nveis especficos. Entretanto, para a
constituio plena da antropologia do corpo necessrio compreender e levar at suas con-
seqncias ltimas que, muito mais do que seus ambientes, o que os homens criam na
verdade so os seus prprios corpos.
Os homens inventam seus corpos, esses hbridos construdos com adornos e com prte-
ses, com disciplinas e com treinamentos, com automatismos adaptados aos mobilirios, s
ferramentas e s mquinas, com prazeres e sofrimentos corporais fsicos, simblicos e imagin-
rios. Inventam-no porque o humano o corpo de um ser votado diversidade, de um ente
destinado a diferir inclusive de si mesmo. Portanto, necessrio aos antroplogos, fsicos ou
culturais, enfrentar o desafio de incluir na reflexo sobre o corpo esses princpios de variabili-
dade e de adaptabilidade radicais princpios que, alis, no so seno casos particulares do
prprio princpio geral da diversidade. Isso significa que preciso correr o risco de relativizar
inclusive a prpria biologia humana, para compreender como o corpo deste animal da cultura
180
CRTICAS E ATUANTES
dotado de uma natureza especial: nele, qualquer detalhe biolgico pode se ver imediatamente
envolvido por convenes simblicas, com todas as conseqncias jurdicas, polticas ou ticas
que isto acarreta.
Seria igualmente relevante, por outro lado, que os antroplogos culturais, especialmente
quando tratassem do corpo, se lembrassem de que em muitos casos possvel e mesmo neces-
srio colocar em mais enftica evidncia a concretude s vezes esquecida da cultura, indo alm
das representaes e dando alguns passos na direo do biolgico. Assim, por exemplo, quan-
do se diz que os indivduos da nossa cultura tm nojo da maioria das secrees corporais, no
se est referindo apenas ao que pensam sobre os produtos do corpo, mas tambm a automatis-
mos, a reflexos, a hormnios, a tenses musculares, a estados nervosos, a movimentos de
vsceras, a humores... Quando se diz que os suy (Seeger, 1980) acreditam que a doena e o
tratamento envolvam os parentes prximos, de mesma substncia, certamente no se est
falando apenas de uma teoria abstrata, mas tambm da prpria evoluo das doenas e das
condies de eficcia dos procedimentos teraputicos. Em vez de uma barra separando a natu-
reza da cultura, seria importante pesquisar em cada experincia corporal os gradientes cont-
nuos, diferenciados e inmeros que esto a amalgamar a globalidade da experincia humana,
que ao mesmo tempo simblica e biolgica.
Quando se diz que os arapesh (Mead, 1969) consideram atraentes mulheres com seios
grandes e cados, alegando que so superiores s ainda demasiado crianas, que os tm duros
e levantados, preciso entender que eles no apenas pensam isso, mas tambm que todo um
conjunto de tabus, de sentimentos, de sensaes e de sensibilidades est associado a esse pensa-
mento. Eles efetivamente sentem a mulher mais velha como mais atraente. Os praticantes de
candombl que viram no santo no apenas possuem crenas especficas sobre suas relaes
com os orixs, no somente as representam, mas as experimentam e vivenciam de maneira
intensamente corporal. Entre os homens de algumas culturas, muitos no se limitam a pensar
que uma mulher de ndegas acentuadas seja particularmente atraente: experimentam isso e
de tal maneira que todo um conjunto de movimentos e de automatismos dos olhos, do pescoo
e da cabea imediatamente se pe a funcionar. Portanto, muitas vezes no se trata apenas de
representao social, de concepes, de vises de mundo, de idias mais ou menos intang-
veis, volteis e imateriais. As representaes do corpo principalmente no se limitam a ser
apenas acontecimentos intelectuais: com freqncia so violentamente viscerais e no raro se
traduzem em entusiasmos, em medos, em prazeres, em rancores, em sensibilidades... sem-
pre necessrio saber como ecoam e reverberam na carne.
Contra o etnocntrico dualismo cartesiano de nossa herana intelectual, nunca nos esque-
amos de que biolgico e cultural so apenas conceitos. O corpo humano no tem dois lados
um fixo e biolgico, outro varivel e cultural mas apenas um. Conseqentemente, a cada
cultura corresponde uma corporeidade prpria. A antropologia do corpo precisaria ser to
radicalmente relativizadora que incitasse relativizao da prpria biologia humana. Apenas
ilusoriamente se pode continuar considerando que morfolgica, anatmica ou fisiologicamen-
181
Os Corpos na Antropologia
te os rgos humanos sejam universalmente os mesmos, pois naturais: porque os ascos e os
prazeres so diversos, as resistncias dor so diferentes, as sensibilidades estticas no se
repetem, as doenas variam... E os rgos respondem a essas variaes, ao mesmo tempo que
as tornam possveis.
A natureza humana no natural. De cultura para cultura, dor e prazer podem simples-
mente se inverter. Como Bruno Latour (1994:104) sugeriu, para entender a corporeidade
humana seria necessrio passar do relativismo cultural ao relativismo natural. Existiria,
ento, em cada sociedade uma natureza-cultura prpria: uma confluncia singular, um hibri-
dismo particular, que no se repete em outra sociedade. Essa natureza-cultura talvez pudesse
ser mais bem compreendida como anloga fita de Moebius: nesta, uma toro em uma das
pontas antes de col-la outra faz com que a oposio entre interior e exterior desaparea e que
a fita no tenha mais lados, podendo ser descrita como dotada de um interior-exterior.
Sem repetir os erros cujos perigos esto sempre espreita de um reducionismo biol-
gico determinista, talvez fosse estratgico para a antropologia do corpo desenvolver estudos
que tentassem aprender em novssimas bases com as rupturas e continuidades presentes na-
queles aspectos da vida humana que encontram correspondncia aparente em outros animais:
alimentao, limpeza, menstruao, sono, acasalamento, aleitamento, ritualizao, cuidado com
os pequenos etc. Talvez seja uma boa inspirao retornar ao conselho de Marcel Mauss e desen-
volver os mtodos de estudar com cuidado aqueles fatos em que a natureza biolgica encontra
bem diretamente a natureza social do homem, em que o individual e o coletivo se interpene-
tram e em que, como Durkheim costumava repetir, os homens vibram em conjunto, contagi-
am-se e entram em efervescncia coletiva: em mulheres que nunca conceberam, mas que pro-
duzem leite quando se dispem a amamentar filhos de outras; na tendncia das que vivem em
estreita proximidade fsica a menstruar mais ou menos simultaneamente; no orgasmo, que
depende estreitamente de crenas especficas sobre a sexualidade; nas ccegas, que no podem
ser provocadas por algum em si mesmo; na lgrima, no choro, no riso, no sorriso e na
gargalhada, que so manifestaes corporais suscitadas pela combinao de idias muito sutil-
mente particulares; nos placebos, que no raro realizam curas surpreendentes e extraordinri-
as; na dor, que s vezes se converte em prazer pela ao de reinterpretaes simblicas e de
recompensas culturais; nos membros fantasmas dos amputados, que por um tempo continuam
a se fazer presentes mesmo no existindo mais; no transe, que depende da presena de certas
idias muito definidas sobre o sagrado; nos alucingenos, que fazem se enevoarem as fronteiras
entre percepo e imaginrio; nas mortes, nas doenas, nos tratamentos e nas curas vudus; na
msica, cujos ritmos so simultaneamente viscerais e intelectuais; em algumas expresses cor-
porais de emoes, que parecem ser universais em crianas muito pequenas e que progressiva-
mente vo se particularizando nos adultos; no aparente contgio dos bocejos em pblico; no
paladar, no nojo, na vergonha, no medo, na dana, na hipnose, no humor, no sonho...
182
CRTICAS E ATUANTES
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARIS, P. Histria Social da Criana e da Famlia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1981.
BOAS, F. The Mind of Primitive Man. New York: The MacMilland Company, 1963.
BOAS, F. Changes in bodily form of descendants of immigrants. In: MONTAGU, A. (Org.) Frontiers of
Anthropology. New York: G. P. Putnams Sons, 1974.
CANNON, W. Voodoo death. In: MONTAGU, A. (Org.) Frontiers of Anthropology. New York: G. P.
Putnams Sons, 1974.
DURKHEIM, E. El Suicidio. Buenos Aires: Schapire, 1971.
FOUCAULT, M. Surveiller et Punir. Paris: Gallimard, 1975.
FREYRE, G. Casa-grande & Senzala. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1977.
FREYRE, G. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1985.
HERTZ, R. Sociologie Religieuse et Folklore. Paris: Presses Universitaires de France, 1970.
HERTZ, R. A preeminncia da mo direita: estudo sobre a polaridade religiosa. Religio e Sociedade,
6:99-128, nov. 1980.
LATOUR, B. Jamais Fomos Modernos. So Paulo: Editora 34, 1994.
LEACH, R. Socioeconomic Status, Race and Poliomyelitis in Detroit, Michigan: a sociological analysis, 1967.
MA Thesis, Detroit: Wayne State University.
LE BRETON, D. Anthropologie de la Douleur. Paris: Mtaili, 1995.
LVI-STRAUSS, C. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967.
MALSON, L. Les Enfants Sauvages. Paris: Union Gnrale dEditions, 1964.
MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. So Paulo: Edusp, 1974. vol. 2.
MAUSS, M. Ensaios de Sociologia. So Paulo: Perspectiva, 1981.
MEAD, M. Sexo e Temperamento. So Paulo: Perspectiva,1969.
NIETZSCHE, F. Le Gai Savoir. Paris: Gallimard, 1950.
RODRIGUES, J. C. Higiene e Iluso. Rio de Janeiro: Nau, 1995.
RODRIGUES, J. C. O Corpo na Histria. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000.
SEEGER, A. Os ndios e Ns. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
VIGARELLO, G. Le Propre et le Sale. Paris: Seuil, 1985.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Conceituando a Antropologia como ciência socialDokument9 SeitenConceituando a Antropologia como ciência socialThiago Adriano AlvesNoch keine Bewertungen
- Necrobiopoder EstadoDokument16 SeitenNecrobiopoder EstadoValentina PazNoch keine Bewertungen
- Prisoes - Espelhos de Nos - Juliana BorgesDokument74 SeitenPrisoes - Espelhos de Nos - Juliana BorgesDeise ConceiçãoNoch keine Bewertungen
- Reforma da Previdência: especialistas ouvidos pela mídiaDokument52 SeitenReforma da Previdência: especialistas ouvidos pela mídiaAdriana SantanaNoch keine Bewertungen
- Curricularização Da Extensão: ForextDokument200 SeitenCurricularização Da Extensão: ForextJOSÉ ADELSON DA SILVA FERREIRA100% (1)
- Direito em SociedadesDokument20 SeitenDireito em SociedadesJuliana SilvaNoch keine Bewertungen
- Descolonização e Despatriarcalização à Plurinacionalidade e ao Bem-Viver na Bolívia: mulheres na construção de uma Política Feminista Contra-HegemônicaVon EverandDescolonização e Despatriarcalização à Plurinacionalidade e ao Bem-Viver na Bolívia: mulheres na construção de uma Política Feminista Contra-HegemônicaNoch keine Bewertungen
- Crime, Justiça e Sociedade Nos Tempos Modernos e Modernos - Trinta Anos de Crime e História Da Justiça CriminalDokument32 SeitenCrime, Justiça e Sociedade Nos Tempos Modernos e Modernos - Trinta Anos de Crime e História Da Justiça CriminalAdriana Carpi100% (1)
- Sobre a obra de Althusser no BrasilDokument16 SeitenSobre a obra de Althusser no BrasilAnderson Luiz VighiniNoch keine Bewertungen
- 30 Anos de Vigiar e Punir Foucault - Juarez Cirino Dos SantosDokument8 Seiten30 Anos de Vigiar e Punir Foucault - Juarez Cirino Dos SantosrodrigopontesNoch keine Bewertungen
- Tolerância Repressiva: análise de Herbert MarcuseDokument31 SeitenTolerância Repressiva: análise de Herbert MarcuseGabriel ReisNoch keine Bewertungen
- Desafios ético-político-epistemológicos à cosmovisão modernaDokument16 SeitenDesafios ético-político-epistemológicos à cosmovisão modernaS. LimaNoch keine Bewertungen
- Disciplina Poder, Punição e Controle Social - Leituras em Teoria SocialDokument3 SeitenDisciplina Poder, Punição e Controle Social - Leituras em Teoria SocialMárcio MoraesNoch keine Bewertungen
- Marcio Martins - Metodologia de Pesquisa - Trabalho1Dokument21 SeitenMarcio Martins - Metodologia de Pesquisa - Trabalho1Marcio Menezes MartinsNoch keine Bewertungen
- Tomaz de Oliveira, Rafael - o Conceito de Princípio Entre A Otimização e A Resposta Correta PDFDokument212 SeitenTomaz de Oliveira, Rafael - o Conceito de Princípio Entre A Otimização e A Resposta Correta PDFTiago CarneiroNoch keine Bewertungen
- Resumo Ensaio Sobre As Dadivas Mauss PDFDokument22 SeitenResumo Ensaio Sobre As Dadivas Mauss PDFRaphael LaghiNoch keine Bewertungen
- Gênero e Direito - Silvia PimentelDokument44 SeitenGênero e Direito - Silvia PimentelRonaldo JuniorNoch keine Bewertungen
- Uma antropologia do direito no BrasilDokument30 SeitenUma antropologia do direito no Brasilanacla22Noch keine Bewertungen
- Bonet 2018 PDFDokument296 SeitenBonet 2018 PDFAmanda ThaísNoch keine Bewertungen
- HENNING, C.E. 2013. Interseccionalidade e Pensamento Feminista: Contribuições Históricas e Debates ContemporâneosDokument17 SeitenHENNING, C.E. 2013. Interseccionalidade e Pensamento Feminista: Contribuições Históricas e Debates ContemporâneosCarlos Eduardo HenningNoch keine Bewertungen
- Sociologia contemporânea I: autores e temasDokument6 SeitenSociologia contemporânea I: autores e temasFabio QueridoNoch keine Bewertungen
- O Tribunal em o Processo de Franz KafkaDokument14 SeitenO Tribunal em o Processo de Franz KafkaAndré Luiz VielNoch keine Bewertungen
- Do incômodo das imagens à inquietação do pensamentoDokument12 SeitenDo incômodo das imagens à inquietação do pensamentoRafael BedinNoch keine Bewertungen
- Deslocamentos, reinvenções e direitos em debateDokument312 SeitenDeslocamentos, reinvenções e direitos em debateandrealacombe2663Noch keine Bewertungen
- O conceito de biopolítica em FoucaultDokument12 SeitenO conceito de biopolítica em FoucaultNataly MeloNoch keine Bewertungen
- Resumo FoucaultDokument8 SeitenResumo Foucaultbrunascarpari100% (1)
- Feminismo Jurídico: uma introdução ao campo em expansãoDokument20 SeitenFeminismo Jurídico: uma introdução ao campo em expansãoJoana BezerraNoch keine Bewertungen
- (Artigo) Butler, Performance de Gênero e As Potencialidades Do Fazer Drag Como Agência SubversivaDokument10 Seiten(Artigo) Butler, Performance de Gênero e As Potencialidades Do Fazer Drag Como Agência SubversivaPedro AlmeidaNoch keine Bewertungen
- Vigiar e Punir: Foucault e o sistema prisionalDokument40 SeitenVigiar e Punir: Foucault e o sistema prisionalLeidiane MareliNoch keine Bewertungen
- Do Público e Do Privado Uma Perspectiva de Género Sobre Uma Dicotomia ModernaDokument23 SeitenDo Público e Do Privado Uma Perspectiva de Género Sobre Uma Dicotomia ModernaDafne AraújoNoch keine Bewertungen
- Quarta Onda de Acesso À Justiça e A Metáfora Do Equilibrista - FinalDokument10 SeitenQuarta Onda de Acesso À Justiça e A Metáfora Do Equilibrista - FinalMona E Derson MedeirosNoch keine Bewertungen
- A Razão Populista - Ernesto LaclauDokument375 SeitenA Razão Populista - Ernesto LaclauDouglas Gregorio MiguelNoch keine Bewertungen
- Teoria Pura Do Direito - Hans KelsenDokument13 SeitenTeoria Pura Do Direito - Hans KelsenSilvia LaisNoch keine Bewertungen
- EGH00183 Antropologia Do Corpo - Etnografias Da Dor e Do Sofrimento (Ana Paula)Dokument3 SeitenEGH00183 Antropologia Do Corpo - Etnografias Da Dor e Do Sofrimento (Ana Paula)Michel MagalhãesNoch keine Bewertungen
- Direito de Resistência na ConstituiçãoDokument20 SeitenDireito de Resistência na ConstituiçãoLucas Farias100% (2)
- Fichamento As Técnicas Do Corpo MaussDokument3 SeitenFichamento As Técnicas Do Corpo MausslaratracyNoch keine Bewertungen
- Teoria da reciprocidade em Malinowski e MaussDokument4 SeitenTeoria da reciprocidade em Malinowski e MaussJúlia PessôaNoch keine Bewertungen
- Teoria Geral do Direito DIT043Dokument3 SeitenTeoria Geral do Direito DIT043Nathália LimaNoch keine Bewertungen
- A Teoria Da Hegemonia de Ernesto Laclau e A Análise Política BrasileiraDokument11 SeitenA Teoria Da Hegemonia de Ernesto Laclau e A Análise Política BrasileiraFelipe Amaral Borges100% (1)
- GALANTER. Por Que Quem Tem Sai Na Frente - Fev2014Dokument98 SeitenGALANTER. Por Que Quem Tem Sai Na Frente - Fev2014Gabriela PieniakNoch keine Bewertungen
- Para Uma Justica de Matriz TimorenseDokument194 SeitenPara Uma Justica de Matriz TimorenseMaria Paula MenesesNoch keine Bewertungen
- Megaeventos e Violações de Direitos Humanos No BrasilDokument138 SeitenMegaeventos e Violações de Direitos Humanos No BrasilCândido Neto da CunhaNoch keine Bewertungen
- Transgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesVon EverandTransgeneridade e Previdência Social: seguridade social e vulnerabilidadesNoch keine Bewertungen
- Anais Da ABRASDDokument2.003 SeitenAnais Da ABRASDMacell LeitãoNoch keine Bewertungen
- Criminologia crítica brasileira da aboliçãoDokument175 SeitenCriminologia crítica brasileira da aboliçãoHelmut SilvaNoch keine Bewertungen
- Políticas públicas de prevenção ao feminicídio e interseccionalidades: uma análise das políticas brasileiras à luz da perspectiva de gênero e raçaDokument37 SeitenPolíticas públicas de prevenção ao feminicídio e interseccionalidades: uma análise das políticas brasileiras à luz da perspectiva de gênero e raçaThiago ÁvilaNoch keine Bewertungen
- Orlando Villas Boas Filho. Verbete. Antropologia JurídicaDokument7 SeitenOrlando Villas Boas Filho. Verbete. Antropologia JurídicaGuilherme UchimuraNoch keine Bewertungen
- Análise crítica da obra Vigiar e Punir de Foucault sobre a história das penasDokument9 SeitenAnálise crítica da obra Vigiar e Punir de Foucault sobre a história das penasVincius BalestraNoch keine Bewertungen
- Durkheim, Mauss e Malinowski: notas críticas sobre as epistemologias clássicas da AntropologiaDokument11 SeitenDurkheim, Mauss e Malinowski: notas críticas sobre as epistemologias clássicas da AntropologiaMarcus BernardesNoch keine Bewertungen
- VITULLO - As Outras Teorias Da DemocraciaDokument144 SeitenVITULLO - As Outras Teorias Da DemocraciaGabriel Eduardo VitulloNoch keine Bewertungen
- Direitos humanos em tempos de barbárie: Questionar o presente para garantir o futuroVon EverandDireitos humanos em tempos de barbárie: Questionar o presente para garantir o futuroNoch keine Bewertungen
- A teoria do crime e da pena em DurkheimDokument26 SeitenA teoria do crime e da pena em DurkheimDenis Borborema CruzNoch keine Bewertungen
- Negras Lesbicas PDFDokument12 SeitenNegras Lesbicas PDFAndréa Marques Chamon100% (1)
- Para uma Teoria da Constituição como Teoria da SociedadeVon EverandPara uma Teoria da Constituição como Teoria da SociedadeNoch keine Bewertungen
- Feminismo e Lesbianismo - TANIA NAVARRODokument12 SeitenFeminismo e Lesbianismo - TANIA NAVARROyaya_a_portoNoch keine Bewertungen
- As Ações de Liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no Período entre 1871 e 1888Von EverandAs Ações de Liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no Período entre 1871 e 1888Noch keine Bewertungen
- A biopolítica e o paradoxo dos Direitos Humanos no sistema penal custodial brasileiroVon EverandA biopolítica e o paradoxo dos Direitos Humanos no sistema penal custodial brasileiroNoch keine Bewertungen
- Irregulável Mundo Novo: a regulação de Big Techs na infosferaVon EverandIrregulável Mundo Novo: a regulação de Big Techs na infosferaNoch keine Bewertungen
- Alçar Os Santos Dos CalabouçosDokument19 SeitenAlçar Os Santos Dos CalabouçosStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Alcance-Me Se For Capaz!Dokument9 SeitenAlcance-Me Se For Capaz!Stella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Ebook Doce SaudeDokument14 SeitenEbook Doce SaudeStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Os Conceitos de Lugar e Territorio Na Co PDFDokument16 SeitenOs Conceitos de Lugar e Territorio Na Co PDFStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- 0103 2186 Eh 28 55 0211 PDFDokument18 Seiten0103 2186 Eh 28 55 0211 PDFAndreyLeãoNoch keine Bewertungen
- Barbara Freitag Conteudo Programatico Da Teoria Critica in Teoria Critica Ontem e Hoje PDFDokument79 SeitenBarbara Freitag Conteudo Programatico Da Teoria Critica in Teoria Critica Ontem e Hoje PDFLaryssa80% (5)
- Pesquisa Luciara Ribeiro - Livro - FINAL - 13.01 Alta (Site) PDFDokument182 SeitenPesquisa Luciara Ribeiro - Livro - FINAL - 13.01 Alta (Site) PDFStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Identidades Latinoamericanas Frente Al CDokument32 SeitenIdentidades Latinoamericanas Frente Al CStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Sociologiaantropologia Ano6v06n02 Completa PDFDokument260 SeitenSociologiaantropologia Ano6v06n02 Completa PDFStella Rodriguez100% (1)
- Os Intelectuais e A Política Cultural Do Estado NovoDokument56 SeitenOs Intelectuais e A Política Cultural Do Estado NovoFábio WilkeNoch keine Bewertungen
- Sociologiaantropologia Ano6v06n02 Completa PDFDokument260 SeitenSociologiaantropologia Ano6v06n02 Completa PDFStella Rodriguez100% (1)
- COSTA JUNIOR, Ademas. A Margem Narrativa Do Tempo de Areia Da HistóriaDokument15 SeitenCOSTA JUNIOR, Ademas. A Margem Narrativa Do Tempo de Areia Da HistóriaStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Como Funciona A Democracia. Uma Teoria Etnográfica Da PolíticaDokument5 SeitenComo Funciona A Democracia. Uma Teoria Etnográfica Da PolíticaStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- SacopãlugarStella PDFDokument16 SeitenSacopãlugarStella PDFStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Manual Da Kombucha para IniciantesDokument17 SeitenManual Da Kombucha para IniciantesEduardo Feijó100% (9)
- Saberes entre plantas e palavrasDokument282 SeitenSaberes entre plantas e palavrasLucas De Carvalho FerreiraNoch keine Bewertungen
- PaisagensDokument22 SeitenPaisagensStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- A Mistica Do Pirarucu Ethos e Paisagem PDFDokument18 SeitenA Mistica Do Pirarucu Ethos e Paisagem PDFStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Ecologia Coivara PDFDokument218 SeitenEcologia Coivara PDFMari SucupiraNoch keine Bewertungen
- Etnografica 1166Dokument25 SeitenEtnografica 1166Tarcizio MacedoNoch keine Bewertungen
- Srodriguez o Tempo Que Alcancei 2018 PDFDokument29 SeitenSrodriguez o Tempo Que Alcancei 2018 PDFStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Fertilidade naturalDokument140 SeitenFertilidade naturalNathalia Pompeu100% (1)
- 2016 Do Caminho À Trilha. As Perspetivas Do Lazer e Do Habitar Na Transcarioca PDFDokument33 Seiten2016 Do Caminho À Trilha. As Perspetivas Do Lazer e Do Habitar Na Transcarioca PDFStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Tim Ingold e A Ecologia SensivelDokument16 SeitenTim Ingold e A Ecologia SensivelStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Formação e atividades de Norma Discini de CamposDokument125 SeitenFormação e atividades de Norma Discini de CamposStella Rodriguez100% (1)
- Maria Olivia Ferreira Le It eDokument232 SeitenMaria Olivia Ferreira Le It eStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Tim Ingold e A Ecologia SensivelDokument16 SeitenTim Ingold e A Ecologia SensivelStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- A Dramaturgia Na Vida CotidianaDokument20 SeitenA Dramaturgia Na Vida CotidianaEverton PicoNoch keine Bewertungen
- Contruir Habitar Casa Medieval PDFDokument17 SeitenContruir Habitar Casa Medieval PDFStella RodriguezNoch keine Bewertungen
- Maneiras de Pensar o Cotidiano Com Michel de CerteauDokument14 SeitenManeiras de Pensar o Cotidiano Com Michel de CerteauPaty VechiaNoch keine Bewertungen
- A Distorção e A Elaboração OníricaDokument2 SeitenA Distorção e A Elaboração OníricaAdriano Luiz Souza67% (3)
- O caso de Leandro: incesto, pobreza e cegueira progressivaDokument3 SeitenO caso de Leandro: incesto, pobreza e cegueira progressivaluNoch keine Bewertungen
- Os princípios do empirismo de David HumeDokument3 SeitenOs princípios do empirismo de David HumeDiogo Miguel C. MeloNoch keine Bewertungen
- O que é CNV: A comunicação não violentaDokument12 SeitenO que é CNV: A comunicação não violentaKarina Paitach100% (1)
- Responsabilidades: Revista Interdisciplinar do PAI-PJDokument147 SeitenResponsabilidades: Revista Interdisciplinar do PAI-PJMatheus BarrosNoch keine Bewertungen
- Educação Física e Aprendizagem Social - Valter BrachtDokument64 SeitenEducação Física e Aprendizagem Social - Valter Brachtconstanzamabres100% (3)
- Checklist Das Tarefas Do VendedorDokument1 SeiteChecklist Das Tarefas Do VendedorSoeli de OliveiraNoch keine Bewertungen
- Como Eu Entendo - Autistas Do Alem (Valentim Hergersheimer Neto)Dokument42 SeitenComo Eu Entendo - Autistas Do Alem (Valentim Hergersheimer Neto)Gabriela PérezNoch keine Bewertungen
- Eugène Enriquez - 03 - o Vínculo GrupalDokument11 SeitenEugène Enriquez - 03 - o Vínculo GrupalElbrujo TavaresNoch keine Bewertungen
- Colégio Estadual São Francisco de Paul1Dokument4 SeitenColégio Estadual São Francisco de Paul1Larissa ReginaNoch keine Bewertungen
- História do Pensamento EconómicoDokument39 SeitenHistória do Pensamento EconómicoAndreia PiresNoch keine Bewertungen
- Amizades que marcamDokument15 SeitenAmizades que marcamlyzaseikoooNoch keine Bewertungen
- Portugal Hoje - José GilDokument1 SeitePortugal Hoje - José GilJoana Inês Pontes100% (2)
- 27 Colegio Allan Kardec Jaqueline RafaelDokument16 Seiten27 Colegio Allan Kardec Jaqueline RafaelLuana GomesNoch keine Bewertungen
- Caderno Atenção Básica Controle Câncer Colo Útero e MamaDokument128 SeitenCaderno Atenção Básica Controle Câncer Colo Útero e MamadriminasNoch keine Bewertungen
- A Divina Comédia e a cultura cristã: entre o medo e a esperançaDokument4 SeitenA Divina Comédia e a cultura cristã: entre o medo e a esperançaTainá Almeida AntunesNoch keine Bewertungen
- Psicologia do desenvolvimento adulto e envelhecimentoDokument20 SeitenPsicologia do desenvolvimento adulto e envelhecimentoDuo JugerNoch keine Bewertungen
- Resumo - O Poder Do AgoraDokument1 SeiteResumo - O Poder Do AgoraMarilene Bohn100% (2)
- Apostila Eneagrana Nivel 2 v2Dokument28 SeitenApostila Eneagrana Nivel 2 v2WalterPintoNoch keine Bewertungen
- Cronograma PPCSA ManhãDokument3 SeitenCronograma PPCSA Manhãamandinha_popi8162Noch keine Bewertungen
- Teste de MotivaçãoDokument2 SeitenTeste de MotivaçãoJoana Cardoso FerreiraNoch keine Bewertungen
- MANJERICÃO!Dokument13 SeitenMANJERICÃO!Diogo CuryNoch keine Bewertungen
- O significante em LacanDokument2 SeitenO significante em LacanAderilson OliveiraNoch keine Bewertungen
- Formulações Sobre Os Dois Princípios Do Funcionamento MentalDokument5 SeitenFormulações Sobre Os Dois Princípios Do Funcionamento MentalKELLY OJEDANoch keine Bewertungen
- EFT - Terapia Focada Na EmoçãoDokument3 SeitenEFT - Terapia Focada Na EmoçãoEFT São Paulo100% (1)
- Mirian Goldenberg - FichamentoDokument3 SeitenMirian Goldenberg - FichamentoMárcio Renato Teixeira BenevidesNoch keine Bewertungen
- Quem São Os Arcturianos - DozeDokument9 SeitenQuem São Os Arcturianos - Dozeluzluz14100% (1)
- TCC - Apres (Modo de CompatibilidadeDokument2 SeitenTCC - Apres (Modo de Compatibilidadealeko2Noch keine Bewertungen
- PISCITELLI, Adriana. Gênero, A História de Um Conceito. PDFDokument19 SeitenPISCITELLI, Adriana. Gênero, A História de Um Conceito. PDFLuciana Xavier100% (2)
- O suicídio, Durkheim e a compreensão do fenômeno através de métodos interdisciplinaresDokument3 SeitenO suicídio, Durkheim e a compreensão do fenômeno através de métodos interdisciplinaresMarcio LacerdaNoch keine Bewertungen