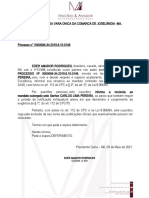Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Livro Professor Vidigal
Hochgeladen von
Eder Amador RodriguesCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Livro Professor Vidigal
Hochgeladen von
Eder Amador RodriguesCopyright:
Verfügbare Formate
FUNDAMENTOS DO DIREITO
ELEITORAL BRASILEIRO
Edson Jos Travassos Vidigal
FUNDAMENTOS DO DIREITO
ELEITORAL BRASILEIRO
Contribuies sua hermenutica e aplicao
Penlope
editora
Fundamentos do direito eleitoral brasileiro
Contribuies sua hermenutica e aplicao
Edson Jos Travassos Vidigal
1 edio 2012
Editor: Helton Ribeiro
Presidente do Conselho Editorial: Jos Rossini Corra do Couto
Reviso de textos: Paulo S
Projeto grfco, capa e diagramao: Vania Vieira
Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida por qualquer meio
ou forma sem a prvia autorizao da Penlope Editora. A reproduo de
parte da obra para fns acadmicos ser autorizada, desde que haja prvia
consulta Penlope Editora.
A violao dos direitos autorais crime estabelecido na Lei n 9.610/98 e
punido pelo artigo 184 do Cdigo Penal.
Penlope Editora
www.penelopeeditora.com.br
contato@penelopeeditora.com.br
Braslia DF
2012
Vidigal, Edson Jos Travassos.
Fundamentos do direito eleitoral brasileiro: contribuies
sua hermenutica e aplicao / Edson Jos Travassos Vidigal
Braslia: Penlope Editora, 2012.
224 p.
ISBN: 978-85-65627-01-6
1.Direito Eleitoral Brasileiro. 2.Poder Poltico. 3.Estado
Moderno. 4.Estado Democrtico de Direito e Fundamentos.
I.Ttulo.
V653f
CDD 341.28
CDU 342.8(81)
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Ao Ministro Jos Nri da Silveira, arqutipo do homem
pblico, exemplo de honestidade, retido, integrida-
de de carter, dedicao e comprometimento cvico.
Trabalhador incansvel que, por duas vezes presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, varou interminveis ma-
drugadas no obstinado cumprimento do dever, prestan-
do mais do que exigiria a sua cota de responsabilidade,
contribuindo de maneira mpar para o desenvolvimen-
to da Justia Eleitoral Brasileira. Dedico este humilde
opsculo como tributo sua personalidade e gesto de
agradecimento pela confana em mim depositada, pela
oportunidade de aprendizado no contato com sua expe-
rincia, pelas manifestaes de reconhecimento diante
do meu trabalho cumprido e, sobretudo, pela forma hu-
mana e crist com a qual, sempre de sorriso no rosto,
devotava indiscriminada gentileza e respeito a todos os
de seu convvio.
Dedicatria
Agradeo, neste espao, ao Dr. Cludio Alberto Gabriel
Guimares, que, com raro respeito sincero e incontest-
vel conhecimento da criminologia crtica, conseguiu a
proeza de, tanto na graduao quanto na ps-graduao,
fazer-me entender algo de Direito Penal.
Ao Dr. Roberto Carvalho Veloso, pela grande con-
tribuio que tem dado ao Direito Eleitoral Brasileiro,
seja coordenando e ministrando cursos acadmicos na
rea, seja com sua participao na comisso especial do
Senado Federal criada a fm de examinar propostas para
a reforma poltico-eleitoral, seja em sua atuao como
magistrado da Justia Federal.
Dra. Maria do Carmo, pelo primeiro convite que,
h alguns anos, proporcionou a oportunidade de me ini-
ciar na atividade docente superior.
Aos meus alunos, que representam a recompensa do
esforo.
Aos Ministros Ilmar Galvo, Maurcio Correia (in
memorian) e Nri da Silveira, pelos votos de confana a
mim concedidos, que me brindaram com a oportunida-
de do aprendizado profssional proporcionado pela ex-
posio s suas personalidades.
Ao Ministro Walter Costa Porto, Herdoto da his-
Agradecimentos
tria poltica brasileira, por sempre deixar ao alcance sua
invejvel experincia, pelas agradveis aulas de Histria e
pelos sbios e inestimveis conselhos polticos que sem-
pre guiaram minha atuao profssional.
Ao professor Dr. Alxis Vargas, que em suas aulas
sobre princpios de direito eleitoral, ministradas na ps-
graduao em direito eleitoral promovida pela Escola
Superior de Advocacia da OAB-DF, brindou-me com a
inspirao necessria para a presente investigao.
Ao Dr. Claudismar Zupiroli, advogado veterano mi-
litante da Justia Eleitoral, responsvel conselheiro da
OAB-DF que no hesita em sacrifcar seu tempo livre
em prol dos ideais ticos da categoria, pela boa vontade
em compartilhar sua experincia profssional advoca-
tcia em suas concorridas aulas de Teoria e Prtica de
Direito Eleitoral.
A todos os colegas da Escola Superior de Advocacia
da OAB-DF, pelos agradveis momentos de convivncia
durante muitos fnais de semana regados a produtivos
debates acadmicos, ricas trocas de experincias e apai-
xonantes indignaes em busca da excelncia no Direito
Eleitoral Brasileiro.
Tambm a todos os colegas do curso de ps-gradu-
ao em Direito Eleitoral da Universidade Federal do
Maranho, com os quais aproveitei a boa companhia em
vrios outros fnais de semana imersos no plenrio do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranho, em meio a jul-
gados, casos e causos.
Ao Dr. Wagner Amorin Madoz, colega no estudo do
direito, da flosofa, da histria, da cincia poltica, da
msica, da eletrnica, da fsica especulativa, da episte-
mologia, da astronomia, da cinoflia, da luthieria e de
tantos outros ramos do conhecimento que compem a
investigao horizontal da existncia humana, pelas cr-
ticas iniciais a este trabalho, fundamentais para o seu
direcionamento, bem como pela inestimvel contribui-
o que deu Justia Eleitoral Brasileira, principalmente
quando acumulava as funes de Diretor Geral e Chefe
de Gabinete da Presidncia do TSE.
Aos Drs. Getlio Lopes, Maurcio Neves Filho, Tlio
Arantes, Roberto Freitas Filho, Adilson de Lizio e Luiz
Eduardo, pela insubstituvel oportunidade de retornar
ao UniCeub, instituio onde, em 1996, iniciei meus
estudos jurdicos, e que uma vez mais me acolheu de
braos abertos.
Aos Drs. Gustavo Rocha, Eliane Soares Vidigal,
Henrique Pontes, Rodrigo Fernandes, Daniela Macedo,
Carolina Ferreira, Selma Godoy, Rodrigo Mazoni,
Clucio Nunes, Luciano Alves, Ricardo Oliveira, Vetuval
Vasconcelos, Hendrik Rodrigues e Ana Cludia Bittar,
pela compreenso em face de meus infnitos afazeres e pe-
los agradveis momentos dirios no espao acadmico.
Aos colegas do mestrado em Direito e Polticas
Pblicas do UniCeub, e em especial ao Prof. Dr. Roberto
Freitas, paradigma de luta pela conscientizao da meto-
dologia na pesquisa jurdica.
Ao Dr. Rossini Corra, pelo saber enciclopdico sem-
pre presente, pela eloquncia e elegncia de suas palavras
que acalentam as vicissitudes e descaminhos de nossa
jornada acadmica.
A toda a minha famlia, que sempre me suportou
efetivamente, afetivamente, emocionalmente, fnancei-
ramente, espiritualmente, materialmente... enfm, que
sempre me suportou.
minha esposa Nsia e aos meus flhos lex e Marina,
que me suportam ainda mais.
Aos meus grandes amigos e incentivadores, Des.
Marco Antnio Lemos e sua esposa, Eliane Cassas do
Amaral Travassos Vidigal da Silva Lemos (minha me),
que continuam me suportando (e acrescentando muito a
meus trabalhos acadmicos). Esta obra no existiria sem
vocs dois.
Aos meus verdadeiros amigos, que tambm sempre
me suportaram.
A todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ainda
me suportam.
A todos aqueles que no me suportam (o pluralismo
democrtico e necessrio).
E, especialmente, ao meu irmo Erick, que, mais do
que me suportar, tem me proporcionado insubstituvel
suporte.
Mas continuamos tratando das questes de direito como
se ainda acreditssemos na soberania do Estado, pensan-
do em termos de direito subjetivo, de direito real, de pes-
soa jurdica ou de propriedade absoluta, assimilando as
noes de direito e de lei. Essa defasagem entre teoria do
direito e flosofa no deveria nos surpreender em dema-
sia; ela constitui uma das constantes da histria do direito,
fruto da rotina dos juristas, que, por no terem de cultivar
eles mesmos a flosofa, geralmente s recebem seus ensi-
namentos com atraso e por canais indiretos, deformam-
nos e os endurecem, e nunca os obedecem to bem como
quando deixaram de ser professados pelos flsofos.
VILLEY, 2005, p. 174
A legitimidade dos juzes no est assentada em sua ori-
gem popular, em seu carter representativo, uma vez que
existem sistemas institucionais que procuram o recru-
tamento constitucional, legal, concursal e burocrtico
da magistratura. A legitimidade dos mesmos deve ser
orientada, ento, para o grau de adequao do compor-
tamento judicial e os princpios e valores que a soberania
nacional considera como fundamentais. Sua legitimida-
de democrtica encontra-se assentada na exclusiva sujei-
o dos juzes s leis emanadas da vontade popular.
BARACHO, 1995, p. 27
O problema da teleologia estatal voltou, nos ltimos anos,
a prender o interesse do direito e da sociologia. A obra de
Marcel de la Bigne, LActivit tatique, prova de que se
renovam esses estudos e de que o organismo jurdico das
modernas doutrinas pragmatistas, assim como o mecani-
cismo antiestatal de Marx, no sepultaram, em defniti-
vo, qual fora de supor, esse captulo deveras fascinante da
doutrina, j pelo ngulo jurdico, j pelo aspecto sociol-
gico que o mesmo comporta. Nunca alcanar o pensador
risc-lo da cincia jurdica enquanto o direito for tambm
flosofa. E s-lo- sempre, pois quem haver de arredar
do esprito humano essa ansiosa indagao da verdade,
essa eterna insatisfao perante o ser e o dever ser, as for-
mas realizadas e as formas no realizadas da vida?
BONAVIDES, 1999, p. 17
Mas as coisas que tem um fundamento no o so por
um capricho; existem porque necessariamente devem
existir. O fundamento a que correspondem no per-
mite serem de outro modo.
LASSALLE, 1995, p. 28
Nem sempre deve-se esgotar [o assunto] a ponto de
nada deixar a cargo do leitor. No se trata de fazer ler,
mas de fazer pensar.
MONSTEQUIEU, 1982, p. 210
Sumrio
Apresentao, 15
Prefcio, 19
Nota do autor, 35
Introduo, 41
Princpios filosficos e princpios jurdicos, 41
Fundamentos do direito, 49
Roteiro da pesquisa, 52
Paradigma moderno e direito poltico, 61
Paradigma moderno, 65
Contexto histrico, 65
Caractersticas do paradigma moderno, 70
O antropocentrismo, 72
O imperativo da razo, 81
Direito poltico moderno, 86
Estado moderno, estado democrtico de direito e
democracia representativa, 93
Estado moderno, 94
Estado democrtico de direito e democracia represen-
tativa, 107
Estado democrtico de direito, 108
Democracia representativa, 112
Direito eleitoral brasileiro, 125
Objeto do direito eleitoral e bem jurdico por ele
tutelado, 126
Objeto do direito eleitoral, 127
Natureza dos crimes eleitorais e seu objeto jurdico, 129
Natureza dos crimes eleitorais, 129
Objeto jurdico dos crimes eleitorais, 132
Funo da justia eleitoral brasileira, 134
Fundamentos do direito eleitoral brasileiro, 137
Do contratualismo, 139
Da legitimidade, 146
Do estado democrtico de direito, 150
Da soberania popular, 156
Da cidadania, 162
Da dignidade da pessoa humana, 165
Do pluralismo poltico e do pluripartidarismo, 176
Da representao, 185
Do sufrgio universal, 189
Da candidatura, 202
Consideraes finais, 207
Bibliografia, 215
15
O antes constitui o problema crucial da Metafsica, em
Martin Heidegger. Mas no apenas no polmico pen-
sador, desde que o do mesmo modo se encontra pode-
rosamente presente no livro Fundamentos do Direito
Eleitoral Brasileiro. Contribuies sua hermenutica
e aplicao, de autoria de Edson Jos Travassos Vidigal,
que possui vnculo visceral com a tradio de inteligncia
maranhense. Da o ao mesmo tempo dos Agradecimentos
e das Dedicatrias, que se entrelaa com o igualmente do
mais do que honroso Prefcio, subscrito pelo Ministro
Walter Costa Porto e foresce no outra vez da narrativa
do jovem flsofo e jurista.
que o antes heideggeriano perpassa a refexo ju-
rdica arquitetada por Edson Jos Travassos Vidigal,
que caminha em busca dos Fundamentos, ao discutir
os problemas do Direito Eleitoral Brasileiro, desejo-
so de estabelecer Contribuies sua hermenutica e
aplicao. Da decomposio do titulo do provocante
livro, sem dvida, nasce a compreenso profunda da
sua proposta, ela mesma suportada em um antes, que
o sustentculo flosfco da discusso jurdica em-
preendida, em dilogo com a sociologia, a histria e a
cincia poltica.
Apresentao
Um ponto de mutao doutrinria no
direito eleitoral brasileiro
16
A valiosa contribuio de Edson Jos Travassos
Vidigal tem suporte nesta peculiar dimenso a flos-
fca em si mesma capacitada a qualifcar a percepo
do fenmeno jurdico, iluminando-o e conduzindo-o
ultrapassagem do limite a que foi levado pela est-
ril argumentao positivista. Trata-se, agora, luz da
emergncia de novos pensadores do Direito, de rein-
vent-lo como problema, conceito, sentido e experin-
cia, em perspectiva ps-positivista, do que expresso
o livro Fundamentos do Direito Eleitoral Brasileiro.
Contribuies sua hermenutica e aplicao.
Eis a razo por que a refexo vidigaliana caminha
por paragens de horizonte aberto, na amplitude multi-
focal do debate flosfco e jurdico, no qual a compre-
enso do Direito, revigorada e renovada, cresce como
se fosse no a janela, mas a paisagem. Tem-se, em con-
sequncia da leitura do presente livro, a ntida consci-
ncia de que chegou ao Direito Eleitoral no Brasil um
estgio diferenciado, em que no mais ser possvel
encerr-lo na camisa de fora de receiturios, mode-
los, esquemas, formalidades e jurisprudncias. Como
chamar de Direito a exposio sem nenhuma refexo,
com a preservao da tradio dos comentaristas, qua-
se sempre a repetir, de maneira literal, o enunciado da
norma positiva?
Agora, em contrapartida, formando na legio dos
descontentes na qual esteve inscrito o tambm fl-
sofo e jurista Graa Aranha, maranhense integrante da
Escola do Recife, discpulo de Tobias Barreto e com-
panheiro de Joaquim Nabuco o jovem Edson Jos
Travassos Vidigal qualifca o debate nos domnios do
Direito Eleitoral no Brasil. De onde o flsofo e juris-
17
ta brindar o leitor com percucientes ponderaes so-
bre Estado, Democracia, Representao, Soberania,
Legitimidade e Cidadania, referenciando-as com a te-
mtica do pronunciamento social e da tica do consen-
timento, para tornar o livro Fundamentos do Direito
Eleitoral Brasileiro. Contribuies sua hermenuti-
ca e aplicao o suporte de novas e vindouras conquis-
tas doutrinrias, que enriquecero a literatura flosf-
ca jurdica nacional.
Rossini Corra
Advogado em Braslia e Professor Universitrio.
Filsofo do Direito, Rossini Corra Autor, entre outros, de
Saber Direito Tratado de Filosofa Jurdica, Jusflosofa de
Deus, Teoria da Justia do Antigo Testamento, O Liberalismo
no Brasil e de Crtica da Razo Legal.
Pertence Academia Brasilense de Letras.
19
Prefcio
Em um de seus primeiros artigos, publicado em maro
de 1880, Capistrano de Abreu falava de uma classifca-
o de inteligncias feita por Spencer, em uma dessas
expanses humorsticas: havia uma primeira, a das ter-
rvoras ou papa-terras, que subsistem unicamente de
bisbilhotices, personalidades, anedotas e novelas sem
valor que se excretam sem se incorporarem ao esprito,
ou incorporando-se em dose mnima. Uma segunda,
a das herbvoras, exigem leituras e estudos mais s-
rios, porm acompanha-nos de outros que nada tm de
nutritivo, e pesam sobre o sistema, sem lhe elevarem
a estrutura nem avolumarem a massa. Finalmente, as
terceiras, exigem uma alimentao altamente nutriti-
va, concentrada e substancial: as experincias da fsica,
as investigaes da economia, as anlises da psicologia,
etc. So as carnveras.
1
Pode-se bem entender que as duas primeiras, mesmo
com suas carncias e a dose mnima de nutritivos, trazem
alguma contribuio para a feitura das grandes obras.
1. Histria Ptria, publicado na Gazeta de Notcias, de 9 de maro de 1880.
Abreu, J. Capistrano de Abreu, Ensaios e Estudos (Crtica e Histria) 3
a
Srie,
Rio de Janeiro, Livraria Briguet, 1938, fls. 153-9.
20
Edson Jos Travassos Vidigal dessas inteligncias
carnveras, e invertendo a classifcao de Spencer, bem
pode assegurar, com a orientao segura que impe, o
melhoramento e a boa conduo de obras menores.
Com o exame do Estado moderno, do Estado de
Direito, da democracia representativa, ele busca, segundo
suas palavras, a identifcao e breve explanao terica
de fundamentos do Direito Eleitoral Brasileiro. E o que
produz um verdadeiro guia para os estudiosos e uma
introduo para os leigos num campo o dos estudos
eleitorais que mais merece a censura de Capistrano:
[...] a histria do Brasil d a ideia de uma casa edif-
cada na areia. uma pessoa encostar-se numa parede,
por mais reforada que parea, e l vem abaixo toda a
grampiola.
2
Para exemplo disso, basta que se abordem trs pontos: o
modo como, na reforma poltica que tanto se anuncia, se
esquece o quanto o voto majoritrio paras as assembleias
j apenou, no passado, as parcelas menores de opinio; a
no compreenso, no s pelo eleitor comum, mas mes-
mo pelo eleitor culto, do modelo de eleio proporcional
que adotamos; e a discusso que envolveu o que se de-
nominou de fdelidade partidria, sem que a doutrina
esclarecesse a lgica que infundiu a reforma, em 1935, de
nosso sistema proporcional.
2. Abreu, J. Capistrano de, carta de 17 de maio de 1920 a Joo Lucio de Aze-
vedo, Correspondncia de Capistrano de Abreu, Rio de Janeiro: MEC-Instituto
Nacional do Livro, 1954, p. 161.
21
II. Segundo o art. 1 de nossa Constituio, entre os fun-
damentos de nosso Estado democrtico, est:
- o pluralismo poltico.
Poucas expresses, em nosso jargo poltico, so to
ricas e instigantes. Edson Vidigal a v como adotada por
nossa Constituio como qualidade de nossa sociedade
essencial ao Estado democrtico.
O que signifca? O triunfo da diversidade, o acata-
mento de todas as parcelas de opinio, o resguardo das
minorias.
Curioso ver que, quando se adotou, no Brasil, em
1855, o voto majoritrio para as assembleias que pas-
sou, ento, a se denominar, aqui, de voto distrital o
ento presidente do Conselho de Ministros, Honorio
Hermeto Carneiro Leo, o Marqus do Paran, tinha em
vista abrir espao s minorias nas assembleias e pr fm
s to deploradas cmaras unnimes. Hoje, com a mais
larga experincia dos diversos sistemas de apurao,
se v como o voto distrital, com a brutalidade que
Duverger enxergaria nele, desatende as parcelas menores
de opinio.
3
Mas o que Paran tinha em vista era, em verdade, o
atendimento s minorias localizadas.
Em nossa primeira constituio republicana, houve
uma preocupao inicial quanto s minorias. Pelo art. 28
da Carta aprovada em 24 de fevereiro de 1891, dispunha-
se, com respeito eleio de deputados, que seria garan-
tida a representao da minoria.
3. Duverger, Maurice, Sociologia Poltica, Rio de Janeiro: Forense, 1966, p. 378.
22
A redao, como esclareceu Joo Barbalho, foi equi-
vocada. Disse ele:
Das minorias (e no da minoria), com mais proprieda-
de e acerto dizia a emenda aditiva de que resultou esta
clusula fnal do art. 28.
4
Mas, naquela 1
a
Repblica, de nada adiantou esse cui-
dado. Primeiro, pelo vcio que enodoou as eleies no
perodo. Basta lembrar as palavras de Assis Brasil em seu
manifesto de 1925, em Montevidu:
Ningum tem certeza de ser alistado eleitor;
Ningum tem certeza de votar, se porventura for alis-
tado;
Ningum tem certeza de que lhe contem o voto, se por-
ventura votou;
Ningum tem certeza de que esse voto, mesmo depois
de contado, seja respeitado, na apurao da apurao,
no chamado terceiro escrutnio, que arbitrrio e des-
caradamente exercido pelo dspota substantivo, ou pe-
los dspotas adjetivos, conforme o caso for da represen-
tao nacional ou das locais.
5
E, depois, pelo prprio sistema eleitoral empregado, o
majoritrio nas eleies para o Congresso, aqui deno-
minado sempre voto distrital. Cabe lembrar a queixa,
no fnal do sculo XIX, do grande liberal ingls Walter
4. Barbalho, Joo, Comentrios Constituio de 1891, in Roure, Agenor, A
Constituinte Republicana, Brasilia; Senado Federal, 1979, p. 256.
5. Brossard, Paulo, org., in Ideias Polticas de Assis Brasil, Braslia: Senado
Federal/Fundao Casa de Rui Barbosa/Minc, Rio de Janeiro, 1989, p. 277.
23
Bagehot quanto ao fato de que nos distritos da Gr-
Bretanha os votos da minoria eram desprezados. Na ci-
dade de Londres, dizia ele, h muitos tories, mas todos
os representantes so whigs. Cada tory londrino, ento,
, por lei ou por princpio, no representado. Sua cidade
envia ao Parlamento no aquele congressista que deseja-
va ter, mas o representante que ele desejaria no ter.
E completava:
Em muitos distritos hoje existentes, a cassao de vo-
tos da minoria sem esperana e crnica. Eu mesmo
tenho votado em um condado agrcola por vinte anos e
sou um liberal; mas dois tories tm sido sempre eleitos e
durante toda a minha vida sero eleitos. Como as coisas
esto, meu voto intil.
6
Essa cassao de votos das minorias, em nossa 1
Repblica, muito mais em razo da fraude generalizada,
termina, a partir de 1930, com o saneamento das eleies,
com a entrega do exame dos pleitos, no fundo e na for-
ma, a uma Justia especializada e, tambm, com a adoo
do sistema proporcional nas eleies para o Legislativo.
Quando so tantas as propostas, no Congresso, de re-
torno a esse sistema distrital, ningum recorda os setenta
e sete anos de crculos e distritos entre ns, com os me-
canismos que se revelaram tentativas frustradas de cor-
rigir a desateno s minorias: o voto limitado, pregado
por Jos de Alencar e vigente a partir de 1875 e, depois,
com a Lei Rosa e Silva, de 1904. E, tambm, nesta, o voto
cumulativo.
6. Bagehot, Walter, The English Constitution, 1867, 134.
24
III. Chefe do Governo Provisrio, Getlio Vargas, criara,
por Decreto de 1932, vrias subcomisses para o estudo
e proposio de reforma de leis. A um desses grupos se
deu a tarefa de estudar e sugerir a reforma da legislao
eleitoral.
Integrada por Assis Brasil, Joo da Rocha Cabral e
Mrio Pinto Serva, a subcomisso elaborou dois ante-
projetos, um deles envolvendo o alistamento, outro o
processo eleitoral. Os textos foram reunidos por comis-
so revisora, presidida pelo ento Ministro da Justia,
Maurcio Cardoso, da resultando o primeiro de nossos
Cdigos eleitorais, aprovado pelo Decreto no 21.076, de
24 de fevereiro de 1932.
Para a eleio dos deputados, dispunha o Cdigo, far-
se-ia a votao em uma cdula, encimada ou no de le-
genda e nela estariam impressos ou datilografados, um
em cada linha, os nomes dos candidatos, em nmero que
no excedesse aos dos elegendos mais um, reputando-se
no escritos os excedentes.
Considerar-se-iam eleitos, no que se denominou
primeiro turno (turno de apurao, no de votao),
os candidatos que obtivessem o quociente eleitoral; es-
tariam eleitos, em segundo turno, os outros candidatos
mais votados, at serem preenchidos os lugares que no
o fossem no primeiro turno.
Embora se afrmasse ter o Cdigo de 1932 institudo
a representao proporcional, trouxera ele um sistema
misto, proporcional no primeiro turno e majoritrio
no segundo. O prprio Assis Brasil o reconhecia, ao in-
sistir que, no segundo turno, que propunha, os candi-
datos da maioria sero os nicos favorecidos.
A resposta de outro de seus autores, Joo da Rocha
25
Cabral, foi que, na mesma cdula, reuniam-se as van-
tagens da votao uninominal e em lista, da apurao
por quociente, no primeiro caso, ou turno, e da maio-
ria relativa, no segundo. Este corresponderia, como dito
anteriormente, ao direito da maioria governar, em rela-
tiva paz, dispondo de bastantes vozes, no parlamento.
Aquele, ao das minorias, direito sacrossanto, de fsca-
lizao do governo e colaborao nos atos legislativos.
7
Antes mesmo de realizadas as eleies de outubro
de 1934 para a renovao da Cmara dos Deputados,
comeou-se a discutir a reforma do Cdigo. Um dos
pontos mais graves denunciados foi a demora no pro-
cesso de apurao das eleies e julgamento dos recursos
eleitorais. O presidente Vargas, em mensagem dirigida
ao Poder Legislativo, em maio de 1935, afrmava: Basta
dizer que, em sete meses, de outubro de 1934 a maio
de 1935, est ainda por fndar o processo das eleies
gerais
8
. E em discurso de julho de 1935, queixava-se, no
Congresso, o deputado Dorval Melchiades: [...] agora,
nove meses depois das eleies de 14 de outubro, ainda
no so conhecidos os seus resultados no Estado do Rio
de Janeiro.
9
E deveria ser afastada a utilizao do mecanismo ma-
joritrio, pois a nova Constituio, aprovada em julho
de 1934, determinava, pelo seu art. 23: A Cmara de
Deputados compe-se de representantes do povo, eleitos
mediante sistema proporcional [...]
7. Cabral, Joo da Rocha, Cdigo Eleitoral da Repblica dos Estados Unidos do
Brasil, 3a ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, p. 104.
8. In Anais, 1935, v. 1, p. 49.
9. In Anais, 1935, v. 8, p. 406.
26
A alterao, conduzida por Comisso Especial de
Reforma do Cdigo Eleitoral da qual participaram, en-
tre outros, Homero Pires, Nereu Ramos e na qual tambm
trabalhou o consultor tcnico do Ministrio da Justia,
Sampaio Dria resultou em profunda modifcao ao
novo sistema de representao proporcional.
Segundo a nova Lei, de n
o
48, de 4 de maio de 1935,
far-se-ia a votao em uma cdula s, contendo apenas
um nome, ou legenda e qualquer dos nomes da lista re-
gistrada sob a mesma.
E alcanava-se, tambm, sua maior originalidade, pe-
rante o sistema proporcional dos outros pases: a escolha
uninominal, pelo eleitor, com base em uma lista apresen-
tada pelas organizaes partidrias.
Tal peculiaridade foi pouco examinada pelos nos-
sos analistas. E, curiosamente, foi um estrangeiro o
primeiro a dar-lhe ateno: Jean Blondel, nascido em
Toulon, Frana, professor das universidades inglesas
de Manchester e Essex, e autor, entre outros livros, de
Introduction to Comparative Governement, Tinking
Politicaly e Voters, Parties and Leaders. Em introduo
a uma pesquisa que realizou, em 1957, no Estado da
Paraba, escreveu Blondel:
A lei eleitoral brasileira original e merece seja des-
crita minuciosamente. , com efeito, uma mistura de
escrutnio uninominal e de representao proporcio-
nal, da qual h poucos exemplos atravs do mundo [...]
Quanto aos postos do Executivo [...] sempre utilizado
o sistema majoritrio simples [...] Mas, para a Cmara
Federal, para as Cmaras dos Estados e para as Cmaras
Municipais, o sistema muito mais complexo. O prin-
27
cpio de base que cada eleitor vote somente num can-
didato, mesmo que a circunscrio comporte vrios
postos a prover; no se vota nunca por lista. Nisto o sis-
tema uninominal. No entanto, ao mesmo tempo cada
partido apresenta vrios candidatos, tantos quantos so
os lugares de deputados, em geral, menos se estes so
pequenos partidos. De algum modo, os candidatos de
um mesmo partido esto relacionados, pois a diviso
de cadeiras se faz por representao proporcional, pelo
nmero de votos obtidos por todos os candidatos de
um mesmo partido [...] Votando num candidato, de
fato o eleitor indica, de uma vez, uma preferncia e
um partido. Seu voto parece dizer: Desejo ser repre-
sentado por um tal partido e mais especialmente pelo
Sr. Fulano. Se este no for eleito, ou for de sobra, que
disso aproveite todo o partido. O sistema , pois, uma
forma de voto preferencial, mas condies tcnicas so
tais que este modo de escrutnio uma grande melhora
sobre o sistema preferencial tal qual existe em Frana.
10
Cabe a estranheza quanto sua afrmao sobre essa
mistura de escrutnio uninominal e de representao
proporcional, da qual h poucos exemplos atravs do
mundo. Ele no aponta qualquer desses exemplos. E,
em verdade, somente em 1976 que a Finlndia seguiu
o mesmo modelo. E, depois, no cabe dizer que de al-
gum modo, os candidatos de um mesmo partido esto
relacionados, pois a relao, a, de cartilagem: vota-se
verdade que sem se ter conscincia disso em uma
10. Blondel, Jean, Condies de vida poltica no Estado da Paraba, Rio de Ja-
neiro: Fundao Getlio Vargas, 1957.
lista, uma lista intuda, que vai vincular os candidatos
irmanados em uma mesma legenda, lista no expressa,
como nos outros pases.
E a melhor doutrina, de agora, leva a que se inverta a
afrmao de Blondel, de que, ao votar em um candidato,
de fato o eleitor indique, de uma vez, uma preferncia
e um partido. Em verdade, primeiramente um partido,
depois uma preferncia por um dos candidatos. o que
ensina o grande expert Jairo Nicolau: que, na realidade,
o sistema eleitoral utilizado nas eleies para a Cmara
prev dois movimentos. No primeiro, feita a distri-
buio das cadeiras entre os partidos (ou coligaes) de
acordo com o quociente eleitoral. No segundo, o eleitor
indica seu preferido e os mais votados do partido so
eleitos, independentemente dos votos que cada um tenha
obtido.
11
Isso estaria compreendido, j, na mudana operada,
em 1935, pela Lei no 48.
IV. Em fevereiro de 2007, o Senador Marco Maciel apre-
sentou Proposta de Emenda Constitucional em que se
dispunha:
Perder automaticamente o mandato o membro do
Poder Legislativo que se desligar do partido pelo qual
tenha concorrido eleio salvo no caso de extino,
incorporao ou fuso do partido poltico.
Com emendas apresentadas pelo senador Antonio Carlos
Valadares, que estendia a disposio a cargos eletivos do
11. Nicolau, Jairo, in O Globo, de 12 out. 2002.
29
Poder Executivo, a proposta, aprovada pelo Senado, foi
encaminhada Cmara dos Deputados.
12
Mas, ao mesmo tempo, o senador Maciel fez com
que seu partido, o PFL, dirigisse consulta ao Tribunal
Superior Eleitoral em que se indagava:
Os partidos e coligaes tm o direito de preservar a
vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional quando
houver pedido de cancelamento de fliao ou de trans-
ferncia do candidato eleito por um partido para outra
legenda?
Para surpresa de muitos, a resposta foi afrmativa. Para o
Relator, Ministro Cesar Asfor, no era nova a questo de
se saber se o mandato eletivo de ser tido como perten-
cente ao indivduo eleito, feio de um direito subjeti-
vo, ou se pertencente ao grmio poltico partidrio sob
o qual obteve a eleio. Mas no via ele dvidas de que
o vnculo de um candidato ao partido pelo qual se regis-
tra e disputa uma eleio o mais forte, se no o nico,
elemento de sua identidade poltica, podendo ser afrma-
do que o candidato no existe fora do partido poltico e
nenhuma candidatura possvel fora de uma bandeira
partidria. E conclua ele:
No se h de permitir que seja o mandato eletivo com-
preendido como algo integrante do patrimnio privado
de um indivduo, de que possa ele dispor a qualquer t-
tulo... porque isso a contrafao essencial da natureza
12. A PEC tomou, na Cmara, o n
o
182 e se encontra, agora, na Comisso de
Constituio e Justia e de Cidadania.
30
do mandato cuja justifcativa a funo representativa
de servir, ao invs de servir-se.
13
Em razo dessa deciso, trs partidos na Cmara, o
PPP, o PSDB e o DEM, em que se transmutara o PFL,
requereram ao presidente, Arlindo Chinaglia, as vagas
de deputados que haviam se transferido para partidos
situacionistas. Ora, tratando-se de uma consulta, sem
carter vinculante, a resposta da Presidncia s poderia
ser, como foi, negativa. Os partidos, ento, impetraram
Mandados de Segurana Suprema Corte.
Em 1989, o Supremo rejeitara a tese da perda do
mandato por desfliao partidria. Tratava-se do caso
de um suplente que se transferira de seu partido, mas
a ele voltara e se questionava, ento, seu direito a assu-
mir o cargo, ento vago. A Emenda Constitucional, de
1985, trouxera o fm da fdelidade partidria contida na
Emenda Constitucional n
o
01/69, que punia com a perda
do mandato aquele que deixasse o partido sob cuja le-
genda fora eleito. Entendeu, ento, seu Relator, Ministro
Moreira Alves:
A lgica do sistema de representao proporcional e o
valor que a atual Constituio empresta representa-
o parlamentar federal do partido exigiam que a Carta
Magna adotasse esse mnimo de fdelidade partidria
que o da permanncia do partido pelo qual o candi-
dato se elegeu ou obteve a suplncia, dada a importn-
cia que, a mais das vezes, o voto de legenda tem para
o eleito ou para o suplente. Mas, se essa lgica no
13. TSE CTA n
o
1398, Res. 22.256/2007
31
seguida com relao ao empossado no cargo de depu-
tado nem ao eleito diplomado, mas ainda no empos-
sado e, quanto a este, no h sequer que se falar em
independncia de exerccio de mandato - no h por
que ter de ser observada quanto ao suplente: no se
pode exigir do substituto a fdelidade que no se exige
do substitudo.
Somente quatro dos ministros no entenderam assim. E,
a respeito desses votos, o ministro Rezek, que acompa-
nhou a maioria, foi proftico:
Sei que o futuro render homenagem generosa inspi-
rao cvica da tese que norteou os votos dos eminentes
Ministros Celso Mello, Paulo Brossard, Carlos Madeira
e Sidney Sanchez.
14
Em outubro de 2007, triunfava a inspirao cvica da
tese antes vencida. Julgando-se o MS 26.602DF, dizia-
se em sua ementa:
A permanncia do parlamentar no partido poltico pelo
qual se elegeu imprescindvel para a manuteno da
representao partidria do prprio mandato. Da a al-
terao da jurisprudncia do Tribunal, a fm de que a
fdelidade do parlamentar perdure aps a posse no car-
go eletivo.
15
14. MS 20.927DF, Rel. Ministro Moreira Alves, julgado em 11.10.1989, in DJ
de 15.4.1994.
15. MS 26.602/DF, impetrado pelo Partido Popular Socialista PPS, Rel. Min.
Eros Grau, julgado em 4.10.2007, in DJ 17.10.2008.
32
E, de modo ainda mais incisivo, afrmou-se no julga-
mento do MS 26.603/DF:
O mandato representativo no constitui projeo de um
direito pessoal titularizado pelo parlamentar eleito, mas
representa, ao contrrio, expresso que deriva da indis-
pensvel vinculao do candidato ao partido poltico,
cuja titularidade sobre as vagas conquistadas no proces-
so eleitoral resulta de fundamento constitucional aut-
nomo, identifcvel tanto no art. 14, 3
o
, inciso V (que
defne a fliao partidria como condio de elegibili-
dade) quanto no art. 45, caput (que consagra o sistema
proporcional), da Constituio da Repblica.
16
Mas faltaram os nossos historiadores e cientistas polti-
cos em assegurar que na lgica da reforma, trazida por
aquela lei de 1935 ao nosso sistema proporcional, bastava
a escolha de um nome, pelo eleitor, para que se defnisse
por qual lista ele optava. E que essa escolha por uma lista
partidria embora no to claramente expressa, como
nos outros pases , vinculando a vontade do eleitor a
uma legenda, faz desta, efetivamente, a primeira destina-
tria do voto.
V. Em Plato, li que Protgoras, ao acertar o ensino ao
jovem Hipcrates, se vangloriou:
As vantagens que podes alcanar estando comigo, so
que a partir do primeiro dia de nosso trato, ao retirar-se
16. MS 26.604, impetrado pelo Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB, Rel. o Min. Celso de Mello, julgado em 4.10.2007, in DJ de 19.12.2008.
33
a descansar, possuirs muito mais habilidade que quan-
do te levantaste naquela manh; o mesmo te suceder
no dia seguinte e todos os dias poders te dar conta de
haver feito novos progressos.
Ao que Scrates comentou:
uma cincia maravilhosa, se verdadeiramente a pos-
suis.
17
Esta cincia, Edson Jos Travassos Vidigal verdadeira-
mente a possui.
Walter Costa Porto
Advogado
Professor do Departamento de Direito da
Universidade de Braslia
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de 1996 a 2001
17. In Dilogos Socrticos, Madrid, Espasa-Calpe, Madrid, 1927, p. 25-27.
35
Ao comentar com um colega sobre a publicao do pre-
sente livro, fui questionado sobre a natureza do mesmo
se era uma obra acadmica ou um livro prtico para a
atuao profssional, com coleo de jurisprudncia e co-
mentrios legislao. Respondi que era ambos, s que,
no entanto, no trazia nem jurisprudncia nem comen-
trios legislao.
Isso me fez pensar a respeito da condio em que se
encontra a atual cultura jurdica brasileira. Parece existir
um abismo entre a produo acadmica e a atuao pro-
fssional do operador do direito.
Foi-se o tempo em que as faculdades de direito forma-
vam juristas preparados para criar, aprimorar e recriar o
direito ptrio tendo em vista a realizao da justia e da
paz social, o aperfeioamento das instituies democr-
ticas e o desenvolvimento da sociedade como um todo.
Atualmente a maioria das faculdades de direito, ressalva-
das corajosas e honrosas excees, formam apenas mo
de obra especializada em repetir o que decoraram duran-
te o curso e o que leem nas ementas dos dirios de justia
e compilaes de legislao anotadas.
Em que pese o fato de que a atual valorizao da me-
mria em detrimento do pensar no est sendo privil-
Nota do autor
36
gio nico dos cursos jurdicos, acredito que, justamente
nestes, que as consequncias de tal fenmeno se fazem
mais nocivas sociedade.
E mais, alm da falta de preparo tcnico e intelectual,
cultiva-se entre os alunos a falta de comprometimento e
a mediocridade a partir da disseminao de macetes e
outros artifcios destinados apenas para que estes logrem
xito em algum concurso pblico, ou na prova da OAB.
So ensinados no a pensar criticamente e formar posi-
cionamentos, mas a decorar os entendimentos dos tribu-
nais sobre cada questo, bem como qual entendimento
deve ser adotado de acordo com cada banca de avaliao.
No se estuda mais em livros doutrinrios, estuda-se
atualmente em manuais, que nada mais so do que co-
lees de frases feitas, conceitos dogmticos e ementrios
de jurisprudncia destitudos de qualquer argumentao
ou anlise mais crtica. Isso sem falar dos onipresentes
resumos jurdicos, bestsellers adorados e venerados por
todos tal como o Deus google e os CDs e DVDs de mo-
delos de petio completos.
No se pode culpar (no integralmente, trata-se de
responsabilidade solidria) aqueles profssionais do di-
reito que atuam sob essa contingncia, haja vista que fo-
ram moldados segundo tal cultura (ou falta de cultura)
nos prprios bancos universitrios.
Alis, cabe registrar que muitos coordenadores, dire-
tores e professores dos cursos jurdicos (como o caso do
meu colega anteriormente citado) vivem o dilema dirio
de ter de agradar a gregos e troianos, vez que se contor-
cem em verdadeiros malabarismos ante a necessidade de
atender, por um lado, aos anseios de alunos que ali esto
unicamente com o objetivo de receber o diploma de ba-
37
charel e lograr xito na famigerada prova da OAB ou
nos mais diversos concursos pblicos (anseios estes co-
mungados por muitos dos pais cujos alunos so depen-
dentes e por muitos dos donos e reitores de faculdades),
e, por outro, aos anseios dos que ali esto (bem poucos,
estes) com o propsito de realmente alcanar uma slida
formao como juristas. E fca a questo: um curso de
bacharelado em direito realmente deve ser um cursinho
preparatrio para concursos?
Acredito ser iminente a necessidade de se mudar tal
cultura jurdica, estreitando a distncia entre a refexo
acadmica e a prtica profssional, e tal esforo precisa
ser conjunto, partindo dos professores, diretores e coor-
denadores dos cursos jurdicos; dos magistrados, mem-
bros do Ministrio Pblico, advogados e demais opera-
dores do Direito. E mais, tal esforo deve contar, ainda,
com o comprometimento dos responsveis por elaborar
as provas e processos seletivos dos concursos pblicos na
rea jurdica, bem como dos que elaboram a prova da
OAB. No se pode conceber que a esta altura do campe-
onato ainda estejamos presos mediocridade de proces-
sos de avaliao baseados na famosa e antiga decoreba,
da mera repetio ignorante de dados.
No necessrio a nenhum profssional do Direito a
memorizao da legislao ou do ementrio de jurispru-
dncia. Para isso existem computadores com dispositi-
vos de memria que j chegam a terabytes, com acesso a
uma rede mundial infnita de informaes e dados cha-
mada internet. O que se faz necessrio aos operadores do
Direito, principalmente nesta era ultramoderna, a ca-
pacidade de fazer uso dos infnitos dados que se encon-
tram disposio de todos, a maioria apenas a distncia
38
de algumas teclas. Faz-se necessrio, sim, o cultivo de ha-
bilidades ligadas ao pensar crtico, racional, responsvel
e consciente. Tais habilidades que deveriam ser objeto
de avaliao, tanto na academia quanto nos processos se-
letivos profssionais.
Voltando resposta que dei a meu colega, repito:
este trabalho se prope a ser tanto uma obra acadmica
quanto um livro prtico para a atuao profssional.
um livro acadmico porque resultado de pesquisa
bibliogrfca sria em ttulos nacionais e internacionais
de autores renomados e especializados em suas reas de
conhecimento (buscando contribuies no direito, na
histria, na cincia poltica, nas letras e na flosofa), e da
anlise crtica e metdica dos dados encontrados. aca-
dmico, pois busca a promoo do debate e do desenvol-
vimento doutrinrio sobre o tema, calcado em argumen-
tao lgica e flosfca, sendo devidamente fundamen-
tada cada uma de suas afrmaes. ainda acadmico
uma vez que se prope a ser didtico, explicativo, escrito
em linguagem simples e acessvel, para ser entendido pe-
los estudantes em busca de explicaes.
prtico e visa a atuao profssional, pois traz infor-
maes histricas, argumentao lgica, fundamentao
flosfca, explicaes e embasamento terico sobre con-
ceitos jurdicos, polticos e flosfcos (alguns difceis de
se encontrar rotineiramente), contribuindo assim para a
fundamentao de peties, sentenas, pareceres e ou-
tras peas jurdicas do dia a dia do operador do direito.
Por isso o subttulo da obra (contribuies sua herme-
nutica e aplicao), j que se prope a oferecer subs-
dios que ajudem a interpretao e a realizao do Direito
Eleitoral Brasileiro.
39
Trata-se de um texto simples, mas honesto e bem
intencionado. Espero sinceramente estar contribuindo
com algum esforo no sentido de, pelo menos, fomentar
a discusso a respeito do tema e diminuir o fosso que
parece circundar os muros da academia, apartando-a do
mundo prtico do operador do Direito.
Encontro-me disposio do leitor para receber cor-
rees, crticas, dvidas ou quaisquer outras considera-
es, que sero, sem dvida, grandes contribuies para
o aprimoramento deste pequeno trabalho.
Edson Jos Travassos Vidigal
contato@edsontravassos.com.br
41
O objeto do presente estudo a identifcao e breve
explanao terica de alguns fundamentos do Direito
Eleitoral Brasileiro, considerando-se, como tais, os prin-
cpios flosfcos que a este do origem, suporte e con-
sequente direcionamento em seu desenvolvimento e em
sua aplicao.
Para tanto, parte-se de uma anlise prvia sobre o
Direito Poltico atual e seus condicionantes herdados do
paradigma moderno; passa-se por um exame propeduti-
co do Estado Moderno, do Estado de Direito, da democra-
cia representativa e do Direito Eleitoral Brasileiro, em suas
caractersticas consideradas relevantes pesquisa em tela;
e, a partir do referencial terico anterior e da leitura do
texto constitucional brasileiro, procede-se apresentao
da proposta pretendida, resultante do presente trabalho.
Antes de tudo, a fm de se evitar possveis interpreta-
es ou consideraes equivocadas, cabe esclarecer o que
aqui se entende por princpios flosfcos, at mesmo
procedendo a necessria diferenciao destes em relao
aos princpios jurdicos, tambm chamados de princ-
pios de direito.
Tal diferenciao necessria, sobretudo, em face da
fora com a qual vem sobressaindo atualmente no meio
Introduo
42
flosfco-jurdico nacional, discusses acerca da nature-
za e da aplicao dos princpios jurdicos, muito em de-
corrncia do inusitado
18
apelo conquistado pelas teorias
dos princpios de Dworkin e Alexy
19
, e pelo movimento
por muitos chamado de neoconstitucionalismo.
20
Como se explica a seguir, tais discusses, polmicas
e teorias sobre os princpios jurdicos no se constituem
objeto do presente trabalho, e nem a ele apresentam re-
levncia, tendo em vista a delimitao do tema em uma
esfera que habita momento lgico anterior de tal assun-
to. Sem embargo, qualquer referncia a tal matria, alm
da presente, de carter exclusivo
21
, extrapolaria os limites
deste estudo.
Princpios filosficos e princpios jurdicos
Mesmo sem entrar nas discusses citadas, olhando-as de
fora, percebe-se que, no obstante a falta de consenso e
a diversidade conceitual da doutrina, parece ser ponto
18. Inusitado, haja vista que se tratam de teorias estranhas ao civil law, forjadas
a partir de sistema jurdico totalmente diverso ao nosso.
19. Sobre o tema, tratam as obras Levando os direitos a srio, Uma questo de
princpio, O imprio do direito, Teoria dos direitos fundamentais e Teoria da
argumentao jurdica, todas publicadas em nosso idioma, sendo as trs pri-
meiras de autoria de Dworkin, e as demais de autoria de Alexy.
20. Na esfera do Direito Eleitoral, o professor Alxis Vargas (2009), em sua obra
Princpios constitucionais de direito eleitoral tese de concluso de doutorado
apresentada PUC-SP faz uso de tais teorias, aplicando-as ao Direito Eleitoral
Brasileiro. Aquele trabalho, ao contrrio deste, trata de princpios jurdicos
do Direito Eleitoral Brasileiro.
21. Necessria identificao, por excluso, do objeto de nossa pesquisa.
43
pacfco o carter normativo dos princpios jurdicos
22
.
Segundo o professor Roberto Freitas, tais princpios, via
de regra, so tomados como espcie do gnero norma
23
,
restando controvrsias entre os autores mais no que diz
respeito a outros aspectos, tais como os relativos a con-
tedo, origem, classifcao, aplicao, validade, efccia
jurdica e, principalmente, acerca dos critrios de distin-
o destes em relao s regras.
Por se tratar de norma, um princpio jurdico tem ca-
rter imperativo
24
. Ele imposto. Ou se aceita, ou no.
22. A ttulo de ilustrao:
Para Robert Alexy, princpios so normas que ordenam que algo seja realizado
na maior medida possvel dentro das possibilidades jurdicas e fticas existentes.
Princpios so, por conseguinte, mandamentos de otimizao, que so caracteri-
zados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida
devida de sua satisfao no depende somente das possibilidades fticas, mas
tambm das possibilidades jurdicas. O mbito das possibilidades jurdicas
determinado pelos princpios e regras colidentes. (ALEXY, 2008, p. 90.)
Para Humberto vila, os princpios so definidos como normas imediata-
mente finalsticas, primariamente prospectivas e com pretenso de comple-
mentariedade e de parcialidade, para cuja aplicao demandam uma avaliao
de correlao entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes
da conduta havida como necessria sua promoo. (VILA, 2003, p.119.)
[grifo nosso]
23. A doutrina classifica, em geral, as normas jurdicas em princpios e re-
gras. Princpio, assim como regra, espcie do gnero norma. A doutrina
constitucional classifica, de forma praticamente unnime, as normas sob o
seu chamado aspecto estrutural em princpios e regras. Autores como Paulo
Bonavides, Eros Roberto Grau, Lus Roberto Barroso, Inocncio Mrtires
Coelho, Willis Santiago Guerra Filho, dentre os brasileiros, assim entendem.
(FREITAS FILHO, 2009, p. 189.)
24. Segundo Kant (2003, p. 65): Um imperativo uma regra pela qual uma
ao em si mesma contingente tomada necessria. Um imperativo difere de
uma lei prtica em que uma lei efetivamente representa uma ao como neces-
sria, mas no considera se essa ao j inerente por fora de uma necessidade
interna ao sujeito agente (como um ser santo) ou se contingente (como no ser
humano), pois quando ocorre o primeiro desses casos no h imperativo. Por
conseguinte, um imperativo uma regra cuja representao torna necessria
44
No h como se perguntar se verdadeiro ou falso. Ele
no uma afrmao, simplesmente um comando. Um
princpio jurdico no um ser, um dever ser, e
como tal, no cabe o questionamento a respeito de sua
veracidade. Os princpios jurdicos so imposies
que devem ser seguidas e, como tais, no esto sujei-
tas a juzo de valor de verdade. Os princpios jurdicos,
em si, so vazios de justifcao
25
, so apenas enunciados
normativos que sintetizam um determinado contedo
jurdico. So, nesse papel, axiomticos, no sentido de
serem evidentes, manifestos e incontestveis (em suas
disposies).
26
J um princpio flosfco tem carter explicativo.
uma afrmao que se justifca na forma de um argu-
uma ao que subjetivamente contingente e assim representa o sujeito como
aquele que tem que ser constrangido (compelido) a conformar-se regra.
25. Sua justificao ser dada, como veremos adiante, por um princpio filo-
sfico, que, inclusive, condicionar o seu contedo jurdico.
26. A ttulo de curiosidade, podemos perceber que, mesmo no se podendo
questionar valorativamente os princpios jurdicos, podem ser questionados
valorativamente os fundamentos de sua existncia, quer sejam os jurdicos (a
interpretao da lei), quer sejam os filosficos (os princpios filosficos). Pode-
se afirmar, por exemplo, que falso o fundamento jurdico (uma determinada
interpretao da lei) de um determinado princpio jurdico. Assim, tal princ-
pio, falta de amparo legal (fundamentao jurdica), restaria inexistente. Se
determinado princpio jurdico no tem fundamento jurdico que o ampare,
ento ele no chega nem a existir, pois, como veremos adiante, qualquer prin-
cpio jurdico, necessariamente, deriva de um ordenamento jurdico. Porm,
estando um princpio expresso na constituio de forma clara e inequvoca,
no h o que ser questionado. Se a constituio diz que tal enunciado um
princpio jurdico, ele j existe como tal. No pode ser desconsiderado. Percebe-
se que qualquer questionamento a ser feito a um princpio jurdico s far
sentido no plano da existncia, pois ou ele procede de um fundamento que
lhe atribua existncia e, assim, existe, ou ele no procede e no existe. A sua
prpria existncia condicionada pelo seu fundamento jurdico.
45
mento
27
, em um encadeamento lgico entre premissas.
Assim, pode ser questionado sob o ponto de vista de sua
validade
28
. No h que se contestar a sua existncia, pois
ela independe de fundamento anterior que a confra
29
.
Porm, sua validade sempre poder ser arguida, pois, por
se constituir de um argumento, est sujeito anlise for-
mal, sendo invalidado a partir da identifcao de erros
em seu encadeamento lgico.
Um princpio flosfco pode ser um axioma, que se
basta, e a partir do qual se ergue toda uma construo
flosfca, ou, tambm, um princpio que no se basta,
e depende de outro princpio flosfco anterior (ou ou-
tros). A validade de um princpio flosfco lhe atribu-
da na medida em que, sendo decorrente de princpio an-
terior, guarde o necessrio encadeamento lgico com o
mesmo. Por sua caracterstica flosfca, necessariamente
um argumento lgico
30
, e, como tal, sujeito aferio de
validade lgica formal.
27. No caso geral, um argumento pode ser definido como um conjunto (no-
vazio e finito) de sentenas, das quais uma chamada de concluso, as outras
de premissas, e pretende-se que as premissas justifiquem, garantam ou dem
evidncia para a concluso. (MORTARI, 2001, p. 9.)
28. Um argumento vlido pode ser informalmente definido como aquele
cuja concluso consequncia lgica de suas premissas, ou seja, se todas as
circunstncias que tornam as premissas verdadeiras tornam igualmente a con-
cluso verdadeira. Dito de outra maneira, se as premissas forem verdadeiras,
no possvel que a concluso seja falsa...Um argumento vlido se qualquer
circunstncia que torna suas premissas verdadeiras faz com que sua concluso
seja automaticamente verdadeira. (MORTARI, 2001, p. 19.)
29. Ao contrrio dos princpios jurdicos, que, como dito, dependem de fun-
damentao jurdica para existir.
30. O discurso filosfico se distingue dos demais tipos de discurso (senso-
comum, discurso religioso, mito e discurso cientfico) justamente por se utilizar
de argumentao lgica e encontrar a sua prova na razo.
46
Por outro lado, no seria necessrio entrar no mrito
acima tratado para perceber que os princpios jurdicos,
pelo simples fato de serem jurdicos, procedem logica-
mente de um ordenamento jurdico, seja ele qual for.
Se no tivessem, de alguma forma, uma ordem jurdica
como referncia, no seriam jurdicos, pois a juridicida-
de qualidade atribuda pelo ordenamento jurdico. Ou
seja, eles existem em um momento lgico posterior po-
sitivao das normas, evento que as torna jurdicas
31
.
J os princpios flosfcos precedem (logicamente)
qualquer ordenamento jurdico, isto , existem em um
momento lgico anterior positivao das normas jurdi-
cas. Tais princpios servem de fundamentao terica, tan-
to para cada lei em particular, quanto para o ordenamento
jurdico como um todo, visto como sistema jurdico
32
.
Como se pode perceber, os princpios jurdicos ser-
vem de meios para a interpretao do ordenamento jur-
dico e aplicao do Direito de forma a se garantir efetivi-
dade
33
aos valores aceitos pela sociedade e materializados
31. H quem sustente que a fundamentalidade dos princpios estaria na sua
origem como parte do Direito Natural, sendo a essncia da Cincia Jurdica,
as suas normas bsicas e mais relevantes e possuindo contedo moral supra-
positivo. (FREITAS FILHO, 2009, p. 201). Mesmo em tal viso jusnaturalista
relatada pelo professor Roberto Freitas Filho, os princpios jurdicos decorrem
do ordenamento jurdico. Pois, antes dele, no seriam jurdicos, mas apenas
princpios filosficos, como o prprio Direito Natural parece ser.
32. Serviro, inclusive, de fundamento para os princpios jurdicos.
33. Adotamos o entendimento de Pontes de Miranda no sentido de que, dife-
rentemente da eficcia, que diz respeito produo de efeitos no mundo jur-
dico (criao, modificao ou extino de direitos), a efetividade diz respeito
produo de efeitos no mundo real, a partir do uso do direito e do aparato
estatal para determinados fins. Ou seja, ela surge na medida em que os valores
considerados relevantes pela sociedade, e positivados do ordenamento jurdico,
so, por meio do direito, implementados no mundo real, modificando-o.
47
na forma de lei. Eles efetuam a ponte entre os princpios
flosfcos valorados em suas razes e adotados pela
sociedade e a efetivao dos mesmos por intermdio
do Direito. Enquanto os princpios jurdicos regram a
aplicao do Direito por meio de comandos, os princ-
pios flosfcos os fundam, ou seja, criam o arcabouo
terico que, avaliado e legitimado pela sociedade, dar
legitimidade e validade
34
ao ordenamento jurdico.
Percebe-se que princpios flosfcos e princpios jur-
dicos ocupam funes e momentos (lgicos) distintos em
relao ao ordenamento jurdico. Em um encadeamento
lgico formal, aqueles so anteriores a estes. Os princ-
pios jurdicos so enunciados estabelecidos como con-
sequncia lgica dos valores acatados pelo ordenamento
jurdico, que, por sua vez, estabelecido em consequncia
lgica dos princpios flosfcos aceitos pela sociedade,
que o moldam e o legitimam. Isso porque os princpios
flosfcos so a fundamentao necessria que d causa
35
ao ordenamento jurdico. E, por sua vez, o ordenamento
jurdico quem d causa aos princpios jurdicos.
Assim, podemos concluir que, em ltima anlise, os
princpios flosfcos do causa aos princpios jurdicos
34. Nas palavras de Simone Goyard-Fabre (2002, p. 500), Toda legislao
repousa em princpios imutveis e categricos cuja autoridade suprema tem a
elevao e a universalidade das exigncias prticas expressas pelo imperativo
categrico da razo. Se, portanto, a evoluo dos conceitos do direito poltico
indispensvel ao longo dos desenvolvimentos da histria e da cultura, a ideali-
dade pura na qual se enrazam os princpios da modernidade jurdica autono-
mia do direito, ordem pblica, soberania, autoridade, legalidade, legitimidade,
equilbrio e moderao dos poderes, igualdade e liberdade constitui, no plano
do universal, o ncleo inabalvel de sua validade normativa. [grifos nossos]
35. Causa formal, tomada aqui como a condio pelo que alguma coisa
determinada. (FERREIRA, 1999)
48
(no sem antes passarem pelo processo de positivao
concretizada no ordenamento jurdico)
36
. Mesmo os
princpios jurdicos implcitos, que no se encontram li-
teralmente no ordenamento jurdico, so consequncia
dos princpios flosfcos, sem os quais no haveria par-
metros para a sua correta inferncia.
A fm de ilustrar o que aqui se diz, tomemos como
exemplo prtico o princpio jurdico da igualdade. Tal
princpio se consubstancia no enunciado normativo to-
dos so iguais perante a lei. Tal enunciado no repre-
senta uma constatao a partir da observao da reali-
dade, ele no tem contedo cognitivo. Ele no descreve
a realidade e por isso sua veracidade no h como ser
questionada. No se pode alegar que possvel observar
muitas desigualdades sociais, e por isso este enunciado
falso. Seu objetivo no descrever a realidade social,
e sim impor, a ela, uma forma de ser. Tal enunciado se
constitui em uma imposio, tem contedo volitivo. Ele
prescreve algo que no pode ser questionado, em virtu-
de de seu carter de obrigatoriedade, caracterstico das
normas jurdicas.
O enunciado todos so iguais perante a lei, apesar
de axiomtico, depende de complementao, pois dele
so possveis infnitas interpretaes. Tal complemen-
tao o seu contedo jurdico. Segundo Mello (2010,
p.10), a complementao necessria ao enunciado deste
princpio, isto , o seu contedo jurdico, seria a de que
a lei no deve ser fonte de privilgios ou perseguies,
36. Sobre a aplicao prtica de tal afirmao, ver a obra anteriormente citada
Princpios Constitucionais de Direito Eleitoral, onde o autor trabalha cada prin-
cpio jurdico apontado a partir de fundamentos filosficos, fundamentos
jurdicos e contedo jurdico.
49
mas instrumento regulador da vida social que necessita
tratar equitativamente todos os cidados. Melo, inclusi-
ve, acrescenta que Este o contedo poltico-ideolgico
absorvido pelo princpio da isonomia e juridicizado pe-
los textos constitucionais em geral, ou de todo modo as-
similado pelos sistemas normativos vigentes.
Traduzindo para nossos termos, contedo poltico-
ideolgico seria a justifcao argumentativa do prin-
cpio da isonomia, princpio este que flosfco. Tal jus-
tifcao argumentativa, condensada em um princpio
flosfco (o princpio da isonomia), a partir da valorao
social, juridicizada, ou seja, positivada, transforma-
da em parte do ordenamento jurdico, dando origem a
um princpio jurdico: o princpio da igualdade. Assim,
o princpio jurdico da igualdade decorre de uma funda-
mentao flosfca (o princpio flosfco, que, inclusive,
condicionar o seu contedo jurdico) e de uma funda-
mentao jurdica (a sua previso legal).
Fundamentos do Direito
Ultrapassando a breve, mas necessria, diferenciao
entre princpios flosfcos e princpios jurdicos, proce-
deremos agora uma defnio daqueles. Neste trabalho,
para os fns que aqui se buscam, entenderemos
37
os prin-
37. Trata-se de proposta, nossa, de utilizao do termo, a fim de se possibilitar
o entendimento de nossa explanao, livrando o leitor de dvidas quanto
acepo utilizada, haja vista no se tratar de termo tcnico especfico que goze
de significao notria consolidada em alguma rea do conhecimento. No se
trata de afirmao de carter etimolgico, nem de apropriao do termo, mas
apenas de mera conveno para os fins pretendidos.
50
cpios flosfcos como os conceitos, categorias ou ideias
flosfcas que apresentam uma justifcativa terica para
a legitimao do ordenamento jurdico e, consequente-
mente, do Estado
38
. Trata-se da justifcativa racional para
a forma de ser do direito positivo. Em outras palavras,
trata-se do discurso axiolgico necessrio aceitao so-
cial e consequente legitimao do sistema pelo qual ser
exercido o poder de coao estatal, elemento fundamen-
tal ao Direito em sua acepo normativa.
A partir de tal referencial terico, dizemos, en-
to, que os princpios flosfcos so fundamentos do
Estado e do Direito, ou seja, eles do as bases necess-
rias sua construo e sua manuteno. So os alicer-
ces do mundo jurdico.
Mora (2001, v. 4, p. 1159) inicia o verbete Fundamento
com a seguinte explicao:
FUNDAMENTO. O termo fundamento utilizado em
vrios sentidos. s vezes equivale a princpio; s vezes, a
38. Entes que, na viso de Kelsen, no so distintos, mas mesmo se confundem,
haja vista considerar ser o Estado unicamente a personificao do ordenamento
jurdico: Justamente como a teoria pura do Direito elimina o dualismo de Di-
reito e Justia e o dualismo de Direito objetivo e subjetivo, ela abole o dualismo
de Direito e Estado. Ao faz-lo, ela estabelece uma teoria do Estado como parte
intrnseca da teoria do Direito e postula a unidade do Direito nacional e do
internacional dentro de um sistema que compreende todas as ordens jurdicas
positivas. A teoria pura do Direito uma teoria monista. Ela demonstra que
o Estado imaginado como ser pessoal , na melhor das hipteses, nada mais
que a personificao da ordem jurdica, e, mais frequentemente, uma mera
hipostatizao de certos postulados poltico-morais.(KELSEN, 1992, p. 4.).
No obstante o fato de que o presente trabalho no se baliza pela teoria pura
do direito de Kelsen (inclusive pelo fato de que, nos parmetros nela adotados,
restaria este excludo da esfera objeto da cincia jurdica), concordamos, neste
ponto, com o entendimento de Kelsen sobre a identificao entre Estado e
ordenamento jurdico.
51
razo; s vezes a origem; podendo ser usado, por sua
vez, nos distintos sentidos em que empregado cada
um dos vocbulos citados. Exemplos de uso do vocbu-
lo fundamento so: Deus o fundamento do mun-
do; Eis aqui os fundamentos da flosofa; Conheo o
fundamento de minha crena. Pode-se ver facilmente
que o uso do termo em questo muito variado e, na
maior parte dos casos, nada preciso.
Embora fundamento possa designar tambm o prin-
cpio no sentido de origem, mais habitual descartar
toda questo relativa a origens (no tempo) quando se
fala de fundamento. [grifos nossos]
A tempo, vejamos como Marcondes e Japiass (1996, p.
113) defnem o termo:
Fundamento (lat. Fundamentum, de fundare: fundar) 1.
Na linguagem corrente, designa aquilo sobre o qual re-
pousa alguma coisa: outrora se falava dos fundamentos
de uma casa, mas hoje se fala de suas fundaes. A
flosofa utiliza esse termo para designar aquilo sobre o
qual repousa, de direito, certo conhecimento. Assim, o
fundamento de um conjunto de proposies a primei-
ra verdade sobre a qual elas so deduzidas.
2. Princpio explicativo que denota a existncia de uma
ordem de fenmenos ou de uma base do pensamento.
Aquilo que Descartes censura nas disciplinas que lhe
foram ensinadas , antes de tudo, o fato de no repou-
sarem em fundamentos slidos, ou seja, em princpios
construdos sobre fundaes seguras. Ex.: a axiomtica
como fundamento da matemtica, o princpio da gravi-
dade como fundamento da mecnica celeste.
52
3. Aquilo que fornece a alguma coisa sua razo de ser
ou que confere a uma ordem de conhecimento uma ga-
rantia de valor e de uma justifcativa racional.
A partir de tais verbetes, podemos, neste escopo, defnir
fundamentos como os princpios explicativos que do
causa e razo de ser a alguma coisa, suportando-a e con-
ferindo-lhe garantia de valor e de uma justifcativa racio-
nal, constituindo-se na primeira verdade de um sistema de
proposies, a partir da qual as demais sero deduzidas.
Diante de tais consideraes, ao invs de princpios
flosfcos, optamos por utilizar a palavra fundamen-
tos, na acepo acima defnida, para designar os prota-
gonistas de nosso trabalho. Tal opo se justifca por dois
fatores relevantes. O primeiro a vantagem de afastar
confuses e erros que possam ser causados pela equivo-
cada associao entre princpios flosfcos e princpios
jurdicos. O segundo que a palavra fundamento se apli-
ca questo com maior propriedade. Seu leque de sig-
nifcados abarca vrios aspectos preciosos de tais entes,
envolvendo-os de maneira mpar, tanto explicando-os
quanto lhes dando vida e movimento, vez que os anima,
tal como o oxignio em nosso sangue, em um processo
dinmico necessrio ao nascimento, desenvolvimento e
funcionamento de todo o corpo jurdico.
Roteiro da pesquisa
Este estudo dividido em seis partes: (1) Introduo;
(2) Paradigma moderno e Direito Poltico; (3) Estado
Moderno, Estado Democrtico de Direito e demo-
53
cracia representativa (4) Direito Eleitoral Brasileiro;
(5) Fundamentos do Direito Eleitoral Brasileiro e (6)
Consideraes fnais; sendo cada uma dessas unidades
composta por dois ou mais tpicos que, por vezes, so
desmembrados em subtpicos. Procurou-se demarcar ao
mximo cada tpico do raciocnio aqui pretendido, ten-
do em vista dois fns: facilitar o entendimento de seu en-
cadeamento lgico e propiciar um acesso rpido a cada
premissa de maneira a fomentar o exerccio de correla-
o entre elas.
Na presente parte (Introduo), delineamos o objeto
de nossa pesquisa; explicamos e desenvolvemos a nos-
sa noo de princpio flosfco primordial ao enten-
dimento de nosso escopo inclusive distinguindo-a da
noo de princpio jurdico; defnimos o conceito de
fundamento a ser utilizado no decorrer deste opsculo;
expomos a metodologia aqui adotada; e, por fm, traa-
mos (neste ato) o mapa do caminho que percorreremos
rumo nossa meta.
Na segunda parte (Direito Poltico e paradigma mo-
derno), analisaremos tais entes, bem como algumas ca-
ractersticas do paradigma
39
moderno que, de uma forma
ou de outra, condicionaram (e ainda condicionam) a es-
39. Neste trabalho, sempre utilizaremos o termo paradigma em uma ou outra
das duas concepes, adiante expostas, utilizadas por Tomas Kuhn para expli-
car o conceito (Acreditamos no se constituir em bice, a partir do contexto, a
aplicao da acepo pertinente): Percebe-se rapidamente que na maior parte
do livro o termo paradigma usado em dois sentidos diferentes. De um
lado, indica toda a constelao de crenas, valores, tcnicas etc., partilhadas
pelos membros de uma comunidade determinada. De outro, denota um tipo
de elemento dessa constelao: as solues concretas de quebra-cabeas que
empregadas como modelos ou exemplos, podem substituir regras explcitas
como base para a soluo dos restantes quebra-cabeas da cincia normal.
(KHUN, 2006, p. 220.)
54
trutura e o funcionamento do Direito Poltico moderno.
Buscaremos, ainda, demonstrar a repercusso gerada no
Direito Poltico por tais caractersticas, a fm de que seja
percebido o surgimento das sementes necessrias ao nas-
cimento do Estado Moderno.
A terceira parte, composta por dois tpicos Estado
Moderno, Estado Democrtico de Direito e democracia
representativa , tem por objetivo estabelecer a ligao
entre o Estado moderno e o Direito Eleitoral, mostran-
do o vnculo de necessariedade que se estabelece entre o
primeiro e o segundo, a partir do surgimento do Estado
Democrtico de Direito e, consequentemente, da demo-
cracia representativa. Ser apresentado o encadeamento
lgico de causalidade necessria entre todos estes entes,
de forma a se perceber: (1) que sem o Estado moderno
no existiria Estado Democrtico de Direito; (2) que sem
o Estado Democrtico de Direito, no existiria a demo-
cracia representativa; e (3) que sem a democracia repre-
sentativa no existiria o Direito Eleitoral. Tal encadea-
mento no meramente histrico. , sobretudo, causal.
Pretende-se neste escopo salientar as caractersticas
que so herdadas por cada etapa posterior do processo
da etapa anterior. Isso feito de modo a identifcar o
encadeamento de validao existente, por meio da razo,
entre tais objetos, de forma a se concluir que, ainda, mais
do que histrico ou causal, este encadeamento condi-
cional, submetendo-se a vnculos de necessariedade, sob
pena de completa runa diante da sua incoerncia.
At este ponto, a pesquisa se ocupa de aspectos gerais,
comuns ao mundo ocidental, que podem ser aplicados
a qualquer ordenamento jurdico baseado no Estado
Democrtico de Direito. Isso porque se trata de matria
55
anterior
40
a eles, ligada justamente fundamentao flo-
sfca do Direito Poltico moderno e, consequentemen-
te, de suas instituies jurdicas e polticas. Entretanto, a
partir desse momento, em funo de nosso objetivo, pas-
saremos a uma anlise particular especfca de elementos
que no necessariamente podem ser considerados gerais,
pois dependem de um ordenamento jurdico especfco.
Assim, podem, ou no, ser aplicados a realidades estru-
turadas em outros ordenamentos.
Para se alcanar o escopo de identifcar alguns fun-
damentos do Direito Eleitoral Brasileiro
41
, obviamente se
faz necessria a anlise do prprio, a fm de que sejam
expostos elementos que possibilitem tal mister. Eis a fun-
o da quarta parte de nosso trabalho (Direito Eleitoral
Brasileiro), que subdividida em dois tpicos (1) Objeto
do Direito Eleitoral e bem jurdico por ele tutelado e (2)
Funo da Justia Eleitoral Brasileira buscar cumprir
sua misso tendo como suporte a doutrina e a legislao
eleitoral nacional.
Finalmente, aps o amadurecimento das noes ne-
cessrias, feito no decorrer de nossa jornada por uma
estrada que, pavimentada pela histria do pensamento,
parte do surgimento do paradigma moderno e chega
existncia do Direito Eleitoral, atingimos o pice de nos-
sa pesquisa: a identifcao e breve explanao terica de
alguns fundamentos do Direito Eleitoral Brasileiro.
O objetivo da quinta parte de nosso estudo , confor-
me todo o arcabouo terico desenvolvido anteriormen-
40. Do ponto de vista lgico.
41. Ou seja, alguns discursos filosficos, pertinentes ao Direito Eleitoral, que
foram valorados pela sociedade brasileira como dignos de aceitao legal,
consequentemente legitimados por meio de sua converso em lei.
56
te, propor, como hiptese heurstica, um rol de funda-
mentos que possam ser identifcados no Direito Eleitoral
Brasileiro como pressupostos sua existncia e ao seu
funcionamento. Essa lista de fundamentos no preten-
de ser defnitiva, absoluta ou exaustiva. No se pretende
aqui esgotar o tema, at mesmo pelo fato de que tanto
o ordenamento jurdico quanto sua fundamentao so
entes dinmicos, que se encontram em eterna mutao.
Assim, podem (e provavelmente devem) existir outros
fundamentos que, de uma forma ou de outra, contribu-
am para a vida de nosso Direito Eleitoral. Com essa ideia
em mente, optamos por buscar os fundamentos por trs
dos preceitos constitucionais que, a nosso ver, condicio-
nam de maneira necessria o nosso Direito Poltico
42
, e
consequentemente o nosso Direito Eleitoral, que ramo
especial daquele.
A delimitao do rol de fundamentos a serem aqui
trabalhados procedeu da aplicao de um mtodo hipo-
ttico dedutivo, consubstanciado nos seguintes passos:
primeiro, de maneira intuitiva, elencou-se possveis
institutos. Segundo, por meio da avaliao de sua per-
tinncia ao critrio adotado, procurou-se tentar false-
los, um a um.
A seguinte lista dos fundamentos que sero aqui
trabalhados, inferida do texto constitucional e deli-
mitada j de antemo, composta pelos que passaram
inclumes por esse processo de falseamento. So estes:
(1) do contratualismo; (2) da legitimidade (ambos in-
42. Optamos aqui por utilizar o termo direito poltico, ao invs do usualmente
adotado, no Brasil, direito pblico. Isto porque consideramos o termo mais
pertinente e significativo ao assunto tratado neste estudo.
57
feridos do prembulo da Constituio Federal); (3) do
Estado Democrtico de Direito; (4) da soberania po-
pular; (5) da cidadania; (6) da dignidade da pessoa hu-
mana; (7) do pluralismo poltico; (8) da representao
(todos inferidos do art. 1
o
); e (9) do sufrgio universal
(inferido do art. 14). Procedemos, ainda, exposio
de uma proposta nossa de fundamento que, no obs-
tante a polmica que possa gerar, em nosso entendi-
mento se apresentaria em meio aos demais: (10) o fun-
damento da candidatura (tambm inferido do art. 14).
Sobre este, podemos, de antemo, adiantar que se trata
da exigncia da valorao de determinados requisitos
imprescindveis participao passiva no processo re-
presentativo democrtico.
Percebe-se, j neste ponto, que este trabalho analisa o
Direito Eleitoral a partir da via flosfca. E aqui se apli-
cam as sbias palavras de Simone Goyard-Fabre (2002, p.
48 e 49), em seu estudo sobre o Direito Poltico moderno:
A tarefa do flsofo no descrever uma ordem de di-
reito positivo existente aqui e agora, nem sequer expli-
car a forma e o contedo do ordenamento jurdico de
certo Estado ou de certo organismo internacional. A
flosofa no um trabalho de conhecimento, mas um
exerccio infndvel de refexo compreensiva e crtica.
Perguntado-se sobre o direito poltico tal como se ma-
nifestou desde o advento da modernidade, isto : so-
bre o conjunto das regras do direito positivo que formam
a base institucional das sociedades polticas tal como
existiram nos sculos da modernidade ocidental, o f-
lsofo, hoje, se atribui como tarefa, no, como o flsofo
clssico, julg-las pela medida da idealidade pura de
58
um arqutipo inteligvel, mas aprofundar o signifcado
dessas regras a fm de descobrir nelas as razes desse sen-
tido e de sua legitimidade. [grifos nossos]
V-se que o presente estudo parte de uma abordagem,
infelizmente, rara no meio jurdico brasileiro de nossos
dias. Nossos cursos jurdicos que atualmente bro-
tam como dentes-de-leo em cada esquina ou pedao
de terra abandonado com raras e honrosas excees,
parecem ter se convertido em (nas palavras de um sbio
professor) comrcio de diplomas em 60 prestaes,
ou, na melhor das hipteses, cursinhos preparatrios
para concurso. Tal fato facilmente aferido a partir de
um breve contato com a estrutura de suas grades cur-
riculares, com suas polticas de fomento pesquisa (ou
falta delas), e at a partir de uma conversa informal
sobre algum tema jurdico relevante com os alunos ou
mesmo com alguns professores. To precria a situa-
o em que se encontra a maioria esmagadora de nos-
sos cursos jurdicos, que parece ter sido esquecido, na
academia jurdica nacional, que a funo de um bacha-
rel a pesquisa e o desenvolvimento do Direito, visan-
do ao constante aprimoramento de nossas instituies
jurdicas e a consequente realizao da justia.
Deste ambiente rido e hostil que surgem a urgn-
cia e a necessidade -do tipo de exerccio a que se refere
Goyard-Fabre: o que se atreve a pensar, questionar e pro-
por solues. O que corre riscos e oferece a cara a tapa.
Talvez o maior problema enfrentado atualmente pelo
Direito Brasileiro seja a questo relativa sua herme-
nutica e aplicao. Parte do judicirio tem se portado
frequentemente de maneira questionvel, a partir de jul-
59
gados que nascem sem a necessria fundamentao ra-
cional lgica, com uma grave falta de critrios ou, no m-
nimo, com impercia e incoerncia no uso dos mesmos.
Ativismo judicial tem se confundido com abuso de
discricionariedade, subjetivismo e, em certos casos,
com perigosa usurpao de funes dos outros pode-
res, criando precedentes danosos ao sistema de Checks
and balances adotado em nosso Estado. Neste cenrio
insalubre que a Justia Eleitoral at pela natureza e
importncia de sua matria parece estar particular-
mente vulnervel.
importante a discusso acerca do problema, a busca
por solues, a proposio de ideias. A partir de tal an-
gstia nasceu a idia do presente trabalho que se pro-
pe a buscar fundamentos que possam auxiliar a atuao
da Justia Eleitoral, bem como a aplicao de seu direito
em um esforo de tentar contribuir para a mudana
deste quadro, com o mnimo que seja, na medida de nos-
sas limitaes, sempre tendo como norte o exemplo de
nomes como os de Rui Barbosa, Tobias Barreto, Clvis
Bevilaqua e Pontes de Miranda, dentre outros, que
apesar de atualmente esquecidos por meio do estudo,
da pesquisa, da formao humanstica e consequente vi-
so multidisciplinar, ousaram realizar o aperfeioamen-
to de nosso direito ptrio com atos de disposio, risco,
dedicao e coragem.
A expectativa de arraigar impulsos, antes de preten-
der esgotar o assunto, que nos provoca a anlise.
61
A fm de que possamos compreender a interao entre o
paradigma moderno e o Direito Poltico, faz-se necess-
ria uma prvia compreenso sobre os entes relacionados.
O termo paradigma aqui utilizado como um arca-
bouo de valores, tcnicas, crenas, instrumental e solu-
es aceito pelos membros de uma determinada comu-
nidade
43
. Assim, tomaremos por paradigma moderno
um conjunto de caractersticas condicionantes ou ine-
rentes a um perodo histrico especfco: a Era Moderna.
Haja vista que uma era se constitui justamente da
aglutinao de determinadas caractersticas a ela ine-
rentes, relevantes sua identidade, percebe-se que a
sua delimitao temporal se constitui em tarefa pratica-
mente impossvel, pois observa-se que no so simul-
tneos os nascimentos de todas as suas diversas e he-
terogneas caractersticas, bem como no se percebe
simultnea a morte das mesmas, a ensejar o nascimento
de outras futuras. Assim, pode parecer leviana e teme-
rria a eleio de um momento especfco que defna a
morte da Era Medieval e concomitante nascimento da
nova Era Moderna.
43. Conforme anterior nota de rodap (n
o
39).
Paradigma moderno e direito poltico
62
At porque tais caractersticas so as mais diversas,
permeando o campo de estudo da histria, da flosofa,
da cincia poltica, da cincia econmica, das artes, das
letras, do direito e de muitas outras atividades cogniti-
vas ou criativas, tendo em vista o objeto de interesse de
cada uma delas. Essa diversidade de objetos de interesse
cognitivo se traduz em pontos de vista distintos sobre a
mesma realidade, que por vezes se imbricam, por vezes
se separam. Assim sendo, difcil especifcar marcos de
convergncia ou divergncia entre eles. O movimento ar-
tstico tem um ritmo, que no necessariamente o mes-
mo que o do flosfco, que por sua vez no necessaria-
mente o mesmo que o do cientfco ou o do poltico etc.
O emaranhado histrico de diversas vises sobre a
mesma realidade comporta infnitas relaes em uma
teia de conhecimento que no tem ponto de partida,
nem ponto de chegada, mas apenas um eterno processo
de inter-relao entre seus entes.
A esse respeito, somamos o testemunho de Simone
Goyard-Fabre (2002, p. 4 e 5):
Desenhar os contornos do mundo moderno , tanto
para o flsofo como para o historiador, uma tarefa in-
cmoda. Se os historiadores geralmente esto de acor-
do em situar na primeira dcada do sculo XVII, at
mesmo com o assassinato de Henrique IV em 1610, o
nascimento dos Tempos modernos, os flsofos so
muito mais indecisos. verdade que so menos cio-
sos do que os historiadores de uma datao precisa e
que buscam sobretudo os sinais que, iniciando uma
ruptura com o cosmologismo do pensamento antigo
e o teologismo do pensamento medieval, anunciam
63
preocupaes ou uma sensibilidade intelectual novas.
Esses sinais s se deixam decifrar ao longo de uma
progresso histrico-flosfca cujo percurso devemos
refazer em etapas sucessivas.
De fato, as afrmaes sobre o tema so as mais divergen-
tes possveis. Assim, temos que deixar claro que, ao nos
referirmos neste trabalho a paradigma moderno, faze-
mos sob um ponto de vista especfco, qual seja, o jurdi-
co-flosfco, que se caracterizaria pela anlise das ideias,
argumentos e discursos relevantes construo dogm-
tica poltica e jurdica em seu desenvolvimento histrico.
Resumindo, podemos dizer que, ao aqui se tratar do
paradigma moderno, estaremos tratando de um con-
junto de ideias, argumentos, discursos, linguagens, ter-
mos, institutos e quaisquer outros instrumentos de cons-
truo flosfca que tenham relevncia construo
poltico-jurdica da Era Moderna.
J sobre Direito Poltico, consideramos irretocveis as
consideraes de Goyard-Fabre (2002, p. 2), motivo pelo
qual tornam-se preciosas suas palavras:
O direito poltico ou pblico o conjunto de regras
que estrutura o aparelho da potncia dos Estados, tanto
no plano interno como no trato jurdico internacional.
A existncia do direito poltico signifca que a poltica
no se reduz a simples relaes de fora e que potn-
cia no poder. A potncia apenas um dado fac-
tual que se expressa de maneira emprica e contingen-
te. O Poder poltico Potestas e no potentia uma
construo jurdica, tanto que seu exerccio obedece
a princpios e a regras que lhe impem restries e limi-
64
tes. Se a potncia fora e, s vezes, violncia, o Poder
poltico implica a ordem de direito erigida por um con-
junto de vnculos institucionais. O direito poltico
precisamente constitudo pelas normas que regem a or-
ganizao institucional da poltica e seu funcionamento
no mbito por ela determinado e delimitado.
Como dito em nossa introduo, preferimos a designa-
o direito poltico a direito pblico. Aquela mais
especfca que esta. No que o Direito Poltico seja es-
pcie do gnero Direito Pblico, pois, de fato, podem
at se confundir em suas matrias. A diferena, em
nosso entender, est na maneira de olhar, na acepo
que se toma o fenmeno jurdico como relevante ao
estudo. Sem embargo, podemos investigar o pblico
pelo ponto de vista do funcionamento administrativo
do Estado, da forma como este exerce sua prestao ju-
risdicional, do tratamento dado ao direito de punir etc.
Porm, o que aqui nos interessa descobri-lo em sua
dinmica relativa ao poder. O poder, aqui, eixo em
torno do qual gravitam as possveis interpretaes do
fenmeno jurdico.
A partir das palavras de Goyard-Fabre, tendo em vis-
ta o escopo do presente trabalho, optamos por defnir o
Direito Poltico como o conjunto de normas que regem
a organizao e o funcionamento do poder poltico, to-
mando como tal uma construo jurdica destinada a
transformar os embates de fora fsica em embates de
ideias, a partir da institucionalizao do poder e das for-
mas pelas quais este exercido.
Por meio do Direito Poltico que devem, em um
Estado moderno, ocorrer os embates necessrios ao
65
exerccio do poder estatal. E o Direito Eleitoral, foco de
nossa pesquisa, cerne desta dinmica entre os agentes
polticos, proporcionando um sistema tal que regula-
mente talvez o mais importante papel do Direito Poltico
em uma democracia representativa: o processo eleitoral.
Determinados os conceitos, podemos especifcar, en-
to, o objetivo do presente tpico, qual seja, analisar al-
gumas caractersticas do paradigma moderno relevantes
estruturao de seu respectivo Direito Poltico e, ao f-
nal, apontar caractersticas relevantes deste que venham
a condicionar o surgimento do Estado Moderno.
Paradigma moderno
A fm de melhor compreendermos as caractersticas aqui
buscadas do paradigma moderno, faremos uma breve
contextualizao histrica do momento precedente ao
seu nascimento
44
. Visualizando as mudanas ocorridas
neste perodo de transio, ser mais fcil a percepo e
o entendimento de tais caractersticas, at pelo contraste
destas com as do paradigma anterior.
Contexto histrico
Chama-se de Era Medieval o perodo anterior Era
Moderna. Tal tempo histrico se caracterizou, princi-
palmente, pelo regime feudal e pelo domnio da Igreja
Catlica.
44. A respeito de todo o contexto histrico que ser apresentado, ver a obra
de Sevcenko (1994).
66
Politicamente, a Era Medieval se caracterizava pelo
regime feudal, com o poder descentralizado, diludo em
relaes de suserania e vassalagem em razo do feudo,
que era a terra nobre, de propriedade do suserano, con-
cedida pelo senhor a um vassalo com a obrigao de f,
de homenagem, de prestao de certos servios e paga-
mento de tributo. Nesse sistema, o poder se disseminava
em uma complexa teia de inter-relaes.
Economicamente, vivia-se em um regime de produo
de subsistncia, no existindo excedentes e, consequente-
mente, quase no existindo comrcio. A descentralizao
do poder o desestimulava, haja vista a falta de homoge-
neidade na moeda, nos pesos e medidas; a falta de se-
gurana nas estradas; a falta de uma legislao comum
e ainda outros problemas de mesma natureza. A cultura
de produo de subsistncia desestimulava o avano das
tcnicas de produo e o acmulo de riquezas.
Filosofcamente, o perodo foi determinado por duas
fases: a Patrstica e a Escolstica. A primeira foi marcada
pela flosofa dos padres do incio da Idade Mdia e preo-
cupou-se, sobretudo, em justifcar a f contra o pensamen-
to pago. A segunda preocupou-se principalmente com a
conciliao entre f e razo. Seus principais expoentes fo-
ram Santo Agostinho, de inspirao neo-platnica, e So
Toms de Aquino, de infuncia aristotlica. O primeiro
dava primazia f em detrimento da razo, que deveria
quela se subordinar. O segundo adotava uma postura
mais conciliadora, defendendo a autonomia da razo para
a obteno de respostas a certo tipo de questes.
A manuteno do feudalismo e a hegemonia da Igreja
Catlica perduraram at o perodo entre os sculos XI
e XIV, conhecido como Baixa Idade Mdia, quando a
67
Europa ocidental vivenciou o incio de uma verdadeira
revoluo em sua estrutura, que teria repercusso para
mudanas radicais na sociedade ocidental.
Dentre os fatores que geraram tal revoluo, so espe-
cialmente relevantes o aumento do contato com o orien-
te (surgido em decorrncia das cruzadas, que acabaram
por criar uma ponte entre Ocidente e Oriente que favore-
ceu o desenvolvimento do comrcio) e o alto crescimen-
to demogrfco experimentado no perodo. Tais fatores
levaram a certo desenvolvimento das tcnicas agrcolas e
a um consequente aumento da produo. A partir deles
se percebe o desenrolar de uma mudana de valores que
viria, posteriormente, a pr fm ao feudalismo.
A economia, que era basicamente de subsistncia e
de trocas, foi se transformando gradativamente em eco-
nomia monetria, propiciando o acmulo de riquezas.
Surgiram os burgos, centros de comrcio e de produo
artesanal, e com eles uma nova classe social, os burgue-
ses. Os burgos passaram a prevalecer sobre os campos, e
j era possvel vislumbrar o destino de uma classe social
que controlava a produo e o comrcio em uma inci-
piente sociedade baseada na desvalorizao da terra e na
valorizao do acmulo de riquezas. A burguesia come-
ou ento a aspirar ao poder poltico e ao prestgio social
condizentes com sua condio material.
Por volta do sculo XIV, a Europa entrou em colap-
so. Os fatores apontados pelos historiadores, para tanto,
seriam a peste negra, a Guerra dos Cem Anos, entre a
Frana e a Inglaterra, e as constantes revoltas populares.
De fato, pelo que se sabe, as condies de vida da po-
pulao eram cada vez piores. O acmulo de multides
aglomeradas nos burgos, que no tinham infraestrutura
68
para tanto, acabou transformando-os em focos epidmi-
cos de doenas. O contgio, muito em virtude da igno-
rncia da populao e das precrias condies de higie-
ne, alastrou-se rapidamente, dizimando quase um tero
da populao europeia. E mais: a disputa entre os sobera-
nos da Frana e da Inglaterra, durante a Guerra dos Cem
Anos, ampliou tal estatstica. A mortalidade causada por
esses dois eventos levou a uma completa desestruturao
da produo e consequente escassez de alimentos. Os
senhores feudais ento passaram a aumentar a carga de
trabalho dos camponeses, bem como sua carga tribut-
ria, a fm de preservar seus rendimentos. Tudo isso levou
exploso de inmeras revoltas populares, que, como
visto, colaboraram para o declnio da fase de expanso
comercial europeia do perodo.
Tais problemas, por outro lado, propiciaram a melho-
ria das tcnicas de produo, o predomnio das atividades
agrocomerciais e a mudana dos critrios de propriedade
da terra, pois os produtores passaram a exigir proprieda-
de exclusiva da terra em que investiam suas riquezas. E
tudo isso contribuiu para o fm do regime feudal.
Concomitantemente, a nobreza enfrentava problemas
fnanceiros em decorrncia das guerras e da escassez de
mo de obra, o que a levou a um progressivo endivida-
mento com os burgueses.
Disso tudo, acabaram saindo fortalecidos do sculo
XIV a burguesia, o comrcio, a atividade manufatureira
e os progressos tcnicos, que proporcionaram o aprimo-
ramento da produo, principalmente da blica, da de
roupas e tecidos e da construo naval (esta ltima viria
a propiciar as grandes navegaes, impulsoras do mer-
cantilismo e da modernidade).
69
Outro ente que saiu favorecido do sculo XIV foi a
monarquia. O enfraquecimento da nobreza feudal levou
expanso das atribuies, poderes e infuncias dos
monarcas, que tiveram papel decisivo na conduo da
guerra e pacifcao das revoltas populares.
Alm disso, os burgueses viram nos monarcas um
recurso legtimo contra as arbitrariedades da nobreza e
um conveniente defensor de seus mercados. A incipiente
unifcao poltica era importantssima para o progresso
do comrcio, haja vista que dela provinham a unifcao
de moedas, de pesos, de medidas, de impostos e de leis,
bem como o aumento da segurana das rotas comerciais.
Desse ambiente nasceu, aos poucos, a Era Moderna,
impondo-se a partir do chamado Renascimento
45
, que foi
tomando corpo na sociedade medieval, muito em decor-
rncia do surgimento do pensamento humanista.
O humanismo, embora tenha alcanado notoriedade
no sculo XV, iniciou-se no sculo anterior, a partir de
um conjunto de indivduos que concentravam seus es-
foros na tentativa de modifcar e renovar o padro de
estudo tradicional das universidades medievais, domina-
das pela cultura da Igreja.
Baseados no programa dos studia humanitatis (estu-
dos humanos), que incluam a flosofa, a poesia, a his-
tria, a matemtica e a eloquncia (mistura de flosofa
com retrica), os humanistas acabaram por reforar toda
uma nova viso de mundo, caracterizada, a princpio,
pela reforma do predomnio cultural inquestionvel da
45. Consubstanciado na busca pelo retorno ao mundo antigo, na valorizao
das artes, da filosofia clssica, das cincias e de toda uma forma de ver o mundo
baseada na beleza e razo apolneas dos gregos antigos.
70
Igreja. Consideravam a cultura grega antiga a mais per-
feita e expressiva j desenvolvida e, em busca desta, criti-
cavam a cultura tradicional medieval.
Deste coquetel de mudanas polticas, econmicas,
culturais e flosfcas que emerge a Era Moderna e o
que aqui chamamos de paradigma moderno.
Caractersticas do paradigma moderno
O paradigma moderno, como dito, constitui-se de certas
caractersticas que o defnem. Tais caractersticas so con-
dicionantes do pensamento moderno, pois pressupostos
a todo o processo cognitivo ou criativo do perodo.
Pode-se observar tais caractersticas j durante a
Era Medieval, na forma de sementes em germinao.
Percebe-se que, aos poucos, o pensamento medieval
foi se aproximando da razo e se afastando, cada vez
mais, da f.
O uso da flosofa como instrumento teolgico contri-
buiu para o nascimento de conscincias crticas e para o
despertar de ideias. Aos poucos a razo foi se libertando
da f, at chegar o momento quando aquela no podia
mais ser contida.
claro que o momento de mudanas poltico-eco-
nmicas foi importante para a emergncia desse novo
modelo de pensar o mundo, completamente conve-
niente aos anseios de uma classe que necessitava rede-
fnir critrios e valores a fm de reestruturar a pirmi-
de social e alcanar seus anseios de poder. Entretanto,
parece-nos irresistvel a ideia de liberdade a que a ra-
zo d causa. Isso tanto de um lado, proporcionando
possibilidades ilimitadas criao, quanto de outro,
71
limitando o poder dos monarcas, da Igreja, da nobre-
za e de quem mais representasse bice s liberdades
individuais.
A Era Moderna, como dito, pode ser delineada a par-
tir de diversas caractersticas. Mesmo dentre as flos-
fcas so perceptveis nuances que, tendo em vista sua
complexidade, podem ser identifcadas por inmeras
formas distintas.
notria a afrmao de que a Era Moderna foi fun-
dada pelo pensamento de Ren Descartes, que, a partir
de um chamado ceticismo metodolgico, passando
pelo seu famoso cogito, sistematizou o saber e o co-
nhecimento humano por meio da razo. Em sua flosofa
percebemos ao menos trs caractersticas que moldam a
Era Moderna, sob o ponto de vista do pensar: o raciona-
lismo, o mecanicismo e o mtodo.
O racionalismo se traduz na primazia da razo em de-
trimento do sensvel. O mecanicismo se relaciona com
uma viso sistmica da realidade, identifcando-a como
um mecanismo no qual suas partes so peas precisas
que se encaixam e funcionam em sincronia absoluta,
como um grande relgio perfeito. O mtodo, por sua vez,
nos conduz necessidade de percorrer um processo cr-
tico, defnvel em suas etapas, que se constitui em meio
apto a se alcanar o conhecimento.
No obstante tais caractersticas cartesianas, neces-
srias compreenso do pensamento moderno, pode-
mos observar, muito antes de Descartes, o surgimento
de outras que, alm de se constiturem em fundamen-
tos sem os quais aquelas possivelmente no chegariam a
existir, so, em nosso entender, absolutamente impres-
cindveis formao do pensamento poltico e jurdico
72
moderno. Trata-se do antropocentrismo e do impera-
tivo da razo.
Em que pese o fato de o Direito Poltico moderno se
formar e evoluir a partir de todo o emaranhado de ca-
ractersticas da Era Moderna, estas duas especialmente se
destacam por sua relao direta com a criao do poder
poltico moderno, passando a restar intrinsecamente as-
sociadas a este, impregnando todo o seu transformar-se.
Tendo isso em mente, cabe analis-las no que tange ao
aqui afrmado.
O antropocentrismo
Vejamos o seguinte depoimento de Renaut (1999, p. 7):
Hegel j observava que, se os Antigos se sabiam livres
como cidados, nem Plato nem Aristteles souberam
que o homem como tal livre: A infnita exigncia
da subjetividade, da autonomia do esprito em si, era
desconhecida dos Atenienses (Lies sobre a Histria
da Filosofa, Introduo, I). O prprio Heidegger, ape-
sar de tudo o que opunha a Hegel, vai reassumir esta
tese, evocando a liberdade moderna como uma nova
liberdade e descrevendo-a, ele tambm, em relao
ao desenvolvimento da ideia de subjetividade, assim
como ideia de uma legislao autnoma da huma-
nidade: Na nova liberdade, escreveu Heidegger, a
humanidade quer-se assegurada do desenvolvimento
autnomo de todas as suas faculdades para exercer o
seu domnio sobre toda a Terra(Nietzsche, tomo II,
VIII). Em suma: com a modernidade ter-se-ia imposto
uma representao indita da liberdade humana, com-
73
preendida pela primeira vez em termos de autonomia.
[grifos nossos]
H de chamar a ateno para o fato de que as ideias de
liberdade do mundo antigo e do mundo moderno so
distintas.
O pensamento antigo ateniense via a liberdade como
a condio de fazer parte da polis, de ser grego e, como
tal, participar da vida pblica. Essa noo de liberdade
estaria ligada justamente a uma noo de ser coletivo,
onde o homem, para ser homem, deveria fazer parte da
sociedade. Como defniu Aristteles, o homem seria um
animal poltico.
J na modernidade, a liberdade se caracteriza pela au-
tonomia do esprito em si, pela subjetividade, pela au-
tonomia da vontade e do desenvolvimento de seu ser.
Trata-se de uma concepo individualista, ao contrrio
da antiga, de carter coletivo.
Podemos dizer que, na liberdade moderna, o homem
livre como tal, ou seja, pela sua simples condio de ser
homem. Ao contrrio, na antiga, o homem livre apenas
como ser poltico (pertencente polis), ou seja, para ser
livre, ele necessariamente precisa fazer parte da comuni-
dade. A concepo antiga de liberdade coloca a sociedade
em primazia com relao ao indivduo. A concepo mo-
derna d destaque ao indivduo, sendo diametralmente
oposta antiga, no sentido de tal relao.
Ainda no sculo XIV, j apareciam as primeiras
ideias no sentido da nova acepo de liberdade, mes-
mo que representando apenas embries que viriam a se
desenvolver aos poucos, culminando em seu nascimen-
to ofcial muito depois, na Era Moderna. Um exemplo
74
notrio o pensamento desenvolvido pelo italiano
Giovani Pico della Mirandola, em seu Discurso sobre
a dignidade do homem. Detenhamo-nos um pouco na
anlise de seus argumentos.
O argumento inicial de Pico (1998, p. 51) que Deus,
consumada a criao do mundo, desejava que houvesse
algum capaz de compreender a razo de uma obra to
grande, que amasse a beleza e admirasse a sua grandeza.
Porm, todos os arqutipos existentes j haviam sido uti-
lizados e no restava mais nenhum sobre o qual modelar
a nova criatura:
[...] tudo j estava ocupado, tudo tinha sido distri-
budo nos sumos, nos mdios e nos nfmos graus...
Estabeleceu, portanto, o ptimo artfce que, quele a
quem nada de especifcamente prprio podia conce-
der, fosse comum tudo o que tinha sido dado parce-
larmente aos outros. Assim, tomou o homem como
obra de natureza indefnida e, colocando-o no meio
do mundo, falou-lhe deste modo: Ado, no te de-
mos nem um lugar determinado, nem um aspecto que
te seja prprio, nem tarefa alguma especfca, a fm de
que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto,
aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo se-
gundo o teu parecer e a tua deciso. A natureza bem
defnida dos outros seres refreada por leis por ns
prescritas. Tu, pelo contrrio, no constrangido por
nenhuma limitao, determin-la-s para ti, segundo
o teu arbtrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te
no meio do mundo para que da possas olhar melhor
tudo o que h no mundo. No te fzemos celeste nem
terreno, nem mortal nem imortal, a fm de que tu, r-
75
bitro e soberano artfce de ti mesmo, te plasmasses
e te informasses, na forma que tivesses seguramente
escolhido. Poders degenerar at aos seres que so as
bestas, poders regenerar-te at s realidades superio-
res que so divinas, por deciso do teu nimo .
Observa-se nesse trecho uma justifcao para o livre-ar-
btrio do homem, com base na descrio de suas quali-
dades, que seriam caracterizadas pela falta de imposio
limitadora e pela autonomia da vontade.
Porm, em seu entender, no obstante a autonomia
de vontade e a falta de limites sua existncia, existe um
sentido nesta condio humana, voltado para a evoluo,
para o crescimento espiritual:
Mas com que objetivo recordar tudo isso? Para que
compreendamos, a partir do momento em que nas-
cemos na condio de sermos o que quisermos, que o
nosso dever preocuparmo-nos sobretudo com isso:
que no se diga de ns que estando em tal honra no
nos demos conta de nos termos tornado semelhantes
s bestas e aos estpidos jumentos de carga. Acerca
de ns repita-se, antes, o dito do profeta Asaph: Sois
deuses e todos flhos do Altssimo De tal modo que,
abusando da indulgentssima liberalidade do Pai, no
tornemos nociva, em vez de salutar, a livre escolha que
ele nos concedeu. Que a nossa alma seja invadida por
uma sagrada ambio de no nos contentarmos com
as coisas medocres, mas de anelarmos s mais altas,
de nos esforarmos por atingi-las, com todas as nossas
energias, desde o momento em que, querendo-o, isso
possvel. (PICO, 1998, p. 55.)
76
Percebe-se que, no pensamento de Pico, a condio
humana determinada pela autonomia de vontade.
Porm, tal autonomia no desprovida de sentido ou
vazia de contedo. Inerente autonomia de vontade do
homem o motivo pela qual ela existe, que a necessida-
de de prover o homem com qualidades tais que lhe per-
mitam alcanar a condio divina, sem a qual no pode-
ria apreciar a criao de Deus. Junto ao bnus, vem um
nus: a responsabilidade pelo autocrescimento . Nesse
sentido, o testemunho de Ganho sobre o pensamento de
Pico (1998, p. 28):
Mas esta questo da dignidade do homem tem tam-
bm um alcance ontolgico. O facto de o homem se
constituir como um ser de natureza indefnida no
aponta para uma pobreza ontolgica, mas para uma
riqueza... O homem possui, ento, o poder de se auto-
determinar e deste modo coloca-se acima do mundo
fsico-biolgico. Inscreve-se aqui o problema da res-
ponsabilidade moral [...] Acentua-se assim o predo-
mnio da vontade sobre o saber abstracto, sugesto
certamente colhida nas suas leituras de autores me-
dievais de raiz augustiniana. Tal facto, determina, sem
dvida, que o nosso autor considere que esta vontade,
que livre, e que como tal postula a escolha livre, se se
quiser realizar numa dimenso de facto humana, tem
de estar orientada para o bem.
latente a infuncia do neoplatonismo de Santo
Agostinho no que diz respeito dimenso moral da
condio humana. Tal infuncia tambm se faz mani-
festa na descrio do mtodo pelo qual o homem al-
77
cana sua verdadeira condio, refreando as paixes
e aprimorando a razo por meio da cincia moral, da
dialtica, da flosofa:
Tambm ns, portanto, emulando na terra a vida que-
rubnica, refreando o mpeto das paixes com a cincia
moral, dissipando a treva da razo com a dialtica, pu-
rifquemos a alma limpando-a das sujidades da igno-
rncia e do vcio para que os afectos no se desencade-
em cegamente nem a razo imprudente alguma vezes
delire. Na alma, portanto, assim recomposta e purifca-
da, difundamos a luz da flosofa natural, levando-se em
seguida perfeio fnal mediante o conhecimento das
coisas divinas. (PICO, 1998, p. 59.)
A partir da anlise da argumentao de Pico, constata-
mos, ainda na Idade Mdia, a existncia de um pensa-
mento j voltado para a nova acepo de liberdade da
Era moderna, que acaba, inclusive, gerando uma nova
acepo de homem, um homem que se integra no mais
em funo da sociedade, mas em funo da autodetermi-
nao de sua vontade e de seu destino. Tal pensamento
coloca o homem em posio de destaque no universo.
Por meio do processo de conhecimento de si mesmo,
bem como da busca espiritual, que podemos alcanar
o patamar necessrio para contemplar e compreender o
mundo. Essa forma de ver o mundo constitui-se tambm
em elemento do que se viria a chamar posteriormente de
antropocentrismo
46
.
46. No entender de Ganho (PICO, 1998, p. 26), O problema da dignidade
do homem perspectivado em funo do lugar central que este ocupa no
78
Uma ltima observao que se faz aqui, sobre o discur-
so de Pico, a de que se percebe em sua tese o incio de
uma emancipao do homem em relao a Deus. Os fun-
damentos de seu discurso ainda so teolgicos, colocando
Deus como causa do homem (em sua condio humana)
e de sua razo. Porm, o uso da razo avalizado por Deus
e , inclusive, atributo da natureza humana oriundo de
inspirao divina necessrio como meio a se alcanar
a evoluo espiritual e completar o seu destino. O seu
discurso impregnado de recursos a autoridade como
era necessrio poca , consubstanciando uma defesa
de ideias alicerada em todo um aparato crtico e erudito
consolidado pelos flsofos antigos. No obstante a apa-
rncia sofsmtica do uso do apelo autoridade em seu
discurso, sua proposta ia alm, utilizando tal recurso ape-
nas de pretexto para a possibilidade de uma outra viso de
mundo, amparada em uma concepo flosfca de atitude
crtica, que se propunha a superar o saber apenas refexo
de livros (PICO, 1998, p. 25). Aqui se observa a semente
de outra importante caracterstica do pensamento moder-
no, que estudaremos mais adiante: o imperativo da razo.
Da leitura dos trechos do discurso sobre a dignidade
humana de Pico, percebemos que determinadas caracte-
rsticas do pensamento moderno j aforavam na Baixa
Idade Mdia. No decorrer de seu desenvolvimento at a
Idade Moderna, a ideia de liberdade individual e a valo-
rizao da humanidade como capacidade de autonomia
ser constitutiva do humanismo moderno e conduzir
afrmao do indivduo como princpio.
universo, ponto de referncia de toda a realidade. Da podermos falar em
antropocentrismo.
79
Como atesta o professor Renaut (1999, p. 9):
O que, deste ponto de vista, defne intrinsecamente a
modernidade (e vai ligar o seu destino com o ideal de-
mocrtico) sem dvida a forma como o ser humano se
concebeu e afrmou como a fonte das suas representa-
es e dos seus actos, como o seu fundamento (subjec-
tum, sujeito) ou ainda como o seu autor: o homem do
humanismo moderno aquele que j no aceita receber
as suas normas e leis nem da natureza nem das coisas,
nem de Deus, mas que pretende escolh-las e funda-
ment-las ele prprio a partir da sua razo e da sua
vontade. por isso que o direito natural moderno ser
um direito subjetivo, colocado e defnido pela razo hu-
mana (racionalismo jurdico) ou pela vontade humana
(voluntarismo jurdico), e j no um direito objectivo,
inscrito numa qualquer ordem imanente ou transcen-
dente do mundo. [grifos nossos]
O antropocentrismo elemento fundamental de todo o
ideal poltico-jurdico moderno. Sem a concepo do ho-
mem como centro e origem de toda a construo social,
no se pode falar em teorias contratualistas, nas quais o
prprio Estado civil provm, no s do indivduo, mas,
principalmente, de sua vontade. Do acordo de vontades
individuais nasce o Estado moderno. Do poder indivi-
dual da liberdade e autonomia do indivduo que
partem todas as concepes poltico-jurdicas modernas.
A prpria democracia representativa moderna se baseia
neste ideal, sem o qual no teria razo de existir.
Assim, podemos afrmar que muitos dos institutos
polticos modernos o Estado moderno, o contratua-
80
lismo, a democracia representativa, o Estado de direito, a
soberania popular, o sufrgio universal etc. no fariam
sentido sem sua necessria fundamentao na dignidade
humana, fruto da viso moderna antropocentrista.
A viso antropocntrica permeia toda a modernida-
de e caracteriza o chamado humanismo jurdico, cerne
das atuais concepes de Estado, que assumidamente se
desvincularam de sua condio natural (Estado de natu-
reza) para abraar uma condio artifcial criada pelos
homens (Estado civil). Neste sentido:
Maquiavel, a quem sempre preciso retornar para en-
contrar as plagas da Modernidade, cinzelou um mode-
lo da condio humana sobre cujos eixos pde elevar-
se o edifcio do direito poltico. A imagem do homem,
separada do mbito cosmolgico em que at ento
estava inserida, depois liberta dos vnculos teolgicos
que a mantinham em subordinao, explica por si s
a indispensvel organizao das Cidades. O alcance de
tal postulao, que pe em evidncia a autarquia do ho-
mem, extravasa amplamente a obra de Maquiavel: de
Hobbes a Kant ou a Hegel, e at de Husserl a R. Aron ou
a R. Nozik, ela abre a via do humanismo jurdico que
denominador comum de todas as modernas doutrinas
do direito. Signifca que a ordem poltica dos Estados
modernos, principados ou repblicas, no poderia ser
imagem da ordem natural e que, mesmo que a vonta-
de onipotente de Deus regesse o grande todo csmico,
no no horizonte teolgico que se deve escrever do-
ravante o direito poltico. Sendo toda transcendncia
da Natureza ou de Deus assim reputada intil para a
ordem jurdica das Cidades, esta s extrair seu prin-
81
cpio ativo da prpria condio dos homens. Portanto,
a antropologia a base sobre a qual apesar das hesi-
taes que ainda manifesta o pensamento de transio
de Jean Bodin se edifca e funciona o dispositivo mo-
derno do direito poltico. (GOYARD-FABRE, 2002, p.
494) [ grifos nossos].
Temos, ento, como superada qualquer dvida sobre a
eminncia do antropocentrismo na construo e desen-
volvimento do Direito Poltico moderno. Passemos ago-
ra a examinar a outra caracterstica deste, por ns consi-
derada imprescindvel: o imperativo da razo.
O imperativo da razo
Voltemos s palavras de Goyard-Fabre (2002, p. 494):
O pensamento sutil de Maquiavel indica um outro ve-
tor que orientar a gnese do direito poltico moder-
no e deixar despontar seu esprito: como o homem
mau ou, pelo menos, preciso consider-lo tal em
sua complexidade psicolgica , ele tem, como dir
Kant, necessidade de um senhor. A necessidade de
uma ordem pblica coercitiva , portanto, uma das
primeiras exigncias que se impem ao direito polti-
co: sua funo primordial barrar o caminho, com a
fora normativa de seus mandamentos, licena e
corrupo, hybris belicosa e, igualmente, a indiferen-
a e ao descaso que so os caminhos das agitaes e
anarquia. Sobre esse fundo antropolgico, a prevalncia
das potncias da razo no tardou a se afrmar. A regu-
lao do mundo poltico s podia se efetuar segundo um
82
modelo de comedimento e de equilbrio elaborado sob o
signo da dominao racional. Glorifcar a ordem e lou-
var os mritos da racionalidade que no demoraram
em mostrar-se os maiores valores dos dois grandes
sculos da modernidade ocidental foi a preocupao
dominante do direito poltico at a poca da Revoluo
Francesa. [grifos nossos]
Como visto, o homem passa a ser o ncleo a partir do
qual gravita a construo poltico-jurdica. Mediante
um estudo antropolgico que se pode determinar suas
qualidades e seus vcios. De suas caractersticas que
construmos um Estado no qual todos os homens pos-
sam coexistir.
Vimos que a modernidade entende que o nico
Estado possvel o construdo pelo homem, que no
necessariamente refete a natureza. Tal entendimento
corroborado at mesmo pelo estudo do homem em suas
caractersticas no fossem inerentes ao homem de-
terminados problemas
47
no seria necessrio tir-lo do
Estado de natureza (onde inicialmente se encontrava) e
submet-lo a um Estado civil.
Assim como o homem tem liberdade e capacidade su-
fcientes para realizar a autonomia de sua vontade no sen-
tido do bem, tambm os tem para empreg-los no sentido
do mal. Em decorrncia dessa constatao, de suma im-
portncia a criao de mecanismos de limitao da ao
humana, que estejam disponveis ao uso quando necess-
47. Problemas que, nas teorias contratualistas, variam em sua natureza, de
acordo com o autor. Por exemplo, para Hobbes, o problema do homem se-
ria sua natureza belicosa; j para Locke seria a paixo que por vezes poderia
obscurecer a razo.
83
rio. Como bem salientado por Goyard-Fabre, uma das pri-
meiras exigncias para a consolidao do Direito Poltico
moderno a criao de uma ordem pblica coercitiva,
capaz de impor aos homens limitaes a seus possveis v-
cios. Trata-se da institucionalizao do poder coercitivo,
em ltima anlise respaldada pelas teorias contratualistas
modernas, pois tem-se, como elemento inerente a estas,
a concesso de poder do indivduo ao Estado de forma a
que este tutele o bem jurdico desejado.
A partir do paradigma moderno marcado pelo ra-
cionalismo, pelo mecanicismo e pelo mtodo , a cons-
truo e regulao desse sistema coercitivo no poderia
se dar de outra forma, seno segundo um modelo de
comedimento e de equilbrio elaborado sob o signo da
dominao racional. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 494.)
O homem, centro e origem da sociedade, no abriria
mo de sua autonomia (ou de parte dela) se no dispu-
sesse de mecanismos objetivos, claros e seguros de con-
trole e limitao do poder do Estado, a fm de proteger a
sua dignidade.
De acordo com a clebre afrmao de Descartes, a
razo a coisa que est melhor distribuda no mundo,
sendo naturalmente igual em todos os homens
48
. Desse
48. O bom senso a coisa que, no mundo, est mais bem distribuda: de
facto, cada um pensa estar to bem provido dele, que at mesmo aqueles que
so os mais difceis de contentar em todas as outras coisas no tm de forma
nenhuma o costume de desejarem [ter] mais do que o que tm. E nisto, no
verossmil que todos se enganem; mas antes, isso testemunha que o poder de
bem julgar, e de distinguir o verdadeiro do falso que aquilo a que se chama
o bom senso ou a razo, naturalmente igual em todos os homens; da mesma
forma que a diversidade das nossas opinies no provm do facto de uns serem
mais razoveis do que outros, mas unicamente do facto de ns conduzirmos
os nossos pensamentos por vias diversas, e de no considerarmos as mesmas
coisas. (DESCARTES, 1997, p. 11.)
84
modo, forosamente tem-se na razo o nico meio co-
mum a todos e, portanto, de carter objetivo pelo qual
se possa alcanar mecanismos com as qualidades acima
mencionadas, necessrias criao segura de critrios
reguladores do poder poltico. Tais critrios devem ser
claros, ntidos, razoveis e explcitos a fm de proporcio-
nar a necessria transparncia ao funcionamento do po-
der poltico, garantindo, assim, o seu controle.
Por meio da razo possvel encadear argumentos de
forma vlida, propiciando a positivao dos valores so-
ciais e a construo jurdica em torno destes. Por meio da
razo possvel inferir, validamente, a partir das premis-
sas anteriores (o ordenamento jurdico e os seus funda-
mentos flosfcos, acatados pela comunidade), a correta
aplicao do direito.
A validade racional de todo o processo jurdico-pol-
tico condiciona e determina a sua legitimao, que de-
corrente dos laos de validade que o ligam ao momento
inicial do processo poltico moderno, quando, em meio
discusso argumentativa, so eleitos (e consequentemen-
te legitimados) os fundamentos que aliceraro o orde-
namento jurdico e todas as suas consequncias.
Em outras palavras, o incio do sistema poltico-jur-
dico moderno se d com a legitimao dos fundamentos
do ordenamento jurdico de dada comunidade. Essa legi-
timao decorre da aceitao de determinados argumen-
tos flosfcos valorativos que so escolhidos a partir do
embate de ideias e discursos
49
. A partir dos fundamentos
49. O processo de legitimao melhor analisado em nossa obra Uma breve
genealogia do Conhecimento O nascimento da democracia grega e a inveno
do discurso filosfico como legitimao do poder, de onde transcrevemos o se-
guinte trecho: A partir de nossa leitura, podemos constatar que legitimidade
85
acolhidos e legitimados, ser tramado o ordenamento ju-
rdico. Este necessariamente dever estar racionalmente
coerente com os fundamentos que lhe deram origem,
sob pena de sua invalidao e consequente perda de le-
gitimidade. Caso o ordenamento jurdico tenha vnculos
de validade com os fundamentos que o geraram (ou seja,
caso deles proceda racionalmente), tais vnculos o liga-
ro legitimao inicial, e por conseguinte o tornaro le-
gtimo. O mesmo se d em relao posterior aplicao
do direito. Para ser legtima, deve necessariamente ter
vnculos de validade com o ordenamento jurdico, tendo
este, tambm, vnculos de validade com os fundamentos
um termo que, na linguagem poltica, recebe um significado especfico: o de
um atributo do Estado, que consiste na presena, em uma parcela significativa
da populao, de um grau de consenso capaz de assegurar a obedincia sem
a necessidade de se recorrer ao uso da fora, a no ser em casos espordicos.
Ou seja, o termo legitimidade decorre de um acordo de vontades. Tal acordo
de vontade, no caso, refere-se ao processo poltico. Existe um consenso, uma
anuncia, que legitima um Estado. Legitima um determinado regime,
uma determinada forma de acontecer poltica. [...] Percebemos um deta-
lhe importante acerca do processo de legitimao de um Estado: no so os
governantes que so aceitos, ou legitimados. So os aspectos fundamentais
daquele regime. A legitimao abstrai-se das pessoas e das decises polticas
especficas. Ela no relativa a aes, a fatos, ou a pessoas. Ela relativa a
fundamentos. Fundamentos pelos quais se guiar aquele determinado re-
gime. Fundamentos que se constituiro em base para a construo de um
sistema. Todo o sistema ser aceito a partir da coerncia com os fundamentos
que o geraram. Todas as aes sero aceitas a partir da coerncia com tais
fundamentos, e todas as pessoas sero aceitas como detentoras de poder na
medida em que sua investidura nesse poder se deu em conformidade com o
decorrente de tais fundamentos. Na realidade, tais aes e pessoas sero legi-
timadas por tabela. O consenso no se dar a cada deciso tomada, a cada
ao empreendida. O consenso s se d no momento da fundamentao do
sistema como um todo. A partir da, tudo o que do sistema decorrer estar
automaticamente legitimado, desde que em conformidade com a anterior
fundamentao. Resumindo, a legitimao aparece como um consenso em
torno de um fundamento. (VIDIGAL, 2011, p. 92.)
86
que lhe deram origem. Percebe-se um encadeamento ne-
cessrio, forjado pelo uso da razo, que estrutura e con-
fere vida ao Direito moderno.
Assim, pelo que foi exposto, no presente contexto e
para os fns que aqui se buscam, podemos defnir o impe-
rativo da razo como a obrigatoriedade do uso da razo
na fundamentao, regulamentao e exerccio do poder
poltico moderno, de forma a valid-lo e legitim-lo.
Identifcadas as duas caractersticas que considera-
mos como principais e determinantes do Direito Poltico
moderno, passemos agora anlise deste.
Direito poltico moderno
Como dito anteriormente, entendemos o Direito Poltico
como o conjunto de normas que regem a organizao e o
funcionamento do poder poltico.
Ento, cabe aqui primeiramente salientar determina-
dos pontos sobre este.
Antes de mais nada, deve-se entender que o poder po-
ltico no algo natural. Trata-se de uma construo ju-
rdica e, como tal, criao humana, sujeita, claro, a seus
defeitos. A criao do poder poltico surge da necessida-
de de se institucionalizar o poder, retirando-o da esfera
pessoal individual. Este surge da necessidade de limita-
o do poder pessoal, pois, como visto, o homem, por
suas imperfeies
50
, pode levar dano a outros homens, ou
50. Ou perfeies, caso se tome o argumento de Pico, que afirma ter sido pre-
sente de Deus a caracterstica do homem ter a possibilidade de ser ou fazer
o que desejar.
87
mesmo a ele prprio. Assim, percebe-se a impessoalida-
de como caracterstica inerente ao poder poltico.
O objetivo de sua criao transformar os embates
de fora fsica em debates de ideias, assim preservando a
dignidade do homem e possibilitando o desenvolvimen-
to social em prol de um objetivo comum.
Como devia mostrar Rousseau, a fora sozinha, que
nada tem de legtimo, no pode produzir direito algum.
um princpio flosfco eminente do direito poltico
moderno pr em evidncia a fraqueza da fora, pois o
mais forte nunca bastante forte para ser sempre o se-
nhor se no transformar sua fora em direito e a obedi-
ncia em dever. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 495.)
O pensamento de Rousseau nos desvela o fato de que,
ainda, o poder poltico se presta a garantir a estabilida-
de, haja vista que nenhuma fora fsica sufciente para
manter determinado poder por muito tempo. Assim se
cria um poder institucional, formado pela fora de to-
dos os indivduos a fm de garantir estabilidade e hege-
monia social.
Assegurado um poder forte e razoavelmente estvel,
resta ainda afanar a aceitao deste. Da a necessidade
de se criarem normas que regrem o seu exerccio a fm de
que, angariando a concordncia dos indivduos em torno
de seus termos, seja garantida a sua legitimao.
Ocorre que o exerccio do poder pblico necessita de
agentes (indivduos) que o possam pr em prtica, e dis-
so resulta novamente a perigosa juno poder-indivduo,
justamente aquela que se teve por bem tentar eliminar,
ou limitar, por meio da institucionalizao do poder po-
88
ltico. Assim, importante a criao de mecanismos que
regulem o acesso e os limites que tais agentes devero ter
em relao a este poder. Tais mecanismos devem impedir
que o poder poltico acabe por restar novamente escravo
da esfera pessoal individual. H que se garantir a impar-
cialidade e a impessoalidade no exerccio do poder.
De toda essa necessidade que surge o Direito Poltico
moderno, a fm de regulamentar todo o funcionamento
deste poder poltico estatal.
51
Ultrapassada a anlise de sua natureza e de sua fun-
o, vejamos agora o que diz respeito sua forma.
De tudo o que se viu, resta bvio que o Direito Poltico
toma forma, existe e se realiza por meio da razo. Suas
regras devem nascer do debate flosfco, ou seja, do em-
bate de ideias em argumentao racional, lgica e coe-
rente com os fns a que se destinam. Foroso concluir
que sua aplicao no pode ser feita de outra maneira.
O Direito Poltico moderno no se presta a legitimar
o exerccio do poder poltico contra os seus fundamen-
tos, ou em favor de um ou alguns indivduos. Ele meio
determinado pelo seu fm. O poder poltico nutre suas
foras da soma dos poderes individuais, que so a ele
concedidos sob a condio de que seja respeitado o fm a
que se destina, qual seja, a garantia da convivncia social,
por meio do imperativo da razo, de modo a possibilitar
a realizao da dignidade do homem.
Vimos que o poder poltico nasce do intuito de ex-
purgar a fora fsica das relaes sociais. Assim como
51. No mundo moderno, o Direito poltico, aqum das formas regulamentado-
ras e administrativas dos poderes institudos, tem, em sua figura fundamental,
uma vocao de princpio que anteconstitucional: no espao da vida pblica,
sua funo organizar a fora. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 495.)
89
o uso desregrado da fora deve ser frmemente com-
batido pelo direito poltico, o mesmo se d com o uso
desregrado da razo.
O vasto movimento de normatividade, que disps uma
rede de regras e de leis sobre o mundo dos acontecimen-
tos e da histria, tendeu a fazer prevalecer a unidade e a
homogeneidade do inteligvel sobre a multiplicidade e a
heterogeneidade do sensvel. O legiscentrismo que era
acompanhado pelo carter obrigatrio da ordem nor-
mativa tendeu no apenas regulao da vida pblica,
mas tambm, j no sculo XVIII, foi o sinal imponente
de um imperativo absoluto: na vida pblica, o direito no
se deduz da fora. Compreendeu-se no s que a razo do
mais forte diametralmente oposta aos reclamos do direi-
to, mas tambm que o uso desregrado da razo, recaindo
na violncia, era contraditrio em si mesmo. (GOYARD-
FABRE, 2002, p. 495.) [grifos nossos]
Um exemplo do uso desregrado da razo, recaindo em
violncia, foi o ocorrido durante a revoluo francesa.
Em nome da razo e do iluminismo, foram cometidos gi-
gantescos crimes contra a dignidade humana, marcando
com a guilhotina uma verdadeira era de terror. Percebe-
se aqui uma completa incoerncia no uso do poder pol-
tico, concluindo-se que se tratava de um direito poltico
ilegtimo e invlido, vez que regrava contra os seus pr-
prios fundamentos.
Disso se percebe que o direito poltico se constri pelo
uso da razo. Entretanto, no de qualquer razo, mas
apenas de uma coerente com os fns para os quais o po-
der poltico foi criado.
90
A partir de nossa anlise anterior, vimos que o an-
tropocentrismo e o imperativo da razo foram impres-
cindveis ao surgimento do direito poltico moderno.
Percebemos agora que de tais fundamentos flosfcos
depende a sua prpria sobrevivncia. O sistema jurdico
moderno necessariamente dever levar em considerao
essas duas caractersticas durante toda a sua vida, pois
elas se constituem em fundamentos de sua existncia.
Neste sentido:
No obstante, se se admite que uma das tarefas da
flosofa indagar-se sobre os princpios de inteligi-
bilidade do direito poltico, foroso reconhecer que
a contribuio do pensamento moderno , a esse
respeito, insubstituvel porque, progressivamente, ele
trouxe para a luz o imperativo racional prtico sem o
qual a ordem jurdica da vida pblica seria impensvel
e impossvel. por isso que, em seus temas diretrizes
mais signifcativos, o direito poltico moderno merece
ser defendido contra qualquer rejeio, tanto antemo-
derna como ps-moderna. (GOYARD-FABRE, 2002,
p. 493.) [grifos nossos]
Sendo toda transcendncia da Natureza ou de Deus
assim reputada intil para a ordem jurdica das
Cidades, esta s extrair seu princpio ativo da prpria
condio dos homens. Portanto, a antropologia a base
sobre a qual apesar das hesitaes que ainda mani-
festa o pensamento de transio de Jean Bodin se
edifca e funciona o dispositivo moderno do direito pol-
tico. (GOYARD-FABRE, 2002, p. 494.) [grifos nossos]
91
No h que se falar em direito poltico moderno sem
se levar em considerao o seu carter impessoal, sua
forma racional e sua funo: garantir a dignidade do ho-
mem. O direito poltico moderno a expresso poltica
da juno entre o antropocentrismo e o imperativo da
razo, com vistas a promover a coexistncia pacfca dos
homens e dos povos. Ele a estrutura fundamental e
a forma universal da coexistncia humana (GOYARD-
FABRE, 2002, p. 498), uma das maiores conquistas da
Era Moderna.
52
52. No que eu atribua pessoalmente tanto valor filosofia moderna como
filosofia clssica (no que tange ao direito). Mas conviria, pelo menos, abordar os
autores modernos sem preconceito desfavorvel, com a simpatia sem a qual a
histria das doutrinas seria inevitavelmente estril. Tentaremos, pois, reconhe-
cer o que a Europa deve filosofia moderna: exaltao do papel do homem, de
sua razo e da inveno humana na produo do direito; ateno ao indivduo,
explicitao de seus direitos; progresso do direito dos pontos de vista da ordem
e da preciso [...] (VILLEY, 2005, p.172.) [grifos nossos]
93
Vimos no tpico anterior que, a partir das mudanas
ocorridas com o advento da Era Moderna, determinados
institutos poltico-jurdicos surgiram, entre os quais o
poder poltico. Esse poder surgiu como fruto natural das
caractersticas do paradigma moderno, dentre as quais o
racionalismo, o mecanicismo e o mtodo de Descartes.
Vimos ainda que tal poder nasceu condicionado por
duas outras caractersticas modernas o antropocentris-
mo e o imperativo da razo. Tais caractersticas o servi-
ram de fundamento e determinaram sua forma de ser e
os objetivos pelos quais existir.
Percebemos o encadeamento de necessariedade entre
o novo pensamento moderno e o seu respectivo direi-
to poltico. Esse direito foi completamente condiciona-
do pelas caractersticas modernas, sejam econmicas,
flosfcas ou polticas. E desse emaranhado de novas
realidades, surge, como consequncia lgica, o Estado
moderno, que posteriormente evoluir para o Estado
Democrtico de Direito, onde se desenvolver a demo-
cracia representativa e seu companheiro intrnseco: o
Direito Eleitoral.
Neste ponto, analisaremos brevemente tais entes com
o intuito de perceber os vnculos de necessariedade entre
Estado moderno, Estado democrtico
de direito e Democracia representativa
94
os fundamentos flosfcos do Estado moderno, a criao
do Estado Democrtico de Direito e a constituio da de-
mocracia representativa e do Direito Eleitoral.
Estado Moderno
Vejamos o testemunho do professor Schiera (1984, p.
79), da universidade de Bolonha:
Para a nossa gerao, reentra agora, no seguro pa-
trimnio do conhecimento cientfco, o fato de que o
conceito de estado no um conceito universal, mas
serve apenas para indicar e descrever uma forma de
ordenamento poltico surgida na Europa a partir do
sculo XIII at aos fns do sculo XVIII ou incio do
XIX, na base de pressupostos e motivos especfcos da
histria europeia e que, aps esse perodo se esten-
deu libertando-se, de certa maneira, das suas con-
dies originais e concretas de nascimento a todo o
mundo civilizado. Esta afrmao de Enrst Wolfgang
Boeckenfoerde pode servir bem como ponto de par-
tida [...] Em tal sentido, o Estado Moderno europeu
nos aparece como uma forma de organizao do poder
historicamente determinada e enquanto tal, caracteri-
zada por conotaes que a tornam peculiar e diversa
de outras formas, historicamente tambm determina-
das e anteriormente homogneas, de organizao do
poder. O elemento central de tal diferenciao consiste,
sem dvida, na progressiva centralizao do poder se-
gundo uma instncia sempre mais ampla, que termina
por compreender o mbito completo das relaes pol-
95
ticas. Desse processo, fundado por sua vez sobre a con-
comitante afrmao do princpio da territoriedade da
obrigao poltica e sobre a progressiva aquisio da im-
pessoabilidade do comando poltico, atravs da evoluo
do conceito de ofcium, nascem os traos essenciais de
uma nova forma de organizao poltica: precisamente
o Estado moderno. [grifos nossos]
De fato, de uma conjuntura especfca nasceu o Estado
Moderno. Essa conjuntura se deu, como demonstrado
anteriormente, no decorrer da chamada Baixa Idade
Mdia, na Europa ocidental, a partir da mudana de
fatores econmicos e sociais, bem como do advento do
pensamento humanista.
De tal processo histrico advieram mudanas nas re-
laes polticas e sociais, caracterizadas, principalmente,
pela progressiva centralizao do poder; pela despersoni-
fcao deste e consequente criao do poder poltico ins-
titucionalizado; e, ainda, pela consolidao do imperativo
da razo em sua construo e em seu funcionamento.
O Estado moderno surge como detentor nico do
monoplio do uso da fora em seu territrio. Porm,
este exclusivo uso da fora condicionado por um sis-
tema racional que visa a um fm especfco, que o valida
e legitima. Tanto a organizao poltica quanto a prpria
gesto do poder poltico so racionalizadas de maneira
a se garantir o controle das mesmas pelos homens, que
adquiriram status de primeira grandeza na Era Moderna
a partir de sua nova concepo de dignidade humana
como autonomia individual
53
.
53. Max Weber definiu o carter da centralizao vlido sobretudo em
96
Schiera (1984, p. 80) aponta dois fatores, aparente-
mente contraditrios ao movimento dos novos interesses
polticos, que acabaram por facilitar o processo de mu-
danas ocorrido na Baixa Idade Mdia. O primeiro foi
[...] a concepo universalista da respublica christiana,
enunciada na teoria e atuada na prtica, da parte papal,
atravs da luta de investiduras (1057-1122); por ela fo-
ram colocadas as premissas para a ruptura irremedivel
da unidade poltico-religiosa que ainda regia a vida po-
ltica do ocidente.
O segundo foi o fato de que
[...] mesmo proclamando o primado do espiritual so-
bre o poltico, a fm de solidifcar mais seu prprio pri-
mado, de fato, o papa reconhecia a autonomia, pelo
menos potencial, da poltica e oferecia o terreno em
que poderiam sediar-se, mover-se, fortalecer-se e,
enfm, prevalecer os interesses temporais que brotam
das novas relaes econmicas e sociais. (SCHIERA,
1984, p. 80.)
nvel histrico-institucional em algo marcadamente politicolgico, como
monoplio da fora legtima. A observao permite compreender melhor o
significado histrico da centralizao, colocando luz, para alm do aspecto
funcional e organizativo, a evidncia tipicamente poltica da tendncia supe-
rao do policentrismo do poder, em favor de uma concentrao do mesmo,
numa instncia tendencialmente unitria e exclusiva. A histria do surgimento
do estado moderno a histria desta tenso: do sistema policntrico e com-
plexo dos senhorios de origem feudal se chega ao estado territorial concentrado
e unitrio atravs da chamada racionalizao da gesto do poder e da prpria
organizao poltica imposta pela evoluo das condies histricas materiais.
(SCHIERA, 1984, p. 80.) [grifos nossos]
97
A respublica christiana foi uma tentativa da Igreja, in-
fuenciada pela concepo do Sacro Imprio Romano-
Germnico, de universalizar o poder do papa sobre o
mundo poltico terreno
54
. Tal iniciativa papal acabou por
criar o precedente da ruptura entre poder divino e poder
terrestre (secular), promovendo uma ciso na unidade
poltico-religiosa que dava a tnica s relaes de poder
da Idade Mdia. A partir da, seria inevitvel a delimita-
o da circunscrio de cada poder e a consequente dele-
gao de determinados poderes a fm de se consolidar a
dominao do poder poltico.
Do encontro dos dois aspectos anteriormente elen-
cados, nasceu, primeiramente, a noo de territrio,
que se constitua de uma extenso fsica sufcientemente
ampla de terreno, no qual ocorreu uma crescente inte-
grao de interesses e relaes de grupos vizinhos. Da
acabou por advir o reconhecimento de uma disciplina
institucional comum. Isto, segundo Schiera (1984, p. 80),
seria a passagem que Teodor Mayer sinteticamente
defniu na tese do estado para associaes pessoais ao
estado territorial institucional (Personenverbandtstaat
e Institutioneller Flaechenstast).
54. No chamado Ocidente, a fase medieval comeou com a estruturao do
feudalismo, a partir de institutos romanos (a clientela e o patronato, entre ou-
tros). O feudalismo se estendeu por todas as reas romanizadas, e durou at os
incios da modernidade; o vnculo feudal, baseado no princpio da fidelidade,
era de ndole essencialmente hierrquica, ensejando uma experincia bastante
tpica em matria de poder e obedincia. Entretanto, o Ocidente herdou tam-
bm de Roma a ideia de imprio, e durante muito tempo se tentou na Europa
reorganizar uma unidade poltica total, que se ligaria historicamente ao Imp-
rio Romano: seria o Sacro Imprio Romano-Germnico. E a Igreja, por seu
turno, adotando ela tambm formas e princpios de origem romana, tentou
unificar o mundo conhecido atravs da imagem de uma Respublica Cristiana
governada pelo papa. (SALDANHA, 1984, p. 50.)
98
Posteriormente, nasceu a noo de soberania terri-
torial:
O segundo plano no qual se deu o encontro liga-se
ainda mais ao momento institucional e ao problema
da organizao do poder, atravs da apario, em di-
versos senhorios antigos em que originariamente se
situava o novo territrio, de um momento sintti-
co de deciso e de governo, representado pelo senhor
territorial, ou seja, pelo prncipe, com o governo do
qual o antigo e genrico senhorio, de contedo preva-
lescentemente pessoal, se transforma numa soberania
de contedo marcadamente poltico. a passagem do
senhorio terreno (Grundherrschaf) soberania ter-
ritorial (Landeshoheit), atravs da Landesherrschaf.
(SCHIERA, 1984, p.80.)
Inicialmente ocorreu a separao entre o poder poltico
e o poder religioso, atravs da ruptura da unidade pol-
tico-religiosa. Logo em seguida, apesar de ainda existir
uma primazia do espiritual sobre o poltico, foi dado a
este uma relativa autonomia dentro de um determina-
do territrio. Tal autonomia acabou por criar laos de
interesses comuns aos grupos que coexistiam em cada
territrio, o que acabou por promover, primeiramente,
uma integrao pessoal e, posteriormente, uma integra-
o institucional dentro dos mesmos. Da o nascimento
de um poder institudo territorialmente a soberania
territorial. As relaes de senhorio, caracterizadas pelo
poder pessoal, passam a ser relaes comuns dentro de
um poder soberano impessoal, institucional e territorial.
No fm, a distino entre o espiritual e o mundano, ini-
99
cialmente introduzida pelos papas para fundamentar o
primado da Igreja, desencadeou agora sua fora na dire-
o do primado e da supremacia da poltica.(SCHIERA,
1984, p. 81.)
Esse contexto de mudanas serviu para dar forma a
novos contedos polticos, cada vez mais independentes
do poder divino espiritual da Igreja e cada vez mais liga-
das construo humana
55
e sua segurana fundada no
imperativo da razo.
56
At este ponto, ainda no estamos falando do Estado
moderno propriamente dito. Falamos apenas do estado
poltico da era pr-Estado Moderno
57
. Ainda acontece-
riam diversas lutas pelas mudanas necessrias ao nasci-
mento ofcial do Estado Moderno. A Igreja e a aristocra-
55. Dentro da nova viso antropocentrista que sustentava o processo de
mudanas.
56. [...] Ambos os planos exprimiam, porm, um dado de fundo comum, na
medida em que serviam para dar forma uma das formas possveis a novos
contedos polticos, surgidos da mudana social levada a cabo e gerida pela
incipiente burguesia, em vias de achar o prprio espao exclusivo de ao nas
coisas do mundo, cada vez menos esperadas das coisas do cu, e, portanto,
cada vez mais necessitadas de regimes e de segurana imediata e atual, mais
do que de estimativas morais e de promessas ultraterrenas. No foi por acaso
que o terceiro estado ofereceu ao prncipe, em sua maioria, os auxiliares de
que se serviu para fundar, teoricamente, e colocar em ato, concretamente, sua
nova soberania.(SCHIERA, 1984, p. 81.)
57. A sucinta descrio que acabamos de fazer representa, em suas linhas ge-
rais, o estado poltico da Europa crist na Idade imediatamente pr-moderna,
a saber entre o sculo XIII e o sculo XVI. Este , por outro lado, o significado
que o termo estado (Status, Estat, Estate, Staat) geralmente possui nos do-
cumentos do tempo: indica a condio do pas, tanto em seus dados sociais
como polticos, na sua constituio material, nos traos que constituem seu
ordenamento: a condio do prncipe e de seus auxiliares, das camadas que
representavam a organizao do poder que delas derivava. O estado, em con-
cluso, de tudo o que diz respeito esfera da vida humana organizada, no
diretamente voltada para fins espirituais. (SCHIERA, 1984, p. 81.)
100
cia representariam as foras pelas quais o antigo regime
feudal tentaria sobreviver contra o turbilho de mudan-
as imposto pela burguesia, com a ajuda dos monarcas e
dos flsofos. Uma luta que j nascia perdida, diante da
fora do desenvolvimento histrico
58
.
Nesse processo de nascimento do Estado Moderno
se destacou um movimento responsvel pelo derradeiro
fm das relaes polticas feudais de poder descentraliza-
do, a partir do fortalecimento dos reinos e de seus titula-
res (os reis), garantido a centralizao poltica necessria
construo do bero onde nasceria o Estado Moderno.
Tal movimento atualmente chamado de absolutismo
59
.
Porm, o papel desempenhado pelo absolutismo no
nascimento do Estado Moderno no se restringe sua
58. A transio, entretanto, no foi indolor, se verdade que as lutas religiosas
que laceraram a Europa nos sculos XVI e XVII devem ser consideradas como
matriz e ponto necessrio de passagem da nova forma de organizao do poder
expressamente poltico. A dramaticidade de tal gnese exaltada pelo fato de
que o conflito religioso encontrou, por fim, sua soluo destacadamente na
Frana e tambm na Alemanha e na Inglaterra , no no triunfo de uma f
sobre a outra, mas na superao das pretenses de fundar o poder sobre uma
f, para alm das partes em contenda entrincheiradas em duas frentes opostas
pela conservao dos resduos do policentrismo do poder em bases senhoriais,
fundado nas antigas liberdades feudais agora em vias de se transformarem nos
modernos direitos inatos e na rigorosa afirmao do poder monocrtico do
rei sobre as tradicionais bases divinas e pessoais. (SCHIERA, 1984, p. 81.)
59. Nota-se, com isso, que houve no medievo uma configurao poltica (ou
poltico-social) localista e regionalizante, o feudalismo, e outra universalizante
e supralocalista, o imprio. Os reinos (regni), que seguiram formando-se por
toda parte, eram organizaes relativamente fracas; o rei frequentemente de-
pendia de acordos com os nobres feudais; ou ento era vassalo do imperador,
e de qualquer modo devia obedincia ao papa. Com a transio para a poca
chamada moderna, os reinos se consolidaram, assumindo contornos, por assim
dizer, definitivos. Este robustecimento dos reinos veio a constituir o chamado
estado absoluto, que foi o estgio inicial do Estado Moderno. (SALDANHA,
1984, p. 50.)
101
centralizao do poder e suas consequncias decorren-
tes. O absolutismo tambm consolidou a legitimao do
poder fundada na razo, em oposio antiga legitima-
o baseada na f. Uma das armas utilizadas pelos mo-
narcas em sua batalha por independncia da Igreja e das
relaes de suserania e vassalagem foi a argumentao
flosfca em defesa de uma origem do poder distinta da
pregada pela Igreja.
Sobre o tema, trazemos o testemunho do professor
Saldanha (1984, p. 51):
O estado moderno surgiu, destarte, dentro de um pro-
cesso de concentrao: concentrao do poder nas mos
do monarca, antes apertado entre grandezas polticas
diversas que o pressionavam. Ao mesmo tempo centra-
lizao, no sentido de substituio do localismo feudal
por um unitarismo nacional plantado sobre um terri-
trio ntegro em torno de um centro administrativo.
Isto confgura a unifcao que ento ocorreu, em ter-
mos militares, urbansticos, lingusticos, monetrios. A
este processo de concentrao correspondeu uma linha
nova de legitimao: enquanto no medievo o poder se
fundava sobre uma outorga divina, chancelada porm
pela aceitao popular, dentro de um sistema de limi-
tes naturais, o poder do monarca moderno se apoiava
alm do mesmo direito divino sobre consideraes
terico-racionais novas, que deviam convencer como
doutrina. [grifos nossos]
certo que tal arma contra a dependncia da chancela
da Igreja s foi possvel graas ao espao aberto pelo
paradigma moderno e suas concepes flosfcas hu-
102
manistas, baseadas na razo e na dignidade humana.
Assim, a argumentao flosfca na defesa do absolu-
tismo foi to conveniente quanto necessria, haja vista
que o processo de legitimao racional j havia se tor-
nado imperativo social.
Identifcamos, no perodo, diversas teorias contratu-
alistas, que atacavam a origem divina do poder estatal e
defendiam o acordo de vontades dos indivduos como
fonte de tal poder. Em defesa do absolutismo podemos
salientar o pensamento de Tomas Hobbes. Vejamos al-
gumas palavras suas:
Conforme diversos autores, toda lei pode ser dividida,
em primeiro lugar, em divina e humana. A divina, em
razo dos dois modos como Deus fez conhecer aos ho-
mens sua vontade, de duas espcies: natural ou moral,
e positiva. Natural a que Deus declarou para todos os
homens mediante sua eterna palavra, neles inata, a sa-
ber, a razo natural. esta a lei que tentei explicar em
todo o presente livro. Positiva a que Deus anunciou
mediante a palavra proftica, usando-a para falar aos
homens como homem, quais sejam as leis que Ele deu
aos judeus em referncia instituio poltica e ao culto
divino, e que podem chamar-se leis divinas civis, por-
que peculiares Cidade dos israelitas, o prprio povo
de Deus. (HOBBES, 1993, p. 181.)
Nota-se a preocupao de Hobbes em distinguir as leis di-
vinas das leis humanas. Porm, mais do que isso, Hobbes
nos diz que as leis divinas no so apenas as ditadas pela
Igreja, reveladas pelos profetas. Existem tambm as leis
divinas naturais, que so manifestadas aos homens por
103
meio da razo natural. Ou seja, Hobbes coloca a razo
humana no mesmo patamar da palavra da Igreja. Mais
adiante, explicar que somente atravs da obedincia ao
poder civil (representado pelo soberano absolutista)
que pode haver o respeito s leis naturais divinas
60
. Em
um s golpe, ele diminui o poder da Igreja e aumenta o
poder do monarca absolutista.
60. Cabem aqui, a fim de melhor ilustrar o que foi dito, algumas palavras de
Bobbio sobre o pensamento de Hobbes: Se nos detivermos nessa classificao,
no nos parecer que Hobbes tenha se afastado da tradio: o direito natural
aquele que Deus comunica aos homens por meio da razo e vige no estado de
natureza; o direito positivo o humano, deixando de lado o divino pro-
posto pelo Estado por meio da pessoa ou das pessoas que detm, no Estado,
o sumo poder ou soberania e tem vigncia no contexto da sociedade civil
[...]. Em uma frmula sinttica que me parece bastante expressiva, diria que
para Hobbes as leis naturais so aquelas que, no estado da natureza, ainda no
tm vigncia e, no estado civil, deixaram de viger. No estado de natureza ainda
no tm vigncia: verdade, porque nele s existem as leis naturais [...] elas s
obrigam em conscincia, o que significa, para Hobbes, que s obrigam a ter
inteno de observ-las. Sua observncia efetiva s devida quando estamos
seguros de que os outros tambm as observaro. O estado de natureza, porm,
marcado pela insegurana contnua a situao famosa de bellum omnium
contra omnese. Com tal insegurana, no tenho qualquer garantia de que os
outros observaro as leis naturais, portanto no estou obrigado a cumpri-las,
por melhores que sejam minhas intenes. [...] Justamente porque o estado
da natureza marcado pela insegurana perptua, os homens aspiravam a
mud-lo, a passar para o estado civil. A fim de instituir, no estado civil, aquela
segurana indispensvel para tornar eficazes as obrigaes, transformando-
as de internas em externas, os indivduos se puseram de acordo entre si para
renunciar a todos os direitos que tinham no estado de natureza exceto o
direito a vida , transferindo-os para o soberano, que, assim, teria o poder de
punir aqueles que no cumprissem suas obrigaes. Institui-se a segurana, e
as obrigaes se tornaram eficazes: todos sabem que, se algum no cumprir
seus deveres, ser punido. [...] O que o soberano ordena so as leis civis o
direito positivo. Assim, se no estado civil os indivduos so obrigados a obe-
decer s leis civis, isto significa que nele s existe um direito, imposto pelo
soberano, ou seja, o direito positivo. Para que as leis naturais sejam respeita-
das, preciso obedecer ao poder civil. Essa obedincia significa a observncia
dos seus comandos, isto , o respeito no mais s leis naturais, porm s leis
civis. (BOBBIO, 1997, p. 43.)
104
Hobbes defendeu flosofcamente o absolutismo. Mas
diversos outros contratualistas do perodo defenderam,
tambm por meio da razo, algum outro determinado
modelo de Estado civil, segundo certo arcabouo teri-
co, a partir de um determinado problema constatado no
estado de natureza humano.
Dentre estes, cabe meno obrigatria ao flsofo in-
gls John Locke, o qual, por meio de seu jusnaturalis-
mo contratualista, propiciou o advento do liberalismo
poltico, que se constituiria em elemento fundamental
ao Estado moderno como o conhecemos atualmente em
sua acepo de Estado de Direito.
Locke, muito conhecido pela sua teoria do conheci-
mento que fcou para a histria como marco do em-
pirismo moderno , tambm contribuiu de forma im-
prescindvel para a construo do Estado Moderno. Sua
obra poltica, de ndole liberal, refutou a origem divina
do poder do soberano
61
, defendeu a tolerncia religiosa
62
e praticamente fundou o moderno Estado de direito em
seu Segundo tratado sobre o governo civil, no qual ataca o
absolutismo, defende o liberalismo poltico e a limitao
do poder do Estado
63
.
Em brevssima sntese, Locke argumenta que o ni-
co problema do estado de natureza a falta de um juzo
imparcial para resolver as contendas que podem ocorrer
caso a lei natural (a razo) seja desrespeitada, o que au-
torizaria o estado de guerra. No havendo juzo impar-
cial, os homens poderiam agir movidos pelas paixes,
61. O seu Primeiro tratado sobre o governo civil se ocupa deste objeto.
62. Em suas Cartas sobre a tolerncia.
63. O que viria dar ensejo noo de Estado de Direito, como veremos adiante.
105
o que poderia perpetuar tal estado. Assim, de forma a
sanar este problema, os homens abririam mo de parte
de seu poder para dar ao Estado, constitudo com a ni-
ca fnalidade de tutelar a lei natural. Uma questo extre-
mamente relevante que o governante tambm estaria
sujeito a esta lei. O seu desrespeito mesma implicaria,
tambm, a autorizao do estado de guerra. Assim, esta-
va sendo criado o direito de controle do Estado pelo in-
divduo. Como podemos perceber, da nasceria o Estado
de direito Estado tipicamente liberal que se sujeita aos
indivduos (e sua liberdade como autonomia), garantin-
do a dignidade humana por meio da limitao do poder
poltico pela lei.
Sem embargo, as teorias contratualistas desempe-
nharam papel fundamental constituio do Estado
Moderno. Elas reformularam a origem do poder estatal
retirando-a da Igreja e passando-a para os indivduos
, promoveram a centralizao do poder poltico, afr-
maram a necessidade de existir um objetivo para que o
Estado seja criado e, o mais importante de tudo, criaram
a autolimitao do poder poltico, bem como deram os
primeiros passos na direo do direito de controle do
Estado pelo indivduo
64
.
Ao fnal de todo esse processo, o poder baseado na f
restou suplantado por um poder poltico, terreno, base-
ado na razo. A unidade de comando, a territorialidade
do poder e o exerccio do mesmo por agentes tcnicos
qualifcados para tanto, em uma relao de impessoali-
dade com o poder, passaram a ser exigncias de segu-
64. Esta ltima conquista pode ser creditada apenas s teorias contratua-
listas liberais.
106
rana do indivduo perante o poder poltico que, como
visto, acabava de ser criado. Ainda, a principal garantia
do indivduo no seria mais dada apenas por condicio-
nantes formais, e sim por um condicionante material: o
fm para o qual todo esse aparato institucional criado
e aceito pelos indivduos garantir a dignidade do ho-
mem, consubstanciada em sua autonomia de vontade. O
correto exerccio do poder poltico, vinculado a esse fm,
que se reveste na maior garantia do indivduo diante
do Estado moderno
65
.
Assim, visualizamos o nascimento do Estado moder-
no, fundado em caractersticas que, alm de lhe darem
origem, sustentam-lhe e promovem o seu desenvolvi-
mento, quais sejam, a tutela da dignidade humana; o
imperativo da razo; o poder poltico impessoal, centra-
lizado e autolimitado; e a vinculao de sua ao aos pro-
psitos de sua origem.
O desenvolvimento de tais caractersticas levaram ne-
cessariamente ao aprimoramento do Estado moderno,
65. fcil entender, nesse processo, o papel desenvolvido pelas chamadas
premissas necessrias para o nascimento da nova forma de organizao do
poder. A unidade de comando, a territorialidade do mesmo, o seu exerccio
atravs de um corpo qualificado de auxiliares tcnicos so exigncias de se-
gurana e de eficincia para os estratos de populao que de uma parte no
conseguem desenvolver suas relaes sociais e econmicas no esquema das
antigas estruturas organizacionais e, por outra, individualizam, com clareza, na
persistncia do conflito social, o maior obstculo prpria afirmao. Desde a
sua pr-histria, o estado se apresenta precisamente como a rede conectiva do
conjunto de tais relaes, unificadas no momento poltico da gesto do poder.
Mas s com a fundao poltica do poder que se seguiu s lutas religiosas que
os novos atributos do estado mundaneidade, finalidade e racionalidade se
fundam para dar a este ltimo a imagem moderna de nica e unitria estrutura
organizativa formal da vida associada, de autntico aparelho da gesto do poder,
operacional em processos cada vez mais prprios e definidos, em funo de um
escopo concreto [...] (SCHIERA, 1984, p. 82.) [grifos nossos]
107
levando-o sua forma evoluda o Estado Democrtico
de Direito.
A seguir, analisaremos este novo ente, buscando per-
ceber sua relao com a democracia representativa e com
o Direito Eleitoral.
Estado Democrtico de Direito e democracia
representativa
Buscamos at aqui demonstrar os vnculos de necessa-
riedade entre o pensamento moderno e o surgimento de
seu direito poltico e seu resultante Estado. Percebemos
a relao intrnseca entre eles e o encadeamento de
causa e consequncia operado pela histria ocidental.
Vimos que o Direito Poltico moderno apareceu como
resposta ao pensamento flosfco da Era Moderna. Dos
anseios da poca foi se moldando uma nova forma de
poder o poder poltico e a maneira como este poder
existiria e seria exercido. De tais anseios foi construda
uma nova forma de organizao do poder, que veio a
ser chamada de Estado.
Veremos adiante que, ainda de tais anseios, ocorreu
a natural evoluo do Estado moderno para o que cha-
mamos atualmente de Estado Democrtico de Direito.
Constataremos que os fundamentos do paradigma mo-
derno continuam condicionando o desenvolvimento
poltico ocidental, moldando completamente o novo
Estado Democrtico de Direito, ensejando o surgimento
da democracia representativa e, consequentemente, do
aparato normativo de seu funcionamento, que viemos a
chamar de Direito Eleitoral.
108
Estado democrtico de direito
Como visto, uma das conquistas polticas da Era
Moderna foi a primazia do indivduo sobre o Estado. A
dignidade do homem, consubstanciada precipuamente
em sua liberdade
66
, deveria ser protegida pelo Estado,
sendo esta a sua funo fundamental. Entretanto, de
nada valeria tal conquista se no houvesse meios de ga-
ranti-la. Dentre esses meios pode-se citar o imperativo
da razo, a impessoalidade do poder e, principalmente,
o controle (racional) sobre o poder poltico, que, em
ltima anlise, representa o controle sobre o funciona-
mento do Estado.
Em um primeiro momento, este controle garantido
pela sujeio do Estado lei. A teoria de Locke j defen-
dia ser o soberano vinculado lei natural, a quem devia
respeito sob pena de ter o seu poder desautorizado. Tal
imprio da lei, a qual todos devem se sujeitar, inclusi-
ve o prprio Estado, foi chamado de Estado de Direito
67
.
Neste Estado, o funcionamento do poder poltico su-
66. Que, como dito, tinha como contedo a autonomia da individualidade.
67. Sobre o tema: O termo Estado de Direito registra Bckenfrde uma
construo lingustica e uma cunhagem conceptual prpria do espao lingus-
tico alemo, sem correspondentes exatos em outros idiomas; e aquilo que nas
suas origens se queria designar com esse conceito, prossegue o mesmo jurista,
tambm uma criao da teoria do Estado do precoce liberalismo alemo,
em cujo mbito significava o Estado da razo; o Estado do entendimento; ou
mais detalhadamente, o Estado em que se governa segundo a vontade geral
racional e somente se busca o que melhor para todos. Noutras palavras ainda
com Bckenfrde , o Estado de Direito, em seus primrdios, o Estado do
direito racional, o Estado que realiza os princpios da razo na e para a vida
em comum dos homens, tal e como esses princpios estavam formulados na
tradio da teoria do direito racional. (MENDES, COELHO e BRANCO,
2007, p. 34.) [grifos nossos]
109
bordinado lei, tendo em vista os fns para os quais o
Estado foi constitudo.
68
A noo de Estado de Direito foi criada a partir da
otimizao dos fundamentos do direito poltico moder-
no pela teoria liberal, que trabalha a aplicao concreta
de tais ideais, levando-os at as ltimas consequncias,
com vistas a oferecer contraponto ao pensamento e
prtica do estado absolutista.
69
No obstante a relevante conquista em prol da defesa
dos interesses individuais contra as possveis arbitrarie-
dades do Estado, o modelo de Estado de Direito que
dissemos ser evoluo natural do Estado Moderno ini-
cial acabou por ressentir-se de um problema srio.
68. O Estado de direito exige a submisso da administrao lei, visando
proteo e realizao das exigncias da liberdade, igualdade e segurana de
todos os direitos fundamentais do homem. (BARACHO, 1995, p. 27.)
69. Sobre o tema: Prescindindo de pesquisas mais amplas, at porque, no
particular, no se registram divergncias de monta, poderemos dizer, com
Elas Daz, que o Estado de Direito embora originalmente um conceito
polmico, orientado contra o Estado absolutista, o Estado-poder, o Estado-
polcia ou Estado-invasor poder ser caracterizado, em sua essncia, como
aquele Estado submetido ao direito, aquele Estado cujo poder e atividade esto
regulados e controlados pela lei, entendendo-se direito e lei, nesse contexto,
como expresso da vontade geral. No mesmo sentido so os ensinamentos de
Manuel Garca-Pelayo e de Cristina Queirz, quando asseveram que, produto
da teoria racionalista, o Estado de Direito surge, numa primeira fase, pole-
micamente orientado contra a teoria absolutista, e particularmente contra
o Polizeistaat, vindo alojar-se, na sua formalizao tcnico-jurdica, no no
campo do direito constitucional, mas no campo do direito administrativo,
onde designa uma ordem de relaes entre a lei, a administrao e o indiv-
duo, e significa a mxima justiciabilidade possvel dos atos da administrao.
Logo aps, no entanto, como registram a mesma Cristina Queiroz e outros
estudiosos, o Estado de Direito deixa de ser um postulado do direito admi-
nistrativo ou to-somente do direito administrativo para se transformar
num princpio de direito constitucional e, assim, embeber a totalidade dos
ordenamentos jurdicos dos chamados Estados liberais. (MENDES, COELHO
e BRANCO, 2007.) [p. 36.]
110
Vejamos o seguinte depoimento, sobre o tema, do
professor Saldanha (1984, p. 55):
[...] o termo Estado de Direito indica hoje um tipo de
Estado, cujo modelo foi montado pelos primrdios do
constitucionalismo moderno: um Estado que possui
um ordenamento constitucional completo (no signif-
ca que formalmente exaustivo) e que sobre este ordena-
mento legitima e baseia seus atos. O Estado de Direito
um conceito a um tempo formal e material, pois no
s preciso que exista no Estado um sistema jurdico e
sobretudo, constitucional efetivo, como tambm se requer
que este sistema esteja em aplicao. Mas a se pe, ain-
da, outra questo. Para uns, basta esta presena efetiva
do ordenamento para que se tenha o Estado de Direito;
para outros, porm, necessrio um elemento a mais
necessrio que tal ordenamento seja justo. No seria bas-
tante estar o Estado encaixado numa ordem jurdico-
positiva capaz de limitar seus atos e de fundamentar
formalmente o alcance deles, mas teria esta ordem de
ser justa; e se argumenta frequentemente com os casos
de estado ditatoriais que possuam ou possuem ordena-
mentos e constituies, mas que no visavam (ou no
visam) a fns justos. Atualmente, a opinio dominante
se inclina para uma exigncia democrtica: o Estado de
Direito ser ento aquele que tiver uma constituio de-
mocrtica efetivamente aplicada. [grifos nossos]
Como bem colocado pelo professor Saldanha, o Estado
de Direito, para que no seja incuo, representando um
conceito vazio desprovido de efccia, deve se revestir
no apenas de mero carter formal, mas, tambm, de
111
um aspecto material. A simples existncia de um siste-
ma jurdico ao qual o Estado esteja submetido no ga-
rante a efccia do fm para o qual o Estado de Direito
foi construdo o de se impor como bice arbitrarie-
dade do Estado contra o indivduo. Exemplo disso so
os Estados totalitrios ditatoriais, onde normalmente
existe uma legislao ao qual o Estado deve se submeter,
mas tal legislao no necessariamente coerente com
os fns a que deveria perseguir como garantidora de um
Estado de direito. Tais ordenamentos jurdicos, antes,
se prestam a legitimar o uso indiscriminado do poder
poltico que a impedi-lo. Assim, surge a necessidade de,
mais uma vez, aprimorar-se o Estado Moderno, nesse
ponto Estado de Direito.
Como dito pelo professor Saldanha (1984, p.55),
Atualmente, a opinio dominante se inclina para uma
exigncia democrtica: o Estado de Direito ser ento
aquele que tiver uma constituio democrtica efetiva-
mente aplicada.
Esta uma concepo que respalda a necessidade de
uma nova evoluo de nosso Estado Moderno. Agora,
podemos transform-lo em Estado Democrtico de
Direito. O Estado de Direito tem por fnalidades limitar
o uso indiscriminado ou abusivo do poder poltico e ga-
rantir os fundamentos pelos quais ele foi criado
70
. O novo
fator agora agregado a este Estado o carter democrti-
co acrescenta mais uma forma de controle sobre a ao
70. Como veremos mais detalhadamente adiante, no tpico relativo ao Estado
Democrtico de Direito como fundamento do direito eleitoral, o simples Estado
de Direito j se reveste de caractersticas valorativas (aspectos materiais) que
condicionam a lei a qual se submete e, tambm, a forma pelo qual aquele se
relaciona com esta (aspectos formais).
112
do Estado, procurando garantir, assim, o seu funciona-
mento conforme seus fundamentos.
Tal pretenso se concretizar medida que se atribui o
exerccio do poder poltico aos indivduos. Atrelando-se
o poder poltico aos indivduos, criado bice atuao
deste poder de modo desconectado de sua fnalidade.
Assim, o Estado Democrtico de Direito surge como
um desenvolvimento natural do Estado Moderno, haja
vista que aquele tem por fundamento de sua existncia
justamente a necessidade de garantir a consecuo dos
fundamentos de existncia deste.
Mas como efetivar a caracterstica democrtica des-
te Estado? Como propiciar o exerccio do poder poltico
pelos indivduos em um Estado Moderno? Como garan-
tir a participao de todos os indivduos na conduo do
Estado e de seu poder poltico?
De tais questes nascem a democracia representativa
e o direito eleitoral como respostas.
Democracia representativa
Seria tentador apenas defnir a democracia como o go-
verno do povo, a partir da origem etimolgica do ter-
mo, ou mesmo do entendimento consolidado no sen-
so comum. Ocorre que tal defnio mais complica do
que explica. Dela surgem inmeros questionamentos: o
que seria esse tal governo do povo? Como ele se daria?
Quais os critrios de sua demarcao? Quem, ou o qu,
seria o povo?
71
71. Sobre tais questionamentos, Donnely (2003, p. 189) comenta:
What, though, does it mean for the people of rule? Held [David Held, no livro
113
Inmeras outras questes surgem desta precria de-
fnio literal. Alis, tal defnio, quase vazia de con-
tedo ou pelo menos com espao sufciente para ser
preenchido por qualquer um que se queira, ou que seja
momentaneamente conveniente
72
, s se presta a anga-
riar prestgio a discursos demaggicos pouco ou nada
preocupados com a verdadeira natureza e fnalidade da
democracia.
Atualmente, deparamo-nos com os mais diversos sig-
nifcados atribudos a esse termo. Alguns completamente
Models of democracy] offers a partial list of common meanings:
1. That all should govern, in the sense that all should be involved in legis-
lating, in deciding on general policy, in applying laws and in governmental
administration.
2. That all should be personally involved in crucial decision making, that is to
say in deciding general laws and matters of general policy.
3. That rulers should be accountable to the ruled; they should, in other words,
be obliged to justify their actions to the ruled; they should, in other words,
be obliged to justify their actions to the ruled and be removable by the ruled.
4. That rulers should be accountable to the representatives of the ruled.
5. That rulers should be chosen by the ruled.
6. That rulers should be chosen by the representatives of the ruled.
7. That rulers should act in the interests of the ruled. (1987:3)
The last of these senses, although often encountered, is not a defensible concep-
tion of democracy. Bourbon Kings, Chinese emperors, and Ottoman sultans
all (contentiously yet plausibly) claimed to rule in the interest of the people.
Government for the people may or may not be democratic. Democracy, if that
term is to mean more than the absence of systematic misrule by a narrow seg-
ment of society, must be government of or by the people. Beyond benefiting
from good governance, the people in a democratic must be the source of the
governments authority to rule.
72. Ao procurar definir democracia, Donnely (2003, p. 188) desabafa: De-
mocracy is based on the freely expressed will of the people to determine their
own political, economic, social and cultural system and their full participation
in all aspects of their lives. This statement from the Vienna Declaration is as
good a place as any to begin. Like all plausible definitions, it is rooted in the
etymology of the term: the Greek demokratia, literally, rule or power (Kratos)
of the people (demos).
114
antagnicos entre si. Encontramos at mesmo correntes
opostas admitindo o mesmo signifcado, mas com en-
tendimentos e consequncias completamente distintas
73
.
Como se percebe, o uso da palavra no cotidiano poltico
banal e sofstico
74
. Atualmente, ao se dizer que algo
democrtico, ou em prol da democracia, agrega-se valor
e poder de seduo ao discurso, por mais que no saiba-
mos ao certo do que se trata o termo naquele contexto.
A depender de alguns argumentos polticos ou jur-
dicos da atualidade, tudo seria democrtico. De fato, em
nome da democracia j foram cometidos crimes imensos
73. Como podemos perceber deste testemunho de Hellen Wood: Resta saber
se todos os anticapitalistas querem dizer a mesma coisa quando falam de de-
mocracia, e se concordamos quanto s condies necessrias para se chegar a
ela. Creio poder afirmar que todos ns, pelo menos a maioria, consideramos
indispensveis as liberdades civis bsicas liberdade de expresso, de imprensa
e outras. Mas se isso tudo que esperamos no h diferena entre os anticapi-
talistas e os advogados liberais do capitalismo. Este livro parte da premissa
de que democracia significa o que diz o seu nome: o governo pelo povo ou
pelo poder do povo. provvel que essa definio to ampla de democracia
seja aceita pelos movimentos de oposio atuais, mas mesmo neste caso ainda
haveria diferenas. Por exemplo, governo pelo povo pode significar apenas que
o povo, como um conjunto poltico de cidados individuais, tem o direito de
voto. Mas tambm pode significar a reverso do governo de classe, em que o
demos, o homem comum, desafia a dominao dos ricos. A definio usada
neste livro se aproxima desta ltima, em que democracia significa o desafio
ao governo de classe. (WOOD, 2003, p. 7.)
74. Neste sentido, Kelsen (2000, p.25) acrescenta: Democracia a palavra de
ordem que, nos sculos XIX e XX, domina quase universalmente os espri-
tos; mas, exatamente por isso, ela perde, como qualquer palavra de ordem, o
sentido que lhe seria prprio. Para acompanhar a moda poltica, acredita-se
dever usar a noo de democracia da qual se abusou mais do que de qual-
quer outra noo poltica para todas as finalidades possveis e em todas as
possveis ocasies, tanto que ela assume os significados mais diversos, muitos
deles bastante contrastantes, quando a costumeira impropriedade do linguajar
poltico vulgar no a degrada deveras a uma frase convencional que no exige
sentido determinado.
115
contra ela prpria. At Estados totalitrios, a exemplo da
China, autodenominam-se democratas. Pode-se dizer
que ser democrtico, na Idade Contempornea, acabou
por virar fetiche.
Como salienta Kelsen (2000, p. 140), o smbolo da
democracia parece ter assumido um valor to universal-
mente reconhecido que a substncia da democracia no
pode ser abandonada sem a manuteno do smbolo. E
acrescenta: bem conhecida a afrmao sarcstica: se o
fascismo fosse implementado nos Estados Unidos, seria
chamado democracia.
75
O termo democracia, no decorrer da histria, so-
bretudo aps as duas grandes guerras mundiais, acabou
alado ao patamar de legitimador de governos. Essa le-
gitimao, que se d tanto internamente, como externa-
mente, absolutamente necessria para a existncia de
um Estado e o consequente uso de seu poder poltico.
Tendo em vista o status de aceitao que a adjetivao
democrtica agrega a um governo, nota-se o apelo que
esta condio acarreta para tal processo de legitimao.
76
75. Um adversrio mais perigoso do que o fascnio e o nacional-socialismo
o comunismo sovitico, que est combatendo o modelo democrtico sob a
mscara de uma terminologia democrtica. O smbolo da democracia parece
ter assumido um valor to universalmente reconhecido que a substncia da
democracia no pode ser abandonada sem a manuteno do smbolo. bem
conhecida a afirmao sarcstica: se o fascismo fosse implantado nos Estados
Unidos, seria chamado democracia. Consequentemente, o smbolo deve mu-
dar seu significado de modo to radical que possa ser usado para designar o
extremo oposto: na teoria poltica sovitica, a ditadura do partido comunista,
pretendendo ser a ditadura do proletariado, apresentada como democracia.
da maior importncia desvendar o mecanismo conceptual atravs do qual
foi possvel chegar a essa distoro do smbolo. (KELSEN, 2000, p. 140.)
76. Neste sentido os seguintes depoimentos:
The first and most fundamental element in legal relations between States is
116
Percebe-se que buscar uma defnio rigorosa de de-
mocracia tarefa complexa e polmica, que no cabe
aqui neste palco. Assim, optamos por apenas traar uma
pequena genealogia
77
do termo a fm de que nos seja pro-
whether a particular political community is recognized as a State, for only
in this way can that community engage as a State in legal relations with other
States. A second critical element concerns which political authorities within
a State are recognized as representing the State in the conduct of its foreign
relations. It is through those legal relations that the State can lawfully request
military support from other States; can lawfully refuse entry to foreign military
forces; can lawfully negotiate and conclude international agreements; can avail
itself of other rights accorded sovereigns under international law and vindi-
cate those rights before available international fora; and can demand respect
by other States of sovereigns acts exercised within its territory, including the
enactment and enforcement of civil and criminal laws. If it can be shown that
one of the criteria in recognition practice by States is whether the entity is
democratic, this would be powerful evidence that democracy is on its way to
becoming a global entitlement. When political authorities within a territory
seek to have the territory recognized as a new State, does the international
community consider it important that democratic institutions exist within
the territory? [...] Notions of democratic legitimacy have existed to varying
degrees in the practice of recognizing States and governments since the advent
of democracy. The traditional criteria for recognizing States and governments
have often been mixed with other factors. One of those factors is that demo-
cratic States, driven by deep-seated beliefs within their populace, tend to want
to promote democracy in other States. With the considerable increase in the
number of democratic States worldwide, there is little doubt that the trend is
toward greater use of democratic legitimacy as a factor in recognition practice,
and leads to certain tentative. (MURPHY, 2004, p.124.) [grifos nossos]
Human rights has become a hegemonic political idea in contemporary inter-
national society, a widely accepted standard of international political legitimacy
(see Chapter 3). Development and democracy also have a comparable status.
Regimes that do not at least claim to pursue rapid and sustained economic
growth (development), popular political participation (democracy), and
respect for the rights of their citizens (human rights) place their national and
international legitimacy at risk, (DONNELLY, 2003, p. 185.)
77. Segundo Pereira (1998, p. 112 e 350), a palavra genealogia deriva da juno
das palavras gregas (gnero, espcie, gerao, idade humana, idade, pe-
rodo da histria, famlia, raa, nao, povo, origem, nascimento, ptria, lugar
de nascena) e logoV (palavra, sentena, discurso, revelao). Percebe-se que
117
porcionado entendimento sufciente para a anlise pre-
tendida sobre a relao entre democracia participativa e
o direito eleitoral.
fato notrio que a democracia nasceu na Grcia, es-
pecifcamente em Atenas. Porm no falso afrmarmos
que o que se tomava por democracia poca era uma
concepo completamente diferente da que se entende
agora. O termo, naturalmente, foi se remodelando, adap-
tando-se a novas realidades, agregando novos valores e
novas necessidades
78
. Pode-se dizer, at , que existiram
a palavra tem estreito parentesco com a palavra (gnese, causa,
princpio, origem da vida, produo, gerao, criao, nascimento, origem,
ao de tornar-se por oposio a ser, conjunto dos seres criados, a criao, raa,
espcie, gerao, idade). Percebe-se, ainda, que tanto a palavra quanto
a palavra , so termos que indicam, de alguma forma, algo relativo a
um processo de existncia no tempo. Alm, ambas indicam um processo de
desenvolvimento no tempo, onde h um incio: uma origem que causa esse
desenvolver no tempo. [grifos nossos]
78. Neste sentido: Na Grcia antiga, o termo designava, basicamente, o regime
de demos. Por extenso, a palavra democracia, originada de demokratia, pas-
sou a significar poder popular, governo do povo. A democracia, nas cidades
gregas, s foi alcanada aps longa evoluo atravs do regime aristocrtico
(ver Aristocracia) e da tirania. Atenas representa, na Grcia, o modelo demo-
crtico, enquanto Esparta, o oligrquico (ver Oligarquia). Os fundamentos
da democracia grega eram: a igualdade diante da lei (isonomia); o direito de
receber honrarias por mrito pessoal e no pela hereditariedade; o direito de
apelar aos tribunais e assembleias; o direito de votar e de participar do go-
verno. Na prtica, entretanto, a democracia grega era exercida apenas pelos
cidados alguns milhares dela no participando os libertos, as mulheres,
os metecos e os escravos (ver Escravido). Do Imprio Romano at o sculo
XVIII, os ideais democrticos foram declinando no plano mundial vista do
sistema, quase universal, de Estados absolutistas (ver Absolutismo), nos quais
o rei exercia a autoridade baseada no direito de origem divina. No entanto,
em algumas regies europeias, constatou-se a ascenso de instituies polticas
representativas, com o aparecimento de parlamentos e outros organismos de
ndole democrtica. No sculo XVIII, o crescimento da indstria e do comrcio
e a consequente urbanizao fizeram surgir uma classe mdia e, tambm, uma
classe trabalhadora capazes de trazerem de volta a democracia. No obstante,
118
pelo menos trs concepes distintas sobre a democracia
no espao entre o seu nascimento e os dias de hoje: uma
original grega clssica , da poca antiga; uma poste-
rior, adaptada realidade feudal, com o predomnio da
Igreja; e uma surgida no decorrer da formao da Era
Moderna, como vimos, que o mais prximo que pode-
mos ter como democracia atualmente.
79
Na concepo clssica, democracia signifcava um
governo realizado pelos demoi (demoi), ou seja, as pes-
soas que faziam parte das demos (demoV), um tipo de
esse sculo conheceu certa forma de autoritarismo intitulada despotismo es-
clarecido, em especial na ustria e na Rssia. No surgimento democrtico,
papel importante desempenharam pensadores e literatos vinculados a um
movimento de ideias e princpios que se chamou iluminismo, cuja participa-
o nas origens intelectuais da Revoluo Francesa foi decisiva. O regime por
esta instaurado, de carter burgus e liberal (ver Burguesia e ver Liberalismo),
estabeleceu o princpio da democracia indireta. A concepo liberal teve o seu
mentor original no francs Benjamim Constant (1767-1830), que, no famoso
discurso A liberdade dos antigos comparada com a dos modernos, estabeleceu
os princpios da liberdade individual em relao ao Estado. Esses princpios
correspondem aos ideais burgueses. (AZEVEDO, 1999, p. 145.)
79. Na teoria contempornea da Democracia confluem trs grandes tradies
do pensamento poltico: a) a teoria clssica, divulgada como teoria aristotlica,
das trs formas de Governo, segundo a qual a Democracia, como Governo do
povo, de todos os cidados, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos
de cidadania, se distingue da monarquia, como Governo de um s, e da aris-
tocracia, como Governo de poucos; b) a teoria medieval, de origem romana,
apoiada na soberania popular, na base da qual h a contraposio de uma
concepo ascendente a uma concepo descendente da soberania conforme o
poder supremo deriva do povo e se torna representativo ou deriva do prncipe
e se transmite por delegao do superior para o inferior; c) a teoria moderna,
conhecida como teoria de Maquiavel, nascida com o Estado moderno na forma
das grandes monarquias, segundo a qual as formas histricas de Governo so
essencialmente duas: a monarquia e a repblica, e a antiga Democracia nada
mais que uma forma de repblica (a outra a aristocracia), onde se origina
o intercmbio caracterstico do perodo pr-revolucionrio entre ideais demo-
crticos e ideais republicanos e o Governo genuinamente popular chamado,
em vez de Democracia, de repblica. (BOBBIO, 1992, p. 319.)
119
agrupamento poltico da antiguidade grega. Poder-se-ia
atualmente dizer que a democracia era exercida apenas
pelos cidados gregos.
80
O fato que a democracia no era realizada pelo
povo, como atualmente se prega, mas apenas por certas
pessoas que compunham uma pequena parte da popula-
o grega. Assim, apesar da democracia se constituir em
oposio antiga aristocracia grega (que era um governo
de poucos), ela no representava um ideal to democr-
tico (na concepo moderna da palavra) quanto se es-
peraria atualmente. Somente eram aptos a participar das
decises polticas os homens gregos (flhos de gregos),
livres, maiores de 18 anos. A princpio podem parecer
pequenas as restries, mas, de fato, elas reduziam signi-
fcativamente a parcela das pessoas que realmente parti-
cipavam da democracia ateniense
81
.
80. Na verdade, o termo cidado no o mais adequado ao uso. O termo
correto seria politiks (polhthkoV - que faz parte da polis). Nossa noo de
cidade e de cidado no obstante estar constantemente em construo
muito diferente da antiga noo grega de polis e seu correspondente po-
litiks. Basta lembrar da diferena entre a concepo de homem grega como
animal poltico e a atual como indivduo para inferir seus reflexos na
diferenciao entre a noo de cidado e a de politiks.
81. Quanto a isso, vejamos o testemunho do historiador Starr (2005, p. 54),
da universidade de Michigan: Quem podia votar? primeira vista, a res-
posta a essa pergunta simples e pode ser resumida em uma s frase: todos
os cidados do sexo masculino com 18 anos ou mais. Na realidade, a questo
no to simples e leva diretamente a uma das mais srias acusaes contra
a democracia ateniense. [...] No seu auge, antes que a guerra do Peloponeso
comeasse a provocar estragos, a populao votante foi estimada em 43 mil.
A este nmero deve-se somar igual nmero de mulheres, crianas de menos
de 18 anos (que provavelmente deveriam ser to numerosas quanto a soma de
mulheres e homens adultos, luz dos princpios demogrficos aplicveis em
geral s populaes pr-industriais, tanto no mundo antigo como no moderno)
e talvez 60 mil escravos, ainda que apresentemos mais adiante certas reservas
quanto a este nmero. Da populao de Atenas (172 mil cidados mais 60 mil
120
Outro aspecto importante sobre o assunto que a po-
pulao de Atenas era pequena, sendo que a maioria dela
vivia em aldeias, e no nos centros urbanos. Esse fato,
por um lado, diminua consideravelmente o nmero de
participantes das reunies na gora, tendo em vista a
distncia que separava a maioria da populao do local
onde se travavam as discusses democrticas; por outro,
propiciava maior interao entre os que participavam
efetivamente da vida pblica, haja vista que se tratava de
um grupo reduzido de pessoas
82
.
Tais fatores foram cruciais para a viabilidade da de-
escravos), cerca de 18,5% podiam ser eleitores. Esta no parece ser uma estrutura
muito democrtica. Em consequncia disso, Atenas tem sido criticada com
frequncia nos ltimos anos por ser uma fraude, e os cidados eram uma
minoria ociosa que vivia do trabalho dos escravos uma viso que associa
duas abominaes atuais, elites e escravos. [grifos nossos]
82. A populao ateniense ocupava um territrio de cerca de mil milhas qua-
dradas, aproximadamente igual superfcie de Derbyshire, Rhode Island ou
Luxemburgo. Em nenhum momento, nos sculos V e IV a.C, mais do que
a metade da populao viveu nos dois centros urbanos: A cidade de Atenas
e a cidade porturia de Pireu. Durante quase todo o sculo V, na verdade, a
parte urbana da populao talvez estivesse mais prxima de um tero do total
do que da metade. O restante da populao vivia em aldeias como Acarneia,
Maratona e Elusis, e no em quintas, que sempre foram e ainda so raras no
Mediterrneo. Um tero ou a metade de que total? No se dispe de nmeros
precisos. Em uma estimativa bastante razovel, pode-se dizer que os cidados
adultos do sexo masculino nunca ultrapassaram 35 ou 40 mil. s vezes esse
total caa muito, como, por exemplo, quando Atenas foi dizimada pela peste nos
anos de 430 a 426 a. C. Com to poucos habitantes, concentrados em pequenos
agrupamentos residenciais e vivendo a tpica vida ao ar livre do Mediterrneo,
a antiga Atenas foi o modelo de uma sociedade onde todos se conhecem, que
talvez nos seja familiar em uma comunidade universitria, mas que agora des-
conhecemos em escala municipal, quanto mais em escala nacional. Conforme
Aristteles escreveu em uma passagem famosa (Poltica, 1326b 3-7): um Estado
composto por pessoas demais no ser um Estado verdadeiro, pela simples
razo de que dificilmente ter uma constituio verdadeira. Quem pode ser o
comandante de uma massa assim to imensa? E quem pode ser arauto, a no
ser Estentor? (FINLEY, 1988, p. 30.) [Nota: Estentor foi um hroi da Ilada.]
121
mocracia ateniense, embasada na participao direta.
Basta um exame superfcial de nossa atual conjuntura
para percebermos que no haveria possibilidade de nos-
sa democracia moderna ser igual ou ao menos similar
original grega.
83
A soluo para a inviabilidade da democracia em sua
forma clssica grega apareceu sob a forma de uma de-
mocracia indireta, ou seja, uma democracia onde no se
exercesse o poder poltico diretamente, mas por meio de
representantes eleitos para tal. A este sistema poltico d-
se o nome de democracia representativa.
84
Como veremos melhor adiante, existem srias crti-
cas a esse modelo de democracia. Por ora, vejamos um
83. Sobre as principais diferenas entre a democracia grega e a democracia mo-
derna: A democracia ateniense possui algumas caractersticas que a tornam
diferente das democracias modernas, ainda que estas se inspirem nela para se
constiturem. Em primeiro lugar, nem todos so cidados. Mulheres, crianas,
estrangeiros e escravos esto excludos da cidadania, que existe apenas para os
homens livres e adultos naturais de Atenas. Em segundo, uma democracia di-
reta ou participativa, e no uma democracia representativa, como as modernas.
Em outras palavras, nela os cidados participam diretamente das discusses e
da tomada de deciso, pelo voto.(CHAUI, 2002, p. 134.)
84. Uma observao interessante a esse respeito feita por Dahl (2009, p. 26):
Como vimos, para designar seus governos populares, os gregos inventaram
o termo democracia. Os romanos tiraram do latim o nome de seu governo, a
repblica, e mais tarde os italianos deram este nome para os governos populares
de suas cidades-estado. Voc poderia muito bem lembrar que democracia e
repblica se referem a tipos fundamentalmente diferentes de sistemas consti-
tucionais. Ou ser que essas duas palavras refletem justamente as diferenas
nas lnguas de que vieram? A resposta correta foi toldada em 1787, num en-
saio influente que James Madison escreveu para ganhar apoio constituio
norte-americana recentemente proposta. Um dos principais arquitetos dessa
constituio e estadista excepcionalmente conhecedor da cincia poltica de
seu tempo, Madison fazia uma distino entre uma democracia pura, que
uma sociedade consistindo num nmero pequeno de cidados, que se renem
e administram o governo pessoalmente, e uma repblica, que um governo
em que h um sistema de representao.
122
aspecto importante na caracterizao da democracia re-
presentativa, no testemunho de Finley (1988, p. 11):
Hoje, no mundo ocidental, todos se consideram de-
mocratas. Esse fato representa uma extraordinria
mudana com relao situao predominante h
cento e cinquenta anos. Em parte, isso se tornou pos-
svel graas a uma drstica reduo no elemento de
participao popular que havia na concepo original
grega de democracia.
Ora, se o contingente de participantes aumentou expo-
nencialmente da democracia grega para a nossa, repre-
sentativa, como pode haver uma drstica reduo da
participao popular?
Recorramos ao testemunho de Silveira (1998, p. 13):
A democracia no pode ser entendida, apenas, como
uma frmula poltica, restrita, to-s, escolha de
governantes por governados, para mandatos tempo-
rrios, com limites e responsabilidades no exerccio
do Poder, mas, antes, h de conceber-se como uma
forma de convvio social. Disse-o, admiravelmente,
William Kerbi: A democracia primeiramente social,
moral, espiritual e, secundariamente, poltica. uma
flosofa de vida, tanto quanto uma teoria de governo.
inspirada por um nobre conceito do indivduo, da
dignidade de sua pessoa, da respeitabilidade de seus
direitos, da exigncia de suas potencialidades para um
desenvolvimento normal.
123
Analisando a situao posta por Finley, luz das pa-
lavras de Silveira, percebemos que pode ter havido, sim,
uma drstica reduo da participao popular. Isso por-
que os atenienses, como visto, participavam efetivamen-
te, de forma direta, das discusses e tomadas de deciso
sobre toda a matria poltica. Atualmente, a participao
da maior parte dos cidados se reduz a votar nas eleies
de tempos em tempos. A reduo no foi quantitativa,
mas qualitativa.
A democracia representativa no pode se estruturar
apenas na realizao de eleies peridicas, sob pena de
inocuidade do modelo democrtico
85
. Ela deve ser base-
ada na efetiva e constante participao popular no exer-
ccio do poder poltico, de maneira consciente. S assim
o Estado Democrtico de Direito ter algum efeito na de-
fesa dos direitos fundamentais do homem
86
.
85. Neste sentido: In the modern State, popular consent is made manifest
through competitive elections. International laws modest approach to demo-
cratization, therefore, has focused on electoral processes. This in no way sug-
gests that other political or social rights are not seen as essential to the process
of democratization; the UN Secretary-General, in particular, has argued that
democratization must begin but cannot end with competitive elections. And as
noted elsewhere in this volume, human rights are frequently described by
international actors in contradistinction to democracy. What this view does
suggest is that international actors democratic goes are to be effectuated. In
a world of highly diverse states, achieving consensus on even this minimal
understanding of democracy would be a remarkable event. (FOX, 2004, p.
48.) [grifos nossos]
86. Neste sentido: Democracy does not provide a guarantee against civil war.
It merely provides the only Known process by which a genuine social discourse
can proceed among persons legitimately representing the spectrum of opinions
and interests in a community or polis. Without it, there can never be a genuine
social convergence. Democracy, as etymology suggests, concerns the role of
people to be consulted and to participate in the process by which political va-
lues are reconciled and choices made. Some aspects of this right are therefore,
nowadays, encompassed in human rights instruments. Rights to free speech,
124
Como instrumento pblico de concretizao dos fun-
damentos do Estado por meio da democracia represen-
tativa, surge o Direito Eleitoral. A seguir, buscaremos
entender o que vem a ser o Direito Eleitoral, qual o seu
objeto, qual o bem jurdico que ele visa tutelar, qual o seu
papel na democracia participativa
87
.
press, religion, and assembly are examples of associational and discursive en-
titlements which are already formulated in conventions. Even more recently,
we have seen the emergence, specifically, of an internationally constituted right
to electoral democracy that builds on the human rights canon, but seeks to
extend the ambit of protected rights to ensure meaningful participation by the
governed in the formal political decisions by which the quality of their lives
and societies are shaped. (FRANCK, 2004, p. 25.)
87. ordem democrtica, a par das garantias e direitos dos cidados, cabe criar
ou consolidar instrumentos eficientes que assegurem a efetiva participao
de todos nos bens e benefcios sociais [...]. [...] a democracia poltica e repre-
sentativa encontra no sistema eleitoral forma significativa de manifestao de
sua legitimidade, quer pela lisura na composio do corpo eleitoral, quer no
sufrgio esclarecido, consciente e livre de qualquer forma de coao ou pres-
so, quer pela apurao dos votos sem ilegalidade nem fraude. (SILVEIRA,
1998, p. 14 e 15.)
125
Dentre as inmeras defnies de Direito Eleitoral exis-
tentes, merece destaque a do professor Ribeiro (1996,
p.4), tanto pelo rigor na abrangncia do termo, quanto
pela objetividade, clareza e conciso de seu texto, algo
raro em tempos onde a memria privilegiada em detri-
mento do pensar:
O Direito Eleitoral, precisamente, dedica-se ao estudo
das normas e procedimentos que organizam e discipli-
nam o funcionamento do poder de sufrgio popular, de
modo a que se estabelea a precisa equao entre a von-
tade do povo e a atividade governamental.
No obstante aspectos preciosos expostos, cabe uma res-
salva a esta bem-sucedida defnio. Percebe-se que, dado
o carter didtico de sua obra, tal defnio parte apenas
da dimenso cientfca do Direito Eleitoral, tratando-o
como rea de conhecimento da cincia do Direito.
Ampliando-se a defnio de forma a tentar abarcar
uma esfera maior do fenmeno jurdico eleitoral, pro-
pomos afrmar, neste ponto de nossa investigao, que o
Direito Eleitoral o ramo especial do Direito Poltico que
se ocupa dos meios necessrios tutela do sufrgio popu-
Direito eleitoral brasileiro
126
lar, de forma a que se estabelea uma necessria correla-
o entre a vontade do povo e a atividade governamental,
assim garantindo a soberania popular e preservando o
Estado Democrtico de Direito.
88
Aferido seu conceito necessrio identifcao de
nosso objeto de anlise , cumpre-nos agora analis-lo
em sua estrutura, a partir do arcabouo terico j cons-
trudo, de nosso ordenamento jurdico, e da doutrina
sobre o tema. A anlise tem por fm colher novos dados
para a visada identifcao de seus fundamentos.
Objeto do Direito Eleitoral e bem jurdico por
ele tutelado
Aqui se buscar entender melhor o Direito Eleitoral a
partir da busca pelo seu objeto e da identifcao do
88. Na verdade, talvez exista uma imperfeio na denominao Direito elei-
toral. Tal ramo do Direito poderia ser melhor denominado Direito de sufr-
gio. Isso porque a palavra eleitoral diz respeito a eleio, que apenas uma
das formas de se exercer a soberania por meio do sufrgio. Existe ainda outra
forma: a votao. A primeira propicia o exerccio indireto da soberania, quando
o povo elege (escolhe) seus representantes. A segunda propicia o exerccio direto
da soberania, quando o povo diretamente vota (decide) as questes que lhe so
impostas, a exemplo do referendo e do plebiscito. Posto que o Direito eleitoral
no se ocupa apenas do primeiro tipo de emprego do sufrgio, mas dos dois,
resta incompleta e amputada a sua designao. Nesse sentido, Bonavides (1986, p.
269) explica: O sufrgio o poder que se reconhece a certo nmero de pessoas
(o corpo de cidados) de participar direta ou indiretamente na soberania, isto
, na gerncia da vida pblica. Com a participao direta, o povo politicamente
organizado decide, atravs do sufrgio, determinado assunto de governo; com
a participao indireta, o povo elege representantes. Quando o povo se serve
do sufrgio para decidir, como nos institutos da democracia semidireta, diz-se
que houve votao; quando o povo porm emprega o sufrgio para designar
representantes, como na democracia indireta, diz-se que houve eleio. No pri-
meiro caso, o povo vota sem eleger, no segundo caso o povo vota para eleger.
127
bem jurdico por ele tutelado. De posse dos resulta-
dos dessa pesquisa, ser mais fcil entender a funo
da Justia Eleitoral, matria na qual nos deteremos no
prximo tpico.
Objeto do Direito Eleitoral
Como se depreende de todo o visto at aqui, o objeto
do Direito Eleitoral s pode ser a tutela dos meios pe-
los quais a democracia fundada na soberania popular
efetivada, garantindo o exerccio da cidadania pela re-
alizao plena dos direitos polticos de participao no
funcionamento do Estado, evitando, assim, o vcio e o
erro no processo representativo eleitoral, bem como ga-
rantindo o exerccio dos cargos pblicos derivado efe-
tivamente da vontade popular. Com isso, percebe-se a
prpria legitimao dos poderes do Estado a partir do
ideal fundamentado no Estado Democrtico de Direito.
De forma prtica, tal objeto se concretiza em um le-
que amplo de responsabilidades e atribuies. Nas pala-
vras de Ribeiro (1996, p. 14):
Cabe ao Direito Eleitoral cuidar do disciplinamento
das medidas tendentes distribuio do corpo eleitoral
[...]. Depois disso, tem de se promover a organizao do
sistema eleitoral, dando maior ou menor amplitude
participao, dando margem essas providncias a uma
das duas categorias de sufrgio universal e restrito.
Pertence tambm ao mbito do Direito Eleitoral ditar
as normas que se devem cumprir quanto forma do
voto, conforme se flie forma secreta ou pblica [...],
incumbe ao Direito Eleitoral prescrever as normas que
128
permitiro a aplicao do sistema majoritrio ou do sis-
tema proporcional [...]. Cumpre tambm tratar das pres-
cries sobre a aquisio e perda da capacidade poltica
ativa e passiva, isto , de votar, e ser votado. Tudo isso
feito, h a necessidade de espraiar as suas atividades so-
bre o funcionamento e a responsabilidade dos partidos
polticos [...]. Aps previstos esses pr-requisitos institu-
cionais do embate eleitoral, passa a cogitar do processo
eleitoral propriamente dito, que envolve um conjunto de
atos, que compreende desde a organizao e distribuio
das mesas receptoras de votos, a realizao e apurao de
eleies, at o reconhecimento e diplomao dos eleitos.
To grande a esfera de atuao do Direito Eleitoral, e
to diversos so os procedimentos necessrios sua con-
secuo, que se faz necessrio um forte aparelhamento
capaz de manter controle sobre todo o processo de apli-
cao do Direito Eleitoral. Da a necessidade da criao
de uma justia especializada: a Justia Eleitoral.
E mais: em virtude de suas peculiaridades e de sua
importncia, surge a necessidade, tambm, da criao
de um aparato legal especfco, que d conta dos proce-
dimentos administrativos relativos s eleies, dos pro-
cedimentos de natureza processual aplicados aos litgios
resultantes do processo eleitoral e, ainda, dos ilcitos elei-
torais e suas consequncias penais e administrativas.
Quanto aos ilcitos eleitorais, faz-se oportuno aqui
depoimento do professor Ribeiro (1996, p. 14) sobre o
assunto:
Acrescente-se que o Direito Eleitoral possui o seu pr-
prio elenco de tipifcaes delituosas, haurindo tam-
129
bm, evidente, conceitos bsicos da Cincia Penal,
para que os possa utilizar proveitosamente na esfera
eleitoral, compondo uma categoria de crimes extrava-
gantes ou especiais os crimes eleitorais.
Neste ponto, cabe o exame da natureza de tais crimes,
bem como do bem jurdico tutelado pela ordem penal
eleitoral. Examinemos.
Natureza dos crimes eleitorais e seu objeto ju-
rdico
O objetivo de aqui se investigar a natureza dos crimes
eleitorais justamente identifcar o seu objeto jurdico,
ou seja, qual o bem jurdico que se quer proteger por
meio da legislao penal eleitoral. Assim poderemos ve-
rifcar a coerncia da atuao da justia eleitoral com o
objeto a ser por ela tutelado.
Natureza dos crimes eleitorais
Ribeiro (1996, p. 554), acerca da natureza dos crimes
eleitorais, bem enftico:
Os crimes eleitorais compem subdiviso dos crimes
polticos. Entre ns, brasileiros, comportaria, presente-
mente, dividir os crimes polticos em duas categorias,
estando a primeira ocupada pelos crimes militares f-
cando a segunda com os crimes eleitorais.
Ribeiro segue explicando que, apesar de que nenhuma
das duas categorias de crimes polticos foi expressamen-
130
te tida como tal pelo Direito Positivo Brasileiro, tecnica-
mente o carter poltico delas somente se ajusta, inclusi-
ve estando, as duas, repartidas entre duas reas jurisdi-
cionais especializadas: a eleitoral e a militar. E acrescenta
que nossa Constituio Federal, em seu artigo 129, d
competncia aos juzes federais para processar e julgar
os crimes polticos, ressalvada a competncia da Justia
Militar e da Justia Eleitoral.
Porm, o maior argumento do professor Ribeiro
(1996, p. 554) para a incluso dos crimes eleitorais como
subdiviso dos crimes polticos vem adiante:
A incluso dos crimes eleitorais na esfera de especiali-
zao poltica no apenas decorrente da atitude assu-
mida pelo legislador ptrio, retirando-os do contexto
do Cdigo Penal, fazendo-os inserir em captulo da co-
difcao eleitoral, mas devido prpria natureza dos
crimes eleitorais, afetando diretamente as instituies
representativas, estruturas bsicas da organizao pol-
tica democrtica, que impe sejam reconhecidos como
crimes polticos [grifos nossos]
Como visto anteriormente, o Estado Democrtico de
Direito depende da soberania popular, que exercida
com a cidadania, principalmente por meio do poder de
sufrgio, em processo democrtico de votao ou eleio
(processo eleitoral). Um ataque a tal processo de partici-
pao nas instituies representativas signifca um ata-
que ao prprio Estado Democrtico de Direito. Tal ata-
que mina seus fundamentos e o destitui da legitimidade
necessria para sua prpria existncia. No testemunho
do professor Ribeiro (1996, p. 554):
131
No Estado organizado democraticamente, o primeiro
e originrio poder reside no povo, mais precisamente,
no corpo de cidados que constitui o poder de sufrgio.
Esse poder de sufrgio nos termos do caput do art. 14, da
Constituio Federal, constitui o rgo poltico primrio,
pelo qual, de modo exclusivo, exercida a soberania
popular, para deliberar diretamente ou eleger represen-
tantes. Em qualquer das duas alternativas democrticas
fca a legitimidade governamental a depender da mani-
festao do povo, considerado em sua expresso polti-
ca, isto , do corpo eleitoral. [grifos nossos]
Como muito bem salientado pelo professor Ribeiro
(1996, p. 555), o sufrgio popular se constitui no rgo
poltico primrio, de onde todo o aparato governamental
deriva e se legitima. O sufrgio popular a energia po-
ltica que vai assegurar o funcionamento de instituies
governamentais.
Percebe-se que no h como haver crime poltico
maior do que o que ataca o prprio fundamento de um
Estado. Ao atacar o processo eleitoral, ataca-se o prprio
Estado em seu mago. Minam-se suas foras, sua energia
vital, sua capacidade de existir e se mover.
89
89. Pertinentes questo os seguintes depoimentos de Fvila Ribeiro sobre o
pensamento de outros doutrinadores:
Observa Adolphe Prins que, para caracterizao dos crimes polticos, ne-
cessrio definir a ordem poltica, a qual dever ser considerada nos aspectos
externo e interno. Do ponto de vista externo compreende a independncia
da nao, a integridade do territrio, as relaes de uns Estados com outros.
E no aspecto interno envolve a forma de governo, os poderes polticos e os
direitos polticos dos cidados. Detendo-se, a seguir, sobre as infraes po-
lticas contra a ordem interior, Prins assinala que se ocupam por um lado
das que atentam contra a existncia ou funcionamento dos poderes pol-
ticos; e por outro, das que perturbam ou entravam a interveno popular
132
De todo o exposto, no h que se chegar a outra con-
cluso seno a de que os crimes eleitorais so crimes
polticos.
Objeto jurdico dos crimes eleitorais
Segundo Damsio de Jesus (2006, p 179), em seu curso
de Direito Penal, objeto jurdico do crime o bem ou
interesse que a norma penal tutela. o bem jurdico, que
se constitui em tudo o que capaz de satisfazer as neces-
sidades do homem, como a vida, a integridade fsica, a
honra, o patrimnio etc..
A fm de se examinar a efccia de uma norma, faz-
se necessrio verifcar o seu objeto qual o fm a que
se destina. No caso das normas penais, seu fm tutelar
um determinado bem jurdico a que o legislador deu im-
portncia, tendo como necessria a sua proteo. O bem
jurdico, como muito bem ressalta o professor Damsio,
tudo o que satisfaz as necessidades do homem. Sejam
elas de que natureza forem, como se depreende de seus
exemplos, que, talvez propositadamente, se referem a es-
feras distintas de necessidades humanas.
Como visto, os crimes eleitorais, tendo nature-
za poltica, atacam o prprio Estado Democrtico de
na formao dos seus poderes, afetando os direitos polticos dos cidados.
(Adolphe Prins, Science Penale et Droit Positif, Paris, Bruylant-Cristophe &
Cie, Ed., 1899, pp. 90-94.) (RIBEIRO, 1996, p. 555.) Nesse sentido ressalta
Vicenzo Manzini que o crime eleitoral tem o carter objetivamente pol-
tico porque desferido contra a personalidade do Estado e porque ofende
a interesse poltico do cidado, atingindo contempornea e prevalecente-
mente a interesse poltico do Estado (Vincenzo Manzini, Tratado di Diritto
Penale Italiano, Torino, Unione Tip. Ed. Toriniense, 1950, vol. IV, p. 549.)
(RIBEIRO, 1996, p. 555.)
133
Direito, de onde se origina todos os direitos individuais
e coletivos, bem como toda e qualquer proteo a tais
direitos. incontestvel que no h de se falar em di-
reitos sem um Estado o qual os garanta. No h que se
falar em qualquer bem jurdico sem um ordenamento
jurdico respaldado em instituies polticas legitima-
das que os funde.
Percebe-se que, em um Estado Democrtico de
Direito, o primeiro bem jurdico a ser preservado o
prprio sufrgio popular, que se constitui em direito po-
ltico bsico ao cidado, por um lado, e alicerce a todas as
instituies polticas por outro.
No Estado Democrtico de Direito, o sufrgio popu-
lar origem de todo o poder estatal e meio pelo qual a
soberania popular exercida. Assim, de interesse do
Estado pois dele deriva toda a sua fundamentao e
possibilidade de existncia e interesse do cidado
pois por meio deste que o cidado exerce os seus direi-
tos polticos e, assim, a sua participao no Estado.
Desta forma, o sufrgio popular se frma como o
bem jurdico tutelado pela lei penal eleitoral. Bem ju-
rdico principal que interessa tanto ao cidado quanto
ao Estado. Bem jurdico sem o qual no h que se falar
em nenhum outro bem jurdico dentro de um Estado
Democrtico de Direito. E da a necessidade de sua tu-
tela, tanto pela legislao penal eleitoral, quanto pelo
direito eleitoral como um todo, valendo-se, para tanto,
do aparato estatal representado pelo Ministrio Pblico
Eleitoral e pela Justia Eleitoral.
134
Funo da Justia Eleitoral brasileira
Vejamos o testemunho de Silveira (1998, p. 20):
Com efeito, consoante se inseriu no histrico manifesto
da Aliana Liberal de 1930, as melhores leis sero in-
cuas ou danosas, se ao seu lado no houver justia or-
ganizada que as cumpra e faa cumprir integralmente.
Dela disse, signifcativamente, Assis Brasil, na justifca-
tiva do Anteprojeto do Cdigo Eleitoral de 1932, verbis:
Bom regime eleitoral e Juzes moral e intelectualmente
capazes de aplicar, no s essa, como todas as leis mas
essa antes de todas eis a condio primria, irredutvel,
de verdade da Democracia e de prosperidade do pas,
em todas as direes, materiais e espirituais. Povo que
disponha de seguro instrumento eleitoral e de Justia
esclarecida e independente est no caso de se dar ins-
tituies e de constituir os governos de sua preferncia.
[...]. Quanto mais se pesarem os princpios e as circuns-
tncias e se cotejarem aqueles com estas, mais se conso-
lidar a convico de que a verdade est na Democracia
e o pensamento democrtico est cristalizado no lema
imortal: REPRESENTAO E JUSTIA. Assume, nes-
se sentido e por isso mesmo, no Brasil, posio de maior
importncia, para a democracia, a Justia Eleitoral, ao
guardar o processo eleitoral, zelando pela organizao,
direo e vigilncia dos atos relativos ao sufrgio, em
ordem a que a vontade geral se manifeste, sem fraude
nem violncia, na conformidade das leis, que ho de ser
interpretadas e aplicadas, na perspectiva da realizao
dos valores da democracia, indissociveis dos superio-
res interesses do bem comum.
135
Dentro dos ttulos reservados aos direitos fundamen-
tais, o constituinte de 1988 disciplinou os direitos polti-
cos, regulamentando as condies para o exerccio destes
em seus artigos 14,15,16 e 17.
Tais direitos de cidadania, destinados a possibilitar a
participao dos cidados na vida poltica do pas, devem
ser compreendidos no sentido mais amplo, e no apenas
na noo imediata de participao como autorizao
legal para votar e ser votado, ou para fliar-se a partido
poltico. Muito alm, englobam a garantia de um pro-
cesso democrtico verdadeiro, onde as liberdades de in-
formao e de escolha sejam realmente usufrudas pelos
cidados. Deve-se, portanto, impedir os vcios que pos-
sam comprometer a liberdade de escolha dos cidados
ou prejudicar a integridade das informaes referentes
ao processo eleitoral, no que se refere aos candidatos e
suas propostas polticas.
Para resguardar a lisura do processo democrtico, bem
como a efccia dos direitos polticos dos cidados, com
vistas consecuo do Estado Democrtico de Direito,
o Direito Eleitoral Brasileiro tutela e regulamenta todos
os procedimentos necessrios a esse fm, tais como, den-
tre outros, o alistamento dos eleitores, a forma de cons-
tituio dos partidos polticos, o processo eleitoral em
si, o modo de ocupao dos cargos polticos, a questo
da propaganda eleitoral, os critrios para apurao das
eleies, a diplomao dos eleitos, a soluo dos litgios
decorrentes de todo esse processo, a tipifcao de crimes
eleitorais e aplicao de suas respectivas penas.
Percebe-se o Direito Eleitoral como fundamental
manuteno de toda ordem estatal, que, a teor de nossa
Constituio, se funda na soberania popular.
136
Diante de todo o exposto, sobretudo tendo em vista o
bem jurdico tutelado pelo direito eleitoral a soberania
popular exercida pelo sufrgio
90
, revela-se evidente a
funo da Justia Eleitoral. Cabe a ela
91
tutelar todo o pro-
cesso necessrio efetivao poltica da vontade popular,
seja de maneira direta, como nos plebiscitos e referendos,
seja no processo de representao poltica consubstancia-
do nas eleies com vistas ao preenchimento dos cargos
eletivos polticos.
Seu objetivo garantir o exerccio da cidadania e a le-
gitimidade da vontade do povo, no s de maneira formal,
mas em sentido amplo, coibindo abusos que possam levar
ao desvirtuamento da vontade do eleitor. Isso porque tais
abusos se traduzem em ataque direto soberania popular
e ao Estado Democrtico de Direito, ambos fundamentos
de nossa Constituio, imprescindveis proteo de nosso
ordenamento jurdico e ainda de todo e qualquer direito.
Mais do que gerenciar os procedimentos administrati-
vos necessrios a tais consultas populares, julgar os litgios
delas decorrentes, promulgar os resultados e diplomar os
eleitos, cabe Justia Eleitoral funo maior: tutelar o su-
frgio popular. E tal escopo s se alcanado garantindo
que os resultados obtidos em cada exerccio do sufrgio
sejam, de fato, frutos da vontade popular. Em outras pa-
lavras, que sejam isentos de vcios, descaminhos, fraudes
e de quaisquer formas de aleijamento da vontade popular,
ou de quaisquer artifcios que a levem a erro.
92
90. Fonte da energia vital existncia e funcionamento do Estado Democr-
tico de Direito.
91. E ao Ministrio Pblico Eleitoral.
92. A Justia Eleitoral , portanto, o instrumento de garantia da seriedade do
processo eleitoral, seja no comando das eleies, evitando abusos e fraudes,
137
Assim como nosso Estado Democrtico de Direito e
todo o seu aparato legal so procedentes de determina-
dos fundamentos flosfcos e por eles condicionados, o
exerccio de seu poder poltico e a aplicao do seu di-
reito tambm o so, visto que, atendendo ao imperativo
da razo, encontram-se em um encadeamento lgico, ou
seja, possuem um nexo de causalidade.
A aplicao do direito concluso de um raciocnio
que necessariamente deve decorrer de suas premissas,
sob pena de sua invalidao e consequente perda de sua
legitimidade. Logo, em ltima anlise, percebemos que
os fundamentos que do causa e condicionam o direito
so, necessariamente, os mesmos que do causa e condi-
cionam a sua aplicao.
No seria diferente com o Direito Eleitoral
93
. Tanto
o seu processo legislativo quanto a sua aplicao pelo
Judicirio ou pelo Ministrio Pblico devem ser coeren-
tes com os discursos flosfcos acatados pela sociedade
seja na preservao de direitos e garantias por meio da fixao e fiel obser-
vncia de diretrizes claras e firmes, fundamentadas em lei. (NASCIMENTO,
1998, p. 23.)
93. Tomando-o aqui como todo o aparato institucional, legal e doutrinrio que
se ocupa da tutela do exerccio do sufrgio.
Fundamentos do direito
eleitoral brasileiro
138
como fundamentos da matria, motivo pelo qual urge a
necessidade de encontr-los.
Tais fundamentos devem ser desvelados por meio do
estudo das normas constitucionais, buscando inferi-los
a partir da identifcao de caractersticas que levem ao
entendimento do modelo de Estado adotado e, conse-
quentemente, aos ideais flosfcos dos quais este de-
corrente. Para tanto, como se pode perceber, faz-se ne-
cessrio o domnio de um arcabouo de conhecimentos
multidisciplinares, que fornea as ferramentas necess-
rias ao operador do direito nesse mister.
No presente tpico apresentamos alguns discursos
flosfcos que consideramos terem sido acatados por
nossa Constituio como fundamentos de nosso Direito
Eleitoral. Como dito, no se trata de rol exaustivo.
Cada discurso encontra-se sintetizado em uma deno-
minao, que o representa. No demais salientar que os
fundamentos, como tomados aqui neste espao, so as
prprias ideias flosfcas em sua argumentao. Assim,
a defnio de um termo, a criao de uma categoria flo-
sfca, a argumentao em defesa de uma afrmao ou
qualquer outro elemento que explique, d causa ou razo
de ser ao modelo eleitoral adotado por nossa constitui-
o, constitui-se a ns como um fundamento do Direito
Eleitoral Brasileiro.
Encontramos dez fundamentos que consideramos b-
sicos e imprescindveis existncia, desenvolvimento e
aplicao do Direito Eleitoral Brasileiro. Todos eles po-
dem ser inferidos de nossa Constituio Federal. Estes
so os fundamentos: (1) do contratualismo; (2) da legiti-
midade (ambos inferidos do prembulo); (3) do Estado
Democrtico de Direito; (4) da soberania popular; (5) da
139
cidadania; (6) da dignidade da pessoa humana; (7) do
pluralismo poltico e do pluripartidarismo; (8) da re-
presentao (todos inferidos do art. 1
o
); (9) do sufrgio
universal (inferido do art. 14); e fnalmente (10) da can-
didatura (tambm inferido do art. 14). Tais fundamentos
foram aqui listados e desenvolvidos seguindo ordem
na qual, em nossa Constituio Federal, a eles aparecem
referncias. Vejamos:
Do contratualismo
O prembulo de nossa Constituio Federal a introduz
com as seguintes palavras:
94
94. A ttulo de esclarecimento, servimo-nos da explicao do professor Acqua-
viva (1982, p. 93) sobre o assunto:
Quanto ao prembulo das constituies, vejamos, inicialmente, a etimologia
do vocbulo prembulo. Ele vem do latim pre + ambulare, vale dizer, que
precede, que vem antes. O prembulo de um contrato ou de uma lei, tam-
bm chamado exposio de motivos, ou de uma constituio, destina-se a
explicar seu contedo, revelando a posio ideolgica do legislador e orientando
o intrprete do texto legal. Com efeito, como dissemos, at um contrato entre
particulares apresenta um prembulo, ou seja, o nome das partes, sua identi-
ficao, os esclarecimentos indispensveis formalizao do pacto configuram
um prembulo. Nas constituies, o prembulo aparece com as constituies es-
critas, consistindo numa declarao preliminar, na qual o legislador constituinte
esclarece a origem do documento e seus princpios informadores. Via de regra,
o prembulo apresenta trs dados bsicos: a) declarao referente origem da
constituio; b) definio de seus princpios polticos; c) invocao divina. Na
declarao referente origem da constituio, o legislador esclarece a fonte da
qual emana a lei magna, se esta fruto de uma vontade unipessoal, autocr-
tica ou se acha fundamentada numa assembleia popular. Na definio de seus
princpios polticos, o legislador esclarece suas ideias polticas, inspiradoras do
prprio contedo da constituio. Como exemplo, poderamos mencionar o
seguinte trecho do prembulo da Constituio dos Estados Unidos da Amrica
do Norte: Ns, o povo dos Estados Unidos, com o propsito de formar uma
Unio mais perfeita, estabelecer a Justia, garantir a tranquilidade interior,
140
Ns, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrtico, destinado a assegurar o exerccio
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguran-
a, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a jus-
tia como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia so-
cial e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a soluo pacfca das controvrsias, promulgamos,
sob a proteo de Deus, a seguinte CONSTITUIO
DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
(Constituio Federal de 1988.)[grifos nossos]
Nesse texto se faz manifesta uma reunio de pessoas con-
correndo para um determinado fm: instituir um Estado
democrtico. No so pessoas quaisquer que se renem,
mas pessoas especiais os representantes do povo brasi-
leiro. Por outro lado, sua reunio destinada no a insti-
tuir qualquer Estado democrtico, mas um especfco, que
atenda aos preceitos por eles elencados. Percebe-se a carac-
terizao de um contrato social onde o povo outorgou po-
atender defesa comum, fomentar o bem-estar geral e assegurar para ns
os benefcios da liberdade, bem assim de nossa propriedade, promulgamos e
estabelecemos esta Constituio... Trs elementos exsurgem do texto acima:
o Estado federal, a ideologia democrtica e o liberalismo. [...] O prembulo
um dos elementos de aplicabilidade da Constituio, sendo os restantes a
promulgao, a publicao, o momento inicial da vigncia da lei magna e as
disposies transitrias. Uma vez que o prembulo um dado que precede
o articulado propriamente dito das Constituies, constata-se que, desde a
mais alta Antiguidade, toda lei fundamental, ao lado do articulado, apresenta
as justificaes de sua vigncia, de sua imposio, enfim. Com o advento das
constituies escritas, o prembulo passou a ser frequentemente invocado pelo
poder constituinte, com o fito de esclarecer a origem da lei e seus princpios
bsicos. [grifos nossos]
141
deres a determinados representantes para, em seu nome, e
a partir de sua delegao de poderes, instituir um Estado
democrtico que neste ponto de nosso estudo j pode-
mos traduzir por um poder poltico centralizado, impes-
soal, regrado pelo uso da razo para um fm determinado,
e sujeito ao controle pelo exerccio da soberania popular.
H que se ressaltar que, apesar de parecer ser o contra-
tualismo fruto do ideal democrtico, na verdade tais en-
tes, por mais que mantenham relaes prximas e sejam
coerentes, no so necessariamente complementares.
Vimos anteriormente dados que falseiam essa relao de
necessariedade. O pensamento poltico de Hobbes, por
exemplo, contratualista, porm, no democrtico (ao
contrrio, defende o absolutismo). Vimos que existem
Estados ditatoriais (assim, no democrticos) que so
legitimados por teorias contratualistas (e inclusive se au-
todenominam Estados de Direito). Por outro lado, exis-
tem, tambm, Estados democrticos que no so funda-
dos em teorias contratualistas, apesar de que, em ltima
instncia, o contratualismo nos parece ser o fundamento
natural para um Estado democrtico.
95
Assim, a afrmao de que nosso Estado Democrtico
de Direito (e consequentemente nosso Direito Eleitoral)
tem como fundamento o contratualismo no procede da
95. Sobre o assunto, acrescentamos o testemunho de Bobbio (1992, p. 322):
A doutrina da soberania popular no deve ser confundida com a doutrina
contratualista (v. CONTRATUALISMO), seja porque a doutrina contratu-
alista nem sempre teve xitos democrticos (pense-se em Hobbes, para dar
um exemplo comum, mas no se esquea Kant que contratualista mas no
democrtico), seja porque muitas teorias democrticas, sobretudo na medida
em que se caminha para a idade contempornea, prescindem completamente
da hiptese contratualista. Do mesmo modo que nem todo o contratualismo
democrtico, assim nem todo o democratismo contratualista.
142
constatao de que nosso Estado um Estado democr-
tico. Antes, procede da origem declarada deste, ou seja
da constatao de que um acordo de vontades entre os
indivduos que formam o povo brasileiro que gerou
nosso Estado.
Como bem sintetiza Bobbio (1992, p. 272):
Em sentido muito amplo o Contratualismo compreen-
de todas aquelas teorias polticas que veem a origem da
sociedade e o fundamento do poder poltico (chama-
do, quando em quando, potestas, imperium, Governo,
soberania, Estado) num contrato, isto , num acordo
tcito ou expresso entre a maioria dos indivduos, acor-
do que assinalaria o fm do estado natural e o incio do
estado social e poltico.
Percebemos no prembulo de nossa Constituio um
acordo explicitamente expresso, em que os elementos do
contrato surgem de forma clara e defnida: as partes os
indivduos que compem o povo, que se apresentam por
seus representantes e o objeto o fm de instituir um
determinado Estado democrtico.
Podemos, ainda, perceber o contrato social como fun-
damento de nosso Estado por excluso dos demais tipos
de origem do poder poltico. No decorrer da histria do
pensamento poltico encontramos trs principais teorias
sobre o assunto, que remontam a Plato e Aristteles.
As duas primeiras, de concepo voluntarista indivi-
dual, podem ter suas sementes encontradas no dilogo
Politeia de Plato
96
. A primeira (de origem sofstica)
96. Normalmente traduzido equivocadamente para nosso idioma por A Re-
143
afrma que a origem do poder poltico a fora, partin-
do do pressuposto de que a justia nada mais do que a
imposio da vontade de quem o mais forte. A segunda
que pode ser considerada precursora da teoria contra-
tualista moderna afrma que os homens, para se prote-
gerem da violncia (consubstanciada na ideia de justia
sofstica anteriormente exposta), chegam concluso de
que necessrio entrar em acordo para promover a paz e
o bem comum. A terceira, esta j de Aristteles, diferen-
temente das duas de Plato expostas anteriormente, no
se funda no indivduo e sua vontade, mas na prpria na-
tureza poltica humana. Tal teoria, conhecida como or-
gnica, afrma que a sociedade um fato natural, sendo
o homem um ser poltico por natureza. Assim, o poder
poltico no passaria de uma caracterstica natural da so-
ciedade, que sempre existiu e sempre existir.
97
pblica. De tudo o que foi visto anteriormente, percebe-se que uma repblica
algo muito diferente de uma plis.
97. Neste sentido, Bobbio (1992, p. 277) explica: O contratualismo no a
nica teoria sobre a origem do poder poltico, como no a nica marcada
pelo elemento voluntarista; no a nica em que a ordem poltica expresso
de um ato de vontade, uma construo artificial portanto. Na prpria origem
do debate poltico j secular acerca da natureza do estado, a encontramos, se
bem que em posio minoritria, junto com outras duas, com as quais apare-
cer sempre entretecida na histria do pensamento poltico. No dilogo que
abrange os dois primeiros livros da Repblica de Plato, so expostas, perso-
nificadas por sete interlocutores, as quatro principais teorias sobre a origem
da polis. Servem de fundo as opinies tradicionalistas dos hspedes Cfalo e
Polemarco, que defendem velhos conceitos mitolgicos. Vm depois as teses
dos sofistas Trasmaco e Clitofonte, que observam, de maneira realista, que a
Justia outra coisa no seno a ordem imposta por quem tem o poder de se
fazer obedecer: o que apraz a quem ordena, ao poder constitudo, a quem
mais forte. Glauco e Adimanto, irmos de Plato, expem, para incentivar
Scrates, a tese contratualista de uma parte da sofstica (Calicles): partindo da
oposio entre nomos (lei) e physis (natureza), afirmam que os homens, usando
e sofrendo da violncia (o que justo por natureza), creem, num certo sentido,
144
foroso concluir que, tendo em vista o texto do
prembulo de nossa Constituio, no h que se falar
na fora como origem do poder poltico
98
. Este seria o
caso de uma ditadura imposta, de um golpe de Estado
ou alguma outra forma de ruptura do poder onde um
governo ilegtimo impusesse a todos a sua vontade. No
seria resultado de um processo democrtico com repre-
sentantes eleitos (mesmo que indiretamente) para tal
fm. Do mesmo jeito, no h que se falar em uma ori-
gem orgnica em que o poder poltico apenas funo
natural necessria vida social. Se assim fosse, no seria
necessrio afrmar a reunio de representantes do povo
para a instituio de um determinado Estado democr-
tico. Tal Estado j existiria tacitamente na tradio, nos
costumes e na cultura de nosso povo hiptese pouco
ser til porem-se de acordo para instaurar a paz, estabelecendo leis e pactos
recprocos, que so justos por convnio. nesta altura que Scrates (na reali-
dade, Plato) expe sua concepo de Estado entendido como um organismo,
que ser sadio quando cada um, baseado na diviso do trabalho, desempenhar
convenientemente o prprio mister e interiorizar a necessidade desta sua fun-
o particular para o bem do todo: a justia , deste modo, consciente e viva
harmonia. Esta teoria, ao acentuar que a sociedade um fato natural (o homem
s poderia viver numa situao a-social, isto , no estado de natureza, se fosse
um bicho ou um deus) e que o poder uma funo social necessria, converte-
se em anttese radical das outras duas concepes voluntaristas, que entendem
ter surgido o Estado ou da fora, ou do consenso. Ser organicamente desen-
volvida por Aristteles no primeiro livro de Poltica, que parte do princpio
de que o homem , por natureza, um animal poltico e social. Baseado neste
princpio, expe uma interessante teoria sobre o desenvolvimento poltico,
desde a famlia, que atende s necessidades elementares e imediatas da vida,
ao povoado de estrutura gentilcia, que visa a uma utilidade mais complexa,
e polis, a nica auto-suficiente, que se basta em si mesma por ter como fim
viver bem: a polis a nica estrutura poltica que emancipa o indivduo da
autoridade domstica e o torna protagonista da vida poltica.
98. Pelo menos em tese. A anlise emprica desta afirmao demandaria um
esforo de maior complexidade, que no cabe aqui neste escopo.
145
provvel, at mesmo pela incipincia de nossa socieda-
de que, em pouco mais que 500 anos, sofreu com mu-
danas polticas radicais impostas em curtos espaos de
tempo, fato sufciente para no se poder falar em tradi-
o cultural poltica. Assim, s nos resta concluir que
nosso Estado Democrtico tem como fundamento uma
teoria contratualista.
Ressalte-se que a afrmao do contratualismo, inclu-
sive, seria o nico motivo para se fazer constar no prem-
bulo de nossa Constituio, expressamente, a ocorrncia
da reunio citada e a convergncia de vontades no senti-
do de se instituir um determinado Estado democrtico.
Ao contrrio do que possa parecer, essa anlise no
feita aqui em vo, por mero jogo mental ou exerccio te-
ortico. Tal exame encontra relevncia na constatao de
que, se um Estado encontra fundamento em um contrato
social (se o tem como origem), toda a existncia deste
Estado, bem como suas manifestaes
99
, estaro vincula-
das aos termos deste contrato, e por eles estaro condi-
cionadas, sob pena de perda de sua legitimidade.
O contrato que d origem ao Estado assinado por
todos, sendo assim legitimado pelo povo. As aes do
Estado e seus agentes so legitimadas por consequn-
cia, na medida em que h conformidade com os termos
acordados inicialmente. Essa legitimao (que podemos
chamar de secundria) provm, necessariamente, da le-
gitimao (primria) do contrato original. Assim, a legi-
timidade do Estado, bem como de suas manifestaes,
irradia do cumprimento do contrato em seus termos.
99. Sua organizao, seus princpios jurdicos, seu funcionamento, seus limites,
seus objetivos, suas polticas pblicas, a aplicao de seu direito etc.
146
Posto que nossa Constituio clara no sentido de
manifestar sua opo contratualstica para a origem de
nosso Estado, temos no contratualismo um fundamen-
to de nosso Direito Poltico, e consequentemente de
nosso Direito Eleitoral, uma vez que este dever respei-
tar, tanto em seu desenvolvimento quanto em sua apli-
cao, os termos do contrato, expressos no prembulo
de nossa Constituio.
Da legitimidade
Vejamos o verbete Legitimidade, de Bobbio, Matteucci
e Pasquino (1992, v. 2, p. 675):
I. DEFINIO GERAL Na linguagem comum, o
termo Legitimidade possui dois signifcados, um ge-
nrico e um especfco. No seu signifcado genrico,
Legitimidade tem, aproximadamente, o sentido de
justia, ou de racionalidade (fala-se na Legitimidade
de uma deciso, de uma atitude, etc.) na linguagem
poltica que aparece o signifcado especfco. Neste con-
texto, o Estado o ente a que mais se refere o conceito
de Legitimidade. O que nos interessa, aqui, a preocu-
pao com o signifcado especfco.
Num primeiro enfoque aproximado, podemos defnir
Legitimidade como sendo um atributo do Estado, que
consiste na presena, em uma parcela signifcativa da
populao, de um grau de consenso capaz de assegurar a
obedincia sem a necessidade de recorrer ao uso da for-
a, a no ser em casos espordicos. por esta razo que
todo poder busca alcanar consenso, de maneira que
147
seja reconhecido como legtimo, transformando a obe-
dincia em adeso. A crena na Legitimidade , pois, o
elemento integrador na relao de poder que se verifca
no mbito do Estado. [grifos nossos]
A partir de nossa leitura, podemos constatar que le-
gitimidade um termo que, na linguagem poltica,
recebe um signifcado especfco: o de um atributo
do Estado, que consiste na presena, em uma parce-
la signifcativa da populao, de um grau de consenso
capaz de assegurar a obedincia sem a necessidade de
se recorrer ao uso da fora, a no ser em casos espor-
dicos. Ou seja, o termo legitimidade decorre de um
acordo de vontades. Tal acordo de vontade, no caso,
refere-se ao processo poltico. Existe um consenso,
uma anuncia, que legitima um Estado. Legitima
um determinado regime, uma determinada forma
de acontecer poltica.
Vejamos como se d esse processo de legitimao:
II. OS NVEIS DO PROCESSO DE LEGITIMAO
Encarando o Estado sob o enfoque sociolgico e no
jurdico, constatamos que o processo de legitimao no
tem como ponto de referncia o Estado no seu conjunto, e
sim nos seus diversos aspectos: a comunidade poltica, o
regime, o Governo e, no sendo o Estado independente,
o Estado hegemnico a quem o mesmo se acha subor-
dinado. Consequentemente, a legitimao do Estado o
resultado de um conjunto de variveis que se situam em
nveis crescentes, cada uma delas cooperando, de manei-
ra relativamente independente, para sua determinao.
[...] O regime o conjunto de instituies que regulam a
148
luta pelo poder e o exerccio do poder e o conjunto dos
valores que animam a vida destas instituies. Os prin-
cpios monrquico, democrtico, socialista, fascista, etc.,
caracterizam alguns tipos de instituies, e dos valores
correspondentes, que se caracterizam como alicerces da
Legitimidade do regime. A caracterstica fundamental
da adeso a um regime, principalmente quando tem seu
fundamento na crena da legalidade, est no fato de que
os governantes e sua poltica so aceitos, na medida em
que os aspectos fundamentais do regime so legitimados,
abstraindo das pessoas e das decises polticas especfcas.
A consequncia que quem legitima o regime tem que
aceitar tambm o Governo que veio a se concretizar e
que busca atuar de acordo com as normas e os valores
do regime, mesmo no o aprovando ou at chegando a
lhe fazer oposio bem como sua poltica. Isto depen-
de do fato de que existe um interesse concreto que une
as foras que aceitam o regime: a sustentao das insti-
tuies que regulam a luta pelo poder. O fundamento
desta convergncia de interesses est em que o regime
assumido como plataforma comum de luta pelo poder.
O fundamento desta convergncia de interesses est em
que o regime assumido como plataforma comum de luta
entre os grupos polticos, visto estes o considerarem como
uma situao que apresenta condies favorveis para a
manuteno de seu poder, para a conquista do Governo
e para a concretizao parcial ou total de seus objetivos
polticos. (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1992,
v. 2, p. 676.)[grifos nossos]
Percebemos um detalhe importante acerca do processo
de legitimao de um Estado: no so os governantes que
149
so aceitos ou legitimados. So os aspectos fundamen-
tais daquele regime. A Legitimao abstrai-se das pes-
soas e das decises polticas especfcas. Ela no relativa
a aes, a fatos ou a pessoas. Ela relativa a fundamen-
tos. Fundamentos pelos quais se guiar aquele determi-
nado regime. Fundamentos que se constituiro em base
para a construo de um sistema.
Todo o sistema ser aceito a partir da coerncia com
os fundamentos que o geraram. Todas as aes sero
aceitas a partir da coerncia com tais fundamentos, e to-
das as pessoas sero aceitas como detentoras de poder
na medida em que sua investidura nesse poder se deu em
conformidade com o decorrente de tais fundamentos.
Na realidade, tais aes e pessoas sero legitimadas
por tabela. O consenso no se dar a cada deciso to-
mada, a cada ao empreendida. O consenso s se d no
momento da fundamentao do sistema como um todo.
A partir da, tudo o que do sistema decorrer estar au-
tomaticamente legitimado, desde que em conformidade
com a anterior fundamentao.
Assim, conclumos que tanto o ordenamento jurdico,
quanto a sua aplicao, devem estar em conformidade
com os fundamentos do Estado, sob pena de ilegitimi-
dade
100
. Como os demais ramos do Direito, o Direito
100. A questo da legitimidade do Poder evidentemente no surge nos debates
contemporneos como uma questo indita. No entanto, ela ganha um novo
sentido, que manifesta a evoluo radical de sua problemtica. Desde a aurora
da poltica, todos concordam em reconhecer no Poder algo que se encontra alm
do prprio Poder e que o fundamenta ao mesmo tempo em que o justifica. Na
histria do Ocidente, a ideia da legitimidade do Poder enraizava-se outrora num
modelo teolgico segundo o qual a prerrogativa da autoridade poltica provinha
de um mandato divino; depois, quando o pensamento moderno afirmou a secu-
larizao da soberania, a legitimidade do Poder passou a implicar a referncia
150
Eleitoral no pode se abster de tal fundamento, nem em
seu processo legislativo, nem em sua aplicao.
101
Do Estado Democrtico de Direito
Antes de tudo, cabe a compreenso do que se enten-
de, atualmente, por Estado Democrtico de Direito.
Segundo Silva (1997), o conceito de Estado Democrtico
de Direito rene dois princpios distintos: o princpio do
Estado democrtico e o princpio do Estado de Direito.
Tal reunio no apenas a soma destes dois elementos,
mas revela um conceito novo que os supera.
razo enquanto especificidade da natureza humana. Embora essa interpretao
tenha sido criticada pelas teorias romnticas e pelo historicismo por seu carter
especulativo e dogmtico, d conta da mutao que o pensamento efetua ao se
afastar dos horizontes teolgico-polticos da Idade Mdia: a antropologizao
ou, segundo a expresso de Weber tantas vezes repetida, o desencantamento
do poder significa que ele tem de buscar sua justificativa num critrio laico
e racional. (GOYARD-FABRE, 2003, p. 278 e 289.)
101. Por sua vez, o debate sobre a legitimidade do ordenamento jurdico remete
necessidade de fundamentar o Direito em padres valorativos ou estimativas
sociais, perquirindo as possibilidades de materializao da justia. Direito justo
, portanto, o sinnimo de direito legtimo, porque capaz de espelhar, em certo
ambiente hitrico-cultural, os valores tendentes concretizao do valor do
justo numa dada comunidade humana. Seguindo a lio de Miguel Reale,
pode-se dizer que o Direito, enquanto experincia tica de harmonizao dos
comportamentos humanos, concebido como uma atualizao crescente de
Justia, por meio da realizao dos valores que, no plano histrico-cultural,
possibilitem a afirmao de cada ser humano segundo as virtudes socialmente
aceitas. Todo direito deve ser, portanto, uma tentativa de direito justo, o que
evidencia a dimenso do calor e o sentido humanstico da vida jurdica. O
problema da justia o problema da correspondncia ou no da norma jur-
dica aos valores ltimos ou finais que inspiram um dado ordenamento jurdico.
Examinar se uma norma jurdica justa ou injusta equivale verificao do
contraste entre o mundo ideal e o mundo real, na dimenso deontolgica do
direito. (SOARES, 2010, p. 24.) [grifos nossos]
151
Por Estado de Direito, percebemos um Estado tipica-
mente liberal, cujas caractersticas bsicas so a submis-
so ao imprio da lei, a diviso de poderes e o enunciado
de garantia dos direitos individuais. Tais preceitos so e
sempre foram postulados bsicos da organizao poltica
liberal. Trata-se de preceitos nascidos do paradigma mo-
derno e consolidados na luta contra o Estado Absoluto
e a intromisso indevida e abusiva na vida privada. So
mecanismos de controle do poder estatal que buscam
garantir os direitos relacionados liberdade chama-
dos de direitos fundamentais de primeira gerao que
dizem respeito aos direitos civis e polticos, garantidores
da dignidade humana.
102
102. Cabe aqui depoimento de Garca-Pelayo (1977, p. 52) sobre o tema: Con-
vm comear recordando que o Estado de Direito , em sua formulao origi-
nria, um conceito polmico orientado contra o Estado Absolutista, quer dizer,
contra o Estado poder e, especialmente, contra o Estado polcia, que tratava
de fomentar o desenvolvimento geral do pas e fazer a felicidade dos seus
sditos custa de incmodas intervenes administrativas na vida privada e
que, como corresponde a um Estado burocrtico, no era incompatvel com
a sujeio dos funcionrios e dos juzes legalidade. O Estado de Direito, em
seu primitivo sentido, um Estado cuja funo capital consiste em estabelecer
e manter o Direito e cujos limites de ao esto rigorosamente definidos por
este, ficando bem entendido que Direito no se identifica com qualquer lei ou
conjunto de leis, independentemente do seu contedo pois, como acabamos
de dizer, o Estado absolutista no exclua a legalidade , mas apenas com uma
normatividade conforme com a ideia da legitimidade, da justia, dos fins e
dos valores a que devia servir o Direito, em suma, com uma normatividade
segundo a ideia do Direito. O Estado de Direito significa, assim, uma limitao
do poder do Estado pelo Direito, mas no a possibilidade de legitimar qualquer
critrio dando-lhe forma de lei: invertendo a famosa frmula decisionista non
ratio, sed voluntas facit legem, poderia dizer-se que para a ideia originria do
Estado de Direito non voluntas, sed ratio facit legem. Por conseguinte, embora
a legalidade seja um componente da ideia do Estado de Direito, no menos
certo que este no se identifica com qualquer legalidade, mas apenas com uma
legalidade de determinado contedo e sobretudo com uma legalidade que no
lesione certos valores pelos e para os quais se constitui a ordem jurdica e poltica
152
Uma grande conquista para o Estado de Direito ocor-
reu recentemente. Em 1990, foi constituda pelo Conselho
Europeu, como rgo consultivo em matria constitu-
cional, a chamada Comisso de Veneza
103
. Formada ini-
cialmente por representantes de todos os pases da Unio
Europeia, posteriormente recebeu a adeso de represen-
tantes de outros pases, dentre os quais o Brasil. Essa co-
misso, desde 2009, vem debatendo sobre o controverti-
do conceito de Estado de Direito. Em maro de 2011,
publicou um relatrio com suas consideraes acerca do
tema
104
. Neste relatrio, os pases participantes manifes-
taram consenso
105
na exigncia de seis itens necessrios
para que exista um Estado de Direito
106
: (1) legalidade,
e que se expressam em normas ou princpios que a lei no pode violar. Afinal,
a ideia do Estado de Direito surge no seio do jusnaturalismo e em coerncia
histrica com uma burguesia cujas razes no so compatveis com qualquer
legalidade, nem com excessiva legalidade, porm precisamente com uma le-
galidade destinada a garantir certos valores jurdico-polticos, certos direitos
imaginados como naturais que assegurassem o livre desenvolvimento da exis-
tncia burguesa. [grifos nossos]
103. Venice Commission European Commission for Democracy Through Law.
104. Study no. 512/ 2009 Report on the rule of law Adopted by the Venice
Commission (Venice, 25-26 March 2011).
105. Cabe salientar que, como destaca o relatrio em tela, os diferentes pases
vivem sob diferentes ideias de Estado de direito. Reflexo disso, a variedade
de termos que, dependendo da lngua, designam o tema, no havendo relao
necessria entre eles todos, mas apenas similaridades: Although the termino-
logy is similar, it is important to note at the outset that the notion of Rule of
law is not always synonymous with that of Rechtsstaat, Estado de Direito or
Etat de droit (or the term employed by the Council of Europe: prminence
du droit). Nor is it synonymous with the Russian notion of Rule of the laws/of
the statutes, (verkhovenstvo zakona), nor with the term pravovoe gosudarstvo
(law governed state). (EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY
THROUGH LAW, 2011, p. 3.)
106. 40. Drawing on that definition and on others based on very different
systems of law and the state, it seems that a consensus can now be found for
153
incluindo um processo legislativo transparente, embasa-
do e democrtico; (2) segurana jurdica; (3) proibio
de arbitrariedades; (4) acesso justia perante tribunais
independentes e imparciais, incluindo a reviso de atos
administrativos; (5) respeito pelos direitos humanos; (6)
no discriminao e igualdade perante a lei.
Ainda chegou a redigir um checklist para a avaliao
de cada Estado em particular, com vistas a identifc-lo
como Estado de Direito ou no. Tal checklist pode acabar
funcionando como uma relao dos parmetros a serem
respeitados em um Estado de Direito, ou seja, como um
norte balizador da estrutura e funcionamento de um
Estado que se diz Estado de Direito.
J por Estado democrtico, entende-se um Estado
que se funda no princpio da soberania popular, que
impe a participao efetiva do povo na coisa pblica.
Sobre este, acrescentemos o testemunho oportuno de
Silva (1997, p. 118):
Visa, assim, a realizar o princpio democrtico como ga-
rantia geral dos direitos fundamentais da pessoa huma-
na. Nesse sentido, na verdade, contrape-se ao Estado
the necessary elements of the rule of law as well as those of the Rechtsstaat
which are not only forma but also substantial or material (materieller Rechtss-
taatsbegriff ). These are:
(1) legality, including a transparent, accountable and democratic process for
enacting law
(2) Legal certainty
(3) Prohibitions of arbitrariness
(4) Access to justice before independent and impartial courts, including judicial
review of administrative acts
(5) Respect for human rights
(6) Non-discrimination and equality before the law (EUROPEAN COMMIS-
SION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW, 2011, p. 9)
154
Liberal, pois, como lembra Paulo Bonavides, a ideia
essencial do liberalismo no a presena do elemento
popular na formao da vontade estatal, nem tampou-
co a teoria igualitria de que todos tem direito igual a
essa participao ou que a liberdade formalmente esse
direito. [grifos nossos]
Percebe-se a importncia dada ao princpio democrti-
co como garantia dos direitos fundamentais da pessoa
humana. Isso se d pelo fato de que a soberania popular
vem garantir a participao efetiva do povo no poder es-
tatal, quer em sua administrao, quer em seu processo
legislativo, assim garantindo a concretizao de seus in-
teresses individuais e coletivos, que fcariam merc dos
governantes, caso no houvesse tal participao popular
efetiva na coisa pblica.
Deste modo, indo alm do Estado de Direito, que
busca a limitao do poder estatal, o Estado democrtico
busca atribuir o controle de tal poder aos cidados, em
um esforo de garantir a participao popular no gover-
no, assim evitando que, mesmo limitado, o poder estatal
se volte contra os cidados daquela nao.
Sobre o Estado Democrtico de Direito, diz Silva
(1997, p. 119) que:
A confgurao do Estado Democrtico de Direito
no signifca apenas unir formalmente os conceitos
de Estado Democrtico e Estado de Direito. Consiste,
na verdade, na criao de um conceito novo, que leva
em conta os conceitos dos elementos componentes,
mas os supera na medida em que incorpora um com-
ponente revolucionrio de transformao do status
155
quo. E a, se entremostra a extrema importncia do
art. 1
o
da Constituio de 1988, quando afrma que a
Repblica Federativa do Brasil se constitui em Estado
Democrtico de Direito, no como mera promessa de
organizar tal estado, pois a constituio a j o est pro-
clamando e fundando.
E acrescenta:
A democracia que o Estado Democrtico de Direito re-
aliza h de ser um processo de convivncia social numa
sociedade livre, justa e solidria (art. 3
o
, I), em que o
poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito
do povo, diretamente ou por representantes eleitos (Art.
1
o
, pargrafo nico); participativa, porque envolve a
participao crescente do povo no processo decisrio
e na formao dos atos de governo; pluralista, porque
respeita a pluralidade de ideias, culturas e etnias, e pres-
supe assim o dilogo entre opinies e pensamentos
divergentes e a possibilidade de convivncia de formas
de organizao e interesses diferentes da sociedade; h
de ser um processo de liberao da pessoa humana das
formas de opresso que no depende apenas do reco-
nhecimento formal de certos direitos individuais, po-
lticos e sociais, mas especialmente da vigncia de con-
dies econmicas suscetveis de favorecer o seu pleno
exerccio. (SILVA, 1997, p. 120.) [grifos nossos]
Das palavras de nosso eminente constitucionalista, perce-
be-se a importncia do conceito de Estado Democrtico
de Direito para a Constituio de nosso pas e, conse-
quentemente para o Direito Eleitoral, no s a partir de
156
sua fundamentao, mas a partir, tambm, dos objetivos
a que se impe. Como visto, o conceito engloba no ape-
nas premissas constitutivas, mas tambm premissas im-
perativas. No s se importa com delimitar o poder do
Estado, mas vai alm e determina o objetivo para o qual
este poder implementado e deve ser exercido. Qual
seja, o de ser exercido em proveito do povo.
Da Soberania Popular
A palavra soberania vem do latim super unia ou de
superanus ou supremitas. Tais palavras latinas se refe-
rem ao carter dos domnios que no dependem seno
de Deus. (PAUPERIO, 1958). Segundo o New Oxford
American Dictionary (2011), palavra baseada no latin
super above, onde o seu sufxo foi derivado da asso-
ciao com reino, ou seja, signifcaria reinado super
acima
107
. Signifca, vulgarmente, o poder incontrastvel
do Estado, acima do qual nenhum outro poder se en-
contra. Podemos somar defnio etimolgica dois tes-
temunhos de especialistas. Vejamos o que diz Saldanha
(1984, p. 51 e 52):
A soberania, segundo certa doutrina entende, no o
poder do Estado em si mesmo, mas uma qualidade do
poder do Estado. Em verdade, todo Estado tem sobera-
nia, desde que seja um Estado propriamente dito: mes-
mo porque j no existem os chamados Estados no-
107. ORIGIN Middle English: from Old French soverain, based on Latin
super above. The change in the ending was due to association with reign.
157
soberanos (vassalos e protetorados), e este conceito no
tem mais lugar entre os temas da teoria do Estado. Todo
Estado tem, e teve, soberania, inclusive os velhos e exem-
plares imprios da histria antiga. O que aconteceu, no
surgimento da vida poltica moderna, que a concentra-
o do poder nas mos do monarca aps o enfraque-
cimento do feudalismo constituiu um destaque muito
relevante, fazendo com que a doutrina desse a ele um
realce total. Foi o que sucedeu na Frana com a obra de
Jean Bodin, De Republica (1576), na qual se acentuou de
modo tpico a nota de soberania dentro da prpria def-
nio do estado. [...] A soberania, plenamente expressada
no plano terico por Bodin, havia sido antecipada, con-
forme dissemos, na obra de alguns comentaristas (ps-
glosadores), que dizem ser o rei, dentro da jurisdio de
seu reino, igual ao imperador: no reconhecia superior.
A ordem medieval, atravancada de hierarquias e cheia de
confitos latentes, desembocou na pretenso de supremi-
dade, assumida dentro dos quadros do Estado moderno
pelo monarca, que justamente se fez absoluto para con-
solidar a posio conquistada. Criado o Estado moder-
no, estabelecido nele um poder absoluto e portanto ,
concentrado este poder nas mos do monarca, sua ati-
vidade poltica seria ento absorvente: ela abrangeria o
plano religioso e o econmico, o militar e o pedaggico,
o jurdico e o administrativo. Atravs das diversas fases,
pelas quais passou o Estado moderno (ou pelas quais
vem passando) absoluto, liberal, social , a soberania
tem continuado a existir, e tem sido atribuda ao povo,
nao, Constituio, conforme momentos e ideolo-
gias. Mas ela sempre soberania do Estado, embora a
vontade do Estado venha a ser funo do povo ou da
158
nao, ou venha a regular-se segundo a constituio (e/
ou segundo o ordenamento tal como se pretende com a
ideia de Estado de Direito, de que se falar adiante).
Eis o que diz Bobbio (1992, p. 1179), em seu Dicionrio
de Poltica, no verbete Soberania:
I. DEFINIO em sentido lato, o conceito poltico-
jurdico de soberania indica o poder de mando de ltima
instncia numa sociedade poltica e, consequentemente,
a diferena entre esta e as demais associaes humanas
em cuja organizao no se encontra este poder supre-
mo, exclusivo e no derivado. Este conceito est, pois,
intimamente ligado ao de poder poltico: de fato, a sobe-
rania pretende ser a racionalizao jurdica do poder, no
sentido da transformao da fora em poder legtimo,
do poder de fato em poder de direito. Obviamente, so
diferentes as formas de caracterizao da soberania, de
acordo com as diferentes formas de organizao do po-
der que ocorreram na histria humana: em todas elas
possvel sempre identifcar uma autoridade suprema,
mesmo que, na prtica, esta autoridade se explicite ou-
venha a ser exercida de modos bastante diferentes.
A soberania elencada em nossa Constituio
108
como
primeiro fundamento de nosso Estado Democrtico
de Direito. Isto porque dela emana toda a validade e le-
gitimidade necessria ao funcionamento estatal, seja
externamente, em relao s demais naes e Estados
Modernos, seja internamente em relao ao seu territrio
108. Art. 1
o
, inciso I.
159
e seus cidados. Ainda, como depreendemos das palavras
de Bobbio (1992, p. 1179), tal soberania signifca o poder
de mando de ltima instncia numa sociedade poltica.
Tal poder, a teor do pargrafo nico do art. 1
o
do ttulo
I (Dos Princpios Fundamentais) de nossa Constituio,
emana do povo, e deve ser exercido por meio de represen-
tantes eleitos, ou de forma direta, em hipteses previstas
em nossa Constituio. Percebe-se a coerncia entre as
palavras de Jos Afonso da Silva com relao ao Estado
Democrtico de Direito e os preceitos inscritos em nossa
Constituio como princpios fundamentais.
De fato, vivemos em um Estado cujo, a teor de nossa
Constituio, tem sua soberania limitada pela lei, pela di-
viso dos poderes e pela garantia dos direitos individuais.
A previso, na prpria estrutura do Estado, do modo
de conteno de eventuais abusos de poder do governan-
te, mediante a diviso dos poderes, por seu sistema de
freios e contrapesos (Checks and Balances), garantia de
que no haja excessos, por no permitir que aquele que
faz a legislao seja o mesmo que a aplica, ou aquele que
emite julgamentos por seu descumprimento. Quanto a
isso, Malmerstein (2008, p. 38) esclarece:
[...] Da a atualidade do artigo 16 da Declarao
Universal dos Direitos do Homem e do Cidado, de
1789, aprovada no auge da Revoluo Francesa, que
dizia que o Estado que no reconhece os direitos fun-
damentais, nem a separao de poderes, no possui
Constituio. O que se deve extrair desse artigo que
um pas verdadeiramente democrtico deve possuir um
mecanismo de controle do poder estatal para proteger
os cidados contra o abuso e a opresso. (grifos nossos)
160
Alm de tais mecanismos de controle do poder estatal, te-
mos acatada em nossa Constituio a Soberania Popular.
Tal soberania, que em nosso Estado emana do povo
109
,
109. A fim de afastar qualquer impreciso sobre o entendimento da palavra
povo neste contexto, consignamos aqui a enriquecedora explicao de Ac-
quaviva (1982, p. 113) sobre o assunto: Populao a totalidade das pessoas
que se acham, num dado momento, em determinado Estado [...] conceito
eminentemente numrico, demogrfico e, portanto, no interessa, de imediato,
Cincia Poltica. Povo, por outro lado, palavra que pode revelar um conceito
jurdico ou um conceito poltico. So conceitos anlogos, porm inconfundveis.
Com efeito, a palavra povo apresenta pluralidade de sentidos anlogos, sendo,
portanto, um vocbulo plurvico-analgico. [...] As palavras podem ser unvocas
ou plurvocas. As unvocas referem-se a um s conceito, por exemplo, as pala-
vras Deus, carisma, gua e fogo. As plurvocas, em contrapartida, referem-se a
mais de um conceito, classificando-se, portanto, em duas espcies: equivocas e
anlogas.[...] Os vocbulos plurvocos-equvocos referem-se a conceitos desco-
nexos, sem nenhuma significao comum, por exemplo, a palavra cravo, que
pode significar um instrumento musical, um prego, uma flor, uma afeco de
pele [...] as palavras plurvocas-analgicas, por outro lado, revelam conceitos
que, embora diversos, guardam conexo, nexo, relao entre si. Como exemplo
citemos a palavra direito, que tanto pode designar uma cincia, uma norma
jurdica ou adjetivar uma pessoa de retido inatacvel, uma pessoa honesta,
correta. [...] Na verdade, a palavra povo apresenta mltiplos conceitos. Ela
pode designar as pessoas residentes num bairro qualquer, ou uma comuni-
dade unida pela religio, pelo idioma ou pela etnia. Pode at ser empregada
pejorativamente, ao designar a parte menos instruda da sociedade, ou aquela
colocada numa posio hierarquicamente inferior das categorias sociais [...]
A democracia grega, quando se referia assembleia do povo, indicava uma
minoria seleta, que, pelos dotes intelectuais e pela origem, podia deliberar
politicamente durante todo o dia. Tal atividade era denominada cio, bastante
respeitada ento, e longe de sofrer o sentido pejorativo de hoje. Aqueles que no
tinham o direito de deliberar, que no podiam nem mesmo residir na cidade,
eram os nec cio, isto , os negociantes, escravos e estrangeiros. Montesquieu
afirmava que o povo no podia ser confundido com a ral, o populacho, de-
vendo ser proibido o direito de voto queles que se encontrassem num estado
demasiadamente profundo de baixeza [...] Madame de Lambert, a seu turno,
discpula de Montesquieu, chegou a definir povo: chamo povo todos aqueles que
pensam de maneira baixa e vulgar. No foi toa, portanto, que a palavra povo j
foi tida como o grande trocadilho da Histria. Classificando-se como plurvoca-
analgica, sua compreenso fica mais fcil. Povo, ento, pode ser o conjunto de
indivduos qualificados pelo vnculo da nacionalidade, conceito de Salvetti Neto.
161
vem a caracterizar, justamente, o Estado Democrtico.
Da soma de tais caractersticas, tanto de um Estado de
Direito, como de um Estado Democrtico, exsurge nosso
Estado Democrtico de Direito, que, a partir da autoli-
mitao do poder estatal e da Soberania Popular, nasce
com o fm de garantir os seus fundamentos, dentre os
quais aqueles j colecionados de forma expressa no art.
1
o
de nossa Constituio:
Pode ser, tambm, o conjunto dos cidados de um Estado, vale dizer, aqueles que se
encontram no gozo de seus direitos polticos. evidente que no basta ser nacional
para se alcanar o estado de cidado. O conceito de povo jurdico no se confunde
com o conceito de povo poltico. Quando a Constituio brasileira declara, em
seu artigo 1, 1, que todo poder emana do povo, ela se refere, sem dvida, ao
conceito poltico de povo, mesmo porque, referindo-se ao regime representativo,
no caput do artigo, ela consagra a democracia representativa, que, no Brasil,
ativada mediante o sufrgio universal (art. 148), processo de escolha de eleitores
que, em princpio, a prpria denominao universal o revela, autoriza o voto a
todos os nacionais, com as restries contidas no art. 147. (grifos nossos) (cabe
salientar que o autor escreveu anteriormente vigncia da Constituio Federal
de 1988, mas no obstante no coincidirem numericamente os dispositivos cons-
titucionais por ele citados, tais dispositivos continuam amparados em nossa atual
constituio). A esta viso ideal do termo (povo), que facilita o entendimento do
texto constitucional, acrescentamos a viso realstica crtica de Kelsen (2000,p.
38): Se quisermos passar da noo ideal para a noo real de povo, no podemos
limitar-nos a substituir o conjunto de todos os indivduos submetidos ao poder pelo
crculo bem mais estreito dos titulares dos direitos polticos; preciso dar outro
passo e levar em considerao a diferena existente entre o nmero desses titulares
dos direitos polticos e o nmero dos que efetivamente exercem tais direitos. Essa
diferena varia segundo o grau de interesse pela poltica, mas representa uma
grandeza notvel e pode ser sistematicamente reduzida at a democracia. Uma
vez que o povo, que representa o substrato da ideia democrtica, o povo que
comanda, e no o que comandado, seria lcito, de um ponto de vista realista,
reduzir ulteriormente a noo em questo. Na massa daqueles que, exercendo
efetivamente os seus direitos, participam da formao da vontade do Estado,
seria preciso fazer uma distino entre aqueles que, como massa sem juzo, se
deixam guiar pela influncia dos outros, sem opinio prpria, e aqueles poucos
que intervm realmente com uma deciso pessoal segundo a ideia de demo-
cracia conferindo determinada direo formao da vontade comum.
162
I a soberania;
II a cidadania;
III a dignidade da pessoa humana;
IV os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V o pluralismo poltico.
Tais fundamentos so, ao mesmo tempo, meio e fm. Sem
que estes sejam levados em considerao no h que se
falar em nosso Estado Democrtico de Direito. Todos
eles so essenciais para a existncia de tal Estado, consi-
derado o nico possvel para a garantia dos direitos fun-
damentais, como exposto anteriormente.
Da cidadania
Por cidadania, entendemos a qualifcao daqueles que
participam da vida poltica do Estado. Nas palavras de
Silva (1997, p. 330), :
[...] um status ligado ao regime poltico [...] qualifca os
participantes da vida do Estado, atributo das pessoas
integradas na sociedade estatal, atributo poltico decor-
rente do direito de participar no governo e direito de
ser ouvido pela representao poltica.
E acrescenta: Cidado, no direito brasileiro, o indivduo
que seja titular dos direitos polticos de votar e ser votado
e suas consequncias. (SILVA, 1997, p. 331, grifos nossos)
A partir da condio de cidado, pode o povo, exer-
cendo seus direitos polticos, participar do processo de-
mocrtico, exercendo assim a soberania popular. Desta
163
forma, percebemos a importncia dos direitos polticos
para o exerccio da soberania popular e, consequen-
temente, para a defesa dos direitos do povo a partir de
sua participao na coisa pblica, o que consubstancia o
Estado Democrtico.
Como dito anteriormente, a participao do cidado
no se limita ao seu voto nas eleies peridicas, mas
vai muito alm
110
. Alm de um direito, a participao
do cidado na vida pblica um dever. Nesse sentido,
Goyard-Fabre (2002, p. 494):
A conjuno do direito poltico com deveres cvicos es-
sencial para a manuteno da comunidade social estatal.
Longe de impor uma obedincia passiva e cega aos man-
damentos do Poder, ela signifca que a ordem pblica de-
pende da vontade de coexistncia dos seres responsveis
que so os cidados.
110. [...] a cidadania no se pode, efetivamente, ver realizada, to s, na asse-
gurao do exerccio de direitos polticos, no peridico participar dos cidados
na eleio de seus representantes, ou na possibilidade de merecerem o sufrgio
dos demais. Decerto, o exerccio do direito de voto dimenso significativa
da cidadania, sem o qual no resta espao, desde logo, a falar-se em convvio
democrtico. No possvel, entretanto, alcanar a plenitude da cidadania, se
garantia: 1) da definitiva participao de todos na administrao da coisa p-
blica, respeitando o ureo princpio da igualdade, inconcilivel com qualquer
forma de discriminao por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 2) e
da viabilidade de todos os integrantes da convivncia social, e no apenas de
alguns, serem sujeitos dos benefcios do desenvolvimento em suas diversifi-
cadas manifestaes, da cultura, das conquistas do esprito. So essas dimen-
ses igualmente fundamentais na consecuo dos itinerrios da paz social e
de um regime democrtico autntico, cumprindo, desse modo, se encontrem
instrumentos eficazes para sua realizao. Por isso mesmo, a reflexo sobre
uma ordem de liberdade e justia no pode prescindir das preocupaes em
torno da plenitude da cidadania. (SILVEIRA, 1998, p.15.)
164
E acrescenta:
Como a virtude cvica no sentido em que a enten-
dia Montesquieu faz com que cada um seja para si
mesmo e para os outros o autor e o fador do direito,
frma-se como a condio de um Estado de liberdade.
O princpio-chave do liberalismo moderno que o
amor das leis e o da liberdade vo de par. A liberda-
de s realiza sua existncia nos vnculos da obrigao e
pela universalizao da lei. (GOYARD-FABRE, 2002,
p. 496.) [grifos nossos]
No mbito do Direito Eleitoral, temos como funda-
mento a cidadania, tanto no sentido da necessidade de
promover a participao do cidado na coisa pblica,
quanto no sentido de garantir meios pelos quais ocorra
este acesso. Assim, a legislao eleitoral deve propiciar
meios para que se concretize a participao popular, e a
Justia Eleitoral deve ser acessvel ao cidado, de forma
que este tenha a sua participao assegurada conforme
os fundamentos que norteiam o nosso Estado democr-
tico de direito.
111
111. O acesso justia primordial efetividade dos direitos humanos, tanto
na ordem jurdica interna como na internacional. O cidado tem necessidade
de mecanismos prprios e adequados para que possa efetivar seus direitos. [...]
tornou-se lugar-comum observar que a atuao positiva do Estado necessria
para assegurar o gozo de todos esses direitos sociais bsicos. [...] Esse acesso
efetivo justia, como instrumento garantidor da plenitude da soberania,
um direito social bsico. (BARACHO, 1995, p. 25.)
165
Da dignidade da pessoa humana
A busca pela concepo atual de dignidade humana nos
remete ao chamado Perodo Axial denominao forja-
da por Karl Jaspers referente a uma determinada poca
entre os sculos VII e II a.C. que, segundo ele, constituiu-
se em marco divisor da histria humana. Isso porque
teria sido o perodo no qual as explicaes mitolgicas
sobre o mundo foram trocadas por ideias e princpios
formulados por alguns dos maiores doutrinadores da
histria humana, como Pitgoras, Confcio, Zaratrusta,
Lao-Ts entre outros.
112
Segundo Comparato (2010, p.
21), foi durante o perodo axial que se enunciaram os
grandes princpios e se estabeleceram as diretrizes fun-
damentais de vida, em vigor at hoje.
No h sombra de dvida sobre o fato de que a prin-
cipal mudana ocorrida no perodo foi a substituio
gradual do saber mitolgico da tradio pelo saber l-
gico da razo. Nessa poca, no por coincidncia, surgia
a democracia em Atenas, e uma nova viso de mundo,
agora no mais fundada nos deuses e na natureza, mas
no entendimento de que a lei humana determinan-
te na vida social. O homem passou a ser a medida de
todas as coisas (como defendia radicalmente o sofsta
Protgoras). O objeto da flosofa se deslocou das ques-
tes relativas phisis (jusiV)
113
para as questes relativas
ao homem, sua ao e sua vida em sociedade.
114
112. Conforme COMPARATO (2010, p. 20).
113. : natureza ou maneira de ser de uma coisa, forma do corpo, natureza
da alma; disposio natural; condio natural; fora produtora; substncia das
coisas; ser animado (PEREIRA, 1998, 621.)
114. Com Digenes e Demcrito, que eram um pouco ou nada mais velhos que
166
E o prprio homem passou a se constituir em um pro-
blema diante da sua nova maneira de entender o mun-
do.
115
Se o homem defne todas as coisas, ele tambm de-
fne sua vida e o seu ser. E surge a questo relativa ao
que vem a ser o prprio homem. A prpria humanidade
passa a ser uma criao humana, baseada na razo.
116
Do
Scrates, considera-se, com legitimidade, o perodo pr-socrtico terminado.
Durante a segunda metade do sculo quinto a.C., particularmente durante
a Guerra do Peloponeso e sob a influncia de Scrates, j na maturidade, e
dos Sofistas, a velha atitude cosmolgica cujo objetivo principal era explicar
o mundo exterior como um todo, sendo o homem considerado s por acaso
foi, a pouco e pouco, substituda por uma atitude humanstica em relao
filosofia, graas qual o estudo do homem deixou de ser subsidirio, para se
tornar no ponto de partida de toda a investigao. Esta nova orientao foi
um desenvolvimento natural: em parte, determinado por factores sociais,
mas em parte, como deve ter ficado claro, como produto das tendncias do
prprio movimento pr-socrtico. (KIRK, RAVEN e SCHOFIELD, 1994, p.
477.) [grifos nossos]
115. A supresso de todo poder poltico superior ao do prprio povo coincidiu,
historicamente, com o questionamento dos mitos religiosos tradicionais. Qual
deveria ser, doravante, o critrio supremo das aes humanas? No poderia
ser outro seno o prprio homem. Mas como definir esse critrio, ou, melhor
dizendo, quem o homem? Se j no h nenhuma justificativa tica para a
organizao da vida humana em sociedade numa instncia superior ao povo,
o homem torna-se, em si mesmo, o principal objeto de anlise e reflexo.
(COMPARATO, 2010, p. 21.)
116. Desenvolvemos melhor o assunto em nosso trabalho Uma genealogia do
conhecimento O nascimento da democracia grega e a inveno da filosofia
como legitimao do poder, de onde extramos o seguinte texto: Os mitos, que
perpetuavam a cultura da agora antiga aret, perderam sua razo de ser e,
paulatinamente, foram sendo desacreditados. Tambm tiveram a mesma sorte
os poetas e suas poesias da physis. Os deuses foram pouco a pouco perdendo
sua importncia, sendo desafiados pelo progresso humano. Finalmente sur-
giam as condies necessrias ao nascimento de uma filosofia humanstica.
Finalmente estava configurado o caos gerado pela fermentao de uma nova
sociedade humana. (JAEGER, 2001, p. 193.) A aret perdera seu sentido, se
esvaziara. A thmis acabara por restar rf. O homem e suas aes estavam
desprovidos de contedo. Era necessria a criao de uma nova aret condi-
zente com a nova ordem poltica econmica. Era necessria a criao de um
167
embate entre os sofstas que defendiam a relatividade
da verdade e os flsofos socrticos que tm na fgura
de Plato, com sua teoria das ideias, o seu expoente mais
infuente nesta disputa vai nascendo, aos poucos, a de-
lineao do que seria (ou viria a ser) o ser humano. Deste
contexto surge um novo ente: o ser humano. Uma no-
o que agrupava todos os homens em um conjunto de
determinadas caractersticas. Dentre estas, destacavam-
se, principalmente, a razo e a liberdade.
Todos os indivduos restavam acolhidos pelo mesmo
conceito de ser humano, que atribuiu a todos as mesmas
caractersticas de existncia. Assim que, pela primeira
vez na histria, o ser humano passa a ser considerado, em
sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e
razo, no obstante as mltiplas diferenas de sexo, raa,
religio ou costumes sociais (COMPARATO, 2010, p. 24).
Desde ento, o delineamento de um conceito ou cate-
goria geral que englobasse todos os indivduos e grupos
humanos foi se desenvolvendo lentamente no decorrer
novo homem apto a viver nesta nova realidade social. Assim, a investigao
sobre o homem deixava de ter um carter imediatamente prtico para ad-
quirir um carter eminentemente teortico. O homem no era mais simples
resultado das vontades dos deuses. No era mais subordinado a um destino
desmotivado de razo, que simplesmente aparecia como qualquer outro fe-
nmeno da physis. No bastava mais a simples observao da ao humana
em meio physis. No bastavam mais investigaes absolutamente prticas.
Agora, o homem era resultado de suas criaes e de suas prprias leis. Era
necessrio mais que a simples observao do homem em meio physis. Era
necessria a prpria recriao do homem. Eis que, a tempo, surge a Filosofia
humanstica. Caberia no mais aos poetas da physis uma mera descrio do
homem, mas aos filsofos humansticos, uma investigao profunda acerca do
homem, de suas caractersticas, de seus valores, de suas leis, de suas relaes
sociais. (VIDIGAL, 2011, p.79.)
168
da Histria ocidental.
117
A incipiente criao do conceito
de ser humano foi fundamental para o posterior nasci-
mento da noo de dignidade humana.
Outro elemento importante na formao do concei-
to de dignidade humana foi o nascimento da lei escrita.
118
Corroborando com a ideia de uma essncia natural a todos os
homens, esta nasceu de modo a proteger essa igualdade na-
tural no seio da sociedade. Assim a lei do homem garantiria
a essncia do ser humano por meio da isonomia legal.
119
A partir dessa contingncia original, foi se desenvol-
vendo lentamente no decorrer da histria a noo de
dignidade humana.
117. Como observou um antroplogo [Claude Lvy- Strauss, Anthropologie
structurale deux], nos povos que vivem margem do que se convencionou
classificar como civilizao, no existe palavra que exprima o conceito de ser
humano: os integrantes do grupo so chamados homens, mas os estranhos
ao grupo so designados por outra denominao, a significar que se trata de
indivduos de uma espcie animal diferente. Foi durante o perodo axial da
Histria, como se acaba de assinalar, que despontou a ideia de uma igualdade
essencial entre todos os homens. Mas foram necessrios vinte e cinco sculos
para que a primeira organizao internacional a englobar a quase totalidade
dos povos da Terra proclamasse, na abertura de uma Declarao Universal de
Direitos Humanos, que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. (COMPARATO, 2010, p. 24.)
118. Ora, essa convico de que todos os seres humanos tm direito a ser
igualmente respeitados, pelo simples fato de sua humanidade, nasce vincu-
lada a uma instituio social de capital importncia: a lei escrita, como regra
geral e uniforme, igualmente aplicvel a todos os indivduos que vivem numa
sociedade organizada. (COMPARATO, 2010, p. 24.)
119. Na democracia ateniense, a autoridade ou fora moral das leis escritas
suplantou, desde logo, a soberania de um indivduo ou de um grupo ou classe
social, soberania esta tida doravante como ofensiva ao sentimento de liberdade
do cidado. Para os atenienses, a lei escrita o grande antdoto contra o arbtrio
governamental, pois, como escreveu Eurpedes na pea As suplicantes (versos
434-437), uma vez escritas as leis, o fraco e o rico gozam de um direito igual; o
fraco pode responder ao insulto do forte, e o pequeno, caso esteja com a razo,
vencer o grande. (COMPARATO, 2010, p. 25.)
169
Um importante marco nesse processo foi Bocio, que,
no incio do sculo VI, infuenciou todo o pensamento
medieval sobre o tema a partir da construo da noo
de pessoa persona proprie dicitur naturae rationalis
substantia (diz-se propriamente pessoa a substncia in-
dividual da natureza racional) (COMPARATO, 2010,
p.32). Essa noo de pessoa se constituiu em uma gi-
gantesca mudana no tema, pois afrmou que a carac-
terstica prpria do ser humano a sua substncia, no
a sua forma, como se concebia poca por infuncia
de Aristteles. So Toms viria a trabalhar tal conceito,
acrescentando que o homem seria um composto de subs-
tncia espiritual e corporal (ou seja, matria e forma).
A concepo medieval de pessoa foi fundamental
para o surgimento do princpio da igualdade como ine-
rente condio humana. No obstante qualquer tipo de
diferena externa tais como origem geogrfca, sexo,
etnia, condio social etc. , internamente todos os ho-
mens eram iguais, compartilhavam da mesma essncia.
Dessa noo de igualdade de essncia, nasce o ncleo de
uma ideia de direito universal natural a todos os homens.
Se todos os homens so iguais em sua essncia, tm os
mesmos direitos. J que estes direitos dizem respeito
essncia do homem e assim encontram-se indiscrimina-
damente em todas as relaes humanas, ento so natu-
rais e universais. E desse argumento surge a concluso
de que todas as leis contrrias ao direito natural no te-
riam vigncia ou fora jurdica. Assim, lanaram-se as
bases de um juzo de constitucionalidade avant la lettre.
(COMPARATO, 2010, p. 32.).
J na Idade Moderna, podemos citar Kant (2009,
p. 241) como mais um marco desta evoluo. Ele faz
170
a distino entre pessoas e coisas em sua obra
Fundamentao da metafsica dos costumes:
Os seres, cuja existncia no se baseia, verdade, em
nossa vontade, mas na natureza, tm, no entanto, se
eles so seres desprovidos de razo, apenas um valor
relativo, enquanto meios, e por isso chamam-se coisas;
ao contrrio, os seres racionais denominam-se pesso-
as; porque sua natureza j os assinala como fns em
si mesmos, isto , como algo que no pode ser usado
meramente como meio, por conseguinte <como algo
que> restringe nessa medida todo arbtrio (e um ob-
jeto de respeito).
Ao proceder tal distino, Kant exclui dos atributos da
pessoa os atributos da coisa, e vice-versa. Assim, no
se pode atribuir pessoa o que se atribui coisa. A coi-
sa no depende de sua vontade, mas apenas da vontade
natural. Ela predeterminada. A pessoa depende de sua
vontade para a sua realizao, que justamente o que a
constitui. A pessoa um fm em si mesma. A coisa um
meio. A pessoa no pode ser usada como meio para nada,
pois se constitui em sua essncia em ser fm em si mesma.
Assim, a noo de dignidade da pessoa humana aglutina
mais um elemento: o fato de ser fm, e nunca meio.
A pessoa tem na liberdade a sua caracterstica mais
importante, que a defne. A coisa , ao contrrio, defnida
pela falta dessa liberdade. Em sua Introduo metafsica
dos costumes, Kant (2003, p. 66) explica:
Uma pessoa um sujeito cujas aes lhe podem ser im-
putadas. A personalidade moral no , portanto, mais do
171
que a liberdade de um ser racional submetido a leis mo-
rais (enquanto a personalidade psicolgica meramen-
te a faculdade de estar consciente da prpria identidade
em distintas condies da prpria existncia). Disto re-
sulta que uma pessoa no est sujeita a outras leis seno
quelas que atribui a si mesma (ou isoladamente ou, ao
menos, juntamente com outros). Uma coisa aquilo ao
que nada pode ser imputado. D-se, portanto, o nome de
coisa (res corporalis) a qualquer objeto do livre-arbtrio
que seja ele prprio carente de liberdade.
Nas palavras de Comparato (2010, p. 37 e 38):
Pois bem, a afrmao por Kant do valor relativo das
coisas, em contraposio ao valor absoluto da digni-
dade humana, j prenunciava a quarta etapa histrica
na elaborao do conceito de pessoa, a saber, a des-
coberta do mundo dos valores, com a consequente
transformao dos fundamentos da tica. O homem
o nico ser, no mundo, dotado de vontade, isto ,
da capacidade de agir livremente, sem ser conduzi-
do pela inelutabilidade do instinto. [...] Em suma, a
quarta etapa na compreenso da pessoa consistiu no
reconhecimento de que o homem o nico ser vivo
que dirige a sua vida em funo de preferncias valo-
rativas. Ou seja, a pessoa humana , ao mesmo tempo,
o legislador universal, em funo dos valores ticos que
aprecia, e o sujeito que se submete voluntariamente a
essas normas valorativas. [grifos nossos]
Por fm, podemos considerar, como a mais recente etapa
do processo de formao da ideia de dignidade humana,
172
a infuncia da flosofa existencialista. A partir dessa vi-
so, a pessoa no um mero personagem defnido pela
sua funo ou qualifcao social. Cada um possui uma
identidade singular, nica e insubstituvel. Isto porque,
no obstante todos os homens serem iguais em sua es-
sncia, essa essncia se caracteriza no por um ser abso-
luto, mas por um vir a ser peculiar ao homem.
120
Percebemos assim como se encontra a noo de dig-
nidade humana. O homem, qualifcao universal que
abarca toda a coletividade dos indivduos, independente
de sua condio externa, possui uma substncia interna
comum a todos os outros homens. Essa identidade natu-
ral comum, que o defne, o vir a ser; ou seja, a carac-
terstica de ter em suas mos o controle de sua vontade
e a escolha de seu ser, a fm de se realizar como pessoa.
A dignidade do homem fundamentada na ideia de
que todo homem um fm em si mesmo, por natureza de
sua prpria condio, que o defne. Sendo pessoa, e no
coisa, no pode servir de meio a nenhum outro fm, sob
pena de ser coisifcado, deixando assim de ser homem,
perdendo a sua dignidade.
121
Ser pessoa, como visto, fato fundamental que pede
relevncia extrema do Direito. Por isso, at, a coern-
cia da expresso, aparentemente redundante, dignidade
da pessoa humana. No se trata da dignidade da coisa
120. Tal pensamento tem reflexo na concepo de dignidade humana de Pico
della Mirandola, como visto anteriormente, no captulo intitulado Paradigma
moderno e direito poltico.
121. No mesmo sentido: Da provm o entendimento de que o ser humano
um fim em si mesmo, dotado de uma qualidade intrnseca que o torna insus-
cetvel de converter-se em meio ou instrumento para a realizao de interesses
econmicos polticos e ideolgicos. (SOARES, 2010, p. 142)
173
humana, ou da mera dignidade humana, sendo o ser
humano o que quer que seja. A expresso contm em si
um imperativo de ao, pois ser uma pessoa humana sig-
nifca ser um ente (no uma coisa) que, pela vontade, se
realiza como tal. Cabe frisar que a pessoa se realiza, ou
seja, depende de ao. Para haver dignidade da pessoa
humana, necessrio que se tenha a possibilidade de au-
torrealizao de cada indivduo, dentro da coletividade.
necessria a liberdade de escolha, a possibilidade de
opes, o espao necessrio sua autodefnio.
Do pensamento de Kant (2003, p. 66), visualizamos
claramente a relao entre o Direito e a dignidade da pes-
soa humana.
Uma pessoa um sujeito cujas aes lhe podem ser
imputadas. A personalidade moral no , portanto,
mais do que a liberdade de um ser racional submetido
a leis morais (enquanto a personalidade psicolgica
meramente a faculdade de estar consciente da prpria
identidade em distintas condies da prpria existn-
cia). Disto resulta que uma pessoa no est sujeita a
outras leis seno quelas que atribui a si mesma (ou
isoladamente ou, ao menos, juntamente com outros)
(grifos nossos)
Podemos inferir mais uma defesa do contratualismo mo-
derno, bem como do Estado democrtico de direito. O
prprio Estado criado a partir da dignidade da pessoa
humana, como meio de sua concretizao. Meio para
um fm, ele se legitima e agrega validade, na medida de
sua coerncia para com os valores pelos quais foi criado.
Dentre eles, talvez o mais importante seja a dignidade da
174
pessoa humana. O Direito , ento, ferramenta da dig-
nidade da pessoa humana, ou em outras palavras, fer-
ramenta (meio) para a concretizao da autonomia da
vontade desta (o fm).
Assim, percebemos o alcance jurdico do conceito de
dignidade da pessoa humana. Tal noo no s ampara
todos os demais fundamentos, mas permeia toda a exis-
tncia do ordenamento jurdico, como valor precpuo e
fm ltimo
122
. Isso quer dizer que o cidado no vive em
funo do Estado, mas, ao contrrio, o Estado vive em
funo do indivduo.
123
Neste sentido, SOARES (2010, p. 143) sentencia:
Com efeito, os valores consubstanciados pelos direitos
humanos fundamentais levam convico de que o
ser humano ser digno de respeito por parte do outro
ator social, pois respeitar o outro signifca compreend-
lo enquanto coparticipante da vida comunitria. A
dignidade do outro estar, portanto, sempre vincula-
da ao reconhecimento recproco de que o ser humano
no pode ser degradado ou coisifcado, o que constitui
a base da convivncia humana em sociedade. O signi-
122. Uma vez situado no pice do sistema jurdico, o princpio da dignidade
da pessoa humana exprime as estimativas e finalidades a ser alcanadas pelo
Estado e pelo conjunto da sociedade civil, irradiando-se na totalidade do direito
positivo ptrio, no podendo ser pensadas apenas do ponto de vista individual,
enquanto posies subjetivas dos cidados a ser preservadas diante dos agentes
pblicos ou particulares, mas tambm vislumbrada numa perspectiva objetiva,
como norma que encerra valores e fins superiores da ordem jurdica, impondo
a ingerncia ou a absteno dos rgos estatais e mesmo de agentes privados.
(SOARES, 2010, p. 149.) [grifos nossos]
123. Na coerncia do Direito com a dignidade da pessoa humana, percebemos
o pice da concretizao dos fundamentos basilares do paradigma moderno:
o antropocentrismo e o imperativo da razo.
175
fcado tico-jurdico da dignidade da pessoa humana
compreende a totalidade do catlogo aberto de di-
reitos humanos fundamentais, em sua permanente
indivisibilidade e interao dialtica, abarcando va-
lores que se contradizem e preponderam a depender
do momento histrico e das singularidades culturais
de cada grupo social, tais como aqueles relacionados
aos direitos de primeira dimenso/ gerao (vida, li-
berdade, igualdade, propriedade), segunda dimenso/
gerao (sade, educao, assistncia social, trabalho,
moradia), terceira dimenso/ gerao (proteo ao
meio ambiente, preservao ao patrimnio artstico,
histrico e cultural) e at mesmo de quarta dimenso/
gerao (paz, direitos de minorias, tutela em face da
biotecnologia, proteo perante a globalizao econ-
mica). [grifos nossos]
O princpio da dignidade da pessoa humana permeia
todo o ordenamento jurdico nacional. Todo o nosso
Direito existe e voltado para a concretizao da rea-
lizao dos indivduos como pessoa, e no seria dife-
rente com a matria eleitoral, que, como visto, reveste-
se de especial relevncia defesa e concretizao dos
direitos fundamentais e, consequentemente, do Estado
Democrtico de Direito.
124
Assim, o Direito Eleitoral deve, antes de tudo, levar em
considerao esta fnalidade em sua conformao e apli-
cao. Deve, por meio de seus dispositivos legais e da atu-
124. J que, sem os direitos fundamentais, especialmente o primeiro deles a
dignidade da pessoa humana no h como se garantir a verdadeira existncia
do Estado Democrtico de Direito, em sua real e coerente concepo, baseada
em seus fundamentos.
176
ao de seus operadores, garantir a realizao da pessoa
humana como tal, propiciando ambiente frtil a este fm.
Do pluralismo poltico e do pluripartidarismo
Visto que a dignidade humana se reveste do carter da
liberdade em sua acepo moderna, de autonomia
do indivduo e que o Estado Democrtico de Direito
existe com a fnalidade precpua de garanti-la
125
, cabe a
este, por imperativo fundamental, propiciar as condi-
es necessrias ao exerccio e desenvolvimento da li-
berdade humana.
O exerccio efetivo desta se manifesta, em um Estado
Democrtico de Direito, na faculdade de escolha garan-
tida ao indivduo, diante das diversas situaes sociais:
direito de escolher seus representantes, de ser candida-
to a representante popular, de tomar parte nas decises
polticas, de acompanhar e controlar o exerccio do po-
der poltico (liberdade poltica); direito de segurana,
proteo de sua pessoa e de seus bens contra arbitrarie-
dades (liberdade individual); direito de ir e vir (liber-
dade de locomoo); direito de se expressar, de mani-
festar pensamentos e opinies (liberdade de pensamen-
to e expresso) etc. No por acaso que as declaraes
de direitos do homem tm em comum um rol de tais
liberdades garantidas.
Assim, para que haja a liberdade do indivduo, faz-se
necessrio que existam possibilidades concretas de esco-
125. Ver tpicos anteriores.
177
lha. Da a importncia do pluralismo
126
, adotado por nos-
sa Constituio como qualidade de nossa sociedade
127
es-
sencial ao Estado democrtico. Neste sentido, somamos
a explicao do professor Baracho (1995, p. 2):
A primazia do indivduo completa-se pela ideia de que
todos os membros da sociedade so iguais por essncia.
Essa igualdade, devido natureza humana comum,
uma igualdade de direito ou de direitos, que deixa
de lado a questo da igualdade de fato. Essa confan-
a aparece na compreenso de que a organizao da
sociedade dominada pelo princpio da liberdade dos
cidados [...] As condies para o efetivo exerccio des-
sa liberdade supe a escolha a que se procede em uma
sociedade pluralista, pelo que o liberalismo inimigo
da uniformidade: multipartidarismo, ausncia de reli-
gio do Estado, pluralismo sindical, escolar e associa-
tivo. Condena-se o monoplio da imprensa escrita e
audiovisual, bem como a censura, uma vez que todas
as opinies podem ser expressas. O pluralismo supe a
existncia de oposio. [grifos nossos]
126. Conceitualmente, o pluralismo exige amplitude de opes, terreno sobre o
qual poder ento ser exercida a faculdade de escolha. Tem-se nesta exigncia
a nica forma de se garantir a efetividade da previso constitucional a respeito
de uma sociedade fundada em bases pluralistas.
127. Ns, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrtico, destinado a assegurar o
exerccio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurana, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justia como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a soluo pacfica das
controvrsias, promulgamos, sob a proteo de Deus, a seguinte Constituio
da Repblica Federativa do Brasil:(Prembulo da Constituio da Repblica
Federativa do Brasil) (grifos nossos)
178
Como bem dito pelo professor Baracho, o pluralismo
depende da existncia de oposio
128
, ou seja, de garan-
tias institucionais
129
que assegurem alternativas ao sta-
tus quo hegemnico. Sendo o pluralismo poltico uma
das manifestaes do ideal pluralista, percebe-se que a
ideia do pluralismo poltico assegurar a existncia de
oposio poltica
130
.
128. Diderot, ainda no iluminismo, j defendia o direito de oposio como
natural, inalienvel e sagrado: Tout gouvernement arbitraire est mauvais;
je nen excepte pas le gouvernement arbitraire dun matre bon, ferme, juste
et clair. Ce matre accoutume respecter et chrir, un matre, quel quil
soit. Il enlve la nation le droit de dlibrer, de vouloir ou de ne pas vouloir,
de sopposer mme au bien. Le droit dopposition me semble, dans une socit
dhommes, un droit naturel, inalinable et sacr. (TOURNET e DIDEROT,
1899, p. 143 e 144.) [grifos nossos]
129. Na verdade, foi medida e que se gerou, desenvolveu e solidificou a
ideia hoje tida por intangvel de que o exerccio do poder poltico se efec-
tiva segundo regras (pr-)estabelecidas na Constituio que igualmente se
colocou a questo do funcionamento da oposio ao poder de acordo com
regras reconhecidas pelo sistema jurdico-poltico. Nesta ordem de ideias, ou-
tra perspectiva no se pode pois apontar para este estudo acerca do direito de
oposio seno aquela que encarrega a prpria Constituio (melhor, a ordem
constitucional e, dentro dela, estruturas to importantes como o pluralismo
ou o princpio democrtico-eleitoral, v.g.) de estabelecer o critrio de definio
da oposio poltica. Com efeito, a Constituio que, juntamente com outras
leis materialmente competentes e demais normas e instituies pertencentes
ao seu ncleo, fixa o sentido e os limites em que, seja do ponto de vista dos
governados seja da ptica dos governantes, podem ser concebidos uma opo-
sio poltica e um direito de oposio. (LEITO, 1987, p. 36.)
130. Nos referimos aqui tanto oposio legal institucional, quanto ao con-
flito legitimado, nos termos que coloca Silva Leito: assim que se justifica
uma distino entre conflito e oposio. Como afirma BERNARD CRICK,
preciso preservar o significado especfico da oposio legal, da oposio como
uma instituio, no o tomando como sinnimo de conflito, contestao ou
outras coisas. O conflito pelo menos dentro de uma concepo que lhe atribua
relevncia como facto social e/ou poltico , sem dvida, uma condio para
a existncia da polity (organizao poltica); mais fundamental , contudo, a
legitimao do conflito, normalmente atravs da institucionalizao da compe-
tio eleitoral e partidria e da representao a vrios nveis, incluindo neces-
179
A existncia de oposies garante a existncia de es-
colhas. O pluralismo exige a permanncia de condies
efetivas que assegurem o contraditrio e seu exerccio. E
tal raciocnio ganha contornos mais relevantes na esfera
poltica. O pluralismo poltico, alm de propiciar, por um
lado, liberdade ao indivduo no sentido da possibilidade
de escolhas decorrente da existncia de opes, por ou-
tro garante proteo a todas as demais liberdades indivi-
duais, na medida em que impede o monoplio do poder
e sua possvel converso em totalitarismo.
Impe-se advertir que no h que se confundir plu-
ralismo poltico com pluripartidarismo (pluralismo par-
tidrio). Isso para que no nos rendamos, precipitada-
mente, a uma associao ingnua e equivocada entre os
termos, fruto de uma viso superfcial do assunto, caren-
te de anlise mais criteriosa. De fato, com um mnimo de
conhecimento da matria, no incorreremos neste erro.
A fm de desembaraar a questo, faremos a distin-
o de alguns termos que, no obstante sua similaridade,
trazem contedos distintos. So estes: pluralismo; plu-
ralismo constitucional; pluralismo poltico; e pluriparti-
darismo (pluralismo partidrio).
O pluralismo, como fundamento flosfco, raiz
de onde surgem ramifcaes que nada mais so do que
manifestaes do mesmo fundamento. Assim, funda e
sariamente o Parlamento. Cfr. B. CRICK, On Conflict and Opposition, 43-44;
MICHAEL OAKESHOTT, On Magna Carta, 108: <<But opposition properly
speaking, is something more sophisticated than either mere dissidence or insur-
rection>>. Ainda, DANIEL GRANJON, ob. Cit, 416 ss. Registre-se, neste passo,
as primeiras manifestaes do reconhecimento jurdico da oposio poltica:
antes de tudo, atravs da legislao eleitoral e dos regulamentos parlamentares;
de forma mais directa, e tambm mais recentemente, pela constitucionalizao
dos partidos polticos. (LEITO, 1987, p. 39.) [grifos nossos]
180
mantm as demais formas especfcas de pluralismo
aqui em anlise. Como acima explicado, diz respeito
garantia de escolhas, capaz de propiciar a realizao
da liberdade condizente com a dignidade humana. Ele
no tem alcance apenas na atividade poltica (relativa
ao poder), mas permeia toda a vida em sociedade: li-
berdade de expresso, liberdade de imprensa, ausncia
de censura, multipartidarismo, ausncia de religio of-
cial, proteo a culto de qualquer natureza, liberdade
de associao, pluralismo sindical, repdio ao racismo
ou a qualquer forma de discriminao etc. Todas essas
prescries so manifestaes do pluralismo, sendo, ao
mesmo tempo, garantias deste.
131
Podemos dizer que o
pluralismo acarreta tanto a garantia das liberdades in-
dividuais quanto o desenvolvimento social, vez que, ao
garantir o embate de oposies e a existncia de opes
concretas ao exerccio da autonomia de vontade, obs-
131. Sobre a expresso pluralismo, explica Sartori (1982, p. 35): pode ser
conceituada em trs nveis: (i) cultural, (ii) societal e (iii) poltico. No primeiro
nvel, podemos falar de uma cultura pluralista na mesma latitude de signifi-
cado que as noes paralelas da cultura secularizada e de cultura homognea.
Uma cultura pluralista mostra uma viso de mundo baseada, em essncia, na
convico de que a diferena, e no a semelhana, a dissenso e no a unani-
midade, a mudana e no a imutabilidade, levam a uma vida melhor. Pode-se
dizer que isso um pluralismo filosfico, ou a teoria filosfica do pluralismo
[...] Com relao ao segundo nvel, o pluralismo societal deve ser distinto da
diferenciao societal. Ambos so estruturas societais ou, mais exatamente,
princpios estruturais que resumem configuraes socioestruturais. Mas, do
fato de que toda sociedade complexa se revela diferenciada, no se segue de
modo algum que todas as sociedades sejam diferenciadas pluralisticamente.
Como eu disse antes, uma sociedade plural no uma sociedade pluralista,
pois esta ltima apenas um dos muitos tipos possveis de diferenciao so-
cietal. Com relao ao terceiro nvel, pode-se dizer que o pluralismo poltico
indica uma diversificao do poder e, mais precisamente, a existncia de
uma pluralidade de grupos que so ao mesmo tempo independentes e no-
inclusivos. [grifos nossos]
181
ta a estagnao e promove a renovao da sociedade
como um todo.
132
O pluralismo constitucional consiste basicamente na
constituio de um governo misto caracterizado pela
diviso do poder e pela doutrina do controle e do equi-
lbrio de poderes. Tal ideal defendido na tentativa de,
criando um poder plural, exercido por agentes distintos
em funes distintas, possibilitar a conteno e o contro-
le do poder poltico por meio de um equilbrio de foras
interno ao governo. Em nosso Estado, o pluralismo cons-
titucional garantido pela diviso dos trs poderes inde-
pendentes executivo, legislativo e judicirio. V-se que
o pluralismo constitucional se constitui em mais uma
ferramenta ao fm pretendido pela teoria pluralista.
133
O pluralismo poltico, como dito, consubstancia-se
na existncia de mecanismos capazes de garantir a plu-
132. [...] por quatro vezes a lei fundamental utiliza o termo pluralismo: em
seu prembulo (pluralismo social), no art. 1 (pluralismo poltico), no art. 17
(pluralismo partidrio) e no art. 206, III (pluralismo de ideias e concepes
pedaggicas). Esse no , certamente, um termo vazio. Ao contrrio, possui
uma significao prescritiva, qualitativa. Dizer que uma sociedade deve ser
pluralista no significa fixar-se uma determinao numrica, acima de alguns
e abaixo de muitos, dentro da qual se permite a convivncia dos diferentes.
Significa, ao contrrio, o dever de criar e manter esse espao de convivncia;
restringi-lo, direta ou indiretamente, corresponde a ferir o princpio pluralista.
(CUNHA, 1996, p. 148.)
133. Vamos, primeiro, fazer uma pausa para observar que o pluralismo
partidrio foi precedido pelo pluralismo constitucional e que este ltimo
no abriu o caminho para o primeiro. O constitucionalismo havia louvado
e buscado, desde Aristteles o governo misto, no o governo partidrio.
Em particular, o pluralismo constitucional a diviso do poder e a doutrina
do controle e do equilbrio de poderes antecedeu de muito o pluralismo
partidrio e foi construdo sem os partidos e contra eles. Constitucional-
mente falando, um corpo poltico no s podia como devia ser separado
em partes; mas a analogia, ou o princpio, no foi levado quelas partes que
eram partidos. (SARTORI, 1984, p. 34.)
182
ralidade de opes polticas, de ideias, de ideologias, de
agentes, de grupos... enfm, de assegurar sempre a exis-
tncia de oposio ao status quo hegemnico. Desta for-
ma, busca evitar o monoplio e consequente cristalizao
do poder, promovendo a renovao poltica, garantindo
sua impessoalidade e seu desenvolvimento
134
.
J o pluripartidarismo ou pluralismo partidrio
diz respeito garantia de existncia de opes parti-
drias, concretas e legtimas, que permitam o confronto
dialtico perante o exerccio do poder poltico estabele-
cido. Canotilho (1991, p. 197) descreve o pluripartida-
rismo como a existncia de vrios partidos igualmente
dotados da possibilidade de predominar sobre os de-
mais (grifos nossos). Cabe salientar que a mera exis-
tncia de multiplicidade de agremiaes partidrias no
implica pluralismo partidrio.
O pluripartidarismo, sendo instrumento do pluralis-
mo poltico
135
, deve necessariamente a este suas caracte-
rsticas, dentre as quais a funo precpua de garantir a
existncia de oposio e a alternncia de agentes no exer-
ccio das funes pblicas, assim evitando a hegemonia
do poder poltico, bem como a sua personifcao, e as-
134. Segundo Sartori (1982, p. 36) pode-se dizer que o pluralismo poltico in-
dica uma diversificao do poder e, mais precisamente, a existncia de uma
pluralidade de grupos que so ao mesmo tempo independentes e no-inclusivos.
135. Assim Ribeiro (1996, p. 19) descreve a relao entre pluripartidarismo e
pluralismo poltico em seu texto A lei dos partidos polticos: [...] o pluralismo
poltico encontra no sistema pluripartidarista um de seus eficientes instrumentos
nos mltiplos papeis que empreende, de exclusivo cunho poltico, transpondo das
vertentes da Sociedade sortimentos de ideias, sentimentos, impresses e interes-
ses extrados das fermentaes coletivas como fragmentos de pensamento que
so maturados em conversaes, debates, informaes ou discusses, e depois
comeam a produzir reaes de acolhimento ou rejeio, modificando-se, adqui-
rindo novos ingredientes, em continuadas interaes pessoais. [grifos nossos]
183
segurando as liberdades individuais (tanto no sentido de
se assegurar opes de escolha, quanto no sentido de se
garantir proteo ao indivduo ante a possibilidade de
abuso do poder poltico). Enfm, o pluripartidarismo
busca, atravs da multiplicidade de partidos, promover
a manuteno da oposio poltica, do exerccio do con-
traditrio, da respirao do exerccio das funes p-
blicas, assim garantindo defesa ao indivduo diante do
monoplio do poder poltico.
Faz-se imperativo perceber que, mesmo havendo uma
grande variedade de partidos, ser bastante que esses,
por qualquer modo, deixem de representar alternativa
estrutura de poder predominante na sociedade em que
se situem, para que se descarte a existncia de pluralismo
partidrio nesta sociedade
136
. Tais partidos sero apenas
corpos desprovidos de alma e de esprito, assim incapa-
citados de representar aquilo que real e efetivamente ca-
racteriza um pluralismo partidrio, que, como dito, vem
a ser a garantia do exerccio da confrontao dialtica ao
poder estabelecido.
137
136. [...] voltando ao esteio estrutural do conceito, deve-se entender claramente
que o pluralismo no consiste simplesmente de associaes mltiplas. Estas
devem ser, em primeiro lugar, voluntrias (e no atributivas) e, em segundo,
no exclusivas, isto , baseadas em afiliaes mltiplas sendo estas o trao
marcante crucial de uma estruturao pluralista. A presena de um grande
nmero de grupos identificveis no comprova, de modo algum, a existn-
cia do pluralismo, mas apenas um estado desenvolvido de articulao e/ou
fragmentao. As sociedades multigrupais so pluralistas se, e apenas se, os
grupos forem associativos (e no consuetudinrios ou institucionais) e, o que
mais, s quando se puder constatar que as associaes se desenvolveram
naturalmente, que no so impostas. (SARTORI, 1982, p. 38.)
137. Pertinente ao tema o seguinte depoimento do professor Nascimento (1998,
p. 31), sobre o pluripartidarismo brasileiro: A fragilidade dos partidos polti-
cos uma constante na histria partidria brasileira. Uma triste verdade que,
184
A partir do exposto, chegamos a algumas considera-
es: (1) que o termo pluralismo
138
representa a ideia de
assegurar possibilidades concretas ao exerccio das liber-
dades individuais, a partir da garantia de existncia de
oposies e consequentemente de opes de forma
a se manter bices a qualquer tipo de hegemonia ou to-
talitarismo; (2) que o pluralismo se d na esfera cultural,
na esfera societal
139
e na esfera poltica; (3) que habitan-
do esta ltima esfera est o pluralismo poltico
140
, que,
especialmente destinado a defender os direitos indivi-
duais diante do poder institudo, zela pela manuteno
da existncia de uma diversifcao do poder, bem como
de uma oposio poltica ao status quo dominante, a fm
de se evitar o monoplio do poder poltico; (4) que, para
tanto, utiliza-se de vrios mecanismos, dentre os quais o
pluralismo constitucional consubstanciado na diviso
e equilbrio de poderes em um sistema de pesos e contra-
pesos, e o pluralismo partidrio (pluripartidarismo) ,
alis, acompanha a prpria fragilidade real de todas as instituies democr-
ticas. Assim como elas, os partidos brasileiros so mais formais do que reais,
nenhum deles, afinal, forja razes que lhe deem uma personalidade prpria. A
cada golpe dos vrios que vitimaram nossa democracia, os partidos polticos
tambm eram levados de roldo. Formaram-se partidos no Brasil, sempre de
cima para baixo. Alguns, at, como a Aliana Renovadora Nacional (ARENA)
e o Movimento Democrtico Brasileiro (MDB), por deciso palaciana. Outros,
como o antigo Partido Social Democrtico (PSD) e o Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB), por deciso dos governantes. Todos, ou quase todos, resultado
de acordos de lderes polticos j estabelecidos. Exceo encontra-se naqueles
poucos que partiram das bases, como o Partido do Trabalhadores (PT) e os
de esquerda declarada.
138. Encontrado, como visto, no prembulo de nossa Constituio Federal.
139. Utilizando a expresso de Giovanni Sartori.
140. Fundamento de nosso Direito Eleitoral, conforme se depreende da leitura
da CF de 88 a partir de todo o aqui exposto.
185
que se traduz na garantia de existncia de dois ou mais
partidos estruturados de acordo com a concepo plura-
lista, de maneira que seja promovido o embate dialtico
entre os agentes polticos e evitada a cristalizao do po-
der nas mos de um ou alguns indivduos.
Da representao
Muito j foi dito sobre a democracia representativa no
tpico anterior intitulado Democracia representativa e
Direito Eleitoral
141
. No entanto, gostaramos de tecer ain-
da algumas consideraes pertinentes ao tema, no in-
tuito de fomentar o debate. Vimos anteriormente que a
democracia em sua forma clssica grega se apresenta in-
vivel nossa atual realidade, restando-nos (pelo menos
por ora) a sua forma representativa como nica opo.
Kelsen (2000, p. 48) salienta que quanto maior a coleti-
vidade estatal, tanto menos o povo parece ter condies
de exercer imediatamente a atividade realmente criadora
da formao da vontade do Estado. Esse fato se cons-
titui em problema de maior relevncia para a avaliao
do fundamento democrtico de um Estado e sua conse-
quente legitimao. De acordo com o discurso democr-
tico, h que existir a ntima correlao entre a vontade
popular e a formao e funcionamento do Estado. Ento
cabe a pergunta: o sistema representativo realmente ga-
rante tal relao?
Kelsen (2000,p. 48), a esse respeito, apresenta uma cr-
tica relevante:
141. Item 3.2.2
186
[...] Desejava-se dar a impresso de que, mesmo no
parlamentarismo, a ideia de liberdade democrtica e
apenas ela exprime-se integralmente. Para isso, recor-
re-se fco da representao, ideia de que o par-
lamento apenas um representante do povo, de que
o povo pode exprimir a sua prpria vontade apenas
no parlamento e atravs dele, embora no princpio
parlamentar, em todas as constituies, vigore exclu-
sivamente a regra de que os deputados no podem
receber instrues obrigatrias dos prprios eleitores,
o que torna o parlamento, no exerccio de suas fun-
es, juridicamente independente do povo. Alis, com
esta declarao de independncia do parlamento em
relao ao povo, nasce o parlamento moderno, que
se destaca da instituio anloga dos Estados antigos,
cujos membros estavam notoriamente vinculados por
mandatos imperativos dos seus grupos de eleitores e
eram responsveis perante eles.
Kelsen defende que a democracia representativa um
engodo um discurso legitimador do poder dos parla-
mentares e chama a ateno para o fato de que o parla-
mento moderno apresenta uma caracterstica incoerente
com a sua fundamentao, qual seja, um mandato parla-
mentar desvinculado da vontade do eleitor.
142
Quanto a esse ponto, apresenta dura crtica:
142. Alega, inclusive, que o prprio descrdito do sistema democrtico deve
muito falta de vnculo entre os mandantes e os mandatrios: A irrespon-
sabilidade do deputado perante seus eleitores, sem dvida uma das causas
essenciais do descrdito em que caiu hoje a instituio parlamentar, na reali-
dade no um elemento necessrio, como transparecia da doutrina do sculo
XIX. (KELSEN, 2000, p. 55)
187
A fco da representao deve legitimar o parlamen-
to do ponto de vista da soberania popular. Mas essa
fco evidente, destinada a dissimular o golpe verda-
deiro e fundamental desferido contra o princpio de li-
berdade pelo parlamento, ofereceu aos adversrios da
democracia o argumento para afrmarem que a pr-
pria democracia estaria fundada sobre uma falsidade
bvia. Assim, a fco da representao, a longo prazo,
no teve mais condies de cumprir a sua misso pr-
pria e verdadeira, qual seja de justifcar o parlamento
do ponto de vista da soberania popular [...] (KELSEN,
2000, p. 48.)
Nas palavras de Kelsen, notamos os contornos de um dos
pontos mais polmicos da teoria da representao, que
diz respeito sua forma o embate entre o mandato livre
e o mandato vinculado.
143
Bobbio (2000, p. 461), apresenta a contenda:
O carter distintivo das duas formas de representao
est em ser, a primeira, constituda com mandato vin-
culado, a segunda, com mandato livre. Mas quem age
por conta de um outro sem estar vinculado pela vonta-
143. Sobre o embate entre mandato vinculado e mandato livre, Kelsen ironi-
camente comenta (2000, p. 371): As posies de Steffen e de Hasbach com
relao democracia direta e especialmente ao mandato imperativo indicam
claramente como os juzos de valores polticos influenciam a teoria. Steffen,
que considera a democracia como a melhor forma poltica, desaprova o man-
dato imperativo, declarando-o antidemocrtico (op. cit. p. 23); Hasbach, por
outro lado, que tambm considera tal mandato desfavorvel, declara-o uma
consequncia da soberania nacional, opondo-o ao ideal da democracia (op.
cit. p. 322). Neste aspecto, o adversrio da democracia reconheceu com mais
clareza a essncia desta.
188
de do mandante pode ainda ser propriamente chamado
de representante?
Campilongo (1988, p. 15) apresenta o problema de ou-
tra forma:
Existem duas correntes a respeito do que seja a relao
de representao: a primeira encara-a como uma rela-
o interindividual entre representante e representado;
a segunda v os representantes como um grupo (a as-
sembleia) que representa a comunidade como um todo,
isto , uma relao intergrupal. (CAMPILONGO,
1988, p. 15.)
Tal discusso remonta talvez ao sculo XVII, onde j
se encontram testemunhos sobre o tema
144
. Rosseau, em
144. Bobbio (2000, p. 461) comenta: No mais, pode-se observar que, se a re-
presentao com mandato livre foi uma grosseira fico [fazendo referencia
ao entendimento de Kelsen], ela remonta a muito mais no passado. costume
citar a esse respeito um famoso trecho do discurso de Burke aos seus eleitores
do colgio de Bristol (1774), no qual se afirma claramente que o parlamento
uma assembleia deliberativa de uma nao, com um nico interesse, o interesse
da comunidade, onde o membro do parlamento no pode receber instrues
que seja obrigado a observar. Mas afirmao de princpio anloga pode ser
lida em uma passagem de um sculo anterior a esta, extrada do Patriarca de
Filmer: No me consta que o povo, que com seu voto elegeu representantes
dos condados e dos burgos, exija uma prestao de contas daqueles que ele
elegeu. [...]. Se o povo tivesse esse poder sobre seus prprios representantes,
bem poderamos dizer que a liberdade do povo uma desgraa [...]. Ele deve
limitar-se a eleger e a remeter-se aos seus eleitos, que ajam por arbtrio de-
les (III, 14). Uma das mais completas ilustraes dessa tese encontra-se na
Filosofia do direito de Hegel: Dado que a deputao ocorre pela deliberao
sobre os assuntos gerais, ela tem o sentido de que, em confiana, a ela sejam
destinados indivduos tais que entendam desses assuntos melhor que os de-
putantes, assim como de que estes faam valer no o interesse particular de
uma comunidade, corporao, contra o interesse geral, mas essencialmente
189
pleno iluminismo, j criticava o sistema representati-
vo
145
. Encontramos argumentos de propriedade incon-
testvel de ambas as correntes em relao ao assunto.
Argumentos que acabam por desvelar inmeros pro-
blemas do sistema democrtico representativo. Sem
nos determos aqui em tais argumentos, que fogem aos
limites deste espao, podemos vislumbrar consequn-
cias positivas da existncia do debate.
O debate acaba por desvelar inmeros problemas tanto
sobre a teoria quanto sobre a prtica da democracia repre-
sentativa. Problemas que ensejaro a constante evoluo
do sistema como um todo. E nesse sentido, o direito elei-
toral e seus operadores muito tm a contribuir com a sua
experincia prtica, bem como se valer da rica argumenta-
o forjada pelo embate de ideias acerca do tema.
Do sufrgio universal
Existe na doutrina uma certa nebulosidade sobre o que
vem a ser o sufrgio. Veremos alguns exemplos do que
afrmamos:
este ( 309). E explica logo em seguida que, exatamente porque a sua relao
com os eleitores fundamentalmente na confiana (Zutrauen), eles no so
mandatrios (Mandatarien). Embora pertencendo a autores que viveram em
trs sculos distintos e embora tendo sido enunciados em contextos histricos
e sociais diferentes, os trs trechos coincidem ao afirmar que o representante,
uma vez eleito, rescinde a relao de mandato, no sentido tcnico da palavra,
com o eleitor, e deve ocupar-se dos assuntos gerais do pas, donde, por conse-
guinte, no pode ser revogado por no ter executado as instrues daqueles
que o elegeram.
145. [...] o povo ingls pensa ser livre e engana-se. No o seno durante a
eleio dos membros do Parlamento. Uma vez estes eleitos, torna-se escravo e
nada mais . (ROSSEAU, 1969, p. 135.)
190
Bonavides (1986, p. 269) ensina:
O sufrgio o poder que se reconhece a certo nmero de
pessoas (o corpo de cidados) de participar direta ou in-
diretamente na soberania, isto , na gerncia da vida p-
blica. Com a participao direta, o povo politicamente
organizado decide, atravs do sufrgio, determinado as-
sunto de governo, com a participao indireta, o povo
elege representantes. [grifos nossos]
Ribeiro (1996, p. 55), em seu tpico intitulado Natureza
do sufrgio, explica:
Para o funcionamento do regime representativo ne-
cessrio implantar tcnicas para organizao do corpo
eleitoral e para realizao das eleies. Essas tcnicas
so ordenadas em sistemas, dos quais uns cuidam da
organizao do corpo eleitoral e dos mtodos de su-
frgio, enquanto outros se ocupam da organizao
propriamente das eleies. Os sistemas de sufrgio
dedicam-se organizao de pronunciamento do cor-
po eleitoral, prevendo as condies e os efeitos de cada
voto individualmente considerado. A primeira tarefa a
cumprir determinar a natureza do sufrgio na socie-
dade poltica. Duas so as posies propostas: uma que
considera o voto um direito individual, enquanto outra
nele reconhece uma funo social. [grifos nossos]
Ramayana (2006, p. 83) afrma veementemente:
Ora, o sufrgio um direito pblico subjetivo, sendo con-
sectrio do art. 14 e pargrafos da Carta Magna, tendo
191
seu contedo normativo como: 1) o sufrgio universal
e o alistamento, obrigatrio; 2) o voto direto, secreto,
obrigatrio e igual para todos. [...] [grifos nossos]
E complementa descrevendo tipos, modalidades e exem-
plos de sufrgio:
Sufrgio em sentido irrestrito aqui, encarta-se o su-
frgio universal que inadmite as restries atinentes s
condies de fortuna ou capacidade intelectual [...] .
Sufrgio em sentido estrito compreende limitaes a
determinado tipo de situaes. [...] As modalidades so
explicadas pelo mestre Jos Afonso da Silva, in verbis:
1) sufrgio capacitrio reserva o direito de voto para
pessoas que tenham um determinado grau de instru-
o; 2) sufrgio censitrio restringe os votos a deter-
minadas pessoas com certas condies de fortuna. [...]
Exemplos de sufrgio desigual nas lies do doutrina-
dor Jos Afonso da Silva, verbis: 1) voto mltiplo o
eleitor pode votar mais de uma vez, s que em mais de
uma circunscrio eleitoral [...] 2) voto plural o eleitor
pode votar mais de uma vez, s que na mesma circuns-
crio ou distrito [...] 3) voto familiar o eleitor pai de
famlia tem direito a um determinado nmero de votos
[...] (RAMAYANA, 2006, p. 83.)
Silva (1996, p. 334), explica em seu tpico Direito de
sufrgio:
As palavras sufrgio e voto so empregadas comumen-
te como sinnimas. A Constituio, no entanto, d-lhes
sentidos diferentes, especialmente no seu art. 14, por
192
onde se v que o sufrgio universal e o voto direto,
secreto e tem valor igual. A palavra voto empregada em
outros dispositivos, exprimindo a vontade num processo
decisrio. Escrutnio outro termo com que se confun-
dem as palavras sufrgio e voto. que os trs se inse-
rem no processo de participao do povo no governo,
expressando: um, o direito (sufrgio); outro, o seu exer-
ccio (voto), e outro, o modo de exerccio (escrutnio). O
sufrgio (do latim sufragium = aprovao, apoio) , como
nota Carlos S. Fayt, um direito pblico subjetivo de natu-
reza poltica, que tem o cidado de eleger, ser eleito e de
participar da organizao e da atividade do poder estatal.
um direito que decorre diretamente do princpio de
que todo poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente. Constitui a ins-
tituio fundamental da democracia representativa e
pelo seu exerccio que o eleitorado, instrumento tcnico
do povo, outorga legitimidade aos governantes. Por ele
tambm se exerce diretamente o poder em alguns casos:
plebiscito e referendo. Nele consubstancia-se o consen-
timento do povo que legitima o exerccio do poder. E a
est a funo primordial do sufrgio, de que defuem as
funes de seleo e nomeao das pessoas que ho de
exercer as atividades governamentais. [grifos nossos]
Mendes, Coelho e Branco (2007, p. 693), em seu Curso
de direito constitucional, situam o assunto em subtpico
intitulado mbito de proteo, do captulo relativo aos
Direitos polticos na constituio:
Os direitos polticos abrangem o direito ao sufrgio, que
se materializa no direito de votar, de participar da or-
193
ganizao da vontade estatal e no direito de ser votado.
Como anota Romanelli Silva, no ordenamento jurdico
brasileiro, o sufrgio abrange o direito do voto, mas vai
alm dele, ao permitir que os titulares exeram o poder
por meio de participao em plebiscitos, referendos e
iniciativas populares.
Lula (2010, p. 175) diferencia sufrgio, voto e escrutnio:
O Sufrgio (do latim sufragium, aprovao, apoio, con-
cordncia) seria o direito pblico que possui o cidado de
eleger, ser eleito e participar da organizao da ativida-
de poltica do Estado, como bem ensinam os melhores
constitucionalistas [...] um direito pblico subjetivo
que decorre diretamente da soberania popular [...] per-
mitindo aos seus titulares a participao na vida polti-
ca do Estado, conduzindo os rumos de sua nao. [...]
Por seu turno, o voto o ato que consubstancia o direito
de sufrgio em sua parte ativa, o seu exerccio. [...]
Por fm, o escrutnio o modo de exerccio do voto, sua
concretizao. nada mais que o processo que abran-
ge as operaes de votao depsito e recolhimento
dos votos e a apurao dos votos. No se confunde,
portanto, nem com o sufrgio (direito), nem com o seu
exerccio, o voto. [grifos nossos]
Ainda, podemos citar trecho de Zippelius (1997, p. 254):
O princpio democrtico de uma participao igual, li-
vre e defnitiva de todos os cidados encontra expresso
nos princpios clssicos do direito de voto atravs de um
sufrgio universal, igual, livre, secreto e direto. A univer-
194
salidade do sufrgio signifca que, por princpio, todos
os cidados nacionais maiores gozam do direito de voto
e da elegibilidade, sem atender sua descendncia, sua
posio social e seus bens, sua religio e sua ideologia.
[grifos nossos]
Por fm, vejamos um texto que precedeu promulga-
o da Lei Saraiva, de autoria do liberal Tavares Bastos
(1939, apud BARRETO, 1982, p. 75 e 76), no qual ataca
as eleies indiretas e defende as diretas
146
, a palavra su-
frgio parece se confundir com a palavra eleio:
[...] , com efeito, um ponto j resolvido na conscin-
cia pblica a necessidade do sufrgio direto [...] Diferir
a eleio direta ou rejeit-la sob pretexto de inconsti-
tucionalidade, questo prvia esgotada por eminentes
oradores, o reduto em que se encontra os inimigos
do sistema parlamentar. [...] Algumas peas do nos-
so sistema ho mister transformadas porque no se-
jam suprimidas. Parte desse trabalho de substituio,
a que entende com atribuies dos poderes polticos
ou direitos dos cidados, demanda lei constituinte.
Dispensam-na de certo, vista do preciso texto do art.
178 da Constituio, os regulamentos para o exerccio
dessas atribuies e desses direitos. Neste ltimo caso
146. Tal debate precedeu promulgao da Lei Saraiva (1881), que aboliu a
eleio indireta em dois graus, mantendo, ainda, a necessidade de uma renda
lquida para o alistamento eleitoral, como explica Barreto (1982, p. 77): A Lei
Saraiva viria consagrar o estabelecimento final das instituies liberais do
imprio. Passava o regime a ser fundado na eleio direta e censitria, onde
todos os participantes do processo poltico, os cidados ativos, encontravam-
se em igualdade de condies jurdicas para escolher os governantes, desde
que satisfeitas as exigncias econmicas para participar do processo poltico.
195
est o processo das eleies. Elev-lo altura de questo
fundamental confundir a defnio do direito com o
modo prtico do seu exerccio. As constituies def-
nem o primeiro; as leis orgnicas ordenam o segundo.
, em verdade, essencial que o processo no restrinja o
direito, desde que no constituinte a assembleia que
o decreta: mas a isto nos comprometemos os liberais, a
isto seremos fis. Para uma boa reforma eleitoral, com
efeito, no careceremos tomar base diversa da noo
constitucional de direito de voto [...] O que pretendem
[...] os mais ilustres oradores do parlamento, sem dis-
tino de partidos, e a imprensa poltica de todas as
cores? [...] querem e esperam assentar o governo repre-
sentativo em base mais slida que as boas intenes do
Prncipe, a saber: a liberdade do sufrgio, a infuncia e
popularidade do parlamento. [...] Emancipemos o su-
frgio, e demos ao corpo eleitoral a permanncia de que
absolutamente carece.
Verifcamos que os entendimentos sobre o termo so os
mais diversos, bem como tambm o so os seus usos.
Para Bonavides, o sufrgio um poder de participa-
o na soberania.
Ribeiro fala em sistemas e mtodo de sufrgio, dando
a entender que se trata de uma ao, ou um processo, e
acrescenta uma informao importante o fato de que
existem duas propostas para a natureza poltica do su-
frgio, uma que considera o voto um direito individual e
outra que o considera uma funo social. Assim, perce-
be-se que ele no afrma o que seja o sufrgio, mas pode-
se inferir que ele o considere como sinnimo de voto, ou
do processo de votao.
196
Ramayana e Lula seguem ipsis litteris o entendimento
de Silva, no sentido de que o sufrgio um direito pbli-
co subjetivo.
Mendes, Coelho e Branco entendem que o sufrgio
seja um dos direitos polticos, que se materializa no di-
reito de votar, de participar da organizao da vontade es-
tatal e no direito de ser votado e, indo alm, permite que
os titulares desse direito exeram a participao no poder
por meio de plebiscito, referendo ou iniciativas populares.
Zippelius fala de um direito de voto atravs de um su-
frgio universal, livre, secreto e direto. Ou seja, o sufrgio
meio para o voto, que um direito. Podemos deduzir
que o sufrgio no considerado um direito, pois como
se adjetivaria um direito como secreto? Em sua viso
parece ser o sufrgio o prprio ato de votao, ou ento,
o processo pelo qual se concretiza o voto.
Por fm, das palavras de Barreto, poderamos inferir
que sufrgio a mesma coisa que eleio, pois, alm de
adjetivar o sufrgio com os atributos da eleio, defende
que, por se tratar de regulamentao de um direito, de
processo das eleies, e no do direito em si, a modifcao
do tipo de sufrgio no seria inconstitucional, haja vista
que o sufrgio universal, defendido por ele, no se con-
fundiria com o direito de voto, previsto na Constituio,
seria apenas uma regulamentao deste direito.
De todo esse leque de signifcados, de aparncia di-
versa, a maioria concorda ao menos com uma certeza:
a de que sufrgio e voto no podem ser a mesma coi-
sa, pelo menos no Brasil, enquanto nossa Constituio
Federal de 1988 estiver em vigor, pois, como disseram, a
prpria Constituio, em seu artigo 14, fala em sufrgio
e voto como entes diversos:
197
Art. 14. A soberania popular ser exercida pelo sufr-
gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
Ocorre, porm, que o citado dispositivo constitucional,
nico que fala do sufrgio em toda a Constituio, tem
redao pouco esclarecedora.
Nossa proposta de interpretao deste artigo, de car-
ter heurstico, seria a de que o constituinte no elencou
formas pelas quais a soberania popular pode ser exerci-
da; ele determinou a forma pela qual a soberania popu-
lar deve ser exercida. Assim, a soberania popular deve ser
exercida obedecendo a trs imperativos constitucionais:
1Que seja adotado o sistema de sufrgio universal;
2Que seja adotado o voto direto e secreto;
3 Que seja adotado o plebiscito, o referendo e a ini-
ciativa popular como forma de exerccio da soberania
popular, devendo ser regulamentado por lei o funcio-
namento de tais institutos.
Dessa forma, no entender de nossa proposta, o legislador
constituinte visou a garantir os meios que considerou aptos
verdadeira concretizao da democracia participativa.
Haja vista a diversidade de entendimentos sobre o
tema, e a necessidade de se ater a uma defnio a fm
de proceder nosso objetivo de tecer consideraes sobre
o fundamento do sufrgio universal, gostaramos de ex-
pressar nosso entendimento sobre a matria.
198
A palavra sufrgio, como dito por alguns citados,
provm do latim sufragium, que signifca voto, aprova-
o, estima. Ou seja, o termo representa um ato (voli-
tivo, que depende da participao humana) no qual se
manifesta uma escolha, uma concordncia com algo.
Mesmo respeitando as diversas opinies divergentes
sobre a matria, entendemos ser o mais sensato, a partir
de sua etimologia, tomar o termo como signifcando a
manifestao de preferncia (de escolha do cidado)
sobre aos assuntos relacionados ao exerccio do poder
poltico, seja sobre uma proposta legislativa, seja em face
de um candidato a lhe representar no exerccio do poder
poltico, seja de qualquer outra forma possvel.
Em ltima anlise, as eleies seriam um meio de re-
alizao do sufrgio popular, assim como o plebiscito, o
referendo, e, ainda, a iniciativa popular, por se caracteri-
zar, tambm, uma manifestao da vontade popular (tal-
vez a mais representativa delas).
Por essa tica, o voto se constituiria na declarao
formal do sufrgio. Seria a formalizao da manifesta-
o de vontade do eleitor, seja por meio do preenchi-
mento de uma cdula eleitoral e seu consequente dep-
sito em uma urna de lona, seja por meio da digitao
de dados na urna eletrnica, seja por outro meio que
a lei prescreva ou venha a prescrever. Por escrutnio,
entenderamos o procedimento prtico pelo qual o
Estado recebe a declarao dos votos. Em outras pala-
vras, a concretizao fsica dos procedimentos necess-
rios ao ato de votar. Por fm, a eleio (no sentido lato)
seria um processo (um conjunto de eventos) pelo qual o
povo consultado pelo Estado acerca de suas vontades
(seja em relao a quem sero os seus representantes,
199
seja em relao a uma deciso especfca a ser tomada)
para que este as execute legitimamente.
Com efeito, por meio do sufrgio que o cidado
exerce sua participao principal no Estado, tanto deci-
dindo diretamente, nos termos que nossa Constituio
preceitua, quanto elegendo seus representantes polticos.
O sufrgio a maior de todas as garantias do cidado no
sentido da preservao de seus direitos e do controle do
exerccio do poder poltico. Por meio dele o eleitor par-
ticipa do processo democrtico, formando a ponte que
liga a legitimidade do Estado legitimidade do exerccio
dos mandatos.
Diante de tais consideraes, concordamos com as
palavras de Mendes, Coelho e Branco, acima citadas, em
suas consideraes sobre o sufrgio. Trata-se, sim, de
um direito. O maior deles. O direito inalienvel (em um
Estado democrtico de direito) de se manifestar em rela-
o conduo do poder poltico, sendo fonte de toda a
legitimidade de seu funcionamento. O direito de votar
consequncia decorrente do direito de sufrgio. Mas este
no se exaure naquele. O direito de sufrgio vai alm, en-
globando todas as formas possveis de participao ativa
na conduo da coisa pblica por meio da manifestao
de vontade.
Tal a importncia do sufrgio que este no pode ser
restrito a poucos, sob pena de comprometer (teorica-
mente) a legitimidade do Governo, e (pragmaticamen-
te) a proteo do indivduo perante os possveis abusos
dos governantes. Essa concluso foi se construindo gra-
dativamente na histria da democracia, quando, pouco
a pouco, novos estratos sociais foram sendo alados
categoria de participantes dos processos democrticos
200
eleitorais. Muitos abusos foram cometidos na histria
do sufrgio, e muito a democracia representativa foi des-
caracterizada pelo alijamento de parcelas da populao.
Muitas conquistas foram obtidas pela legitimidade da
democracia representativa, e atualmente nosso Estado
tem por fundamento poltico o sufrgio universal.
O sufrgio universal aquele em que no se faz qualquer
restrio ao cidado, em razo de fortuna ou instruo.
A qualidade de eleitor, posta ao alcance de todo cidado
civilmente capaz, somente vedada s pessoas que por
disposio expressa em lei, estejam impedidas de exercer
os direitos polticos. (NASCIMENTO, 1998, p. 15.)
O sufrgio universal seria, ento, manifestao polti-
ca que conta com a participao de todos os cidados,
indiscriminadamente. Apenas com o sufrgio univer-
sal pode-se falar em democracia representativa, ou em
Estado de Direito. Somente assim garantida a legtima
representatividade do Governo, a partir da participao
efetiva da populao no processo eleitoral.
147
Neste tema, Silveira manifesta sua preocupao com a
legitimidade das eleies, que deve ser determinada pela
147. Existem, e sempre existiram, opinies divergentes, no sentido de que o
sufrgio universal leva banalizao do voto, trazendo para o seio da demo-
cracia pessoas sem aptido para tal. Um exemplo disso o seguinte discurso
do deputado Federal Gilberto Amado, proferido em 1915: Eleio e represen-
tao so cousas diferentes. Se ns queremos realizar a democracia no Brasil,
isto , o governo dos mais capazes, s o podemos conseguir tornando uma
realidade a representao, mas devemos, ao mesmo tempo, no esquecer que
a eleio pode ser um instrumento, um meio de desrepresentao, em vez de
representao. No no votar o povo livremente que consiste a democracia; a
democracia consiste em votar inteligentemente. (AMADO, 1931, p. 42, SIC.)
201
constante evoluo do processo eleitoral em busca da
correlao real entre a vontade do eleitor e os resultados
da eleio, por meio do sufrgio universal e da correta
aplicao dos fundamentos do regime:
Se a instituio do sufrgio universal considerada con-
dio necessria democracia e as leis que o estabele-
cem so, por isso mesmo, tidas como fundamentais ao
regime, certo est que a consulta popular resta, sempre,
submetida a imperativos concretos, notadamente de n-
dole cultural e social, que limitam de forma singular o
poder de expresso. Da por que alcanar a imagem cada
vez mais aproximada da vontade geral, na eleio dos re-
presentantes do povo, h de constituir meta fundamental
do processo eleitoral, ganhando especial relevo a correta
aplicao da lei especfca, que deve estipular regras para
que, no dizer de Assis Brasil, todos os que possam cons-
cientemente votar, votem ao abrigo da fraude e da violn-
cia, escoimando-se de vcio o processo pelo qual a von-
tade de cada um se manifesta. (SILVEIRA, 1998, p.16.)
E acrescenta:
O princpio da igualdade, a ser preservado no campo
da exteriorizao das preferncias eleitorais, bem as-
sim entre os partidos polticos e os candidatos a car-
gos eletivos, constitui elementar exigncia do modelo
democrtico e do pluripartidarismo que lhe inerente.
(SILVEIRA, 1998, p. 17.)
O sufrgio universal representa, ainda, garantia do
princpio da igualdade, vez que impede a distino en-
202
tre eleitores, que tem as mesmas prerrogativas e o voto
de igual valor. Percebe-se, de tudo o que se segue, a im-
portncia do sufrgio universal como fundamento do
direito eleitoral, vez que, sem ele, no se pode falar de
uma representao sria, que atenda aos demais funda-
mentos do Direito Eleitoral e do Estado Democrtico
de Direito.
Da candidatura
Sobre a palavra candidato, assim explica Porto (1995,
p. 73):
Do latim candidatus, aquele que postulava votos para
quaisquer das magistraturas, em Roma, apresen-
tando-se, em pblico, com vestes brancas as toga
candidae. A toga, de origem etrusca, normalmente
feita de l, era uma vestimenta de forma oval, posta
sobre os ombros e terminando no tornozelo. A toga
preta pulla ou srdida era usada para o luto. A
toga praetexta, ornada por uma faixa de prpura, era
a vestimenta dos magistrados e tambm das crianas
at os 16 anos. A partir dessa idade, aps uma ceri-
mnia religiosa, os jovens usavam a toga virillis. Os
generais, quando da entrada em Roma depois de uma
grande vitria na cerimnia que se denominava o
triumphus , usavam a toga picta, de cor prpura. Em
432 a. C, uma lei proposta pelos cnsules Posthumius
e Furius umas das chamadas leges de ambitus (v.
AMBITUS) chegou a proibir aos candidatos o uso,
nos lugares pblicos, da toga candida.
203
Quanto palavra ambitus, explica:
Palavra latina que, na antiga Roma, designava, inicial-
mente o espao de dois ps e meio (duo pedes et semis)
que a Lei das Doze Tbuas determinava se deixasse en-
tre duas habitaes urbanas. No observada essa distn-
cia, os deuses deixariam de proteger a manso. O termo,
depois, passou a designar qualquer delito de corrupo
eleitoral. E denominavam-se leges de ambitus os muitos
diplomas legais editados para proteger a lisura das elei-
es. Assim, a Lei Calpurnia, ao tempo de Ccero, que
punia candidatos que oferecessem ao pblico iguarias,
jogos de gladiadores e que se cercassem de pessoas as-
salariadas; a Lei Tulia, que punia os vendedores de voto
com at dez anos de exlio e que qualifcava como crime
o pagamento de pessoas que acompanhassem o can-
didato; a Lei Poetelia, do ano de 358 a. C., que chegou
a proibir se solicitassem votos nas reunies pblicas e
mercados; a lei Maria, de 120 a. C., que criou as pas-
sagens ou pontes (pons sufragiorum) que permitiam o
acesso de somente um eleitor e protegiam, desse modo,
o votante do assdio dos candidatos e de seus cabos elei-
torais. [...] (PORTO, 1995, p. 34.) [grifos nossos]
Os romanos tinham nas vestimentas um importante
smbolo de status social. A toga era sua marca de dis-
tino exclusiva. O seu uso no era permitido a estran-
geiros e nem a escravos. Como bem explicado no ver-
bete acima, existiam togas com caractersticas diversas,
a fm de se possibilitar a identifcao da condio so-
cial de quem as vestia. A toga candidae era, como dito,
reservada ao uso daqueles que postulavam votos ao
204
exerccio de alguma magistratura. Da deriva a palavra
candidato (candidatus candidato, vestido de branco,
aspirante
148
). A palavra candidus, de onde provm can-
didae, signifca branco, brilhante, sincero, franco
149
.
Ainda, como visto, a palavra sufragium signifcava
voto, aprovao, estima
150
. Assim, poderamos dizer
que os candidatus aspiravam a receber a aprovao (su-
fragium) dos seus concidados.
Para postular seus votos, os candidatus trajavam a
beca candidae (branca, alva, brilhante)
151
que repre-
sentava determinados valores (pureza, sinceridade,
franqueza)
152
. A comunho com tais valores, como se
percebe, era exigida pela sociedade romana para que
algum se apresentasse na condio de aspirante a uma
magistratura
153
. Ao vestir tal toga, o candidato afrmava,
perante a sociedade, possuir tais valores. Ou seja, ele
assumia um compromisso pblico tcito nesse senti-
do. Empenhava sua palavra, assinava uma declarao
148. (BUSSARELLO, 1995, p. 38.)
149. Idem.
150. ibdem, p. 221.
151. ibdem, p. 97.
152. Oportuno aqui, de forma a contextualizar o assunto na viso atual da
sociedade: CANDIDATO: do latim candidatus, vestido de branco. Na Roma
antiga, aqueles que postulavam cargos vestiam-se de branco para vincular
suas figuras idia de pureza e honradez que a cor branca sempre teve. Nas
democracias, marcadas por escolhas peridicas de representantes do povo, os
candidatos passaram a vestir-se de muitas outras cores, mas permaneceu a eti-
mologia do vocbulo. Entretanto, dado o que aprontam vrios deles, inclusive
depois de eleitos, a pureza foi sacrificada em nome de pragmatismos diversos,
que incluem alianas dos supostamente puros com os comprovadamente cor-
ruptos. (SILVA, 2004, p. 159.)
153. Pelo mesmo motivo, as noivas, em suas cerimnias de casamento, vestem
branco. Para afirmar sociedade que so puras.
205
acerca de seu carter, necessria obteno da confan-
a e da aprovao social (o sufragium).
Analisando a situao, percebemos que vestir a toga
candidae, ou seja, ser candidato, representava declarar
que se est ciente dos valores que a sociedade exige para
o exerccio da funo pretendida e, no mesmo ato, decla-
rar que os tm. Em outras palavras, para ser candidato,
fazia-se necessrio o preenchimento de uma pr-condi-
o: corresponder aos valores adotados pela sociedade.
E no haveria de ser diferente nos dias atuais.
No obstante a banalizao do uso do termo can-
didato, e at mesmo a ignorncia geral sobre o seu real
teor, tanto entre eleitores quanto entre muitos dos pr-
prios postulantes aos cargos eletivos, a sociedade conti-
nua utilizando-o
154
, bem como persiste exigindo o com-
prometimento de seus representantes para com os valo-
res considerados necessrios ao exerccio do mandato,
dentre os quais aquele que o defne e denomina: a pureza.
De todo o exposto, depreende-se que a candidatura
que podemos defnir sinteticamente como o imperativo
de coerncia entre o postulante ao exerccio de um cargo
pblico e os valores sociais consagrados na Constituio
o substrato, a base flosfca que condiciona a pos-
tulao ao exerccio de mandato eletivo. Assim, consti-
tui-se em fundamento basilar ao direito eleitoral e etapa
imprescindvel ao processo eleitoral. A partir da rgida
ateno aos preceitos da candidatura que surgem os
laos que vinculam os representantes eleitos aos valores
que movem o Estado democrtico de direito. A rigorosa
154. E nossa Constituio Federal o consagra juridicamente, empregando-o
em seu texto nada menos que 60 vezes.
206
obedincia a este fundamento indiscutvel pressupos-
to de validade do processo eleitoral e de legitimidade do
exerccio do poder poltico e da administrao do Estado.
O povo brasileiro, por meio de seus representantes
na Assembleia Nacional Constituinte, buscou a efeti-
vao de determinados valores na conduo da coisa
pblica, consignando-os no decorrer dos dispositivos
constitucionais, uns de forma mais explcita, outros de
maneira mais implcita. Tais so os valores que nosso
Estado Democrtico de Direito tem por dever consti-
tucional exigir do candidato. Cabe aos operadores do
direito eleitoral identifc-los e aplic-los, fazendo valer
o fundamento da candidatura em seus termos, sob ris-
co de restar comprometida a efccia das eleies e do
sistema representativo.
207
So inegveis as conquistas concernentes relao
Estado-indivduo, a partir do processo de evoluo his-
trica do Direito. Tais conquistas foram se estabelecendo,
paulatinamente, custa de muitas lutas, que se travaram
em diferentes campos de batalha regados pelo sangue de
milhares de inocentes que acreditaram em uma causa.
Inocentes que foram compelidos a lutar pela prpria so-
brevivncia, na tentativa de se defenderem da opresso,
dos abusos, da injustia e da discricionariedade abusiva
de seus governantes.
No obstante, de todas as mazelas s quais o indi-
vduo foi submetido, talvez a pior seja a insegurana.
Insegurana de no ter o controle de sua vida, de seu
destino, de seus bens, de seu corpo e, por vezes, at de
sua alma
155
; de se submeter incondicionalmente aos ca-
prichos de governantes que eram a prpria lei em pes-
soa. Uma lei que era aplicada tendo como nico critrio
a convenincia de seu aplicador.
Da insegurana a qual suas vidas eram submetidas ur-
gia a necessidade de se implantar freios discricionarie-
dade de seus governantes. A necessidade de se estabele-
155. A exemplo da Inquisio da Igreja Catlica.
Consideraes fnais
208
cerem critrios e limites para o uso do poder. A necessi-
dade de que o direito deixasse a esfera pessoal dos gover-
nantes obscura e voltil e passasse a habitar o mundo
sensvel, concretizado em leis escritas, com enunciados
claros e transparentes, que a todos fzesse sentido e a qual
todos, inclusive os que a aplicam, fossem submetidos.
Finalmente, de todo um complexo processo histrico,
a partir das condies favorveis propiciadas pelo para-
digma moderno, nasce o Estado de Direito como respos-
ta a tais anseios, consubstanciando-se como a maior de
todas as conquistas polticas at o momento. Um Estado
fundado na razo e na dignidade do homem.
E aqui cabem as valiosas palavras de Silveira (1998,
p. 14):
Somente no Estado de Direito, garantidas as liberda-
des, ser possvel, tambm, o Estado de Justia, que
pressupe, alm da existncia de segurana do livre
desenvolvimento da personalidade, por igual, a efcaz
proteo da pessoa humana, contra a explorao eco-
nmica ou outras formas de opresso, bem assim a ga-
rantia dos denominados princpios universais da jus-
tia social. Dessa maneira, impende compreender que
quaisquer sejam as difculdades, a Justia, enquanto
valor social,h de implantar-se, num convvio democr-
tico, em ordem de persuaso e nunca pela compresso
ou violncia. [grifos nossos]
O Estado Democrtico de Direito, aperfeioamento do
simples Estado de Direito, o ambiente fecundo ao fo-
rescimento da justia. E esse ambiente formado e sus-
tentado pelo imperativo de razo; pelo embate no mais
209
de foices, mas de ideias; pela discusso racional acerca
dos valores e dos meios a se efetivar a justia; pela ar-
gumentao flosfca que promove a fundamentao e
legitimao do ordenamento jurdico e das instituies
poltico-administrativas, garantindo justifcao, clareza
e transparncia lei e sua aplicao, pressupostos ne-
cessrios a garantir a aceitao poltica e a paz social.
Pertinente aqui, novamente, o raciocnio de Silveira
(1998, p. 14):
Como forma de convivncia social, compreendem-se
as difculdades do estabelecimento real da democra-
cia, da compatibilidade de seu esprito com princpios
normativos. Na indagao do consenso dos valores a
inspirarem o traado defnitivo, para a nossa poca, dos
caminhos da democracia, certo, desde logo, que no
pode haver espao a concepes ou solues com base no
obscurantismo, na opresso e na violncia, na injustia
e na insinceridade, na intransigncia, ou em qualquer
expresso de abuso de poder econmico ou de autori-
dade, porque, simplesmente, todos esses caractersti-
cos so desvalores no convvio social. A instaurao
de uma duradoura ordem de liberdade pressupe se
constitua, simultaneamente, uma ordem de justia, ou
na consecuo efetiva dessa fnalidade se desenvolvam
os esforos pblicos e privados, com resultados con-
cretos. [grifos nossos]
O Direito no se constitui em objeto esttico. fenme-
no que se revela a cada vez que dele tomamos conscin-
cia. A lei no letra morta. expresso do Direito que se
mantm viva em constante rejuvenescimento, obtido por
210
meio de sua reinsero na realidade, a cada vez que dela
se afasta. Tal reinsero alcanada a custa de incessante
processo de interpretao, a ser realizado pela comuni-
dade jurdica, que deve estar adequadamente preparada
para responsabilidade de tal excelncia.
H de se levar em conta que um processo de inter-
pretao, necessariamente, passa pela aceitao de um
paradigma, que, fornecendo os axiomas que servem de
ponto de partida para todas as demais certezas, fornece,
tambm, o critrio valorativo que guiar todo o proces-
so de conhecimento, atribuindo status de veracidade a
suas concluses.
O Direito Contemporneo, como anteriormente ex-
posto, nasce do paradigma moderno e dele depende o
seu desenvolvimento e sustento. Assim, haja vista que o
imperativo da razo se constitui meio fundamental aos
valores e s certezas do paradigma moderno e conse-
quentemente ao Estado Moderno e suas instituies
constitui-se tambm em meio indispensvel ao Direito
Contemporneo, que, pelo menos at agora, ainda nes-
tes se ampara.
O imperativo da razo subsiste a partir da Era
Moderna como o sistema cardiovascular essencial vida
jurdica. Dele o Direito recebe sua alimentao e susten-
to. Por sua via ocorrem as trocas do organismo jurdico
com o meio (social), to necessrias reposio de suas
clulas mortas e consequente manuteno de seu siste-
ma, em cada uma de suas partes. E, mais importante, ele
o responsvel pela integrao das partes e coerente fun-
cionamento do Direito como um todo, tornando-o um
organismo vivo, no desempenho das mais variadas fun-
es, em sincronia, e de forma coesa.
211
Assim, torna-se necessrio aos operadores do Direito
o uso constante de lentes racionais que os permitam en-
xergar alm da simples letra da lei. Lentes que os per-
mitam, a partir dos textos do ordenamento jurdico,
perceber o antes, o depois, o durante, o entre, o ao
lado. Que os permitam entender mais do que apenas os
olhos conseguem ver. Enfm, que os permitam encontrar
as diversas dimenses possveis do fenmeno jurdico.
Tais lentes so forjadas a custa do uso da razo e de co-
nhecimentos multidisciplinares agregados, obtidos por
meio de pesquisa interdisciplinar, dedicao e investiga-
o flosfca. Matrias-primas que, infelizmente, restam
escassas em nossos atuais cursos jurdicos.
156
156. Aqui cabem as palavras urgentes de Villey (2005, p.174 e 175) acerca do
descompasso atual entre Direito e Filosofia: O que estranho que esse modo
de pensar o direito, esses planos, essas noes, essa tcnica tenham sobrevivido
filosofia que lhes serviu de fundamento. Pois, hoje, Hobbes, Locke, Rousseau,
Wolff ou Kant so muito discutveis; e entre os filsofos, e sobretudo entre
os socilogos, no se encontra muita gente que leve a srio, por exemplo, a
doutrina do contrato social; assim como tampouco a doutrina sensualista do
conhecimento, individualista, atomista de um Locke permaneceu viva. Mas
continuamos tratando das questes de direito como se ainda acreditssemos
na soberania do Estado, pensando em termos de direito subjetivo, de direito
real, de pessoa jurdica ou de propriedade absoluta, assimilando as noes de
direito e de lei... Essa defasagem entre teoria do direito e filosofia no deveria
nos surpreender em demasia; ela constitui uma das constantes da histria do
direito, fruto da rotina dos juristas, que, por no terem de cultivar eles mes-
mos a filosofia, geralmente s recebem seus ensinamentos com atraso e por
canais indiretos, deformam-nos e os endurecem, e nunca os obedecem to
bem como quando deixaram de ser professados pelos filsofos. J destacamos
vrios exemplos antigos desse fenmeno. por isso que estudos de histria da
filosofia podem cumprir, no que tange ao direito, uma funo crtica. Como,
no arsenal de noes que ainda hoje compem nossa tcnica jurdica, muitas
delas no nos satisfazem mais e j comeamos a sentir sua progressiva incom-
patibilidade com as tendncias comuns do pensamento contemporneo, no
nos ser intil experiment-las no momento de seu surgimento, brotando de
suas fontes filosficas, ali onde se encontram os segredos de sua insuficincia.
212
Como procuramos reiteradamente demonstrar em
nosso texto, o direito se constri em discurso flosf-
co, a partir da busca e do encadeamento racional
de ideias. Sem um pensar flosfco crtico, autntico,
no existem as garantias de que o ordenamento jurdico
realmente seja utilizado aos fns a que se destina. Do
desvelar dos fundamentos, das justifcaes, dos argu-
mentos legitimadores que esto por trs das leis, que
se mantm assegurado o devido vnculo do Direito, e de
todo o aparato estatal, com os valores adotados pela so-
ciedade, aos quais o ordenamento jurdico deve se su-
bordinar, a fm da efetivao de sua verdadeira funo:
promover a justia social.
Eis a importncia do estudo e da pesquisa dos funda-
mentos do Direito, e, no presente caso em particular, do
Direito Eleitoral. O estudo dos fundamentos do Direito
Eleitoral se constitui em etapa essencial ao desenvolvi-
mento deste ramo especial do Direito Poltico. Tanto por
ocasio do processo legislativo, onde deve participar na
fundamentao e justifcativa das propostas de lei, quan-
to por ocasio da aplicao desta, pelos magistrados, nos
casos concretos que lhe forem confados.
Com a argumentao proposta, aqui apresentada, es-
pera-se estar contribuindo para o aludido estudo desti-
nado ao entendimento, desenvolvimento e aplicao do
Direito Eleitoral , fomentando o debate, a discusso, a
pesquisa e o pensar sobre o tema, que parece adormecido
no calor de nossas terras tropicais.
O Brasil se ressente da carncia de doutrina na esfera
do Direito Eleitoral. verdade que tal privao se deve
muito ao grande istmo que este ramo do Direito atra-
vessou durante a ditadura militar - que assolou o pas
213
por vrias dcadas - quando permaneceu acorrentado a
seus caprichos. Porm, j passados mais de vinte anos da
promulgao de nossa Constituio cidad, o que se v,
ainda, uma acomodao generalizada da doutrina em
relao ao tema.
Cabe aos operadores do Direito Eleitoral, mais do que
apenas colecionar leis, resolues e ementas, promover o
estudo cientfco da matria de forma metdica, crtica e
racional, com vistas a contribuir e interagir com o desen-
volvimento da mesma.
Cabe Justia Eleitoral seguir enfrentando com res-
ponsabilidade os problemas que a ela so submetidos,
atuando com critrios, coerncia, constncia e transpa-
rncia, por meio de sentenas devidamente fundamenta-
das, no com simples afrmaes, mas com argumenta-
o lgica sufciente a possibilitar que delas sejam inferi-
das as concluses apresentadas.
Por fm, se do trabalho aqui exposto restar ao menos
o fomento de sua refutao, j ter alcanado o seu ob-
jetivo intrnseco: o de promover vida discusso flos-
fca e ao debate racional sobre o tema, na tentativa de se
tornar mais um esforo na rdua tarefa de despertar o
Direito Eleitoral Brasileiro de seu j to longo e perigo-
so sono dogmtico.
215
ACQUAVIVA, Marcus Claudio. Instituies Polticas
Subsdios ao estudo da teoria geral do Estado, prembulo
ao Direito Constitucional. So Paulo: Atlas, 1982.
AFONSO DA SILVA, Jos. Curso de Direito Constitucional
Positivo. 13. ed. So Paulo: Malheiros Editores, 1997.
AGOZINO, ADALBERTO C. Ciencia poltica y sociolo-
gia electoral. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1997.
ALEXI, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. So
Paulo: Malheiros Editores, 2008.
AMADO, Gilberto. Eleio e representao. Rio de
Janeiro: Ofcina Industrial Graphica, 1931.
ARBUET-VIGNALI, Heber. Los precursores de la idea de
soberania: Nicolas Maquiavelo y Jean Bodin. Montevideo
Uruguai: Fundacin de Cultura Univesitria, 2004.
VILA, Humberto. Teoria dos princpios: da defnio
aplicao dos princpios jurdicos. So Paulo: Malheiros
Editores, 2003.
Bibliografa
216
AZEVEDO, Antnio Carlos do Amaral. Dicionrio de
nomes, termos e conceitos histricos. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1999.
BARACHO, Jos Alfredo de Oliveira. Teoria geral da ci-
dadania: A plenitude da cidadania e as garantias constitu-
cionais e processuais. So Paulo: Saraiva, 1995.
BARRETO, Vicente. O liberalismo e representao polti-
ca: O perodo Imperial. Braslia: Editora UNB, 1982.
BOBBIO, Norberto. Dicionrio de Poltica. 2 v. 4. ed.
Braslia: Editora UNB, 1992.
_______. Locke e o Direito Natural. Braslia: Editora
UNB, 1997.
_______. Teoria geral da poltica. So Paulo: Campus,
2000.
BONAVIDES, Paulo. Cincia poltica. Rio de Janeiro:
Forense, 1986.
_______. Teoria do Estado. So Paulo: Malheiros
Editores, 1999.
BUSSARELLO, Raulino. Dicionrio bsico latino-portu-
gus. Florianpolis: Editora da UFSC, 1995.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Representao polti-
ca. So Paulo: Editora tica, 1988.
217
CANOTILHO, J.J. Gomes. Fundamentos da Constituio.
Coimbra: Coimbra Editora, 1991.
CHAUI, Marilena. Introduo histria da flosofa: Dos
pr-socrticos a Aristteles. So Paulo: Companhia da
Letras, 2002.
COMPARATO, Fbio Konder. A afrmao histrica dos
direitos humanos. So Paulo: Saraiva, 2010.
CUNHA, Srgio Srvulo da. A lei dos partidos polticos
(Lei n. 9.096, de setembro de 1995). In Direito Eleitoral.
Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 1996.
DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Braslia: Editora
UNB, 2009.
DESCARTES, Ren. Discurso do mtodo. Lisboa
Portugal: Guimares Editores, 1997.
DONNELLY, Jack. Universal human rights in theory &
practice. Ithaca USA: Cornell University Press, 2003.
EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY
THROUGH LAW. Report on the rule of law Adopted by
the Venice Commission. Venice: 2011.
FERRATER MORA, Jos. Dicionrio de Filosofa.
Traduo por Maria Stela Gonalves, Adail U. Sobral,
Marcos Bagno e Nicolas Nyimi Campanrio. So Paulo:
Edies Loyola, 2000.
218
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Dicionrio
Aurlio Eletrnico Sculo XXI. Verso 3.0. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
FINLEY. I. Moses. Democracia antiga e moderna. Rio de
Janeiro: Graal, 1988.
FOX, Gregory H. Te right to political participation in
internacional law. In Democratic governance and inter-
national law. Cambridge United Kindom: Cambridge
University Press, 2004.
FRANCK, Tomas M. Legitimacy and the democratic
entitlement. In Democratic governance and international
law. Cambridge United Kindom: Cambridge University
Press, 2004.
FREITAS FILHO, Roberto. Interveno judicial nos contra-
tos e aplicao dos princpios e das clusulas gerais: o caso
leasing. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris Editor, 2009.
GARCA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del
Estado contemporaneo. Madrid: Alianza, 1997.
GOYARD-FABRE, Simone. Os princpios flosfcos do
direito poltico moderno. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
______. O que a democracia?. So Paulo: Martins
Fontes, 2003.
HOBBES, Tomas. De cive Elementos flosfcos a res-
peito do cidado. Petrpolis: Vozes, 1993.
219
JAPIASS, Hilton, MARCONDES, Danilo. Dicionrio
Bsico de Filosofa. 3. ed. rev. amp. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1996.
JESUS, Damsio E. de. Direito Penal, volume 1: parte ge-
ral. 28 ed. rev. So Paulo: Saraiva, 2005.
KANT, Immanuel. Fundamentao da metafsica dos cos-
tumes. So Paulo: Discurso Editorial/ Barcarola, 2009.
_____. A metafsica dos costumes. Bauru SP: Edipro
Edies profssionais limitadas, 2003.
KELSEN, Hans. A democracia. So Paulo: Martins
Fontes, 2000.
______. Teoria geral do direito e do Estado. So Paulo:
Martins Fontes, 1992.
KIRK, Geofrey, RAVEN, J.E. e SCHOFIELD, Malcom.
Os flsofos pr-socrticos Histria crtica com se-
leo de textos. 4. ed. Traduo por Carlos Alberto
Louro Fonseca. Lisboa, Portugal: Fundao Calouste
Gulbbenkian, 1994.
KUHN, Tomas S. A estrutura das revolues cientfcas.
So Paulo: Perspectiva , 2006.
LASSALLE, Ferdinand. A essncia da Constituio. 3. ed.
Rio de Janeiro: Editora Liber Juris, 1995.
LEITO, J. M. Silva. Constituio e direito de oposio a
220
oposio poltica no debate sobre o Estado contemporneo.
Coimbra: Livraria Almedina, 1987.
LULA, Carlos Eduardo de Oliveira. Direito Eleitoral. So
Paulo: Imperium Editora, 2010.
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Funda-
mentais. So Paulo: Atlas, 2008.
MELLO, Celso Antnio Bandeira de. O contedo jurdico
do princpio da igualdade. So Paulo: Malheiros Editores,
2010.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocncio Mr-
tires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. So Paulo: Saraiva, 2007.
MEZZAROBA, Orides. Introduo ao direito partidrio
brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
MONTESQUIEU, O esprito das leis. Braslia: Editora
UNB, 1982.
MORTARI, Cezar A. Introduo lgica. So Paulo:
Fundao Editora da Unesp, 2001.
MURPHY, Sean D.. Democratic legitimacy and the re-
cognition of States and governments. In Democratic go-
vernance and international law. Cambridge United
Kindom: Cambridge University Press, 2004.
NASCIMENTO, Jos Anderson. Tpicos de direito eleito-
221
ral (Anotaes Lei no 9.504/97). So Paulo: cone, 1998.
PAUPERIO, A. MACHADO. O conceito polmico de sobe-
rania. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1958.
PEREIRA, Isidro. Dicionrio Grego-Portugus e Portu-
gus-Grego. Braga, Portugal: Livraria A. I., 1998.
PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso sobre
a dignidade do homem. Lisboa: Edies 70, 1998.
PORTO, Walter Costa. Dicionrio do voto. So Paulo:
Giordano, 1995.
RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. Niteri: Im-
petus, 2006.
RENAUT, Alain. Histria da flosofa poltica 2: Nasci-
mentos da modernidade. Bobadela-LRS- Portugal: Insti-
tuto Piaget, 1999.
RIBEIRO, Fvila. Direito Eleitoral. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1996.
______. A lei dos partidos polticos. In Cadernos de
Direito Constitucional e Eleitoral/TRE n
o
36. So Paulo:
TRE-SP, 1996.
ROSSEAU, Jean Jacques. O contrato social. Rio de Janeiro:
Tecnoprint, 1969.
222
SALDANHA, Nlson. O Estado. In Curso de introdu-
o cincia poltica formas de Estado e de governo.
Braslia: Editora Universidade de Braslia, 1984.
SARTORI, Giovanni. Partidos e sistemas partidrios.
Braslia: Editora UNB, 1982.
SCHIERA, Pierangelo. O Estado Moderno. Traduo de
Joo Ferreira, In Curso de introduo cincia poltica
formas de Estado e de governo. Braslia: Editora UNB, 1984.
SEVCENTKO, Nicolau. Discutindo a histria: o renasci-
mento. Campinas: Editora da Unicamp, 1994.
SILVEIRA, Jos Nri da. Aspectos do processo eleitoral.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1998.
SILVA, Deonsio da. De onde vm as palavras origens e
curiosidades da lngua portuguesa. So Paulo: A Girafa, 2004.
SOARES, Ricardo Maurcio Freire. O princpio cons-
titucional da dignidade da pessoa humana. So Paulo:
Saraiva, 2010.
STARR, Chester G. O nascimento da democracia atenien-
se. So Paulo: Odysseus, 2005.
TOURNEUX, Maurice; DIDEROT, Denis. Diderot et
Catherine II. Paris: Calmann Lvy, 1899.
VARGAS, Alxis. Princpios Constitucionais de Direito
Eleitoral. So Paulo: Banco de Teses da PUC-SP, 2009.
223
VIDIGAL, Edson Jos Travassos. Uma breve genealogia
do conhecimento: o nascimento da democracia grega e a
inveno da flosofa como legitimao do poder. Braslia:
Penlope Editora, 2012.
VILLEY, Michel. A formao do pensamento jurdico mo-
derno. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo.
Traduo por Paulo Cezar Castanheira. 1.ed. So Paulo:
Boitempo, 2003.
ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria geral do Estado. Lisboa:
Fundao Caloustre Gulbenkian, 1997.
OXFORD UNIVERSITY. New Oxford American Dictio-
nary. Version 2.2. (115). 2011. Apple Inc.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- COSTA, Iná Camargo. Brecht e o Teatro ÉpicoDokument20 SeitenCOSTA, Iná Camargo. Brecht e o Teatro ÉpicoLetícia GomesNoch keine Bewertungen
- De Escravo A CozinheiroDokument344 SeitenDe Escravo A CozinheiroGleice Silva100% (2)
- SOUTHEY. Robert. História Do Brasil, v. 3, 2010Dokument726 SeitenSOUTHEY. Robert. História Do Brasil, v. 3, 2010JoelReisNoch keine Bewertungen
- O Tempo - 1897 - Golpe RepublicanoDokument4 SeitenO Tempo - 1897 - Golpe RepublicanozoopoNoch keine Bewertungen
- Gabarito - Ae2 - História - 8º Ano PDFDokument9 SeitenGabarito - Ae2 - História - 8º Ano PDFAntonio Correia0% (1)
- Petição Intermediária - Inclusão Polo Passivo - Madson Carlos e Francisca JosieldaDokument1 SeitePetição Intermediária - Inclusão Polo Passivo - Madson Carlos e Francisca JosieldaEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Petição Intermediária - Notificação de Revoção de ProcuraçãoDokument1 SeitePetição Intermediária - Notificação de Revoção de ProcuraçãoEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Petição Intermediária - Informacao Renuncia MandatoDokument1 SeitePetição Intermediária - Informacao Renuncia MandatoEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Petição Intermediária - Informação de Endereço - Claudiana Dos Santos MaiaDokument1 SeitePetição Intermediária - Informação de Endereço - Claudiana Dos Santos MaiaEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Procuração Ad Judicia NCPCDokument1 SeiteProcuração Ad Judicia NCPCEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Aditamento Da Inicial - Adoção Adilson e Barbara KasperDokument4 SeitenAditamento Da Inicial - Adoção Adilson e Barbara KasperEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Ação Popular - Tutela de Urgencia - Nulidade de Processo SeletivoDokument13 SeitenAção Popular - Tutela de Urgencia - Nulidade de Processo SeletivoEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Ação de Cobrança - Maria Lina X OpemacsDokument4 SeitenAção de Cobrança - Maria Lina X OpemacsEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Aposentadoria Rural Feminino - Raimunda Felipe DinizDokument4 SeitenAposentadoria Rural Feminino - Raimunda Felipe DinizEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Ação Cautelar Incidental - Antonio CordeiroDokument6 SeitenAção Cautelar Incidental - Antonio CordeiroEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Ação de Obrigação de Fazer CC Indenização Por Danos Materiais e Morais Com Pedido de Liminar - Maria Leci Sereno X FC MotosDokument9 SeitenAção de Obrigação de Fazer CC Indenização Por Danos Materiais e Morais Com Pedido de Liminar - Maria Leci Sereno X FC MotosEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Amparo Social Ao DeficienteDokument5 SeitenAmparo Social Ao DeficienteEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Amparo Social Ao Deficiente - Gerlane Almeida Cabral AndradeDokument4 SeitenAmparo Social Ao Deficiente - Gerlane Almeida Cabral AndradeEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Resumo Direito Das CoisasDokument9 SeitenResumo Direito Das CoisasEder Amador RodriguesNoch keine Bewertungen
- Os "Comentários À Constituição" de Carlos Maximiliano PereiraDokument14 SeitenOs "Comentários À Constituição" de Carlos Maximiliano PereiraRafael CazelatoNoch keine Bewertungen
- Vozes Do Brasil 1820-1824Dokument410 SeitenVozes Do Brasil 1820-1824Flavio CabralNoch keine Bewertungen
- Mediacao Lei 29 2013Dokument7 SeitenMediacao Lei 29 2013migas2000Noch keine Bewertungen
- A Obra de Fernão Ornelas-MestradoAgostinho Lopes PDFDokument218 SeitenA Obra de Fernão Ornelas-MestradoAgostinho Lopes PDFslave4DNoch keine Bewertungen
- EX20170117 - Pag.67Dokument70 SeitenEX20170117 - Pag.67Benedito Maria Teixeira, PMDNoch keine Bewertungen
- A Figura Do Estado: 1. GeneralidadesDokument5 SeitenA Figura Do Estado: 1. GeneralidadesLiliano MahagadzaNoch keine Bewertungen
- TCC Maicon ZanettiDokument44 SeitenTCC Maicon ZanettiLarissa CeroniNoch keine Bewertungen
- ADI 006635 - Privatizacao Dos Correios - Aditamento A Inicial - CDDokument10 SeitenADI 006635 - Privatizacao Dos Correios - Aditamento A Inicial - CDTacio Lorran SilvaNoch keine Bewertungen
- Roteiro Do Trabalho de HistóriaDokument7 SeitenRoteiro Do Trabalho de HistóriaQuerem EmanuellyNoch keine Bewertungen
- Panfleto MonarquiaDokument2 SeitenPanfleto MonarquiaAguiar Felinto FilhoNoch keine Bewertungen
- Resolução 2013 CN - 2 Fase PDFDokument32 SeitenResolução 2013 CN - 2 Fase PDFandersonbheringNoch keine Bewertungen
- Despacho 15680 2002 Extintores PDFDokument2 SeitenDespacho 15680 2002 Extintores PDFHerbaKingNoch keine Bewertungen
- Manual de HistoriaDokument167 SeitenManual de HistoriaAcacio Gato Wilson Macicane92% (12)
- Lei 34 2007 PDFDokument22 SeitenLei 34 2007 PDFLúcio Francisco RicoNoch keine Bewertungen
- Ordenamento Jurídico Do Timor LesteDokument33 SeitenOrdenamento Jurídico Do Timor LesteRafael Tavares100% (1)
- A Ordem Social em Crise: A Inserção Do Protestantismo em Pernambuco 1860-1891Dokument403 SeitenA Ordem Social em Crise: A Inserção Do Protestantismo em Pernambuco 1860-1891dakitaaNoch keine Bewertungen
- D.R. 3Dokument10 SeitenD.R. 3valder ramosNoch keine Bewertungen
- Direito Constitucional - Q2Dokument5 SeitenDireito Constitucional - Q2Luis CláudioNoch keine Bewertungen
- Código Regulamentar Do Município de Marco de Canaveses PDFDokument266 SeitenCódigo Regulamentar Do Município de Marco de Canaveses PDFFilipe DiasNoch keine Bewertungen
- 2-Historia Do BrasilDokument21 Seiten2-Historia Do BrasilAlessandro CostaNoch keine Bewertungen
- A Vila de Lousada No Bilhete-Postal Ilustrado Nos Finais Da I República (Parte 2)Dokument4 SeitenA Vila de Lousada No Bilhete-Postal Ilustrado Nos Finais Da I República (Parte 2)Luís Jorge Cardoso de SousaNoch keine Bewertungen
- Rosario Guambe & Salema 2020 - Democracia Multipartidaria em MocambiqueDokument351 SeitenRosario Guambe & Salema 2020 - Democracia Multipartidaria em MocambiqueJosé Jaime MacuaneNoch keine Bewertungen
- Revista Eletrônica (ABR 2018 - Nº 67 - Reforma Trabalhista IV) PDFDokument337 SeitenRevista Eletrônica (ABR 2018 - Nº 67 - Reforma Trabalhista IV) PDFHenrique SantosNoch keine Bewertungen
- Domesticando o Leviata PDFDokument380 SeitenDomesticando o Leviata PDFYuri RDNoch keine Bewertungen
- 25 Abril - PublicoDokument48 Seiten25 Abril - Publicoaribeiro.maiNoch keine Bewertungen