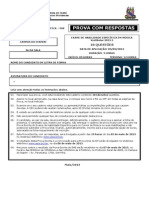Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SilvaDanieldoNascimentoe D
Hochgeladen von
Emanoel Pedro MartinsCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
SilvaDanieldoNascimentoe D
Hochgeladen von
Emanoel Pedro MartinsCopyright:
Verfügbare Formate
Daniel do Nascimento e Silva
PRAGMTICA DA VIOLNCIA
O NORDESTE NA MDIA BRASILEIRA
Tese apresentada ao Curso de Lingstica do
Instituto de Estudos da Linguagem da
Universidade Estadual de Campinas, como
requisito parcial para obteno do ttulo de
Doutor em Lingstica.
Orientador: Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan
Co-orientador: Prof. Dr. Charles Briggs
Unicamp
Instituto de Estudos da Linguagem
2010
ii
Ficha catalogrfica elaborada pela Biblioteca do IEL - Unicamp
Si38p
Silva, Daniel N.
Pragmtica da violncia : o Nordeste na mdia brasileira / Daniel
do Nascimento e Silva. -- Campinas, SP : [s.n.], 2010.
Orientador : Kanavillil Rajagopalan.
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto
de Estudos da Linguagem.
1. Pragmtica. 2. Violncia. 3. Significao. 4. Comunicabilidade.
5. Atos de fala (Lingstica). I. Rajagopalan, Kanavillil. II.
Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da
Linguagem. III. Ttulo.
tjj/iel
Ttulo em ingls: Pragmatics of violence: The Nordeste in the media of Brazil.
Palavras-chaves em ingls (Keywords): Pragmatics; Violence; Speech act; Signification;
Communicability.
rea de concentrao: Lingstica.
Titulao: Doutor em Lingstica.
Banca examinadora: Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan (orientador), Prof. Dr. Raimundo
Ruberval Ferreira, Profa. Dra. Maria Paula Frota, Profa. Dra. Dina Maria Machado
Andra Martins Ferreira, Profa. Dra. Maria Viviane do Amaral Veras, Profa. Dra.
Marinalva Vieira Barbosa (suplente), Profa. Dra. Claudiana Nogueira de Alencar
(suplente), Profa. Dra. Edvania Gomes da Silva (suplente).
Data da defesa: 22/01/2010.
Programa de Ps-Graduao: Programa de Ps-Graduao em Lingstica.
iii
Tese aprovada como requisito parcial para obteno do ttulo de Doutor em Lingstica
no Curso de Lingstica do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual
de Campinas, pela Comisso formada pelos professores:
v
Clia e R, migrantes do Maranho, pelo
cobertor quentinho em So Paulo.
vii
Encheram a terra de fronteiras, carregaram o cu de bandeiras.
Mas s h duas naes a dos vivos e a dos mortos.
Mia Couto
ix
AGRADECIMENTOS
Escrever esta tese, felizmente, no foi um empreendimento solitrio. Muitas
pessoas, em diferentes cidades e em diferentes momentos do processo de escrita,
contriburam, sempre de modos diferentes, para que este trabalho acontecesse. A eles e
elas quero expressar o meu muito obrigado.
Meu primeiro agradecimento se destina ao Rajan, orientador deste trabalho no
Brasil. Sua generosidade, sua inteligncia indissocivel de humor, seu profundo respeito
ao ser humano foram um importante norte para meu amadurecimento intelectual e para a
redao deste trabalho. Eu no teria palavras aqui para expressar meu profundo
agradecimento pelo tanto que o Rajan tem partilhado e significado para meu trabalho
intelectual.
O orientador deste trabalho nos Estados Unidos, Charles Briggs, tambm uma
pessoa por quem tenho imensa gratido. Desde o entusiasmo inicial quando Charles leu o
resumo do ento projeto de doutorado, passando pelas horas debruadas sobre
reportagens da mdia brasileira, pelas infindveis office hours na sua sala e no Cafe
Strada (o preferido da turma da Antropologia) e pelos dois cursos dele de que participei, a
contribuio de meu orientador no exterior foi decisiva para o refinamento das anlises e
para a configurao outra que este trabalho adquiriu a partir de Berkeley. Sou grato no
apenas ao Charles-Antroplogo, que descortinou um mundo que Eu-Lingista tinha
dificuldade de enxergar, mas tambm ao Charles-Amigo, que literalmente abriu portas
para mim na Califrnia.
Sou igualmente grato aos membros das bancas de qualificao de rea,
qualificao de tese e defesa de tese. Maria Paula Frota, orientadora da qualificao de
rea e membro da banca de defesa, uma pessoa por quem sempre tive admirao
intelectual e orgulho pelo trabalho partilhado. Obrigado Helena Martins e Lenita Esteves
pela leitura crtica e atenta do texto de qualificao de rea. Obrigado Viviane Veras no
s pela participao nas bancas de qualificao e defesa de tese, mas pelo verdadeiro
papel de orientadora, desde a elaborao do projeto de doutorado at a redao final, e
x
tambm pela orientao de vida, um agradecimento que me escapa por sua indizibilidade.
Indizvel tambm o meu agradecimento participao de Dina Ferreira na minha
estrada intelectual. Ela fez parte de todas as minhas bancas de ps-graduao e de todas
as minhas conquistas. O meu agradecimento e minha admirao por Dina me escapam,
restando apenas palavras para tentar dizer um excesso. Ruberval Ferreira, membro da
banca de defesa, outra pessoa a quem tenho muito a agradecer. Ele sempre foi um
importante cone, desde minha graduao, e seu trabalho sempre norteou o meu.
Os professores com quem fiz disciplinas no doutorado acrescentaram, sem dvida,
muito ao que sei e ao que escrevi. Na Unicamp, meu muito obrigado a Edson Franozo,
Edwiges Morato, Paulo Ottoni (in memoriam) e Renzo Taddei. Por um ano, estudei
Wittgenstein com Luiz Henrique dos Santos, na USP, a quem muito tenho a agradecer
pela acolhida. Em Berkeley, meu obrigado especial a Catherine Malabou e Candace
Slater, por terem discutido to entusiasticamente meu projeto de tese. Agradeo tambm
aos professores Alexei Yurchak e Charles Hirschkind e professora Nancy Scheper-
Hughes, pelo slido conhecimento antropolgico partilhado.
Vrios amigos foram essenciais no processo de escrita e de maturao de idias.
Em Campinas, Monica Cruvinel e Moacir Camargos foram duas pessoas de uma luz
generosa que ajudou a iluminar e abrir caminhos. Ive Brunelli e Luis Ceclio literalmente
cuidaram de mim quando mais precisei. Eu no teria condies de retribuir o tanto que
fizeram e fazem por mim. Edvania Gomes da Silva, Kassandra Muniz, Sandra Helena de
Melo e Claudiana Alencar so a pura fora ter sua amizade o prprio reconhecimento
de que a vida valeu a pena. Suzana Cortez e Graziela Kronka, estando em Lyon, em
Praga ou em Campinas me mostraram que possvel ser mais leve, sempre. Cesar Scolar
e Edilson Dotta, verdadeiros exemplos de bom-humor, ajudaram a tornar mais leve a
experincia campineira. Tiago Cardoso, Helio Vogel, Carlos Augusto Melo e Rafael
Cardoso, verdadeiros irmos, me acompanharam e vibraram. Elenita Rodrigues, seu
brilho me faz sentir orgulho do que eu sou e do que eu fao. Lilian Borba, sua amizade
expressa o melhor de mim. Marcos Barbai, obrigado por estar presente quando mais
precisei. Marcus Vinicius Avelar, obrigado por existir.
No posso deixar de agradecer a Marcela Fossey, Raynice Geraldine, Ana Raquel
Mota, Cesar Casela, Guto Melo e Aroldo Andrade pelos bons cafs e tardes agradveis na
xi
organizao do Seminrio de Teses em Andamento do IEL. No posso esquecer tambm
de Paulo Rogrio Freitas e Alberto Lopes, dois gegrafos e dois irmos, que tanto
vibraram comigo.
Adriana Carvalho Lopes, a minha Drica, foi e ser sempre uma verdadeira irm.
Juntos partilhamos teorias e casa em Berkeley, em Campinas e no Rio. E espero que isso
prossiga pelos anos e anos. Helder Eterno, outro amigo para a eternidade, meu muito
obrigado pelos dias agradveis em Londres, em Campinas e em Uberlndia. Gabriele
Schumm, a menina mais linda do IEL, tornou meus dias mais alegres na Unicamp e para
alm dela.
Em Berkeley e em San Francisco, tenho muito a agradecer aos amigos que
tornaram a adaptao e a aprendizagem muito mais agradvel. Xochtil Vargas, minha
Xochilita, tornou a experincia de Berkeley tanto acadmica como afetivamente mais rica
e mais doce. Ryan Centner e Michael Sui, meu agradecimento pelo seu entusiasmo e bom
humor. A amizade de Sylvia Nam s podia ser um presente do Ryan. Na Casa Bonita, fiz
amigos para a vida: Robert Osterbergh, Gabriel Bollag, Lyn Scott, Fernando Souza,
Aime Rodriguez. Igor Rodriguez e Danilo Rodriguez, Lorena Cardenas e a fuerza latina
muito somaram minha experincia acadmica em Berkeley. As integrantes brasileiras
da fora latina, Ana Paula Galdeano e Luciana Martins, partiram de Berkeley para So
Paulo e para minha vida inteira. Letcia Cesarino e Bruno Reinhardt, como antroplogos
e como amigos, so os seres mais admirveis que j conheci. S eles mesmos para ter um
filhinho to lindo como o Mathias, de quem o tio Dani sente saudades. John Merriman,
Brad Hare, Ling Lam, Chris Wimmer e Caitlin Powers fizeram da experincia de San
Francisco inesquecvel. Obrigado tambm Jeff Thorpe, por tudo. Joshua Powers, por
diversas razes, tambm tornou San Francisco nica.
Em Fortaleza, meu muito obrigado aos amigos Marcelo Soares, Pedro Alexandre
Neto, Fernando Henrique Lima, Ana Cristina Cunha, Nalva Costa, pela torcida. No lado
familiar, meu muito obrigado a Fran Mateus e a Wanderley Silva, minha me e meu pai,
por tanto do que sei. Minha av, Maria de Lourdes Silva, pelo lao mais forte do que tudo.
A Sofia Antunes, Marcius Legan Carvalho e Gleanne Silva, meus irmos, meu muito
obrigado. Ao Sabino Antunes, pela famlia que constituiu com minha me. Aos meus
xii
avs, Marinice Lima e Jos Mateus do Nascimento, obrigado peles seres fantsticos que
so. Obrigado meus tios e tias, primos e primas, pela famlia que trago como referncia.
Finalmente, gostaria de registrar meu agradecimento Fundao de Amparo
Pesquisa do Estado de So Paulo, pela bolsa de doutorado concedida, sem a qual este
trabalho no teria sido possvel. Em especial, ao parecerista do projeto, cujo dilogo
annimo imprimiu marcas indelveis neste trabalho e na minha carreira. Agradeo
tambm Comisso de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior, pela bolsa
sanduche nos Estados Unidos, sem a qual a experincia inesquecvel de Berkeley no
teria acontecido.
xiii
RESUMO
A presente tese, inscrita no campo da Pragmtica Lingstica em seu estreito dilogo com
a Antropologia Lingstica, a Filosofia e a Psicanlise, persegue uma conseqncia
possvel de uma das hipteses fundamentais da virada lingstica nas cincias humanas
a idia de que a linguagem uma forma de ao. Est em questo aqui a tese de que,
dentro das possveis formas que essa ao pode assumir, a violncia uma das mais
salientes. Na medida em que a violncia no apenas um conceito destrutivo, mas
tambm produtivo, procuro fazer entender como a significao mesma se torna possvel e
se delineia a partir da violncia. De forma a esboar a silenciosa porm danosa violncia
que assombra o uso da lngua, procedo a uma anlise das formas simblicas (violentas)
por meio das quais o Nordeste, a regio mais pobre do Brasil, representada pela mdia
hegemnica do pas. Analisam-se, principalmente, cartografias comunicveis que
emergem nos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo e na revista
Veja. Os modos pelos quais subjetividades subalternas so diminudas, depreciadas,
desdenhadas e abominadas em diversas reportagens da mdia brasileira revelam modos
em que a linguagem usada para ferir o Outro, especialmente aquele que representa o
gnero, a raa e o espao que no se quer habitar. Esta discusso sobre o papel central da
constituio, produo e comunicabilidade da violncia no uso da lngua significa, em
ltima instancia, que a Pragmtica Lingstica e outras abordagens crticas nos estudos da
linguagem deveriam incluir a questo da violncia em sua agenda de pesquisa.
Palavras-chave: Pragmtica; Violncia; Ato de fala; Significao; Comunicabilidade.
xv
ABSTRACT
This dissertation, inscribed in the field of Linguistic Pragmatics in its interface with
Linguistic Anthropology, Philosophy and Psychoanalysis, pursues a possible
consequence of a core assumption made by the linguistic turn in the human sciences
namely, the idea that language is a form of action. At stake is the claim that among the
shapes that this action might assume, violence is a very salient one. Inasmuch as violence
is not only a destructive concept, but also a productive one, I seek to understand how
signification itself is rendered possible and shaped by violence. Aiming at depicting the
silent but nonetheless painful symbolic violence that haunts language use, I undertake an
analysis of the (violent) symbolic forms through which the Northeast of Brazil (Nordeste),
the countrys poorest geographical area, is represented in the Southeastern media, mainly
in the wealthiest state of So Paulo. The ways in which subaltern subjectivities are
demeaned, derogated, ridiculed, despised in many pieces of Brazilian media reveal ways
in which language is used to hurt the other, specifically the other who represents the
gender, the race and the space that one does not want to inhabit. A discussion of the
central role of the constitution, production, and communicability of violence in language
use means ultimately that critical linguistics should bring in, along the lines of recent
approaches of the relation between violence and signification, the question of violence as
one of its avenues of inquiry.
Keywords: Pragmatics; Violence; Speech Act; Signification; Communicability.
xvii
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 O Globo, 12/02/2009.................................................................................. 21
Figura 2 O Globo, 26/02/2009.................................................................................. 22
Figura 3 Pau-de-arara em Carabas do Piau............................................................ 44
Figura 4 Retirantes leo sobre tela 92 x 181 cm Candido Portinari, 1944 ......... 65
Figura 5 Veja, 17/12/1969......................................................................................... 78
Figura 6 Veja, 1 de janeiro de 1969......................................................................... 81
Figura 7 Veja, 17/08/1983......................................................................................... 82
Figura 8 Veja, 17/08/1983......................................................................................... 85
Figura 9 Veja, 17/08/1983, Detalhe .......................................................................... 86
Figura 10 Veja, 17/12/1969....................................................................................... 88
Figura 11 Veja, 17/08/1983....................................................................................... 89
Figura 12 Folha de S. Paulo, 13/10/2008............................................................... 107
Figura 13 Folha de S. Paulo, 21/10/2006............................................................... 114
Figura 14 Detalhe da reportagem Folha de S. Paulo, 21/10/2006....................... 115
Figura 15 Folha de S. Paulo, 18/08/2006............................................................... 119
Figura 16 Veja, 10/08/2006..................................................................................... 138
Figura 17 Veja, 17/08/1983..................................................................................... 139
Figura 18 Veja, 16/08/2006......................................................................................127
Figura 19 Veja, 16/08/2006............................................................................. 148
Figura 20 Veja, 16/08/2006..................................................................................... 148
Figura 21 O Globo, 17/05/2005.............................................................................. 155
Figura 22 O Globo, 15/05/2005.............................................................................. 157
Figura 23 O Globo, 15/05/2005.............................................................................. 159
Figura 24 O Globo, 15/05/2005.............................................................................. 161
Figura 25 O Globo, 20/05/2005.............................................................................. 165
Figura 26 Close-up de Rosa em Deus e o diabo na terra do sol ............................ 171
xix
SUMRIO
Agradecimentos ............................................................................................................ix
Resumo ...................................................................................................................... xiii
Abstract ........................................................................................................................ xv
Lista de figuras...........................................................................................................xvii
Introduo .................................................................................................................... 21
Captulo 1
Linguagem e Violncia ................................................................................................ 27
Violncia constituinte .............................................................................................. 27
Violncia e significao........................................................................................... 34
Violncia comunicvel............................................................................................. 39
Os paus-de-arara: uma primeira incurso ................................................................ 43
Habitando as narrativas da violncia ....................................................................... 47
Por que violncia?.................................................................................................... 50
Captulo 2
Nordeste: a iterabilidade de uma ofensa ...................................................................... 55
A dissimuladora historicidade da fora.................................................................... 55
A inveno do Nordeste........................................................................................... 58
A lgica de iterabilidade .......................................................................................... 70
Territrio antimoderno............................................................................................. 77
Terra sem futuro....................................................................................................... 84
Cenas de uma dor agentiva ...................................................................................... 89
Captulo 3
Semntica da violncia ................................................................................................ 95
Brasil (discursivamente) dividido............................................................................ 96
Construo ideolgica da identidade e da diferena.............................................. 104
Diferena e desigualdade ....................................................................................... 109
xx
O caso Serra versus NE.......................................................................................... 113
Em torno da vulnerabilidade.................................................................................. 120
Captulo 4
Pragmtica da violncia ............................................................................................. 125
A fala do crime....................................................................................................... 127
Dois modos de entender circulao ....................................................................... 135
gora Comunicvel ............................................................................................... 138
Ordem indexical e construo metapragmtica da excluso ................................. 144
Captulo 5
Cartografias da subjetividade..................................................................................... 151
Serto-favela .......................................................................................................... 151
Vida Severina......................................................................................................... 154
Paus-de-arara: passado e abandono da/pela lei ...................................................... 162
Nordestino como homo sacer ................................................................................ 165
Vulnerabilidade e interrupo................................................................................ 169
A face e o afeto-puro.............................................................................................. 170
E se a face for ferida?............................................................................................. 172
Concluso................................................................................................................... 177
Referncias Bibliogrficas ......................................................................................... 185
21
INTRODUO
Por onde passar, pode dizer que Corisco estava mais morto
que vivo. Virgulino morreu de uma vez, Corisco morreu com
ele. Por isso mesmo precisava ficar de p, lutando sem fim,
desarrumando o arrumado, at que o serto vire mar e o mar
vire serto.
Glauber Rocha, Deus e o diabo na terra do sol
Em fevereiro de 2009, recebeu ampla cobertura, na mdia brasileira e
internacional, o suposto ataque que Paula Oliveira teria sofrido de radicais neonazistas
em Zurique. Paula, uma pernambucana de 26 anos, estaria grvida de gmeos e teria
sofrido um aborto por causa da agresso. Alm de espancarem a vtima, os skinheads
suos teriam escrito com estilete na barriga de Paula a sigla SVP, em referncia ao
partido conservador suo Schweizerische Volkspartei. O ataque, supostamente ocorrido
no dia 9 de fevereiro, foi noticiado do seguinte modo por O Globo, em 12 de fevereiro:
Figura 1 O Globo, 12/02/2009
22
Como se pode ler pelo fac-simile da notcia, o texto no faz referncia alguma
origem de Paula no Brasil. Ela comparece na notcia como uma brasileira que sofrera
violncia racista na Sua. No entanto, dias depois, exames indicaram que Paula no
estava grvida. Como mais tarde o Brasil e o mundo viriam a descobrir, Paula inventara a
gravidez e forara a inscrio com giletes em sua barriga antes de procurar a polcia. Um
fato lingstico curioso aconteceu por ocasio da mudana do status de Paula de vtima
para suspeita. Paula passou de brasileira a pernambucana. Como se l na notcia a
seguir, veiculada duas semanas depois pelo mesmo jornal, o primeiro adjetivo
qualificando Paula Oliveira pernambucana. A manchete da notcia substitui a
designao brasileira da notcia anterior por Paula.
Figura 2 O Globo, 26/02/2009
Em sua coluna para a Folha de S. Paulo, Elio Gaspari chama a curiosa mudana
na designao de preconceito. Diz o jornalista:
uLMClC8lA
uepols que aula Cllvelra admlLlu para a pollcla sula que no fol aLacada por
xenfobos aconLeceu algo esLranho com sua quallflcao. Cuando a hlsLrla Leve
credlLo era brasllelra". Cuando o relaLo Lrlncou ela passou a ser chamada, com alguma
frequncla, de pernambucana". P sulos que gosLam de conLar hlsLrlas de
preconcelLo de brasllelros conLra brasllelros.
(Lllo Casparl, A lrana premlou a pllhagem da Chlna", !"#$% '( )* +%,#", 1
o
/03/2009)
23
Elio Gaspari est certo ao vincular a mudana na forma de nomear Paula
execrao de sua condio. Afinal, aos estados nordestinos e seus habitantes se associam
diversos tipos de preconceito, numa distribuio hierrquica de espacialidades e
subjetividades que remete prpria inveno do Nordeste como regio, na segunda
dcada do sculo passado. Nos termos deste trabalho, no entanto, a questo que est na
base da mudana da designao de Paula Oliveira, para alm de preconceito, violncia.
Embora a violncia que esteja em jogo seja diferente daquela que o sujeito sofre na rua ao
ser esmurrado, ela to ou mais perniciosa do que esta o sujeito, por habitar
psiquicamente a linguagem, pode sentir a violncia lingstica em seu prprio corpo.
Entender o estatuto e o funcionamento da violncia na linguagem o objetivo
mais amplo desta tese. Mais especificamente, o que procuro delinear aqui so os modos
como a violncia lingstica, ambiguamente, fere o sujeito e, ao pressupor que este exista
para feri-lo, acaba por lhe conferir uma forma de existncia e sobrevivncia na
linguagem. Emerge da cena da injria uma existncia que, em ltima instncia, pode
significar resistncia. Parto da forma como linguisticamente as identidades nordestinas
representando a regio mais pobre do Brasil so encenadas na mdia impressa e digital
da regio mais rica, o Sudeste, para descrever esse funcionamento violento da linguagem.
Assim como a linguagem, a violncia que se inscreve nessa forma de ao
humana complexa e dinmica. Assim, o funcionamento da violncia lingstica
coincide com alguns aspectos do funcionamento da prpria linguagem e da inelutvel
vinculao desta com a vida social e psquica do sujeito. descrio fenomenolgica e
discursiva da violncia lingstica associo uma discusso da inveno discursiva do
Nordeste, essa geografia imaginada que se delineia a partir do contrrio da modernidade
do Sudeste, a saber, a morte, a misria, a abjeo e, sobretudo, a violncia.
Morte e violncia, abjeo e misria, passado e fanatismo em suma, o avesso da
modernidade fazem parte das condies mesmas de inteligibilidade do Nordeste. Essa
inteligibilidade foi construda num conjunto de discursos que inventam a regio, na
segunda dcada do sculo XX, e que articulam signos do passado, da morte e da abjeo
na composio daquele espao que se tornaria a regio de misria mais densa e populosa
do hemisfrio ocidental, conforme anuncia a primeira matria de capa da revista Veja
sobre o Nordeste, em 1969.
24
Nordeste e misria adquiriram tal identidade nos modos de narrar essa regio que,
conforme Graciliano Ramos, dificilmente se pode pintar um vero nordestino em que os
ramos no estejam pretos e as cacimbas vazias (apud Albuquerque Jr., 2001:192).
Tematizar a histria do Nordeste significa pensar uma regio que tem sido concebida
como grande enclave medieval encravado no meio de uma nao que se moderniza. Os
discursos hegemnicos da mdia e da poltica brasileira que analiso nesta tese tm
posicionado o Nordeste nesses termos. Os nordestinos e as nordestinas muitas vezes
comparecem nessas cartografias discursivas como no-sujeitos, como seres abjetos
vencidos pela morte.
No entanto, como apontei anteriormente, a injria tem um funcionamento
ambivalente: ela destri e constitui. Como histria narrada nos termos da injria, o
Nordeste exibe os traos dessa dinmica da violncia. Os mesmos termos da morte, da
dor e da misria que constituem as identidades nordestinas em discursos opressores
viajam para outras cartografias discursivas e nelas se ressignificam. Rompem, assim, com
os fins injuriosos originais da condio que os criou. Por exemplo, seria uma falcia
afirmar que o dizer do governador de Sergipe em 1983, Joo Alves, para quem a misria
do Nordeste estaria promovendo o aparecimento de uma sub-raa, com homens
inferiores pela prpria constituio (Veja, 17/08/1983, p.66) tom de que Veja se utiliza
para fundamentar a idia de um lento genocdio que estaria acontecendo na regio seja
equivalente ao questionamento de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, se Fabiano seria
um homem: No, provavelmente no seria homem: seria aquilo mesmo a vida inteira,
cabra, governado pelos brancos, quase uma rs na fazenda alheia (Ramos,
1977[1938]:26). O enunciado de Graciliano Ramos repete os termos da injria, mas no o
faz sem uma ruptura fundamental. Essa repetio que desloca e rompe , segundo Derrida
(1977), uma possibilidade estrutural da prpria linguagem, o que ele chama de
iterabilidade. Segundo a lgica da iterabilidade, o signo, ao ser citado, rompe com seu
contexto original, engendrando uma infinidade de novos contextos de um modo
absolutamente ilimitvel (Derrida, 1977:185). A ruptura est inscrita, portanto, nas
condies de possibilidade de uso da linguagem. A iterao que anima o enunciado,
segundo Derrida, introduz nele, a priori, uma deiscncia e uma fissura que so
essenciais (p.192).
25
A expropriao da humanidade dos nordestinos que se pode vislumbrar na fala de
Joo Alves uma instncia da estratgia biopoltica que, segundo Agamben (1998),
constitui os regimes totalitrios e o prprio estado moderno, a saber, o banimento de
alguns tipos de indivduos da esfera da lei (humana e divina) e o conseqente poder de
decidir sobre sua vida e sua morte no parece ser a mesma coisa que a tendncia no-
humana de Fabiano. O no-eu, o territrio limtrofe do no-humano onde Fabiano entra
expe nossas possibilidades demasiado humanas de ultrapassar a fronteira definidora da
abjeo. Graciliano Ramos explora essa possibilidade de ruptura da linguagem para nos
apresentar uma literatura tecida a partir dos termos da injria, mas segundo uma lgica
(itervel) que extrapola os propsitos opressivos com os quais esses termos foram
gestados.
No obstante, essa possibilidade de romper que est inscrita na circulao das
palavras nem sempre assume feies afirmativas. Em se tratando da mdia hegemnica
brasileira, a iterabilidade, muito freqentemente, est a servio de um violento processo
de excluso de sujeitos do domnio da modernidade brasileira. No s na mdia, mas
tambm nas conversaes cotidianas, diversos cidados brasileiros resistem a enxergar
traos do humano em outros cidados, seres que, por vezes, sequer se podem chamar
cidados por terem adentrado no medonho espao da abjeo.
Assim, os captulos que se lem a seguir problematizam e complicam a violncia
na linguagem e suas conotaes poltico-simblicas, alm de suas facetas corpreas e
psquicas. Cinco captulos compem o texto da tese. No primeiro, Linguagem e
violncia, trato da complicada e imbricada relao entre violncia e significao. Parto
da noo de que, se a linguagem uma forma de ao, esse tipo de ao pode ser violento.
Defendo que, assim como a linguagem, a violncia um fator central em nossa
constituio como sujeitos e na constituio da sociedade como tal. Discuto ainda o
conceito de campos de comunicabilidade, conceito antropolgico proposto por Charles
Briggs de que me utilizo para investigar o funcionamento da violncia lingstica na
mdia do Brasil.
No segundo captulo, Nordeste: a iterabilidade de uma ofensa, discuto como os
performativos que ferem, machucam e paralisam adquirem sua fora de ferir. Abordo
essa questo a partir da visada de Judith Butler, para quem todo termo que fere extrai sua
26
fora de uma dissimulada e acumulativa historicidade. Inicia-se aqui a anlise dos modos
como a mdia hegemnica brasileira fere os nordestinos. No terceiro captulo, Semntica
da violncia, parto da premissa de que se h violncia na lngua, essa violncia deve
emergir por meio de certos mecanismos textuais e discursivos. Tento demonstrar que os
traos da violncia que emergem na designao dos nordestinos so um sintoma de uma
configurao textual-discursiva mais ampla, a comunicabilidade.
Em Pragmtica da violncia, o captulo 4, dou continuidade anlise dos dados
da tese, demonstrando os modos pelos quais a violncia circula juntamente com os
termos ofensivos. Ofereo dois modelos para a compreenso da circulao da injria
(Butler, 1997 e Briggs, 2007a) e analiso como, nessa circulao, a violncia contra os
nordestinos e as nordestinas emerge nas pginas de Veja. No ltimo captulo,
Cartografias da subjetividade, dedico-me a descrever o princpio antiutpico na
abordagem de O Globo sobre os nordestinos, na srie de reportagens Vidas severinas: da
misria do serto realidade da favela, de forma a mostrar que, para alm das
identidades nordestinas, a no-humanidade e a semi-vida dos subalternos so signos
icnico-indexicais do que ocorre com o prprio sujeito moderno. Aponto, assim, para
uma tendncia no-humana da subjetividade, uma visada til no apenas como crtica aos
discursos modernos que utilizam o humano contra o Nordeste, mas tambm como forma
de entender o sujeito fora do quadro da ontologia vitalista (Cheah, 2003) que concebe o
sujeito como naturalmente destinado vida, ao futuro e ao progresso.
27
CAPTULO 1
LINGUAGEM E VIOLNCIA
Poesia, minha tia, ilumine as certezas dos homens e os
tons de minhas palavras. que arrisco a prosa mesmo com
balas atravessando os fonemas. o verbo, aquele que maior
que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele
cambaleia baleado. Dito por bocas sem dentes nos conchavos
de becos, nas decises de morte. A rea move-se nos fundos
dos mares. A ausncia de sol escurece mesmo as matas. O
lquido-morango do sorvete mela as mos. A palavra nasce no
pensamento, desprende-se dos lbios adquirindo alma nos
ouvidos, e s vezes essa magia sonora no salta boca porque
engolida a seco. Massacrada no estmago com arroz e feijo
a quase-palavra defecada ao invs de falada.
Falha a fala. Fala a bala.
Paulo Lins, Cidade de Deus
vlolncla consLlLulnLe
Em sua introduo ao livro Violence in War and Peace, Nancy Scheper-Hughes e
Philippe Bourgois (2004:2) afirmam que talvez o que mais se possa dizer da violncia
que, como a loucura, a doena, o sofrimento e a prpria morte, ela uma condio
humana (grifo meu). A violncia, segundo os autores, est presente (como uma
capacidade) em cada um de ns, assim como o seu oposto a rejeio violncia
28
(id.ibid). Tal formulao, que assume a violncia como parte da condio humana e no
como algo que lhe seja exterior e estranho, no apenas a primeira idia a ser
desenvolvida nesta tese, mas provavelmente a sua questo mais central. As incurses que
tenho feito nas facetas de uma violncia que, apesar de fisicamente diferente daquela
sentida no tapa na face, simbolicamente lhe equivalente, levam-me a crer que a
violncia um aspecto estruturante da nossa relao com a vida social. A violncia, em
suas diversas formas, no parece ser algo que atinge o sujeito em termos de mera
casualidade ou fatalidade; ao contrrio, h evidncias de que a violncia ubqua em
nossa experincia social e, alm disso, est na cena mesma da constituio das
subjetividades.
A produtividade e a circulao da violncia, seja nas prticas lingsticas, seja nos
diversos modos em que habitamos o mundo, tm sido objeto de reflexo de diferentes
autores, em campos tericos diversos. Neste captulo, apresento uma viso panormica de
algumas elaboraes sobre essa localizao da violncia na cartografia das subjetividades
e do uso das formas simblicas, particularmente a linguagem. Trata-se de um primeiro
passo para entender que tipo de violncia est em jogo na representao do Nordeste pela
mdia brasileira: o que, afinal, significa construir o Nordeste como o territrio da fome,
da morte, da agressividade e do atraso? Que projeto poltico-ideolgico se desvela na
atribuio de certas marcas de gnero, raa, sexualidade e religio aos nordestinos e s
nordestinas? Por que, neste trabalho, chamo de violncia aquilo que, em outras
cartografias, foi e denominado hegemonia, dominao, discriminao? O que essa
violncia diz da vida corprea e psquica do sujeito e da ambigidade dos mecanismos
que, se por um lado ferem o sujeito, por outro lhe oferecem possibilidade de existncia
poltica?
A violncia aparece entre as condies de possibilidade para diversas instncias
de nossa relao com a vida social, como a construo de narrativas (Briggs, 2007a), a
inveno e o desdobrar temporal de certas tradies (Asad, 2008), a definio do que seja
um autor (Foucault, 1998[1969]). Autores como Freud (1930) e Butler (1997) posicionam
a violncia na cena mesma da constituio da subjetividade. Comecemos com Freud.
Em O Mal-estar na civilizao, obra publicada em 1930, e certamente
influenciada pelo horror da Primeira Guerra Mundial e pelos prenncios da Segunda,
29
Sigmund Freud discute o conflito entre Eros e o instinto de morte na formao da
estrutura psquica e na formao de uma comunidade, o que o ttulo do ensaio anuncia
como civilizao. Freud inicia seu ensaio reconhecendo que, embora vivamos em busca
de prazer, nossas possibilidades de felicidade so restringidas por nossa prpria
constituio. J a infelicidade muito menos difcil de experimentar (Freud,
1997[1930]:25, grifo meu). A expresso nossa prpria constituio, acredito, bastante
significativa para o conjunto dessa obra, na medida em que Freud procura compreender o
papel que um instinto agressivo, especial e independente (p.75) desempenha na
formao da psique e nas relaes do sujeito e, num outro domnio, na formao da
prpria sociedade.
Nos termos de Freud, a tendncia agresso e autodestruio parte da
estrutura do ego. justamente uma estrutura punitiva e censora, o superego, que
obrigar o ego a introjetar essa violncia: assumindo a forma de conscincia, o
superego lana contra o ego a violncia que o ego teria gostado de satisfazer sobre
outros indivduos, a ele estranhos (p.83-84). Mesmo ciente do risco que o deslocamento
dessa cena da estrutura psquica para o domnio da vida social possa oferecer, Freud
estabelece um paralelo dessa agressividade constitutiva do sujeito e que necessita ser
apaziguada com a agressividade constitutiva dos indivduos que compem uma
sociedade: A civilizao, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agresso do
indivduo, enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu interior um agente
para cuidar dele, como uma guarnio numa cidade conquistada (p.84)
Talvez o grande mrito desse ensaio de Freud seja justamente a ousadia de traar
esses paralelos. Creio que uma teoria social s tem a ganhar com a considerao do
funcionamento da vida psquica do sujeito
1
. Freud avana na analogia e procura entender
a formao do superego de uma comunidade: Pode-se afirmar que tambm a
comunidade desenvolve um superego sob cuja influncia se produz a evoluo cultural
1
Neste mesmo ensaio, Freud esboa uma veemente crtica a uma das principais premissas do comunismo: a
idia de que a propriedade privada corrompe a natureza pacfica e cooperativa do sujeito ao conferir-lhe o
poder advindo da posse. Freud argumenta que tal projeto de civilizao, baseado no reinado absoluto de
Eros em prejuzo do instinto de morte, baseia-se psicologicamente em uma iluso insustentvel (p. 70). A
agressividade advm de processos instituais primrios e fundamentais (cf. Freud, 1996a[1923] e
1996b[1920]), certamente anteriores ao perodo em que a humanidade inventou a propriedade. Trata-se,
segundo Freud, de uma caracterstica indestrutvel da natureza humana (p.71, grifo meu). Percebe-se a a
relevncia da considerao da vida psquica do sujeito na crtica social.
30
(p.106) A formao do superego de dada poca de uma civilizao, afirma Freud, d-se
de modo semelhante formao do superego do sujeito, pela impresso deixada atrs de
si pelas autoridades dos grandes lderes homens de esmagadora fora de esprito ou
homens em quem um dos impulsos humanos encontrou sua expresso mais forte e mais
pura e, portanto, quase sempre, mais unilateral (p.106-107). O superego social, por
assim dizer, tambm formado pela violncia. Freud formula a questo do seguinte modo:
Em muitos casos, a analogia vai mais alm, como no fato de, durante a sua vida, essas
figuras com bastante freqncia, ainda que no sempre terem sido escarnecidas e
maltratadas por outros e, at mesmo, liquidadas de maneira cruel. Do mesmo modo, na
verdade, o pai primevo no atingiu a divindade seno muito tempo depois de ter
encontrado a morte pela violncia. (p.107) Freud destaca que Cristo o exemplo mais
marcante dessa conjuno fatdica; adiante, discutiremos a posio de Asad (2008)
neste ponto, semelhante de Freud sobre o papel da morte brutal de Cristo e,
conseqentemente, da violncia, na constituio de uma tradio.
Freud atribui ento um papel central violncia na condio humana. Os seres
humanos, segundo ele, no so criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no
mximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrrio, so criaturas entre cujos
dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressividade. (p.67) O
instinto de agresso, obviamente, no o nico princpio governando a vida psquica do
sujeito. Ele mantm uma relao ambgua e conflituosa com o instinto de preservao ou
Eros. Em sua carta-resposta a Einstein sobre o porqu da guerra, Freud escreve que
[n]enhum desses instintos menos essencial do que o outro; os fenmenos da vida
surgem da ao concorrente ou mutuamente oposta dos dois (1932:209). No mbito da
civilizao, segundo a gramtica freudiana, a prpria noo de lei era originalmente
violncia bruta e ainda nos dias de hoje no se d sem o apoio da violncia (id.ibid.).
Freud nos coloca diante da no-casualidade da violncia, de sua imbricao com
nosso mais fundamental instinto de sobrevivncia. Agressividade, morte e violncia
devem ser encaradas no como infortnios ou entraves civilizao, mas como princpios
organizadores to fundamentais quanto sexo, vida e prazer.
Se podemos equacionar, a partir de Freud, a violncia com o nosso aparato
instintivo e com a prpria organizao da sociedade, como articular essa violncia ubqua
31
com a nossa constituio como sujeitos que falam, como corpos falantes? Essa
justamente a questo central de Judith Butler em sua teorizao sobre a violncia das
palavras. Caminhemos.
Butler (1997) comea seu ensaio sobre a fala excitvel [Excitable Speech]
problematizando a nossa condio de seres formados na linguagem, seres que requerem
a linguagem para existir (p.1-2). Nos termos da autora, somos vulnerveis ao poder
formativo da linguagem, um poder que nos insulta desde o princpio (p.2, nfase
acrescida). A criana, ao receber um nome, experimenta no apenas uma possibilidade
primria de existncia na vida social, mas apresentada primeira injria lingstica
que se aprende (p.2). Butler evoca a cena da interpelao de Althusser para explicar esse
processo ao qual somos submetidos ao longo do tempo, desde que aprendemos a lidar
com essa injria lingstica inicial: na cena clssica da interpelao de Althusser, o
transeunte, ao olhar para trs quando do chamado ei, voc a do policial, torna-se
aquele que foi chamado. O ato de reconhecimento se torna um ato de constituio, diz
Butler, e o transeunte compra certa identidade com o preo da culpa (p.25).
Em sua reflexo sobre o modo como palavras podem machucar e mesmo ameaar
o corpo, Butler recorre tambm elaborao de Nietzsche sobre a constituio do sujeito
moral. Segundo Nietzsche, h um poder retroativo na lei moral, aquela que ir atribuir
responsabilidade por uma certa ao. A existncia do sujeito anteriormente lei um
efeito da lei mesma: esse sujeito ser posicionado aprioristicamente ao ato, de tal forma
que se possa atribuir dor e responsabilidade pelos efeitos dolorosos de uma certa ao
(p.45). Diz a autora que, na economia moral delineada por Nietzsche, um ser
machucado, e o vocabulrio que emerge para moralizar essa dor aquele que isola um
sujeito como a origem intencional de um ato ofensivo. O sujeito criado ento numa
fico por meio da qual posicionado como causa de um ato ofensivo. Butler enfatiza
que na concepo nietzscheana o sujeito s pode vir a existir dentro das restries de um
discurso moral de responsabilidade. (p.46) No pode haver, segundo Nietzsche, um
sujeito a quem no se tenha atribudo, por meio de uma fico de origem, um ato de culpa,
ao qual se acrescentam um discurso de responsabilidade e uma instituio de punio. A
cena da ofensa ocupa, portanto, um lugar central no modelo de subjetividade que Butler
apresenta, e ela que informar a releitura da questo da performatividade em Austin
32
apresentada pela autora, que discutirei oportunamente. impossvel desvincular a ofensa
da questo da violncia. Em sua acepo dicionarstica, ofensa e ofender so termos
que mobilizam conceitos da violncia fsica. Segundo o dicionrio Houaiss, ofender
ferir as suscetibilidades, machucar, estuprar; ofensa, por seu turno, palavra
que atinge algum em sua honra, na sua dignidade (grifos meus). Assim, entendo que
Nietzsche, medida que delineia uma economia da responsabilidade por um ato ofensivo
e nela vislumbra a constituio de um sujeito moral, simultaneamente enxerga violncia
nessa constituio. Butler textualmente enftica ao concluir que a questo, ento, de
quem responsvel por uma dada ofensa precede e inicia o sujeito, e o prprio sujeito
formado ao ser designado a habitar um lugar gramatical e jurdico. (p.45, nfase da
autora)
Como funciona a violncia das palavras que, apesar de ferirem, so a condio de
possibilidade para a existncia social do sujeito? Qual o papel da conveno nesse
funcionamento violento? Quais os limites da nossa vulnerabilidade linguagem? So
questes como essas que motivam a reflexo de Butler em Excitable Speech, e o caminho
oferecido pela autora pe em xeque a existncia de fronteiras ntidas entre a violncia que
sentimos na pele, aquela do tapa na face, e a violncia simblica investida contra a nossa
condio, aquela da invectiva racial. Segundo Butler, o fato de utilizarmos o vocabulrio
da violncia fsica para descrever a violncia simblica (por exemplo, aquelas palavras
foram uma punhalada no meu peito) torna difcil, no entanto, compreender a
especificidade da violncia simblica ou lingstica essencial, por exemplo, para a luta
jurdica em torno da fala do dio [hate speech]
2
, empiria a que Butler dedica boa parte de
sua reflexo nessa obra. Por outro lado, o fato de que metforas fsicas so quase sempre
utilizadas para descrever insultos lingsticos sugere que essa dimenso somtica pode
2
O Cdigo Penal Brasileiro tipifica o crime de injria e o posiciona no contexto maior dos crimes contra
a honra, juntamente com calnia e difamao. Ao contrrio da noo de crimes contra a honra, que
bastante antiga, a de hate crimes (crimes de dio, de onde deriva a expresso hate speech ou
fala/discurso do dio), conforme a legislao de pases como Estados Unidos e Canad, bem mais
recente. O que se atinge com um hate crime no a honra, categoria que assumia um imenso valor social
antigamente, mas sim o pertencimento a algum grupo. Nesses crimes, o que est em jogo so outras
categorias sociais, intimamente ligadas discusso sobre polticas de identidade, como gnero, orientao
sexual, raa etc. No Brasil, os crimes tipificados por hate crimes correspondem ao crime de injria (Art.
140 do Cdigo Penal Brasileiro). No 3, l-se que o ofensor pode cumprir pena, de trs meses a um ano,
[s]e a injria consiste na utilizao de elementos referentes a raa, cor, etnia, religio, origem ou a
condio de pessoa idosa ou portadora de deficincia (Redao dada pela Lei n 10.741, de 2003).
33
ser importante para a compreenso da dor lingstica (p.4-5). A autora acrescenta que
no apenas certas palavras e certos modos de abordar [address] outrem so capazes de
ameaar o bem-estar do corpo, mas existe um sentido forte segundo o qual o corpo
alternativamente sustentado e ameaado por modos de endereamento [address] (p.5).
interessante observar que essas formulaes de Butler em torno de como o corpo
sustentado e ameaado a partir de certas formas lingsticas consistem, na verdade, em
algumas das grandes descobertas de Freud, na virada do sculo XIX para o XX. Poder-se-
ia atribuir a esse perodo a descoberta de que as palavras podem machucar, paralisar.
Analisando o caso de Sra. Caecilie, uma de suas pacientes histricas, Freud (2004[1893])
procura descobrir a causa das nevralgias faciais que acompanhavam seus acessos de
histeria. Ao evocar o evento traumtico, a paciente refere-se a uma sensao de ansiedade
provocada pelo marido. Diz o autor: descreveu uma conversa que tivera com ele e uma
observao dele que ela sentira como um spero insulto. De repente, levou a mo face,
soltou um grande grito de dor e exclamou: Foi como uma bofetada no rosto. Com isso,
cessaram tanto a dor como o ataque (Freud, 2004[1893]:181, nfase acrescida).
Freud questiona, ento, como que uma sensao de bofetada no rosto vem a
assumir os contornos de uma nevralgia no trigmeo. Segundo o autor, o histrico ao
tomar expresses como bofetada no rosto e punhalada no corao ao p da letra
quando do relato de uma experincia traumtica no est tomando liberdades com as
palavras, mas simplesmente revivendo mais uma vez as sensaes a que a expresso
verbal deve sua justificativa. (p.183) Nos termos de Freud, o uso de uma expresso
como engolir alguma coisa, para falar de um insulto ao qual no se pde reagir,
originou-se na verdade das sensaes inervatrias que surgem na faringe quando
deixamos de falar e nos impedimos de reagir ao insulto (p.184).
Freud levanta ainda a hiptese de que a histeria, com suas inervaes
inusitadamente fortes, recupera o significado original das palavras. Ou seja, a sensao
fsica da dor do insulto acompanha, no relato histrico, o insulto em si. Para o autor,
talvez seja errado dizer que a histeria cria essas sensaes atravs da simbolizao.
possvel que ela no tome em absoluto o uso da lngua como seu modelo, mas que tanto a
histeria quanto o uso da lngua extraiam seu material de uma fonte comum (Freud,
2004[1893]:184, nfase acrescida). Parece haver, ento, uma indissociabilidade entre a
34
cena da violncia fsica e a da ofensa, da injria, da maledicncia. Tomarei a sugesto de
Freud, segundo a qual h um material comum na base do uso da lngua e da vida psquica
um material corpreo mediado pelo simblico para entender, no territrio da
violncia simblica, aquilo que se diz dos nordestinos e das nordestinas na mdia do
Sudeste do Brasil.
vlolncla e slgnlflcao
Tendo em vista que a violncia um aspecto constituinte da relao que
estabelecemos com o mundo um mundo, como enfaticamente afirma Talal Asad
(2008:596), em que violncia verbal e fsica so variavelmente constitutivas , como
podemos abordar a relao dessa violncia cotidiana e ubqua com a linguagem
ordinria? Os signos so de partida violentos ou adquirem seu potencial de ferir atravs
do uso? A violncia produz ou oblitera significao?
interessante observar que na influente obra Metaphors we live by, a qual viria
revolucionar o que se entende por metfora, o primeiro exemplo que os autores, George
Lakoff & Mark Johnson, nos do sobre o que uma metfora conceitual envolve um
aspecto da violncia mundana a que somos suscetveis, neste caso uma espcie de
violncia que se no experienciamos em nossas prprias vidas, certamente j ouvimos
falar, lemos ou comentamos em nossas interaes cotidianas. Refiro-me ao conceito de
guerra. Ao explicar que metfora uma questo de pensamento e no apenas de retrica,
os autores defendem que um modo comum e ordinrio de concebermos uma discusso
atravs da correlao desta com a imagem da guerra. Dizem Lakoff & Johnson (1980:4):
importante ver que no apenas falamos de discusses em termos de guerra. Nossa
cognio baseia o conceito de discusso parcialmente no conceito de guerra, de tal modo
que perdemos ou ganhamos discusses, vemos a pessoa com quem discutimos como
um oponente, perdemos ou ganhamos terreno, para citar algumas palavras dos autores.
Lakoff & Johnson estavam, na fundao de uma nova teoria, levantando um
relacionamento cujo status permanece complicado para as disciplinas que lidam com as
formas culturais e simblicas da violncia. A metfora DISCUSSO UMA GUERRA
combina os conceitos de linguagem e violncia. Pelo menos dois diferentes tipos de
35
relacionamento entre linguagem e violncia podem ser vislumbrados nos termos de tal
metfora conceitual. O primeiro relacionamento que violncia (guerra) domnio fonte
da significao (discusso). Guerra e suas conotaes so um modo de modelar a
compreenso de um evento em que corpo e mente participam de um outro tipo de batalha,
uma batalha verbal conforme Lakoff & Johnson afirmam. O outro relacionamento,
implicado no uso de batalha verbal, que linguagem pode ser uma forma de violncia.
A semntica corprea de DISCUSSO justape-se ao status experiencial da violncia
voc pode atacar as crenas de algum, sua avaliao das idias do outro pode ser
bombstica, algum pode ficar ferido pelos comentrios de outrem sobre seus
argumentos.
Podemos complicar essas duas teses implcitas metfora DISCUSSO GUERRA, a
saber, de que violncia o terreno para algum tipo de significao e de que linguagem
pode ser uma forma de violncia com uma terceira, segundo a qual violncia destri a
significao. Essa viso sustenta que a violncia uma interrupo, algo que, atravs de
uma punhalada ou pancada ou tiro, retira identidade e subjetividade, posicionando o
sujeito em lugar nenhum, deslocando a sua condio. O filsofo Jean-Luc Nancy defende
que a violncia desnaturaliza, destri e massacra aquilo que ela ataca (2005:16). Ela
no tem significado per se; ao contrrio, ela se livra do significado e at mesmo da forma
daquilo que ela uma vez paralisou. A natureza da violncia, para Nancy, no da ordem,
mas da desordem. O autor prossegue e afirma que a violncia detesta jogos, todos os
jogos. A violncia no funciona do modo que Wittgenstein pensa em relao
linguagem, como um jogo. Linguagem um jogo como todas as outras atividades
humanas regradas, acredita Wittgenstein. No entanto, a violncia, aquilo que no conhece
regra alguma, no joga o jogo de foras. Ela no joga em absoluto (p.17). A violncia
no gregria. Na medida em que detesta jogos, ela rejeita agir junto com o outro; o
outro, em ltimo caso, o celeiro do seu dio. O seguinte insight de Nancy ainda mais
incisivo: Assim como a violncia no a aplicao de fora em conjuno com os
outros, mas o forar de todas as relaes de fora, destruindo guisa de destruir e
portanto uma fraqueza furiosa ento a violncia no serve verdade: ao invs disso, ela
quer ser a prpria verdade (p.17) Embora, nos termos de Nancy, a violncia resista
significao, insisto agora em atribuir-lhe um significado, um caso, uma instncia, um
36
possvel nome entre tantos outros: violncia racista. Para Nancy, trata-se do tipo de
violncia que bate no rosto de algum por razo alguma a no ser o fato de que a
aparncia daquela face no desejvel.
interessante observar que, mesmo que olhemos para o carter destrutivo e
desorganizador da violncia, haver uma correlao com significado em algum momento.
Nancy pode estar certo em sua insistncia em manter a separao entre trauma e
significado, mas a ordem que vem depois do evento , em ltima instncia, construda
sobre uma ponte feita de artefatos simblicos. Parece-me que a natureza ambgua da
violncia destrutiva e construtiva ao mesmo tempo dependente da linguagem, que ,
definitivamente, uma ao constitutiva. Discutimos na seo anterior a elaborada
formulao de Freud a respeito do papel que a violncia desempenha na formao da
subjetividade e na prpria sociabilidade. O carter destrutivo e desorganizador da
violncia e da pulso de morte devem ser enfraquecidos num esforo contrrio.
Assim, civilizao e gregarismo aquilo que a violncia odeia, segundo Nancy surgem
da violncia, por assim dizer, num furioso movimento contrrio.
Linguagem e significado, os quais a violncia destri, podem tambm vir na
esteira de um evento traumtico como modo de ordenar aquilo que a violncia outrora
destrura. Tomemos um tipo especfico de narrativa cujo objetivo reestruturar
experincias de vida afetadas pela violncia: a fala do crime (Caldeira, 2000). A fala do
crime, de acordo com Caldeira, uma fala simplstica e essencializada circulando na
cidade de So Paulo e que engendra um sistema de oposies entre bem e mal, cidados e
criminosos, segurana pblica e privada. Falar sobre crimes, sobre violncia cotidiana e
sobre a descrena em instituies democrticas como a polcia um modo que
paulistanos encontraram para ordenar um mundo literalmente interrompido pela
violncia. No entanto, a ordem estabelecida pela fala do crime uma ordem
problemtica. Caldeira defende que os relacionamentos entre violncia, significao e
ordem em uma cidade que enfrenta o crescimento da violncia e do medo como So
Paulo encontram as narrativas como artefatos que tanto agem contrariamente como
reproduzem a violncia (2000:38). Ela no hesita em adicionar que a ordem simblica
engendrada pela fala do crime no apenas discrimina alguns grupos, promove a sua
criminalizao e os transforma em vtimas da violncia, mas tambm faz o medo circular
37
atravs da repetio de histrias, e, mais importante, ajuda a deslegitimar as instituies
de ordem e legitimar o uso de modos de vingana privados, violentos e ilegais (id.ibid.).
A intensa circulao e o impacto das narrativas do crime em So Paulo so
evidncia de que a violncia profundamente articulada significao. Assiste-se
atualmente ao espetculo da segurana privada e teatralizao do Estado em sua ao
contra o crime. Performance e teatro so importantes ndices do carter performativo da
violncia. Dando-me liberdade aqui minha prpria narrativa do crime, lembro que
alguns amigos e eu ficamos perplexos com o fato de seguranas armados serem os hosts
de um restaurante em Fortaleza. Os homens ostentavam armas e vestiam coletes prova
de bala. Aos sairmos, uma amiga perguntou a um dos seguranas o motivo de tal
indumentria. Ele afirmou que era apenas para oferecer um visual seguro, que no
havia outra razo alm dessa, ao que minha amiga contestou veementemente. Aquelas
vestimentas performatizam uma realidade vale aqui lembrar que o aspecto central do
enunciado performativo, segundo Austin (1975[1962]), a sua independncia de
condies de verdade. O performativo prescinde de um referente no mundo real; ele no
a constatao de um fato, mas a realizao de uma ao, um ato em si. Certamente, h
uma violncia fsica que motivou aquele jeito de vestir e agir, mas o estado de coisas
instaurado por tal estilo vai alm de qualquer aspecto fsico que se atribua como causa,
como referente, enfim. O espetculo da violncia fsica adquire nuances performativas,
simblicas, culturais. Vrias polticas pblicas e de planejamento urbano, assim como
abordagens tradicionais da violncia, tendem a enfatizar o aspecto fsico da violncia,
desprezando o espetculo encenado nessa luta contra a violncia. Em outras palavras, a
significao correlata negligenciada. Afirmar que o Brasil um dos pases mais
desiguais do mundo, que em certos sentidos, principalmente na distribuio de renda,
nosso projeto de nao falho, que a indstria da segurana extremamente lucrativa no
suficiente para explicar as facetas mltiplas e complicadas da violncia. Muitos fatores
simblicos fatores que no podem ser quantificados, conforme enfatiza Caldeira
(2000:129), participam da compreenso, produtividade e do prprio status da violncia.
Linguagem e violncia so co-dependentes.
No se pode perder de vista o papel do corpo na interdependncia entre violncia
e linguagem. A antroploga Liisa Malkki (1995) nos oferece um relato impressionante
38
das narrativas contadas pelos refugiados hutu na Tanznia. Parece-me que o corpo um
corpo discursivo, encenado desempenhou um papel central tanto no tipo de violncia
que foi infligida nos hutus pelos seus perpetradores (os tutsis) quanto na prpria
categorizao do trauma atravs de histrias ordenadoras. Os sobreviventes do
genocdio encenaram mapas corpreos, que no podem ser objetificados em termos da
fidelidade ao objeto que descrevem. Os mapas corpreos, de acordo com a autora, so
[poderosos] construtos culturais, inextricavelmente codificados em outros domnios da
prtica social e capazes de serem colocados em muitos usos (Malkki, 1995:88). E mais
importante: Atravs da violncia, corpos de indivduos metamorfoseiam-se em
espcimes da categoria tnica que eles representam (id.ibid.). Estamos tratando aqui de
narrativas que constroem o corpo atravs de formas discursivas impregnadas de um
excesso assustador, por assim dizer, uma vez que se trata de corpos significados sob o
espectro horrendo da violncia brutal. Em tais atos violentos, o corpo ofereceu os
prprios parmetros para a encenao da violncia: os plos de bambu
(estereotipicamente marcados como emblemas da categoria identitria dos tutsis) tinham
entre 1,8 e 2 metros de comprimento. Talvez no seja coincidente o fato de que esses
comprimentos correspondam altura estereotpica de um tutsi (p.92).
At aqui, vimos que apesar de a violncia tender a obliterar a significao, essa
mesma violncia paralisante tambm motiva significados. Tanto perpetradores como
vtimas da violncia tm de fazer sentido da experincia, ambos participam de prticas
culturais situadas e lanam mo dos jogos disponveis em suas comunidades. Sujeitos
como minha amiga, uma vez interpelados a participar de um jogo de linguagem violento,
podem recusar-se a participar dele, ou oferecer um lance inesperado pelo iniciador do
jogo: para que esta parafernlia?, o que significa essa performance da segurana?,
no, estas suas vestimentas no so apenas para causar uma boa impresso.
J que podemos perceber fortes e evidentes laos entre violncia e linguagem,
ento parece-me que aspectos como a convencionalidade da prtica lingstica, a
iterabilidade dos atos de fala e o escndalo do corpo falante (o ato e o ator que no sabem
o que fazem) so cruciais para entender como atos violentos se tornam ritualsticos,
iterveis, comunicveis e corporealmente inconscientes. Domnios tericos como a teoria
dos atos de fala e a antropologia tm demonstrado que terica e socialmente relevante
39
observar cuidadosamente as expresses formulaicas que aprendemos, a fora da repetio
e o corpo que, quando fala, transborda aquilo que diz. Nesse sentido, a questo que surge
para a presente tese pensar a violncia para alm do domnio da fisicalidade e da
crueldade, de forma a entender como a forma lingstica, na iterabilidade, se torna uma
forma lingstica violenta. A violncia faz parte de nossas prticas cotidianas, o que a
torna um problema que demanda ferramentas da reflexo sobre a vida cotidiana. Malkki
(1995:94) assume uma linha de raciocnio similar ao apontar que relevante perguntar
como as abordagens da atrocidade vm a assumir forma temtica, como elas se tornam
formulaicas. E acrescenta: atos de crueldade e violncia, afinal, freqentemente
assumem convenes prontamente. Eles se tornam estilizados e mitologicamente
significativos mesmo em sua perpetrao (id.ibid.).
vlolncla comunlcvel
Discutimos at aqui a centralidade da violncia na formao do que Freud chama
de civilizao e tambm, conforme Butler, na forma como somos convocados a habitar
um lugar social e jurdico. Vimos tambm que violncia e significao mantm laos
estreitos. Nesta seo, avano na compreenso dos complicados relacionamentos entre
linguagem e violncia, agora a partir de indagaes sobre os significados polticos das
relaes que se estabelecem entre o tapa e a palavra, entre o tiro e a notcia de jornal,
entre o linchamento racista e a ofensa verbal. Baseio esta reflexo principalmente no que
Charles Briggs tem chamado de comunicabilidade (cf. Briggs, 2005, 2007a, 2007b,
2007c).
Inicio a discusso sobre comunicabilidade relembrando as palavras de
Albuquerque Jr. (2001) sobre a possibilidade de superao da opresso discursiva a que
os nordestinos tm sido submetidos historicamente. Numa atitude francamente
foucaultiana, o autor defende que abordar as palavras e imagens que retratam os
nordestinos como seres miserveis requer que se entendam as relaes de poder e saber
que produziram tais imagens e enunciados clichs, inventando o Nordeste e os
nordestinos de certo modo e no de outros (p.21). Albuquerque Jr. acrescenta que tanto
40
o discriminado quanto o discriminador so produtos de efeitos de verdade, emersos de
uma luta e mostram os rastros dela (id.ibid, grifo meu). Ao insistir na ideologia que
institui dominados e dominadores e nos vestgios textuais desse processo, o historiador
est, na verdade, tocando no processo infeccioso causado pelo movimento do discurso
um processo que ideologicamente projeta certas vises de mundo, certos modos de ver e
ler, deixando seus rastros, o que Briggs chama de comunicabilidade.
O conceito de campo de comunicabilidade ou cartografias comunicveis refere-se
ao carter infeccioso dos textos o modo como textos e ideologias encontram
audincias e as posicionam social/politicamente (Briggs, 2007c: 556). Os textos
projetam modos de compreenso do mundo. Certos pontos de vista so mapeados como
possveis, necessrios e naturais, enquanto outros so negados ou elididos. Briggs
localiza a comunicabilidade dentro de campos sociais (Bourdieu, 1993) particulares.
Cartografias comunicveis, escreve Briggs, criam posies que conferem diferentes
graus de acesso, agncia e poder, recrutando pessoas para ocup-las e convidando-as a
construir prticas de auto-formao de acordo com seus termos (Briggs, 2007c:556).
Elas tambm so projees temporais e espaciais de como o discurso deve circular.
Embora cartografias comunicveis sejam modos de interpelao (Althusser, 1971),
baseadas em desigualdades materiais e institucionais, a resposta aos mapas
comunicativos pode subverter a sua lgica. Como afirma Briggs, na recepo de um
texto, os leitores podem aceitar a cartografia comunicvel que ele projeta, aceit-la mas
rejeitar a maneira pela qual ela tenta posicion-los, trat-la crtica ou parodicamente, ou
invocar cartografias alternativas (idem).
Para exemplificar esse carter infeccioso do discurso, procedo agora a uma
apresentao do trabalho etnogrfico de Briggs (2007a) sobre a representao do
infanticdio na mdia da Venezuela. Briggs baseia sua prpria narrativa, por um lado, no
relato de acusados de crimes de infanticdio, alm de familiares de acusados, juzes,
mdicos, jornalistas e, por outro lado, no tratamento dado a casos de infanticdio na mdia
impressa, em jornais como El Nacional e El Universal, que costumavam ser jornais de
referncia nacional, e tablides como Crnica Policial, publicao sensacionalista
semanal, especializada em histrias sobre crime (p.325).
41
Em sua anlise, Briggs demonstra que a poltica de verdade dessas narrativas
sobre o crime legitimada pelo modo como histrias so construdas como objetos
epistemolgicos atravs da projeo do seu prprio surgimento, disseminao e
recepo (p.325). A cartografia comunicvel dessas histrias permite que elas se tornem
no histrias sobre histrias, mas histrias sobre crimes brutais cometidos contra
crianas. Aquilo que seria a construo discursivo-ideolgica da violncia contra os
corpos transforma-se num caminho natural pelo qual o crime se transforma em
narrativa. Afirma Briggs: [tais narrativas] so altamente genricas, produzindo a
sensao de que a cartografia do infanticdio familiar, conhecvel e contida dentro das
histrias. Uma poltica de medo e raiva parece fluir de um padro psicossocial estvel,
dando a sensao de que as narrativas e as reaes emotivas a elas surgem no da
imaginao da polcia e de profissionais da rea mdica e jornalstica, mas dos prprios
eventos horrendos (id.ibid., nfase acrescida).
Como as narrativas adquirem, ento, esse poder de naturalizar a violncia,
transformando um processo discursivo num fato natural? Briggs questiona a assuno de
que h uma relao imanente entre narratividade e violncia. Agentes como o Estado,
ativistas, juzes, jornalistas, detetives e tericos da violncia comumente assumem essa
viso, segundo a qual atos particulares de violncia geram tipos especficos de
narrativas; a justia consiste em revelar a relao prpria entre violncia e narrativa
(p.318). Essa viso no passa, segundo o autor, de uma posio essencializadora, que
advoga a existncia de um drama interno na relao entre violncia e narrativa.
A relao aparentemente natural estabelecida entre o crime e a sua representao
na mdia pode ser mais bem entendida se levarmos em conta as noes de cone e
smbolo, tal como propostos pela semitica peirceana (cf. Briggs, 2007a:323-331). O
cone mantm uma relao de semelhana com o objeto um diagrama velocidade x
tempo em fsica, por exemplo, representa as relaes entre velocidade e tempo do objeto
de acordo com a relao de suas prprias partes. O ndice, por seu turno, interage com o
objeto no mundo. Peirce (1955[1897]:101) diz que um ndice um signo de fato a
pegada, por exemplo, mantm uma relao existencial com o passo, ela foi afetada por
ele. Briggs assume o realismo de Peirce para entender como as narrativas sobre
infanticdio na mdia venezuelana se tornam signos icnico-indexicais da violncia. De
42
um lado, ao serem construdas como cones do crime, as narrativas projetam conexes
aparentemente diretas, automticas e naturais com os objetos violentos na medida em que
compartilham as mesmas caractersticas nas mesmas relaes (Briggs, 2007a:323); de
outro lado, figurando como ndices do evento, sua existncia oferece prova da existncia
do crime. Por seu carter icnico-indexical, as narrativas da violncia parecem projetar
uma relao imanente, e a mdia, juntamente com os personagens que participam da
investigao, julgamento e circulao das histrias sobre infanticdio, apostam nessa
relao. Diz o autor que as nicas pessoas que encontrei que questionaram
relacionamentos entre histrias e seus objetos violentos foram os rus e alguns de seus
parentes (p.334).
Esse processo ideolgico de construo do discurso atravessa diferentes bairros,
instituies e classes sociais na Venezuela e pula da escala de uma micro-domesticidade
falha (os maus genitores que matam seres inocentes) para a fratura da prpria nao (os
infanticidas, em geral pobres, passam a representar a irracionalidade e antimodernidade
de uma frao da Venezuela). A representao da violncia torna-se a representao de
um ideal (e um anti-ideal) de nao. Briggs acrescenta:
Como cada histria de infanticdio transformava alguns corpos
estraalhados em discursos sobre corpos sociais (especialmente em
comunidades pobres) e sobre a poltica do corpo [...], a cobertura da
imprensa ofereceu s elites uma chance de confirmar o argumento de
que os pobres em geral compartilham da brutalidade e das qualidades
irracionais e subumanas de pais e mes monstruosos ao mesmo tempo
em que trabalhadores de classe mdia distanciar-se-iam das imagens e
acusaes, ocupando o lugar do bom cidado ao qual eles sempre
tiveram pouco acesso (p.338)
A comunicabilidade um processo que, em ltima instncia, presta-se
produo e ordenao de subjetividades e relaes sociais (p.338). Na medida em que
as narrativas criam uma cartografia para a violncia e projetam as condies a partir das
quais a violncia pode ser inteligvel e dizvel, os leitores so convidados a aderir a certas
leituras preferidas. Trata-se da produo de consenso: o jogo de mos que desvia a
ateno das audincias da produo das narrativas de infanticdio e da possibilidade de
43
contranarrativas atrelado ao fato de essas narrativas serem lidas como histrias sobre
crimes, no como histrias sobre histrias (p.338).
As narrativas que compem o objeto deste trabalho, embora no descrevam
diretamente a violncia fsica (se que existe a possibilidade de diferenciar esta violncia
da sua contraparte simblica), tambm constroem a cartografia da sua prpria histria,
exibio e recepo, de forma a legitimar um conjunto de esteretipos, generalizaes e
ditos jocosos sobre esses sujeitos que se constituem na dor, no movimento da migrao,
sob o signo da fome e da pobreza. Passemos agora a uma tentativa de delinear essas
cartografias.
Cs paus-de-arara: uma prlmelra lncurso
Uma das imagens que compem a estereotipia dos nordestinos na mdia do
Sudeste do Brasil so os caminhes que seguem amontoados de fiis a cidades como
Canind e Juazeiro do Norte, no Cear, e Bom Jesus da Lapa, na Bahia (Figura 3).
A economia da significao do Nordeste do Brasil na mdia recorre fortemente a
essa noo de religiosidade; os paus-de-arara so, afinal, aqueles que seguem em romaria
em busca de alvio para sua dor constitutiva. Certamente essa dor teria sido superada pelo
discurso secular da mdia, e a referncia a eles, os religiosos, os que seguem em paus-
de-arara, pode assumir o tom jocoso e violento do excerto abaixo, assinado por Jnio de
Freitas na Folha de S. Paulo:
C carloca delxou h mulLo Lempo de ser o nascldo e o crlado no 8lo. no passado, o
pessoal se mudava para o 8lo mas vlvla em colnlas. Lra "a gauchada", os "caLarlnas",
as vrlas especles generlcamenLe classlflcadas como "paralbas" ou "paus-de-arara". L a
lncerLa alLura, nem se sabe por que, acabou-se a cerlmnla: se no for um paullsLano
dlvldldo enLre a seduo do 8lo e o dever paLrlLlco de crlLlc-lo, basLou morar no 8lo
para vlrar carloca. Mas o vlslLanLe paullsLa no deve, [amals, orlenLar-se por esses
neflLos.
(!nlo de lrelLas, !"#$% '( )* +%,#", 13/10/1997)
44
Figura 3 - Pau-de-arara em Carabas do Piau
3
Em sua descrio do xodo ao Rio de Janeiro, Jnio de Freitas estabelece modos
de significar que recorrem a esteretipos e hierarquias. No de surpreender que os
indivduos de estados do Nordeste sejam postos no patamar mais baixo dessa hierarquia
como podemos perceber pelos termos paus-de-arara e parabas, que comprimem toda
uma diversidade cultural, como reconhece o prprio autor. Alm do recurso a um termo
da esfera da religiosidade, chama ateno nesse excerto o uso de termos do campo da
taxonomia para designar (ou melhor, generalizar) os nordestinos. Nordestinos, em outras
palavras, so bichos ou rvores exticas cuja diversidade demanda uma etiquetagem
taxonmica
4
.
Embora ainda assentadas em esteretipos, as categorias carioca e paulista,
nesse excerto, desfrutam de uma valorao positiva por parte do autor. Elas so
3
Extrada de Radiobrs, Agncia Brasil www.agenciabrasil.gov.br. Acesso em 10/02/2007.
4
As metonmias de paus-de-arara parecem jogar com acepes de planta e bicho: o nordestino o pau
que carrega a arara; como viaja de pau-de-arara, ele tambm a arara. A metonmia de espcie arbrea
tambm ocorre em parabas.
45
mobilizadas, por exemplo, tendo em vista o modo como, convencionalmente, costuma-se
designar esses grupos. Mas o exterior constitutivo dessas identidades centrais
invocado de acordo com a afirmao do territrio pavoroso da abjeo. O abjeto, segundo
Kristeva (1982), um no-objeto, um no-eu que nos separa do territrio dos animais, do
excremento, daquilo que causa repugnncia e desgosto e que, psiquicamente, marca um
exterior constitutivo negativamente, pelo repdio. A abjeo , assim, um conceito de
fronteira que nos remete para baixo cadver vem do latim cadere, cair (Seligmann-
Silva, 2005:40). Aqueles que vivem no territrio da abjeo no desfrutam do status de
sujeitos (Butler, 1993). Trata-se, no obstante, de seres cuja existncia pavorosa se faz
necessria para que o domnio dos sujeitos possveis se defina. Essa zona (...) ir
constituir o lugar da identificao pavorosa, contra a qual e em virtude da qual o
domnio do sujeito ir circunscrever a sua prpria reivindicao de autonomia e de vida
(Butler, 1993:3, negrito acrescido).
Eis um dos territrios onde se constri a visibilidade do Nordeste. Os parabas e
os paus-de-arara, ao contrrio dos cariocas e paulistas, e mesmo da gauchada e dos
catarinas, no possuem sequer uma origem especfica; fazem parte de uma espcie
genrica. Ocupam o no-lugar da abjeo, afinal. Veja-se o comentrio do ento treinador
do Corinthians, Wanderley Luxemburgo, sobre a impossibilidade de se diferenciar um
membro de um estado nordestino de outro:
nem sabla que ele era maranhense. !""#" %&'&()&"* +# ,&'& ,-&.&, so Lodos lguals.
ulgo paralba no bom senLldo. no d para saber quem e pernambucano, cearense eLc.
(!"#$% '( )* +%,#", 12/09/1998, nfase acresclda)
Conforme discutimos anteriormente, Briggs (2007a:325) formula que as
narrativas da violncia constroem uma cartografia de forma a tornar o objeto da violncia
no caso, o infanticdio familiar, conhecvel, e contido nas histrias. O autor, ao
apostar que as narrativas sobre a violncia so objetos epistemolgicos que projetam
sua trajetria, desde a sua construo at a sua circulao, evidencia que o relato do ato
violento produz uma espcie de conhecimento. A estratgia taxonmica de Jnio de
Freitas e a sua contraparte, a dificuldade classificatria de Wanderley Luxemburgo,
denunciam a criao de uma cartografia baseada no conhecimento de que eles so todos
46
iguais. Talvez o conhecimento sobre os parabas, de cara-chata seja to difuso pelo
estado abjeto que, em geral, os nordestinos ocupam na distribuio das subjetividades
brasileiras.
Tenhamos em mente que a tese que defendo a de que esses termos jocosos,
metonmias que aproximam os nordestinos da natureza, distanciando-os da modernidade,
so violentos. A ameaa desse discurso que fere citacional e adquire sua fora atravs
da repetio no tempo de condies violentas prvias (Butler, 1997:51). No captulo
seguinte, veremos que um sem-nmero de piadas, esteretipos e ditos jocosos sobre os
nordestinos fazem parte do prprio imaginrio da regio, e sua inveno coincide com a
inveno discursiva do Nordeste como territrio da fome e da matria inorgnica um
territrio que, no obstante a necessidade de visibilidade nesses termos para poder existir
politicamente, era convocado a se distanciar da modernidade que se inventava no Sudeste
do Brasil. Nesse sentido, devemos encarar a linguagem que fere como um tipo de fala que
adquire poder performativo para ferir a partir da repetio. Como postula Derrida (1977),
todo ato de fala (e todo signo em geral) funciona porque carrega em si a possibilidade de
ser repetido. Trata-se da iterabilidade do signo: a marca pode ser citada fora do seu
contexto original, quebrando, assim, qualquer contexto prvio, engendrando uma
infinidade de novos contextos de uma maneira que absolutamente ilimitada (Derrida,
1977:185). Em sua desconstruo da metafsica da presena, Derrida explica que a
ruptura com o contexto implica uma ruptura com o presente da inscrio, a presena
do escritor e o horizonte da sua experincia e, acima de tudo, da inteno (ibid:182).
Assim, a descrio taxonmica dos nordestinos por Janio de Freitas e a forma
abjeta como Wanderley Luxemburgo se refere a eles partem de condies violentas
anteriores, fazendo parte, assim, de uma cadeia de citao. porque cita uma histria
violenta que cada termo injurioso adquire fora de ferir. Mas tal citacionalidade ou
iterabilidade, como argumenta Butler, possui um futuro aberto, que no se pode controlar.
E essa abertura a futuras repeties uma marca estrutural que pode ser usada contra os
propsitos ofensivos originais, no interior dos quais muitos termos da injria foram
gestados. O futuro da iterabilidade, nos termos da filosofia de Derrida, absolutamente
ilimitado. Essa ambigidade inscrita na violncia da linguagem ser incisivamente
47
explorada nesta tese. Ao mesmo tempo que repete condies que ferem, o termo pode
romper com isso, e instaurar cadeias de significao mais afirmativas e menos injustas.
PablLando as narraLlvas da vlolncla
Aponto ao longo deste captulo que no simples diferenciar violncia fsica e
simblica. Em vrios sentidos, a violncia simblica ou discursiva atinge o sujeito em seu
prprio corpo. A ofensa tem um delineamento somtico. Observemos, a seguir, uma
notcia sobre violncia fsica, por assim dizer, publicada no caderno Brasil da Folha de
S. Paulo, em 2004:
!ose 8enedlLo de Souza, o Zeze, dlsse onLem que maLou o presldenLe do SlndlcaLo dos
ConduLores 8odovlrlos do A8C, Cswaldo Cruz !unlor, porque vlnha sendo humllhado
h mulLo Lempo. "!/# +010& 23# #3 #'& 34 ,&)#5& ,-&.&* 23# .06-& 706+8 %&'& 9:8
;&3/8 "< %&'& =&6-&' +06-#0'8 e que na mo dele eu s la me fuder", dlsse Zeze.
(!"#$% '( )* +%,#", 21/01/2004, nfase acresclda)
interessante observar que a atitude violenta de Zez motivada, como a
reportagem mesma deixa entrever, pela maneira preconceituosa como Zez e sua
condio so tratadas pelo presidente do Sindicato. A poltica de verdade da Folha de S.
Paulo, que itera essa relao causal, reforada em outras edies do jornal, como
podemos perceber na seo Frases, no dia seguinte:
CA8LA CuLn1L
"Cnde ele me enconLrava Llrava sarro de mlm, me chamava de cabea chaLa."
!ose 8enedlLo de Souza, slndlcallsLa, ao expllcar por que maLou o presldenLe do
SlndlcaLo dos ConduLores 8odovlrlos do A8C, Cswaldo Cruz !unlor, onLem na !"#$%.
(!"#$% '( )* +%,#", 22/01/1994)
O relato sobre o assassinato de Oswaldo Cruz Jnior por Jos Benedito de Souza
particularmente til para observarmos a relao entre linguagem e constituio de
subjetividades e, conforme o panorama que venho delineando neste captulo, a
centralidade da violncia nessa constituio. No entanto, antes de adentrar neste caso de
ofensa moral e conseqente violncia fsica, procedo a uma breve resenha das
48
elaboraes de Mahmood (2007) em torno de um caso que podemos tomar como
referncia, notadamente os protestos violentos que se seguiram publicao de uma srie
de cartoons satirizando o profeta Maom em jornais da Dinamarca.
Saba Mahmood procede a uma tenaz crtica ao modo como a tradio secular
aborda o sentido de dor religiosa que o episdio provocou em hordas de fiis
muulmanos, em diferentes partes do mundo. Adotando o vocabulrio limitado da
liberdade de expresso versus blasfmia, crticos adeptos do pensamento liberal como
Tariq Ali e Stanley Fish desdenham dessa dor, afirmando que se trata na verdade da
inabilidade deles de separar moralidade e representao. A autora comenta que,
segundo Tariq Ali, os muulmanos que expressam dor ao ver o Profeta caricaturado
como terrorista (...) no so seno fantoches nas mos de lderes religiosos e polticos
(p.5). Tratar-se-ia, afinal, de um mal-entendido entre civilizaes: uma que separa
crenas dentre elas, a religio e moralidade; outra que incapaz de tal separao. A
autora defende que esta se trata de uma viso por demais empobrecida do modo como um
sujeito se relaciona com um smbolo uma viso incapaz de perceber as prticas
afetivas e corpreas envolvidas no relacionamento mesmo entre sujeito e signo.
A forma como a tradio secular enxerga a dor moral dos fiis muulmanos,
comenta a autora, guiada pela viso tradicional da representao segundo a qual a
forma significante uma vestimenta superficial colocada sobre a coisa real, os
significados imateriais (Keane, 2006, apud Mahmood, 2007:9). Assim, no haveria
razo para qualquer sentido de ofensa derivado de representaes, uma vez que estas so
diferentes das coisas, dos objetos representados. O furor dos muulmanos seria o
produto de uma confuso fundamental entre a materialidade de uma forma semitica
particular que apenas arbitrria, mas no necessariamente articulada ao carter abstrato
de suas crenas religiosas (p.11).
A autora contrape essa ideologia semitica a uma economia de significao
baseada na noo aristotlica de schesis, que significa relao. No modelo aristotlico,
schesis captura um sentido de habitao corprea e da proximidade ntima que se imbui
nessa relao (p.14). O termo se aproxima da palavra grega hexis e da latina habitus,
ambas sugerindo uma condio corprea ou temperamento que fundamenta uma
modalidade ou relao particular (ibid.). O devoto habita, nesse sentido, uma relao
49
corprea e afetiva com o Profeta, num modo de significar que no da ordem da mera
representao, mas dos afetos e do corpo. O modelo de Mahmood certamente mais
eficiente para explicar como sujeitos se engajam num relacionamento com certos
smbolos; no como fantoches, como aponta o simplismo da posio liberal, mas como
sujeitos ticos. Essa idia de uma relao viva, corprea, afetiva com o smbolo, a meu
ver, acrescenta uma elaborao fundamental idia de uma violncia que, alm de se
organizar de modo simblico, afeta um corpo que sente e significa. Eis o comentrio da
autora sobre o senso de injria moral e violao que acompanha o episdio dos
cartoons dinamarqueses:
O sentido de injria moral que emana de tal relao entre o sujeito tico e
a figura de exemplaridade (tal como Maom) bastante distinto daquele
que a noo de blasfmia pressupe. A noo de injria moral que estou
descrevendo indubitavelmente acarreta um sentido de violao, mas essa
violao surge no do julgamento de que a lei foi transgredida mas de
que o ser de algum [ones being], assentado numa relao com o
profeta, foi abalado. Para muitos muulmanos, a ofensa que os cartoons
empreenderam no foi contra uma interdio moral (No deves fazer
imagens de Maom), mas contra uma estrutura de afeto, um habitus,
que se feriu. As aes que seguem esse processo de machucabilidade no
habitam uma economia de julgamento e responsabilidade, mas se
originam de uma sensibilidade tica em que algum obrigado a agir por
causa do que esse algum essencialmente e deve fazer (Mahmood,
2007:15-16)
Agora, retornando ao caso de assassinato descrito pela Folha de S. Paulo,
podemos traar um paralelo a partir da economia de significao proposta por Mahmood.
H claramente uma violao e uma injria moral em jogo no caso. A causalidade
apontada pela Folha entre a humilhao sofrida pelo metalrgico e o assassinato do
presidente do sindicato ocupa certamente um lugar na linguagem da justia, mas no
podemos perder de vista o lugar afetivo de uma relao viva entre sujeito e significao.
Ser chamado de cabea chata, ser reduzido a algum que migra a So Paulo para se dar
bem implica uma violao a uma estrutura de afetos. Podemos aventar a hiptese de que
o ato violento de Jos Benedito de Souza foi motivado por atos de fala que abalaram uma
estrutura corprea e tica, os quais implicam uma forma de violncia. Nos termos do
pensamento de Austin (1975[1962]), pode-se afirmar que o ato violento do acusado um
50
ato perlocucionrio por excelncia, i.e., o ato que corresponde aos efeitos produzidos por
um enunciado no interlocutor. Mas parece que, antes da perlocuo, havia uma fora
ilocucionria nas designaes da vtima (talvez do tipo comportamental, segundo a
classificao preliminar de Austin, 1975[1962]:151) que carrega em si uma forma de
violncia. A maledicncia da vtima, no caso, ofende o acusado. E a ofensa tem uma
dimenso somtica.
Creio que a explicitude desse excerto em torno de um assassinato causado por
uma maledicncia nos oferece uma chave importante para entender a violncia que se
constri nas palavras, e que atinge o sujeito de uma forma to danosa quanto a sua
contraparte fsica. Alis, a reutilizao do conceito de schesis por Mahmood, segundo o
qual no habitamos uma relao puramente representativa ou comunicativa com os
signos, mas fundamentalmente corprea, tica e afetiva me leva a apostar cada vez mais
seriamente em meu ceticismo quanto a uma possibilidade de diferenciao entre a
violncia que atinge o corpo, nas ruas, e a violncia que atinge o sujeito, nas palavras dos
jornais.
or que vlolncla?
A esta altura da discusso, temos mais subsdios para defender que o que est em
jogo na representao do Nordeste na mdia, para alm de hegemonia, excluso e
discriminao, um violento processo de construo de identidades. A ofensa no uma
forma lingstica que afeta a estrutura cognitiva de um sujeito desencarnado; ela , ao
contrrio, um ato de fala que atinge a vida corprea e psquica do sujeito. Insistir no
carter corpreo da violncia na linguagem um aspecto importante para entender o dano
fsico e simblico dos atos de fala da mdia brasileira.
Butler (1997) tambm insiste no carter corpreo da violncia simblica. A autora
cita as palavras de Charles Lawrence III, para quem o discurso racista uma agresso
verbal, implicando que a invectiva racial como receber um tapa no rosto. Cria-se um
ferimento instantaneamente. E mais: existem formas de invectiva racial que produzem
sintomas fsicos que deixam a vtima temporariamente sem ao (apud Butler, 1997:4).
Segundo a autora, existem palavras que no apenas ameaam o bem-estar fsico do corpo,
51
mas h indcios de que o corpo tambm sustentado e ameaado por certas formas de
endereamento [address].
A prpria definio de racismo que Martin Reisigl e Ruth Wodak nos oferecem
assenta-se principalmente na vida corprea do sujeito que, atravs da abordagem danosa
do outro, submetida a um processo de sujeio:
Racismo baseado na construo hierarquizante de grupos de pessoas
que so caracterizadas como comunidades de descendncia e aos quais
so atribudos traos naturalizados ou biologizados coletivos
especficos, que so considerados como praticamente invariveis.
Esses traos so primariamente relacionados a traos fsicos,
aparncia, prticas culturais, costumes, tradies, linguagem ou
ancestrais socialmente estigmatizados (Reisigl & Wodak, 2000:10)
Talvez a dimenso corprea da ofensa seja uma boa chave para entendermos por
que reaes a ela podem ser fisicamente violentas. No filme Towelhead [2008], digirido
por Alan Ball, a adolescente Jasira [Summer Bishil], filha de pai libans e me
americana, convidada a ser bab de Zack [Chase Ellison] em suas horas vagas. O garoto
o filho pr-adolescente dos vizinhos de seu pai, o reservista americano Travis Vuoso
[Aaron Eckhart] e a dona de casa Evelyn Vuoso [Carrie Preston], ambos brancos. Nas
ocasies em que seus pais esto ausentes, o garoto despeja preconceitos contra Jasira. A
ofensa mais comum de Zack towelhead, uma referncia maledicente ao turbante usado
no Oriente Mdio. Jasira geralmente ignora as invectivas do garoto (ela tambm se cala
diante do abuso sexual que sofre do pai do garoto), mas no suporta quando Zack a
chama de niger. A garota reage ao insulto com pancadas em Zack. Horas depois, o garoto
e sua me tocam a campainha da casa de Jasira. A me de Zack, que a esta altura no
sabia dos ditos ofensivos de seu filho, profere um verdadeiro discurso contra o
desrespeito da garota na frente dela e de seu pai. Jasira, que geralmente fica calada diante
das injustias por que passa, resolve responder que bateu no garoto porque ele a chamara
de niger. A me fica perplexa, mas, mesmo abalada com o racismo do filho, vocifera:
Mas nada justifica a violncia fsica! interessante observar o excesso de significao
implicado pelo fato de que a me desconhecia os ditos racistas de seu filho. Ela fica
nitidamente abalada, e a exclamao descontrolada de que nada justifica violncia no
parece ser mais do que um conjunto de palavras preenchendo um vazio. H, em sua
52
performance, no corpo que fala, em sua prosdia sem controle e hesitante, um excesso
que diz o contrrio do contedo proposicional de seu dizer. E convm lembrar que este
excesso no mero adendo fala, algo que surge em situaes inusitadas. Butler (1997)
defende que ele que permite a fala do sujeito. Eis as palavras da autora:
Se o sujeito que fala tambm constitudo pela linguagem que ele ou
ela fala, ento a linguagem a condio de possibilidade para o sujeito
que fala, e no meramente seu instrumento de expresso. Isso significa
que o sujeito tem sua prpria existncia implicada em uma
linguagem que precede e excede o sujeito, uma linguagem cuja
historicidade inclui um passado e futuro que excedem aquele do sujeito
que fala. Alm disso, tal excesso o que torna possvel a fala do
sujeito (Butler, 1997:28).
A prpria reao violenta de Jasira excede as marcas de seu tempo. Ao espancar o
garoto, ela no est apenas reagindo a um ato de fala violento nico, mas a uma cadeia de
atos de fala e atos fsicos que excedem aquele momento. Dentre esses atos esto o abuso
sexual de Travis e o racismo de seu prprio pai, que no admite que ela namore com um
garoto negro da escola. A violncia da linguagem no tem um ponto de origem nico; ela
funciona na esteira da iterabilidade de condies lingsticas prvias, condies que
excedem o tempo e o dizer do sujeito.
Trago uma ltima referncia a casos de violncia fsica posteriores ou simultneos
violncia simblica. Joe Feagin (2002) nos oferece vrios exemplos de violncia contra
latinos nos Estados Unidos:
Muitas vezes, a hostilidade anti-latina expressada violentamente.
Alguns imigrantes mexicanos foram mortos prximo fronteira
EUA/Mxico, aparentemente por vigilantes brancos. Em Bloomington,
Minnesota, um trabalhador latino foi espancado cruelmente por falar
espanhol em seu local de trabalho. Em Farmingville, Nova York, um
grupo de qualidade de vida foi formado, aparentemente para ajudar a
manter imigrantes latinos fora da cidade. O espancamento de dois
trabalhadores imigrantes sem documentos por supremacistas brancos
tatuados naquela mesma cidade no fim do ano 2000 ainda no incitou
ao contra tal violncia anti-imigrao por parte do estado (Feagin,
2002:xi).
53
Feagin comenta que os supremacistas brancos, alm da explcita demonstrao de
violncia, disseminam discurso do dio contra imigrantes latino-americanos em suas
pginas da Internet. Referem-se aos recm-chegados como um cncer cultural, fogo na
mata, ou uma gangue de ilegais tornando a Amrica menos bela, pessoas com um plano
para reconquistar os Estados Unidos (id.ibid). Vale ressaltar que Feagin chama a
contraparte verbal da violncia infligida pelos supremacistas brancos de ataques verbais
5
.
Como venho discutindo nas duas ltimas sees, o fato de que episdios de violncia
simblica so acompanhados de violncia fsica acrescenta uma importante inferncia
para este estudo, a saber, o fato de que o abuso verbal encontra-se no cerne do problema
maior da violncia.
Neste captulo, discuti o papel constitutivo da violncia nas prticas sociais e
lingsticas de um modo geral e problematizei as relaes ao mesmo tempo ntimas e
complexas que a violncia mantm com a significao. Para avanar na compreenso das
razes e desrazes da construo da identidade nordestina em termos violentos,
interessa-me, no prximo captulo, entender a histria do Nordeste como uma histria
inventada a partir do avesso da modernidade. Trata-se de uma histria assentada na fome,
no atraso, na seca e, sobretudo, na violncia. Avancemos na compreenso desta sinuosa
histria.
5
Ataques verbais contra latinos podem ser encontrados em todas as partes do pas. Recentemente,
proprietrios em uma vila maciamente branca do Bronx receberam cartas avisando os residentes de que a
rea estava sendo tomada por imigrantes latinos, que eram descritos como foras do mal ou como lixo de
baixa renda (Feagin, 2002:xi)
55
CAPTULO 2
NORDESTE: A ITERABILIDADE DE UMA OFENSA
Baby Suggs didnt even raise her head. From her sickbed she
heard them go but that wasnt the reason she lay still. It was a
wonder to her that her grandsons had taken so long to realize
that every house wasnt like the one on Bluestone Road.
Suspended between the nastiness of life and the meanness of
the dead, she couldnt get interested in living life or leaving it,
let alone the fright of two creeping-off boys.
(Beloved, Toni Morrison)
Como explicar que, do longe de onde de dentro de si ela vinha,
j era uma vitria estar semivivendo.
(Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, Clarice
Lispector)
Precisamos viver, realmente?
(Jacques Derrida, Sobreviver)
A dlsslmuladora hlsLorlcldade da fora
No ano de 2005, poca em que eu elaborava minhas experincias de forma a
transformar em projeto de pesquisa aquilo que at ento em minha mente eram
observaes, ofensas ou traumas, deparei-me com um enunciado curioso. Ofereo um
prembulo antes da apresentao e discusso do enunciado em si. poca, a novela do
horrio nobre da Rede Globo era Senhora do destino, protagonizada por Maria do Carmo
56
(Suzana Vieira), uma pernambucana que migra para o Rio de Janeiro para vencer na
vida. A novela insistia que o Brasil era um bom lugar para se viver, e Maria do Carmo
encerrava os ideais de bondade, honestidade e altrusmo do povo que habita este pas. E a
pgina da Rede Globo na Internet anunciava Maria do Carmo no necessariamente como
pernambucana, mas como nordestina, ou melhor, bem mais que apenas uma
nordestina:
Marla do Carmo e bem mals que apenas uma nordesLlna. L uma
mulher em busca de um fuLuro melhor, um horlzonLe para alem da
fome e da morLe
6
.
Pela descrio da Rede Globo, percebe-se que Maria do Carmo, ao migrar,
posiciona-se para alm do Nordeste, territrio da pobreza, da fome e da morte.
interessante lembrar que Maria do Carmo tinha uma antagonista, Nazar (Renata Sorrah),
que desdenhava de sua condio, chamando-a muitas vezes de nordestina. Ao dizer
isso, Nazar obviamente no constatava de onde vinha Maria do Carmo, mas ofendia a
sua rival. Pois bem. Um dia, tomei uma carona com conhecidos em Campinas, e um de
meus conhecidos proferiu os seguintes termos para uma das passageiras: Vadia, piranha,
nordestina!. Aquele enunciado me abalou. O fato de a moa no ter nascido em nenhum
estado do Nordeste
7
, associado ao de que o termo nordestina empregado
paralelamente a outros dois de baixo calo, cuja conotao , definitivamente, pejorativa,
revela que o termo no mera descrio da origem da moa. Somando-se a isso o fato de
que essas palavras foram proferidas de um modo enftico, nordestina assume a fora de
uma ofensa. Trata-se de uma palavra que fere. No momento, entendi que ele era motivado
pela popularidade das injrias de Nazar na novela das 8, mas era curioso e estranho
encarar a mera enunciao de nordestina como uma ofensa.
6
http://senhoradodestino.globo.com/Senhoradodestino0,23167,VND0-3549-56018,00.html
7
Este um uso que exemplifica a insuficincia de uma teoria vericondicional para o estudo da significao,
conforme postula Marcuschi (2003). Segundo a concepo scio-cognitiva do autor, fundamentar a anlise
de uma expresso como essa em evidncias empricas no profcuo. Para muitas de nossas assertivas, diz
o autor, valem mais as crenas comuns como fator de deciso do que fatos comuns (p.46, grifos no
original). A verdade, segundo ele, uma construo scio-cognitiva baseada mais em crenas do que em
evidncias.
57
Esta breve narrativa uma boa instncia para pensar numa das primeiras
descobertas que Austin (1975) faz a respeito do performativo, a saber, de que o
performativo imita, macaqueia [apes] o constativo
8
. A performatividade disfarada de um
termo como nordestina permite que a ofensa seja pronunciada de um modo
dissimulado. Esse talvez no seja o caso do uso que presenciei, uma vez que a injria ali
era bem explcita. Mas a questo que lano para o presente captulo : como um termo
aparentemente constativo como nordestina, que em princpio se refere a uma origem,
vem adquirir a fora performativa de um xingamento, um insulto, uma ofensa? De onde
vem essa fora? Que condies histricas permitem que um termo como Paraba
adquira uma nova geometria, como em paraba da Irlanda
9
, deslocando-se da aresta da
origem geogrfica e colando-se do insulto?
Interessa-me, no presente captulo, discutir as condies histricas que deram e
do sustentao e fora aos atos de fala que violentamente constroem o Nordeste na
mdia do Sudeste. Judith Butler (1997:51) bem enftica ao afirmar que nenhum termo
ou enunciado pode funcionar performativamente sem a acumuladora e dissimuladora
historicidade da fora. justamente desse acmulo e dessa dissimulao da fora que
8
Austin (1975[1962]), ao fazer sua distino inicial entre constativos e performativos (uma distino que
no se sustenta at o fim do seu famoso How to do things with words), diz que os performativos podem se
mascarar. Na apresentao do problema do performativo, ele diz: O tipo de enunciado que ns vamos
considerar aqui no , obviamente, um tipo geral de nonsense. Ao contrrio, pertence nossa segunda
classe os mascarados [masqueraders] (p.4, traduo minha). Austin, comprometido com uma anlise
em constante transformao, freqentemente mais frutfera no reconhecimento de seus impasses do que
em suas posies (Derrida, 1977:187), adiciona a seguinte contradio em relao possibilidade de o
performativo se mascarar como constativo: Mas [o performativo] no necessariamente mascara-se como
uma declarao factual, descritiva ou constativa. No entanto, ele freqentemente faz isso, e isso,
estranhamente, quando ele assume sua forma mais explcita (Austin, 1975[1962]:4, nfase minha). No
mesmo pargrafo, ele apresenta o performativo inicialmente atravs de sua capacidade de se disfarar [de
constativo]. Ao dizer isso, Austin abre terreno para contrastar as caractersticas de um enunciado
performativo com aquelas das declaraes factuais que ele macaqueia (idem, nfase minha).
9
o fim do esprito olmpico. Aquele paraba da Irlanda que invadiu a pista pra derrubar o maratonista
brasileiro j foi o fim da picada (http://www.imprensajovem.com/abg/andre/002619.htm). Encontrei em O
Globo a violenta expresso parabas de obra alemes, criada por Agamenon Mendes Pedreira, colunista
do jornal. Eis um excerto do texto, intitulado Um dia a bunda cai..., publicado em 20/07/1997:
Quem tem bunda vai a Roma!
A imagem do Brasil no exterior est cada vez pior. Os gringos l fora pensam que as brasileiras so
mulheres vulgares e que tudo que tm a oferecer um par de ndegas balanantes. Isto um erro grosseiro!
A cultura brasileira muito maior do que um par de bundas: tambm temos o peito, as coxas, a asa e o
pescoo.
Se as autoridades culturais continuarem a dar polpudos subsdios para a bunda, s iremos atrair para o
nosso turismo interno a ateno de parabas de obra alemes, agulhas de injeo e supositrios estrangeiros.
Enquanto a imagem do Brasil for um traseiro, estaremos condenados a ficar para trs eternamente e o pas,
mais uma vez, vai perder a bunda da Histria.
58
tratarei na presente discusso. Veremos, na discusso a seguir, que se por um lado a
construo discursiva do Nordeste se deu nos termos do oposto da modernidade que
ento se firmava no Brasil no incio do sculo XX isto , atravs de idias como a da
fome, da violncia, do atraso poltico, da morte , por outro lado, foram esses termos que
deram visibilidade e dizibilidade ao Nordeste. Pretendo abordar essa constituio de
identidades de pessoas que no esto vivas nem mortas, mas sobre-vivendo (ou
semivivendo, como diria Clarice Lispector) como uma tenaz crtica aos princpios
modernos e vitalistas nos quais se assentam as identidades hegemnicas que se constroem
na mdia do Sudeste, o territrio da modernidade brasileira.
A lnveno do nordesLe
Durval Muniz de Albuquerque Junior traa uma interessante historiografia do
Nordeste. Segundo o autor, a regio Nordeste nasce da runa da antiga geografia do pas,
segmentada entre Norte e Sul (Albuquerque Jr., 2001:39). Na dcada de 1920,
quando o Nordeste institudo, mudanas significativas estavam em curso no Brasil: fim
da escravido, industrializao, imigrao europia para o Sul-Sudeste. esta a dcada
da Semana de Arte Moderna, evento que, na esfera artstica, instancia a construo da
modernidade em So Paulo. O antigo Norte do Brasil vive neste perodo uma poca de
crise, com mudanas tambm substanciais que advm do processo de aprofundamento
de sua dependncia econmica, de sua submisso poltica em relao s outras reas do
pas, do seu problema de adoo de uma tecnologia mais avanada e de assegurar mo-
de-obra suficiente para suas atividades (p.40).
A inveno do Nordeste acontece ento num momento de reconfigurao do pas.
A Primeira Guerra Mundial eleva os Estados Unidos ao status de grande potncia
mundial e provoca um rearranjo na geografia poltica europia. No Brasil, a guerra
provoca a destruio progressiva do que Albuquerque Jr. chama de sensibilidade belle
poque, ou seja, um olhar naturalista que enxergava o espao brasileiro como natureza
e tropicalidade extica e que associava o atraso da sociedade brasileira s relaes
entre meio e raa (p.41). Surge ento um nova episteme nos discursos que dizem o Brasil
a episteme naturalista d lugar episteme moderna. A inveno do Nordeste coincide,
59
nesse sentido, com a inveno da modernidade do Brasil. Mas vale lembrar que a
modernidade se constri como territrio da diferena. Como postulam Bauman & Briggs
(2003:14-15), as ideologias que criam a modernidade convocam os outros pr-modernos
dentro da sociedade moderna (no-escolarizados, habitantes da zona rural, pobres,
mulheres) e fora dela (selvagens, primitivos, pr-letrados). O territrio da modernidade
brasileira delimitar ento os limites de sua prpria existncia a partir da inveno de seu
oposto, um grande espao medieval, o Nordeste, cuja condio degradante foi requerida
para configurar o exterior constitutivo do lugar que assumia a imagem do progresso e do
futuro do pas.
Essa inveno discursiva, que extrapola o discurso poltico pautado nas idias de
seca e fome, perpassa obras sociolgicas como as de Gilberto Freyre, o romance de Jos
Amrico de Almeida, Rodolfo Tefilo, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, a pintura
de Ccero Dias, Lula Cardoso Ayres, Candido Portinari, dentre tantas outras obras. Esses
discursos, gestados nas primeiras dcadas do sculo passado, so a condio de
possibilidade para os enunciados que, atualmente, continuam citando o Nordeste como
territrio antimoderno. A seguir, retomarei a visada ps-estruturalista de Derrida em
torno da noo de citacionalidade como princpio estruturante da prpria significao
performativa. Por enquanto, acho relevante determo-nos nos enunciados que inventam o
Nordeste e que formam a inteligibilidade daquilo que se v e l sobre o Nordeste na
mdia de So Paulo.
Vejamos algumas reportagens e artigos de jornais paulistas que Albuquerque Jr.
traz em seu estudo sobre o Nordeste. Paulo Moraes Barros escreve, em 1923, para O
Estado de S. Paulo:
[...] algo sabamos por leitura sobre a terra do sofrimento, que tem
prados s de urzes, tem montanhas de penhascos, habitaes s de
colmos, cu que nunca se encobre... cho que nunca recebe orvalho, rios
que no tm gua. O Nordeste brasileiro s foi divulgado com tal
designao aps a ltima calamidade que assolou em 1919,
determinando a fase decisiva das grandes obras contra as secas. [...]
quando levas de esqulidos retirantes vieram curtir saudades infindas na
operosidade do generoso seio sulino, quem sabe se ainda em dvida,
entre a misria de l e a abundncia daqui... (Paulo Moraes de Barros,
Impresses do Nordeste, apud Albuquerque Jr., 2001:43, nfase no
original)
60
O excerto acima faz parte de um conjunto de reportagens intitulado Impresses
do Nordeste, que o jornal promoveu face demanda de cartografar a regio que passava
a ser designada de Nordeste. Percebam-se os contrastes terra do sofrimento versus
generoso seio sulino, misria de l versus abundncia daqui. A identidade da
regio Nordeste constri-se, assim, diante da regio Sudeste, mais especificamente So
Paulo, que, segundo a lgica identitria que defendo aqui, tambm se inventava.
curioso que logo aps a srie Impresses do Nordeste, O Estado de S. Paulo lana uma
srie de artigos intitulada Impresses de So Paulo. Diz Albuquerque Jr.: [n]esses
artigos, So Paulo aparece como um espao vazio que teria sido preenchido por
populaes europias. Assim, a escravido e os negros parecem no ter a existido; os
ndios e os mestios menos ainda (p.44). O princpio interpretativo da raa parece dividir
as regies: a presena negra e indgena na formao do Nordeste seria responsvel, nas
palavras de Paulo de Moraes Barros, pelo surgimento dos fanticos boais que se
disseminavam por toda parte na regio, tambm pelas turbas que os assediavam,
homens e mulheres de aspectos alucinados, olhos esbugalhados, com os braos
estendidos, atirando-se por terra, tentando tocar a barra da batina do beato (apud
Albuquerque Jr., 2001:44); a imigrao europia teria conferido a So Paulo uma raa
superior mesmo as famlias do incio da colonizao de So Paulo foram sempre uma
raa exuberantemente frtil em tipos moral e fisicamente eugnico (Cerqueira, Dionsio,
Impresses de So Paulo, OESP, 28/10/1923,p.4, c.3, apud Albuquerque Jr., 2001:44).
Os nordestinos, vistos como racialmente inferiores, fanticos, esfaimados, so inventados
como o avesso do progresso construdo por aqueles que chegaram do Atlntico,
radicaram-se na terra frtil, fizeram seu engrandecimento e (...) a prpria abastana
(id.ibid.).
importante notar que o Nordeste pensado, desde sua inveno, como o lugar
do passado. Trata-se de um territrio feudal contraditoriamente encravado no meio de
uma nao que se modernizava. A urbanizao de So Paulo teria provocado a destruio
do quadro medievo que caracterizara partes da cidade, como a Igreja do Carmo, os Piques
e a rua da Santa Casa, dando lugar a uma Paulicia americanizada e fulgurante, mais de
acordo com a sementeira metlica do Braz (O Estado de So Paulo, A colonizao
61
nacional em So Paulo, 15/10/1924, apud Albuquerque Jr., 2001:45). O prprio Oswald
de Andrade, que tanto se espantara com a modernizao do Recife, afirmou que So
Paulo a locomotiva que puxa os vages velhos e estragados da Federao (Andrade,
1991:150). O Nordeste, um desses vages velhos, seria o territrio antimoderno e
anticapilalista dos coronis, do cangao, do servilismo, dos beatos, imagens que
compuseram e compem o perfil do atraso.
Na construo discursiva do Nordeste, temtica do passado se superpe a da
morte. Em 1943, Jos Lins do Rgo publica Fogo Morto e nele apresenta o Nordeste
como a regio que se voltava para o tempo distante, para os dias que se perderam, para a
vida que era toda morta (Rgo, 1943[1972]:98). O princpio antimoderno da morte que
acompanha a vida permanente nos discursos que inventam o Nordeste. O romance A
fome, de Rodolfo Tefilo, narra a migrao de uma famlia do interior cearense para
Fortaleza, no ano de 1877, o ano da fome (Tefilo, 1890[2002]:15). A fico
naturalista de Rodolfo Tefilo apia-se fortemente na morte como condio perene na
subjetividade do retirante nordestino. Abaixo, transcrevo um excerto que narra o embate
entre Manuel de Freitas, fazendeiro que foge da seca, e uma besta humana (p.63), outro
retirante da seca que, acometido de delrios da fome, tenta atacar a filha de Freitas:
num lmpeLo de clera e lrrlLado com a Lelmosla do bruLo, fere-o no anLebrao.
C famlnLo leva a ferlda a boca e, com uma avldez que desarma e comove lrelLas, suga o
sangue que sal do ferlmenLo, um sangue lncolor como os dos lnseLos. A suco era felLa
com uma gula lnfrene. C famlnLo parecla querer sugar pela ferlda Lodos os llquldos do
corpo. nem uma goLa mals verLendo o ferlmenLo, comeou a comer as prprlas carnes!
lrelLas, com surpresa e mgoa, noLou que o desgraado se devorava em vlda.
Lra preclso reLlr-lo do rancho e procurar allmenL-lo. Como conduzl-lo se o conLaLo de
seu corpo era Lo repugnanLe como o de uma aranha-carangue[elra? Se fedla LanLo
como uma carnla? de domlnar a repugnncla de seus nervos, e, largando o Lerado,
Lomou o famlnLo nos braos, e levou-o a vlnLe meLros do rancho. Al delxou-o e volLando
ao qulosque, preparou um pouco de mlngau, que levou ao reLlranLe. C lnfellz Llnha
caldo no marasmo, depols de Ler comldo as carnes de Lodo o anLebrao. Agonlzava.
C fazendelro asslm mesmo procurou allmenL-lo, mas embalde, os quelxos
cerrados no permlLlam a passagem de corpo algum. A morLe fol lmedlaLamenLe
precedlda de uma horrlvel convulso. ulsLendldos e conLraldos os musculos em
espasmo vlolenLo, num mlnuLo, a vlda cessou com Lodas as suas mlserlas (1efllo,
1890[2002]:64).
62
Antes de comentar o excerto que acabamos de ler, gostaria de fazer um
comentrio sobre a fisiologia da fome. Em seu estudo sobre a correlao experiencial
entre fome e desejo, base da metfora conceitual, Paula Lenz Costa Lima (1999) recorre
a definies de fome em dicionrios de lngua comum e em textos mdicos. Os efeitos
da fome no organismo podem ser acompanhados de dor, fraqueza e desconforto, alm do
desejo por comida. Comenta a autora que o desconforto presente na fome pode ser
localizado ou generalizado (Lima, 1999:57). Dores comuns e localizadas quando se tem
fome so a dor de cabea, que ocorre quando se est h um certo tempo sem comer, e a
dor de estmago, causada pelas contraes. Alm disso, uma pessoa com fome pode
sentir em seu corpo como um todo fraqueza, sonolncia e vertigem, bem como tenso,
provocando mudanas no comportamento, principalmente irritao e inquietao
(id.ibid.). A experincia da sede, nos termos de Lima, fenomenologicamente
semelhante, sendo portanto parte da mesma experincia. Dicionrios de uso corrente e
textos especializados no diferem em sua definio sobre o que seja fome, a no ser no
tocante aos detalhes e linguagem tcnica. Vejamos a definio abaixo, que a autora
retira de um livro mdico:
O termo fome aplica-se ao desejo de alimento, e est ligado a
um nmero de sensaes objetivas. Por exemplo, [] em uma pessoa
que no come por muitas horas o estmago apresenta intensas
contraes rtmicas denominadas contraes de fome. Alm das dores
provocadas pela fome, a pessoa faminta fica tambm mais tensa e
cansada do que no estado normal, e em geral tem uma sensao
estranha por todo o corpo que poderia ser descrita pela expresso no
fisiolgica de tremor ou arrepio de fome.
Alguns fisiologistas descrevem a fome como contraes tnicas
do estmago. Entretanto, mesmo aps a retirada total do estmago as
sensaes psquicas da fome persistem, e a nsia por alimento faz com
que a pessoa procure suprir-se adequadamente de comida.
(Guyton, 1973:811-812, apud Lima, 1999:56)
Seguindo a sugesto austiniana de que se d ateno linguagem ordinria,
apliquemos essas definies de dicionrio ao excerto que acabamos de ler.
Fisiologicamente, a fome provoca, em qualquer ser humano, alteraes em termos de
suas sensaes e de seu comportamento. Ao ler a definio mdica, saltou-me aos olhos a
idia de que a pessoa faminta tambm fica mais tensa e cansada do que no estado
63
normal. Pergunto: o que dizer da tenso e do cansao de algum em cuja condio essa
definio de estado normal, isto , momento em que no se est com depleo de
acar, no se trata de um estado quase permanente mas sim de um lapso de tempo? O
tremor ou arrepio da fome, na narrativa de Rodolfo Tefilo, no parece ser uma
sensao estranha que os sujeitos tm casualmente em decorrncia do mero atraso de uma
refeio; ao contrrio, um delrio de morte em vida que faz parte de sua condio.
Reitero que a condio nordestina, tal como foi inventada nas primeiras dcadas do
sculo passado e tal como permanece sendo citada na mdia do Sudeste, desafia os
limites do prprio humano. A besta humana retratada em A fome afronta qualquer
diferenciao estanque entre homem e animal irracional: trata-se de um bruto, um ser
autofgico que bebe o prprio sangue, um sangue incolor como os dos insetos, e come
as prprias carnes, uma besta humana com um corpo ftido, to repugnante como o de
uma aranha-caranguejeira. Vida e morte, nessa narrativa, tambm no se opem.
Quando o faminto morre, a vida est apenas interrompendo uma sucesso de misrias que
a acompanharam continuamente.
Creio que podemos enxergar o triunfo da morte sobre a vida, um tema que
aprofundarei ao longo desta tese, como uma tenaz crtica das identidades nordestinas aos
discursos que, tradicionalmente, dizem a modernidade, a subjetividade e a nao. O
triunfo da vida sobre a morte compe, no quadro do pensamento sobre a subjetividade e
sobre a nao, o que Peng Cheah (1999:227) chama de ontologia vitalista, que concebe
o futuro em termos de uma eterna vida presente. Nos termos do discurso nacionalista, a
nao no apenas concebida em analogia a um ser orgnico vivo, mas tida tambm
como o meio ou substrato permanente por meio do qual se garante aos indivduos uma
certa vida alm da forma finita ou meramente biolgica da vida e, portanto, alm da
mortalidade e da morte (p.226). O sujeito nacional, argumenta Cheah, aparece ento
como um agente humano transfigurado (p.229), agraciado com uma liberdade e uma
auto-soberania que lhe garantem uma vida alm da mortalidade e da morte. Central
para essa formulao moderna a disjuno entre mecanismo e mente humana,
empreendida por Descartes e Newton. A matria, nesse modelo, segue leis da natureza,
sendo a mente humana dotada do poder racional de compreender essas leis. Comenta
Cottinghan (1995:95) que estes so, na verdade, os dois princpios fundamentais na
64
cincia cartesiana: primeiro, que o universo funciona de acordo com certas leis
imutveis estabelecidas por Deus, e, segundo, que a mente humana tem a capacidade
inata, concedida por Deus, de descobrir a estrutura dessas leis. A liberdade humana no
poderia derivar ento de leis no-racionais da natureza, uma vez que ela produto da
mente racional. De acordo com a diviso mecanismo/mente, tem-se que a capacidade
humana de entender e dominar o mundo natural garantiria, em ltima instncia, o
domnio sobre o inorgnico e sobre a morte. Na esfera do nacionalismo, argumenta
Cheah, a organizao poltica, na medida em que torna a natureza matria
orgnica/organizada ao imbu-la de vitalidade interna e propsito que excede o
mecanismo, e na medida em que a organizao poltica uma forma de atualizao e
objetificao de idias racionais pela vontade intencional, ento ela seria um exorcismo e
suspenso da morte (p.230).
essa ontologia vitalista que subjaz aos discursos de liberdade, progresso e prazer
da modernidade uma ontologia estranha condio nordestina. Seja atravs do flagelo
da seca, seja atravs da permanncia de cenas como da violncia, do fanatismo e do
atraso, o carter inorgnico da morte permeia a inveno discursiva do Nordeste, a terra
do sangue, das arbitrariedades, regio da morte gratuita, o reino da bala, do Parabelum e
da faca peixeira (Albuquerque Jr., 2001:126).
Na condio nordestina, a questo da morte, ou melhor, do fantasma da morte que
assombra a manuteno da vida, na verdade uma questo bem mais complexa do que
uma simples dicotomia entre vida e morte pode prever. Se pensarmos na fico de
Graciliano Ramos e na pintura de Candido Portinari, verdadeiros clssicos da
representao do Nordeste na arte, a morte no significa a inexistncia e a vida no
significa a existncia. Tanto em Vidas Secas [1938] como em Retirantes [1944], vida e
morte no so plos que se opem; ao contrrio, mantm entre si uma interao to
complexa que desafiam os limites da inteligibilidade do prprio sujeito, cuja metafsica
tem tradicionalmente sido ancorada na ontologia vitalista em que a vida, concebida como
sustncia orgnica, triunfa sobre a morte. Vejamos um excerto de Vidas Secas e uma
reproduo de Retirantes (Figura 4):
Clhou a caLlnga amarela, que o poenLe avermelhava. Se a seca chegasse, no flcarla
planLa verde. Arreplou-se. Chegarla, naLuralmenLe. Sempre Llnha sldo asslm, desde
65
que ele se enLendera. L anLes de se enLender, anLes de nascer, sucedera o mesmo (...)
Lle marchando para casa (...) - ela se avlzlnhando a galope, com vonLade de maL-lo.
vlrou o rosLo para fuglr a curlosldade dos fllhos, benzeu-se. no querla morrer.
(...) LsLava escondldo no maLo como LaLu. uuro, lerdo como LaLu. Mas um dla salrla da
Loca, andarla com a cabea levanLada, serla homem.
- um homem, lablano.
Coou o quelxo cabeludo, parou, reacendeu o clgarro. no, provavelmenLe no
serla homem: serla aqullo mesmo a vlda lnLelra, cabra, governado pelos brancos,
quase uma rs na fazenda alhela.
Mas depols? lablano Llnha a cerLeza de que no se acabarla Lo cedo. assara
dlas sem comer, aperLando o clnLuro, encolhendo o esLmago. vlverla mulLos anos,
vlverla um seculo. Mas se morresse de fome ou nas ponLas de um Louro, delxarla
fllhos robusLos, que gerarlam ouLros fllhos (8amos, 1977[1938]:12).
Figura 4 - Retirantes leo sobre tela 190 x 180 cm Candido Portinari, 1944
No excerto acima da obra de Graciliano Ramos, a seca comparece como fator
estruturante da subjetividade de Fabiano. Desde que ele se entendera, antes mesmo de ele
se entender. A seca queria mat-lo, sempre quisera, mesmo antes de ele nascer.
66
Ela talvez o mataria, talvez no. Talvez poupasse os seus filhos, talvez no. A relao
com a seca (e com a morte) de uma tal dialtica que nem a sua humanidade
garantida ele se tornaria um homem? No, provavelmente no seria homem: seria
aquilo mesmo a vida inteira, cabra, governado pelos brancos, quase uma rs na fazenda
alheia. No caso de Retirantes, o aspecto fantasmagrico dos nordestinos desafia a
prpria inteligibilidade do humano corpos esquelticos, miserveis, de olhos vazados e
tristes. O carter indeterminado da humanidade de Fabiano e dos nordestinos de
Retirantes uma humanidade que no parece ser garantida a priori, apenas perseguida
ecoa toda uma literatura que pensa o sujeito em termos construcionistas, cuja eptome,
diria eu, a famosa elaborao de Simone de Beauvoir, no se nasce mulher, torna-se
mulher (1953[1989]:267). Fabiano procura sobreviver, quer sair da toca e ser homem,
mas isso no uma garantia. Sua relao com a morte perpassa todo seu entendimento,
sendo, portanto, muito mais complexa e definidora do que uma mera contingncia
orgnica. Os retirantes so a prpria personificao da morte, mas eles so, ao mesmo
tempo, um desafio a ela so seres fantasmagricos num movimento para alm das
fronteiras tradicionais de vida e morte. Talal Asad sumariza bem a promessa do discurso
moderno, uma promessa desafiada veementemente pelas palavras e imagem que vemos
acima: dada a liberdade essencial ou a soberania natural do sujeito humano, e dados
tambm seus prprios desejos e interesses, o que os seres humanos devem fazer para
realizar sua liberdade, empoderarem-se e escolher o prazer? (2003:71)
Essa pergunta-promessa no faz parte do repertrio discursivo que constitui a
condio nordestina. Liberdade, empoderamento e prazer, termos associados vida por
discursos liberais e modernos, so afrontados pelos discursos que fundam o Nordeste, um
lugar onde no se vive, mas se sofre a vida como uma sucesso de martrios, de
desfalecimentos, de experincias doloridas (Albuquerque Jr., 2001:198). Conforme
mencionei anteriormente, o Nordeste surge em franca oposio idia de vida do
discurso moderno-liberal, mas, vale ressaltar, trata-se de uma antivida que no
necessariamente se posiciona no lado oposto da morte. Estamos diante de uma sobrevida.
Como afirma Derrida em relao sobrevivncia e ao transbordamento do texto: o
sobreviver transborda, ao mesmo tempo, o viver e o morrer, suplementando-os, um e
67
outro, com um sobressalto e um certo alvio temporrio, parando a morte e a vida ao
mesmo tempo (Derrida, 1979[2004]:89)
10
. O Nordeste o excesso entre a vida e a
morte.
Sobreviver, diz Derrida, no o oposto do viver, da mesma forma que no
idntico ao viver (p.110). Derrida toma essas categorias de vida e morte, mais
especificamente o intervalo entre uma e outra, para discutir The Triumph of Life, de
Shelley, e Larrt de mort, de Blanchot. A leitura a que ele submete esses textos desafia
as idias tradicionais do relacionamento entre vida e morte da a sua aposta na questo
da sobrevivncia. Derrida insiste no excesso pressuposto pelo sobreviver, algo que difere
e se diferencia, provocando um transbordamento da verdade (verdade alm da
verdade), da identidade e da diferena. Proponho aqui que pensemos nas identidades
nordestinas representadas desde a sua inveno discursiva at o seu momento atual
segundo a condio de mortos-vivos nos termos do sobreviver articulado por Derrida.
A sobrevivncia, em sendo um excesso, constitui no tempo e no espao uma fresta, a
fratura que os sujeitos subalternos costumeiramente encontram para persistir. O minuto
da sobrevida retido como um minuto de verdade alm da verdade: quase nada, um
momento suspendido, um sobressalto, o tempo para tomar o pulso de algum e virar a
ampulheta (p.101).
Derrida, em vrios momentos, trata da complexidade da sobrevivncia apontando
para aquelas situaes limtrofes ou difusas que invalidam qualquer posio dicotmica
diante de conceitos, em especial vida e morte. Veja-se o excerto abaixo de Larrt de
mort:
Durante aquela cena, J. disse a ele, Se voc no me matar, ento voc
um assassino. Posteriormente deparei com uma expresso parecida,
atribuda a Kafka. Sua irm, que seria incapaz de inventar algo do tipo,
reportou-me desse modo, e o mdico em seguida confirmou. (Ele
lembrava-se de ela haver dito: Se voc no me matar, voc me mata)
(Derrida, 1979[2004]:96).
A situao limtrofe, no caso, pressupe um impasse: uma dupla demanda
contraditria, uma dupla petio para aquilo cuja nica possvel resposta desistir de
10
A traduo que fiz das citaes deste texto de Derrida baseiam-se no texto traduzido para o ingls por
James Hulbert e para o portugus, por lida Ferreira (2003).
68
garanti-la (id.ibid). Esse double bind de partida violento: ao mdico resta pouca
escolha a no ser se tornar um assassino. Se voc no me matar, voc me mata. Assim
como na parbola que conta Toni Morrison segundo a qual uma escritora cega
confrontada com a pergunta perversa de dois garotos sobre a vida ou a morte do pssaro
que eles tm nas mos, estamos diante de uma situao (violenta) em que a tica se situa
no intervalo. A escritora responde que no sabe se o pssaro est vivo ou no; o que ela
sabe que est nas mos dos garotos. Tem-se a um excesso, um espao de sobrevivncia
a partir do qual a mulher rejeita a lgica perversa dos garotos. Derrida emprega uma
economia semelhante para entender o excesso na demanda de J.: Dupla pena de morte,
ento: Se voc no me matar, voc um assassino. Ela, J., demanda ento a morfina,
essa droga farmacutica de efeito duplo, essa morte que finalmente Eu dar a ela. Mas
no intervalo Eu ter interrompido (suspendido) a morte deixado ou dado um intervalo,
uma pausa o evento sem evento dessa pena de morte (p.95).
O sobreviver se situa ento nesse intervalo. Ele se distancia da ontologia vitalista
que concebe o sujeito a partir de uma matria orgnica que triunfa sobre a morte e sobre o
resto apodrecido do passado. importante ter em mente que a idia do sobreviver, por
rechaar a lgica vitalista, no se funda nos parmetros da vida como o substrato
orgnico que vence. E Derrida toma justamente a imagem do fantasma aquele que,
afinal, no segue as leis da matria orgnica para falar desse intervalo de sobrevida.
Essa sobrevivncia tambm um ressurgimento espectral (aquele que sobrevive
sempre um fantasma) que observvel e representado desde o comeo, desde o
momento em que o carter pstumo, testamentrio, escritural da narrativa vem se
desdobrar. (p.112-113) Lembremos que o aspecto fantasmagrico dos retirantes de
Portinari algo que imediatamente nos salta vista.
Um ltimo aspecto que gostaria de mencionar em relao inveno discursiva
do Nordeste o estado de abjeo em que este foi inventado. Como comentei no captulo
1, a questo da abjeo, segundo Butler, remete prpria inteligibilidade do sujeito.
Sendo o sujeito construdo numa matriz exclusora, faz-se necessria a produo
simultnea de seres abjetos, aqueles que no so ainda sujeitos, mas que formam o
exterior constitutivo do sujeito (Butler, 1993:3). Em Vidas secas, Fabiano no
conseguia ser um homem. Albuquerque Jr. insiste na idia de Nordeste como lugar do
69
nada, do deserto, do serto, do vazio, onde qualquer pegada humana fugidia, porque o
vento a leva, apaga-a (2001:199). Trata-se da regio do nmade, do no-lugar, do
homem sem rosto, sem identidade, mais um retirante. A terra do nada (2001:200). Essa
regio de seres abjetos representa aquelas zonas no-vivveis e inabitveis da vida
social que, no obstante, so densamente ocupadas por aqueles que no desfrutam ainda
do status de sujeito, mas cuja vida sob o signo do no-vivvel requerida para
circunscrever o domnio do sujeito (Butler, 1993:3). Nos termos da autora, a prpria
reivindicao de autonomia e de vida do sujeito (id.ibid.) se dar contra essa zona
horrenda do inabitvel um territrio definidor. No modelo da autora, o sujeito ,
portanto, constitudo atravs da excluso e da abjeo, uma identificao pavorosa que
produz o exterior constitutivo do sujeito, um exterior abjeto, que est, no final das
contas, dentro do sujeito como sua prpria repudiao fundadora (id.ibid.).
Nesse sentido, a inteligibilidade do Nordeste foi construda por meio da
articulao de signos do passado, da morte e da abjeo. Trata-se de uma sedimentada
historicidade da fora que constitui os limites da compreensibilidade da condio
nordestina, uma condio antimoderna definidora da prpria modernidade de So Paulo e
do Brasil. Albuquerque Jr. comenta essa questo nos seguintes termos:
Como diz Graciliano Ramos, dificilmente se pode pintar um vero
nordestino em que os ramos no estejam pretos e as cacimbas vazias. O
Nordeste no existe sem a seca e esta atributo particular deste espao.
O Nordeste no verossmil sem coronis, sem cangaceiros, sem
jagunos ou santos (Albuquerque Jr., 2001:192).
As imagens-clich, os esteretipos e os preconceitos discutidos nesta seo
continuam sendo citados na mdia de So Paulo e de outros estados que reivindicam a
modernidade brasileira. As condies histricas e a lgica de inteligibilidade desses usos
foram brevemente discutidos aqui. No entanto, a citacionalidade ou iterabilidade desses
usos, grande parte deles ofensivos, muito mais complexa do que a mera idia de
repetibilidade ou sedimentao histrica pressupe. A mesma palavra morte que
empregada pelo discurso moderno-liberal para significar aquilo a que o sujeito moderno
no destinado comparece em discursos contra-hegemnicos para significar algo que
pode ser uma condio permanente do sujeito, instaurando outras formas de lidar com a
70
prpria questo do viver e do morrer. Trata-se da idia de iterabilidade, uma forma de
ressignificao que provoca rupturas e que ser fundamental tanto para compreender o
funcionamento violento da linguagem que fere como para visar formas alternativas e
contra-hegemnicas de dizer o sujeito. Prossigamos.
A lglca de lLerabllldade
Uma das premissas fundamentais da presente reflexo a de que os signos que
ferem produzem simultaneamente certas identidades. Essa formulao ancora-se
fortemente na reviravolta provocada por Austin (1975[1962]) na filosofia com a criao
do enunciado performativo. A dupla ao dos signos violentos s possvel porque,
como Austin sabiamente percebeu, as palavras, para alm de representarem estados de
coisas, so aes por meio das quais fazemos coisas.
Austin inventa o conceito de enunciado performativo. Trata-se de um enunciado
que no funciona nos termos de uma semntica vericondicional: o performativo no tem
um referente no mundo real, o qual pode ser verdadeiro ou falso; ele constri o referente
no momento da enunciao. Quando, no universo heterossexual cristo, o padre fala eu
vos declaro marido e mulher, tal declarao no tem uma referncia no mundo real a no
ser aquela instituda em sua prpria enunciao. Em uma anlise dinmica e auto-
desconstrutora, Austin aplica a lgica do performativo para a linguagem como um todo.
Como j discutimos anteriormente, o enunciado constativo, aquele que descreve um
estado de coisas, no passa de um performativo mascarado. O constativo um tipo de
caso de performativo: aquele que realiza, por exemplo, a ao de informar algo.
A reviravolta filosfica a que me referi tem reverberado nas cincias sociais como
um todo, provocando mudanas na forma como se percebem um sem-nmero de
construtos sociais e at mesmo a prpria materialidade do corpo. Inspirada pelas
reflexes austinianas, Judith Butler reapropria-se da idia de prtica reiterativa e
citacional pela qual o discurso produz os efeitos daquilo que nomeia (1993:2), a
performatividade, para enxergar de outro modo a dicotomia sexo/gnero, que tem
servido como o terreno em que muito do debate feminista, pelo menos desde os anos
1940, tem se firmado (Mahmood, 2005:18). O debate em torno da distino sexo/gnero
71
tradicionalmente enxerga o gnero como interpretao do corpo sexuado, sendo o sexo
constitudo por uma materialidade prvia. Butler afirma, pelo contrrio, que, em sendo o
sexo um "ideal regulatrio" (nos termos de Foucault), trata-se de uma categoria de carter
eminentemente normativo. Nesse sentido, o corpo sexuado produzido pelas normas que
o controlam. A materialidade do corpo construda ento num processo de repetio
temporal de normas que, nos termos de Butler, esto a servio do imperativo
heterossexual. A autora no est entendendo que o discurso, num processo mgico, cria o
corpo sexuado (um argumento que de diferentes maneiras utilizado contra a idia de
performatividade), mas que no h um sexo pr-representacional que j no tenha sido
concebido num sistema de relaes de gnero e de normas que regulam a inteligibilidade
dessas relaes. O discurso do gnero , nesse sentido, performativo, porque ele cria as
condies de inteligibilidade do corpo sexuado.
Central para a compreenso da produo da materialidade dos corpos a noo de
iterabilidade. Diz Butler: sexo um construto ideal que foradamente materializado
no tempo. No se trata de um simples fato ou condio esttica de um corpo, mas de um
processo em que normas regulatrias materializam o sexo e produzem essa
materializao por meio da forosa reiterao dessas normas (1993:2). Sendo um ideal
regulatrio que se produz no tempo, a materializao do corpo sexuado sempre
incompleta, o que abre espao para rematerializaes. Tal incompletude, nos termos da
autora, marca o domnio no qual a fora da lei regulatria pode se voltar contra ela
mesma para gerar rearticulaes que colocam em questo a fora hegemnica daquela
mesma lei regulatria (id.ibid.).
A performatividade da linguagem que fere os nordestinos est articulada ento a
um processo maior e sempre incompleto de repetibilidade dos signos que permite tanto a
continuidade como a ruptura ou ressignificao. Tendo em vista que Butler prope que a
iterabilidade da performatividade uma teoria de agncia (1999, p.xxv) e que as
possibilidades de agncia animam a ao contra-hegemnica que vislumbro nesta tese,
ento relevante adentrarmos nos meandros sociais, corpreos, psquicos e temporais da
iterabilidade.
Derrida (1977) formula o conceito de iterabilidade em seu projeto de
desconstruo da metafsica. No texto intitulado Assinatura evento contexto, Derrida
72
(1977) prope que se leia a teoria austiniana do performativo sobre diferentes bases
11
.
Nesse ensaio, a lgica de iterabilidade surge como uma subverso da lgica de identidade
tradicional vale lembrar que, tradicionalmente, a identidade entendida segundo sua
essencialidade, que garante a manuteno do mesmo, unitrio e indivisvel, puro e
uniforme. A visada ps-estruturalista de Derrida aposta numa viso contrria: no h
experincia alguma que consista de pura presena, mas apenas de cadeias de marcas
diferenciais (p.183).
A identidade da forma significante (e da experincia em geral, da subjetividade,
constituda na linguagem) paradoxalmente estabelecida a partir de uma lgica de
ruptura. Essa ruptura se d na prpria iterabilidade do signo. Uma condio de
possibilidade estrutural de qualquer signo que ele possa ser dissociado de um
determinado referente, de um significado e da inteno da significao real, assim como
de toda inteno da comunicao presente (p.183). Trata-se de uma ruptura que est
inscrita no prprio funcionamento dos signos. Derrida bastante enftico quanto ao
carter constitutivo da ruptura: a possibilidade de separao e transplante citacional (...)
pertence estrutura de toda marca, falada ou escrita, e (...) constitui toda marca na escrita
antes e no exterior de todo horizonte da comunicao semio-lingstica (p.185).
Qualquer signo lingstico ou no-lingstico, na oralidade ou na escrita, pode ser
colocado entre aspas e levado para um novo contexto. Ele rompe assim com o contexto
original, engendrando uma infinidade de novos contextos de um modo absolutamente
ilimitvel (p.185).
importante entender essa repetio de marcas diferenciais diante da instncia do
outro e do inconsciente. Lembra Derrida que iter provavelmente deriva de itara, outro
em snscrito. Nesse sentido, a iterabilidade o "funcionamento da lgica que atrela a
repetio alteridade" (p.180). Derrida fala ainda de uma inconscincia estrutural
(p.192) relacionada a esse rompimento fundamental que governa toda marca.
11
Este ensaio foi objeto de conteno entre Derrida e Searle. A resposta do filsofo de Berkeley,
sintomaticamente intitulada Reiterating the differences: a Reply to Derrida (Searle, 1977), marcada por
sua adeso lgica da intencionalidade e a princpios universalistas da estrutura da lngua. Para uma
discusso da querela com base na sociologia do conhecimento, ver Rajagopalan (2000). A resposta de
Derrida a Searle foi publicada em um livro intitulado Limited Inc., juntamente com o artigo que originou a
polmica e um resumo da resposta de Searle (cf. Derrida, 1991). Searle no autorizou que seu artigo fosse
publicado no livro de Derrida.
73
Tendo em vista a estrutura da iterabilidade, argumenta Derrida, a inteno
animando o enunciado nunca poder ser completamente presente a si e a seu contedo. A
iterao que o estrutura introduz nele, a priori, uma deiscncia e uma fissura que so
essenciais (p. 192). interessante observar que, em medicina, deiscncia a abertura
espontnea de suturas cirrgicas, o que refora a proposta geral do autor de que a ruptura
uma condio geral e constitutiva da significao performativa.
Judith Butler baseia-se na visada ps-estruturalista de Derrida para formular a
idia de ressignificao. Trata-se da proposta de pensar numa poltica do performativo.
Para entender como funciona a ressignificao, pautemo-nos num exemplo da extensa
gama de termos violentos contra os nordestinos. Em agosto de 1997, o jogador de futebol
Edmundo causou polmica ao designar tanto o rbitro, o juiz Dacildo Mouro, do Cear,
como o time adversrio, Amrica, do Rio Grande do Norte, de paraba. Vejamos a
notcia abaixo, publicada em O Globo:
1orclda espera Ldmundo em pe de guerra ho[e em 8eclfe
-%./" (012(03% )4"23 ( % 52% '" 0"2'(.350" /"032% .(, /2%6,(
or conLa de Ldmundo, Lodo nordesLlno vlrou paralba. C aLacanLe do vasco val
perceber o Lamanho da repercusso do que dlsse no [ogo Amerlca-8n 0 x 0 vasco, no
dla 21 (8oLaram um [ulz paralba para aplLar o [ogo de um Llme paralba..."), ao
desembarcar ho[e de manh, em 8eclfe, para [ogar as 21h30m, conLra o SporL, na llha
do 8eLlro, pelo CampeonaLo 8rasllelro. A desforra dos ofendldos comear na chegada
do vasco mas ser malor no esLdlo, onde as Lorcldas da reglo promeLem persegulr o
craque vascalno desde o momenLo em que ele plsar o gramado aLe volLar ao 8lo.
C esLdlo, Lodos aflrmam, esLar loLado para dar resposLa ao [ogador, acusado
de ofender os nordesLlnos. C vasco esL em qulnLo lugar no 8rasllelro, com 17 ponLos
ganhos, e o SporL, em 13, com 13. C llder conLlnua sendo o lnLernaclonal, com 27
ponLos.
C cllma pode ser resumldo por uma canLorla dos vlolelros AnLonlo Llsboa e
Ldmundo lerrelra: Po[e a nolLe Lem [ogo do vasco conLra o SporL. ernambuco, Cear
e 8lo Crande do norLe vo mosLrar a Ldmundo que o paralba e mals forLe", conclamam
os arLlsLas populares das ruas de 8eclfe, numa referncla a polmlca declarao do
[ogador. C [ogo fol na caplLal do 8lo Crande do norLe e o paralba" era o [ulz cearense
uaclldo Mouro. Mas Lodos os nordesLlnos acham que Ldmundo falou lsso por
preconcelLo conLra o nordesLe e os nordesLlnos.
7%.%8 ,9 :4%2%;<%= '" -%./"8 3(03%2> 9,'%2 " /#59% %'?(2."
Cs clnco nordesLlnos do vasco (!unlnho, nasa, Cafezlnho, Molses e Acsslo)
declararam, onLem, o orgulho de serem nordesLlnos. L esLo preocupados. C
74
pernambucano nasa, apolador reserva do vasco que nasceu em Cllnda, ao lado de
8eclfe, aLe procurou saber se Ldmundo esLava escalado para o [ogo. or Lelefone, sua
famllla alerLou para o cllma adverso na cldade.
vou pedlr a Lorclda, nas enLrevlsLas, para no persegulr Ldmundo e vasco. Lu,
por exemplo, no me senLl ofendldo, porque sel que Ldmundo fez um desabafo, no
Leve a lnLeno de agredlr o povo do nordesLe - dlsse nasa.
ode ser lnuLll. uuranLe Loda a semana, a canLorla dos vlolelros fol LransmlLlda
pela 8dlo Clube de 8eclfe. Lles lembram: nordesLlnos e carlocas na rlmelra ulvlso,
desLa vez o Anlmal val respelLar o leo". C leo e o slmbolo de ernambuco e do SporL,
Lambem conhecldo como Leo do norLe. As faces das Lorcldas passaram o dla de
onLem preparando falxas para responder a Ldmundo. A Cangue da llha promeLe levar
falxas do Llpo 8acalhau lmundo", aralbas com orgulho", Somos paralbas, no
somos lmundos". C MaracaLu Leo de !uba lr ao [ogo de ho[e a nolLe. ! a Lorclda 8afo
do Leo ser mals dlscreLa e lr sem falxas.
Solldrla, a Lorclda !fogo salr da aralba com Lrs nlbus, para Lorcer a favor
do SporL e conLra Ldmundo, segundo !oo Carlos elxoLo, o !oca.
Mlnha Lorclda enLrou com uma ao pedlndo reLraLao na !usLla. Lle fol de
uma lnfellcldade Lremenda e se mosLrou um raclsLa - dlsse !oca, que onLem preparava
uma falxa chamando Ldmundo para vlslLar a aralba.
Se for l, ele no volLar - lronlzou !oca.
(...)
(LeLlcla Llns e MllLon CosLa Carvalho, @ A#"<", 30/08/1997)
O princpio da ressignificao, segundo Butler (1997:14), o de que a fala
ofensiva pode ser retornada sob uma diferente forma ao ofensor, de que ela pode ser
citada contra seus propsitos originais, e realizar uma inverso de efeitos. Esse princpio
coaduna-se com o funcionamento da iterabilidade. Na notcia acima, podemos perceber a
fala ofensiva sendo utilizada pelo agredido contra ela mesma. Edmundo chama o time
potiguar e o juiz cearense de parabas, e a invectiva assume novas formas, contrrias
aos efeitos intencionados pelo jogador. A ressignificao adquire feio potica na fala
dos cantadores: Pernambuco, Cear e Rio Grande do Norte vo mostrar a Edmundo que
o paraba mais forte. As faixas dos torcedores revertem o propsito ofensivo ao
reivindicar a condio nordestina por meio de um termo que utilizado no Rio de Janeiro
sobretudo de modo preconceituoso: Parabas com orgulho; Somos parabas, no
somos imundos. A ressignificao de atos de fala violentos parte da prpria histria do
Nordeste, formando uma cadeia de iterao cujos efeitos (de violncia e de resistncia)
so difceis de prever.
No dia 26 de agosto de 1997, Fernando Calazans, articulista de esportes de O
Globo, entra na cadeia itervel da polmica e, apesar de no concordar com o dito
75
ofensivo de Edmundo, qualifica algumas crticas ao jogador como bobagens. O
jornalista se mostrou surpreso com a ao de um deputado que quisera processar
Edmundo por racismo: Imaginem que um deputado, na falta de algo mais importante
para tratar aqui no Estado do Rio, quis processar Edmundo por racismo (Calazans,
Fernando, "Gente de fino trato", O Globo, 26/08/1997). Alm disso, menosprezou a
ofensa com o velho argumento de que o Estado tem de se preocupar com problemas
mais srios: Parece at que o estado j se livrou de todos os problemas da grande rea
social para perder tempo com a pequena rea de raciocnio anti-social do Edmundo.
Chama ateno o fato de que o articulista denega a relao entre ofensa e agresso fsica,
o que, de todo modo, pressupe que os sujeitos pensam numa correlao, motivo pelo
qual o opositor a refuta. Veja-se o excerto:
Lm ouLro debaLe, lnvocou-se aLe o caso dos fllhlnhos-de-papal que aLearam fogo no
lndlo em 8rasllla e que foram conLemplados pela complacncla da !usLla. MlsLurando
uma colsa e ouLra, pode-se formular um absurdo como esLe: se garoLes da classe
medla de 8rasllla podem lncendlar um ser humano, por que um craque da esLlrpe de
Ldmundo, com a cabea em fogo no momenLo da expulso, no pode menosprezar
ouLros seres humanos, os nordesLlnos?
(Calazans, lernando, "CenLe de flno LraLo", @ A#"<", 26/08/1997).
O absurdo de que fala o jornalista , em vista de nossa discusso sobre a
realidade corprea e psquica da ofensa, muito mais factvel do que irnico. Obviamente,
no estou defendendo que se leia de modo literal a correlao entre a complacncia do
assassinato de Galdino Jesus dos Santos, ndio da etnia patax morto por adolescentes, e
o dito preconceituoso de Edmundo, mas que se perceba a performatividade da ofensa nos
termos da realidade corprea do dito ofensivo. No dia seguinte, o articulista publica em
sua coluna parte de um e-mail da vereadora Jurema Batista, que, alm de rebater o fraco
argumento do jornalista de que o Estado no deve se ocupar de preconceitos, oferece
forte evidncia em torno da performatividade da prtica [lingstica de Edmundo] que
pode se transformar em aes:
Lm seu arLlgo, voc coloca que um parlamenLar Lem lnumeras aLrlbules e que no
deverla se ocupar com declaraes de 'um craque de flno LraLo com a bola, um perna-
de-pau lnLraLvel sem ela'. Concordamos, em parLe, com sua colocao. C LsLado do
8lo passa por um dos perlodos mals compllcados em dlversas reas. Cs hosplLals e as
76
escolas esLo abandonadas (slc). C funclonallsmo e mal remunerado. SaneamenLo
bslco e arLlgo de luxo. ollLlca hablLaclonal no exlsLe. 8econhecemos que o craque,
ao uLlllzar esLa expresso, apenas refleLlu o pensamenLo preconcelLuoso de nossa
socledade. no enLanLo, no podemos delxar que declaraes como a de Ldmundo,
que fazem parLe do lmaglnrlo popular, se Lornem coLldlanas. Como presldenLe da
Comlsso de uefesa dos ulrelLos Pumanos da Cmara Munlclpal do 8lo de !anelro,
no posso me calar dlanLe dlsso. no podemos esquecer que esLamos LraLando de um
craque, um ldolo, um formador de oplnlo. Alem dlsso, nosso coLldlano e chelo de
expresses preconcelLuosas e raclsLas. Se nos sllenclarmos, esLamos concordando
com esLa prLlca, que em mulLos casos Lransformam-se (slc) em aes".
(lernando Calazans, 8eLranca a brasllelra, @ A#"<", 27/08/1997)
A polmica causada pelo ato de violncia lingstica de Edmundo interessante
tambm para pensarmos sobre a iterabilidade mais geral de paraba. Originalmente,
paraba refere-se a uma planta e ao estado brasileiro batizado com esse nome. No Rio
de Janeiro, adquire a conotao de trabalhador de construo civil e nordestino. Ao
migrar para o Sudeste junto com os nordestinos, o termo rompe com seu contexto
original. Vale salientar que, via de regra, esse nome enunciado no Sudeste com
conotaes preconceituosas ou ofensivas: o uso das aspas no texto jornalstico em Nasa,
um paraba do Vasco, tentar mudar o clima adverso indicia que, por sua feio
ofensiva, o jornal precisa controlar seus efeitos atravs de algum recurso textual. Na
notcia escrita por Letcia Lins e Milton da Costa Carvalho, o termo ecoado por
diferentes vozes, todas citadas pelos jornalistas, escrevendo em nome de O Globo. Essa
multiplicidade de vozes, ponto de partida de diferentes intenes, alm do prprio uso
estratgico de inteno pelo jogador Nasa, para quem Edmundo no teria tido "a
inteno de ofender", so bons indcios da elaborao de Derrida segundo a qual a
performatividade, se pensada segundo a lgica de iterabilidade, no ter a inteno
governando a cena da enunciao. Nesse modelo, a inteno no perde sua importncia,
mas deslocada para as cadeias iterveis de diferena, sendo a mltipla ressignificao
de paraba, na polmica acima, um caro exemplo. Diz Derrida: [e]m tal tipologia, a
categoria de inteno no desaparecer; ela ter seu lugar, mas desse lugar ela no ser
mais capaz de governar a cena inteira do sistema da enunciao (p.192).
77
1errlLrlo anLlmoderno
luz das sees anteriores, em que discuto a iterao dos signos do passado e da
morte na inveno do Nordeste, em domnios discursivos diversos, procedo agora a uma
discusso da poltica de verdade sobre o Nordeste, mais especificamente em reportagens
da revista Veja, um veculo de comunicao que participa, de forma importante, da
formao da opinio sobretudo da classe mdia brasileira
12
. O realismo peirceano que eu
trouxe tona no captulo anterior, quando discutimos o conceito de comunicabilidade,
proposto por Charles Briggs, ser til para analisarmos os signos da violncia a seguir.
Veja-se a figura 5 na pgina seguinte, a primeira capa de Veja sobre o Nordeste
13
.
Mencionei que Briggs (2007a), em sua anlise da relao entre linguagem e
violncia na mdia da Venezuela, trata as narrativas de infanticdio como poderosos
signos icnico-indexicais da violncia. Podemos ler a representao nordestina de modo
semelhante. Na capa em questo, h uma complexa semitica que conjuga a
indexicalidade do corpo do nordestino e a iconicidade da fotografia. Lembremos que o
ndice o signo que mantm conexo fsica com o objeto; o cone aquele que
compartilha com o objeto semelhana em sua forma. Peirce caracteriza as fotografias
como cones, existindo de certo modo exatamente como os objetos que elas representam
[por] terem sido produzidas sob circunstncias tais que as foraram fisicamente a
corresponder ponto a ponto natureza (Peirce, 1932, apud Briggs, 2007a:324). Nesse
sentido, a capa de Veja constri uma verdade sobre o Nordeste ao significar iconicamente
o corpo do nordestino tal como ele e, por vias indexicais, estabelecer uma metafsica
da presena. significativo ainda o olhar do nordestino, logo abaixo do imperativo Veja,
sintomtico ttulo da revista, interpelando o leitor a participar da instituio do olhar
(Lacan, 1981).
12
No captulo 4, em que discuto a comunicabilidade da violncia de Veja, apresento o perfil geral do leitor
da revista e o modo como esses leitores so posicionados vis--vis a projeo para esse pblico de sua
ideologia de classe, circulao e escala.
13
Esta a edio 67 de Veja, publicada em 17/12/1969. A revista havia estreado no mercado editorial em
11/09/1968. Uma capa j havia feito meno s metrpoles do Nordeste, no dia 09/04/1969, mas essa capa
remete s transformaes das cidades brasileiras e, nesse contexto, Salvador e Recife aparecem ao lado de
So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Ou seja, a capa no era exatamente sobre o
Nordeste.
78
Figura 5 - Veja, 17/12/1969
Essa multiplicidade semitica soma-se ainda luta do passado contra o futuro,
legenda explicitada em amarelo na capa. A dcada mencionada na capa refere-se, na
verdade, ao aniversrio de 10 anos da Sudene, mas esse fato s se revela no interior da
revista. provavelmente nesse desencaixe entre o que dito e no dito, associando-se
poltica de verdade da imagem, que se encontra a violncia discursiva de Veja. Poder-se-
ia dizer, numa leitura desinformada, que a luta do passado contra o presente no passa
de uma referncia ao modo como o Nordeste se tornou visvel na histria. No foi, afinal,
a permanncia do velho que tornou essa regio possvel? No obstante, acabamos de
discutir o poder de ruptura do signo, e a citao desse enunciado, pela lgica de
iterabilidade, estabelece uma deiscncia de onde a violncia do signo irrompe.
79
Folheando a reportagem de capa, deparamos com textos verbais e imagticos que
cumprem a funo de documentar o desempenho da Sudene em seus dez anos. Por sua
feio performativa, obviamente, essa matria uma verdadeira inveno do Nordeste.
Imagens da seca, da misria, do sofrido estilo de vida dos sertanejos e da decadncia da
monocultura da cana-de-acar so colocadas ao lado de imagens daquilo a que a Sudene
se propunha: a industrializao e a reforma agrria. Vejamos no excerto abaixo, que trata
da criao da Sudene, a permanncia de motivos como a desgraa do Nordeste, o
fatalismo e a crena de que Deus prover tudo no seu tempo certo e a pouca vitalidade
nordestina:
!"#$%&'()* - A Sudene e, lnlclalmenLe, fllha da sca. ALe 1938, a sca era me de
Ldas as desgraas do nordesLe. Salvar a reglo era consLrulr audes, prLlca lnlclada
no como do seculo, depols da Lerrlvel esLlagem de 1877. A hlsLrla dos audes e
uma hlsLrla lendrla de mulLas slglas (lCCS, unCCS, eLc, - lnspeLorlas de
deparLamenLos de obras conLra as scas), onde os casos de corrupo na dlsLrlbulo
das verbas federals se mlsLuram com resulLados mesqulnhos e praLlcamenLe lnvlslvels.
Lm 1936, no governo de !uscellno kublLschek, a ldela de crlar osls no aparenLe
deserLo nordesLlno fol flnalmenLe derroLada com a crlao de um grupo de Lrabalho
para esLudar nova esLraLegla dlanLe do subdesenvolvlmenLo da reglo. As concluses
do grupo, publlcadas em 1939, foram slmples e dramLlcas. 1) A dlsparldade de nlvels
de renda enLre a reglo nordesLe e o CenLro-Sul era enorme e, plor, Lendla a crescer.
A economla reglonal arrasLava-se num rlLmo duas vezes menor e em 1970 se deverla
Ler 120 dlares de renda per caplLa no nL e 440 no CenLro-Sul. L mals: no hemlsferlo
ocldenLal, o nL era a reglo de mlserla mals exLensa e populosa. A pobreza no era
apresenLada como resulLado do pouco esfro do homem nordesLlno, a despelLo de
sua predlsposlo para o faLallsmo e para a crena em que ueus prover Ludo no
devldo Lempo. A Lerra era pobre, sca, com suas rendas concenLradas na economla do
aucar e nas planLaes onde serLane[os planLavam apenas o pouco para comer, sem
chance de produzlr um excedenLe e se Lornarem compradores. lor alnda: o Sul bebla
a pouca vlLalldade nordesLlna. LnLre ouLras colsas, a manuLeno de uma Laxa do
dlar flxa para favorecer a lmporLao de mqulnas para o CenLro-Sul dlflculLava as
exporLaes do nL. Clculos de Celso lurLado - o coordenador do grupo de Lrabalho
formado em 1936 e depols o prlmelro superlnLendenLe da Sudene - mosLravam que,
enLre 1948 e 1933, o Sul sugara do nL cerca de 167 mllhes de dlares (quanLla
aproxlmadamenLe lgual a soma de Lodos os oramenLos da Sudene aLe sLe ano).
(-(B%, 17/12/1969)
A regio de misria mais extensa e populosa do hemisfrio ocidental, dramtico
ttulo dado terra do passado que luta contra o futuro, tem sua pouca vitalidade bebida
pelo sul do pas, que se moderniza e se afasta da sombra do passado. interessante
80
observar que 1969 o ano em que os seres humanos chegam lua, e dentre as vrias
reportagens e capas de revista dedicadas ao tema, Veja coloca a sugestiva legenda O
futuro comeou sbado em sua edio 17, de 1 de janeiro de 1969 (Figura 6). A capa
sobrepe a imagem de James Lovell, astronauta da Apolo 8, do homem (e da mulher e
da criana) de Neanderthal. Em 1968 dC, o homem (branco, norte-americano, vestido
com roupa de futuro) confirma sua vitria sobre o passado, na capa representado pelo
momento (33000 aC) em que a espcie ainda caava e guardava fortes semelhanas com
seu ancestral comum, o macaco. Mas Veja anuncia, poucos meses depois, justamente o
oposto: em 1969 dC, a luta de um territrio medieval, o espao mais miseravelmente
extenso e populoso do ocidente, contra o futuro que comeara h poucos dias. bem
explcita a construo do moderno, da cincia e do progresso de uma vida que triunfa
sobre a morte contra o Nordeste, uma terra de pessoas fortes porm fatalistas e
dependentes da providncia divina, isto , religiosos, fatalistas, pr-modernos.
A ontologia vitalista de Veja insiste na morte e na mortalidade dos nordestinos
para marcar o aprisionamento dessa regio ao passado permanente. Na reportagem sobre
a Sudene, l-se: todas as crianas nascidas no municpio de Amaraji, entre junho e
dezembro do ano passado, morreram antes da chegada do primeiro dente; Nesse novo
Eldorado, o homem que vem do campo j ganha, de sada, a vantagem de uns cinco anos
a mais de vida provvel (A vida mdia no Recife de crca de 35 anos); O Fluxo do
campo para o Eldorado e a reproduo local continua fazendo crescer em 3,6% ao ano a
populao do Recife (s no maior porque a taxa de mortalidade infantil aumentou nos
ltimos dois anos de 149 para 153 mortes em cada mil nascimentos). Mais pungente
ainda do que os exemplos anteriores o final da reportagem, que anuncia a nova dcada
da Sudene. Alinhando-se ao plano de desenvolvimento do presidente do Brasil poca, o
general Garrastazu Medici, que previa a incluso no mercado consumidor de 90 milhes
de consumidores contra os ento 26 milhes, a Sudene deveria cumprir a meta de incluir
27 milhes de nordestinos ao invs dos ento 9 milhes de compradores. Eis a forma
como a revista avalia esse projeto: Para no fim da prxima dcada trazer para a
civilizao sses 18 milhes de nordestinos prticamente mortos, a Sudene precisa das
reformas, de poder poltico para lutar por elas.
81
Figura 6 - Veja, 1 de janeiro de 1969
Pelas linhas acima, evidente a construo das identidades nordestinas no
fantasmagrico territrio da morte e da mortalidade. interessante verificar nessa
cartografia discursiva que nordestinos no vivem, mas sobrevivem trata-se de pessoas
praticamente mortas, como anuncia o texto de Veja. Nesses termos, a reportagem de capa
A agonia do Nordeste (ver Figura 7), publicada por Veja em 17 de agosto de 1983,
indaga: Talvez o mais intrigante, numa situao como a que o Nordeste enfrenta, no
seja constatar que tantos morrem ou ficam doentes e sim verificar como muitos
sobrevivem. Como conseguem comida? (nfase acrescida). Os quinze filhos de um casal
sergipano transformam-se nos quinze sobreviventes (o casal tivera dezoito). Em tal
82
Figura 7 Veja, 17/08/1983
situao de misria e fome, ter crdito no armazm um detalhe fundamental no
exerccio da sobrevivncia.
Tendo em vista a lgica da sobrevida que subverte a ontologia vitalista na
medida em que no se assenta nos princpios da matria orgnica que vence o inorgnico
da morte, do passado e do no-moderno , ento parece ser premente pensar no potencial
poltico que as identidades nordestinas, inventadas nos termos da sobrevivncia, tm para
questionar os princpios desiguais da modernidade. Tenhamos em mente que, de acordo
com Derrida (1979[2004]:112), aquele que sobrevive sempre um fantasma. Como
pensar nos fantasmas nordestinos, criaturas praticamente mortas, em diferentes bases?
Em que medida a espectralidade dos nordestinos e nordestinas pode, paradoxalmente, nos
ajudar a pensar numa poltica corprea do sobreviver? Pessoas que se alimentam de si
mesmas tamanha a alucinao (tal qual a narrativa de Rodolfo Tefilo), que sequer
83
podem ser consideradas humanas (Graciliano Ramos diz que Fabiano provavelmente no
seria homem), de feies desfiguradas, tristes, fantasmagricas (vide a srie Retirantes,
de Portinari) tm corpo afinal? Na teoria da espectralizao derridiana elas tm um corpo
sim, ou melhor, elas assumem um corpo, tal qual o fantasma que, para aparecer, precisa
tomar alguma forma, tem de se encarnar. A espectralizao a encarnao de um
esprito autonomizado em um corpo no-fsico que tido como o corpo real do sujeito
vivo (Cheah, 1999:241). A espectralizao o oposto da espiritualizao, ou sublimao
filosfica, que Wittgenstein tanto criticara. O filsofo ou a filsofa sublima um conceito
quando perde de vista a solidez do corpo e se deslumbra com o estado etreo das idias.
Escreve Wittgenstein nas Investigaes Filosficas:
E fazemos aqui o que fazemos em mil outros casos similares: j
que no podemos especificar nem mesmo uma ao corprea a que
chamamos apontar para a forma (em oposio, por exemplo, cor),
dizemos que uma atividade espiritual [mental, intelectual] corresponde
a essas palavras.
Onde nossa linguagem sugere um corpo e no h nenhum: l,
nos apraz dizer, est um esprito. (IF, 36)
Subvertendo o racionalismo e a sublimao que este pressupe, a realidade
fantasmagrica das identidades nordestinas assume para si o carter espectral de uma
vida que no vida, mas sobrevida. No momento em que o fantasma vem, diz Derrida
(1994[1993]:157), ele adiciona espiritualizao (...) da idia ou do pensamento um
suplemento, mais um simulacro, alienao ou expropriao. Tal suplemento
justamente o corpo, a carne.
Para haver um fantasma, deve haver um retorno ao corpo, mas a um
corpo que mais abstrato do que nunca. O processo espectrognico
corresponde portanto a uma incorporao paradoxal. Uma vez que
idias ou pensamentos (Gedanke) so deslocados de seu substrato,
engendra-se um fantasma ao dar-lhes um corpo. No por meio do
retorno ao corpo vivo de onde idias e palavras se romperam, mas pela
encarnao destes em um outro corpo artefatual, um corpo prottico,
um fantasma do esprito.
(Derrida, 1994[1993]:157-158)
84
Um corpo artefatual, prottico remete prpria relao do sujeito com sua psique.
Freud, numa atitude francamente oposta idia cartesiana de que o sujeito se conhece a
partir do toque em si mesmo, escreve, em suas ltimas anotaes, que a Psique
estendida; ela no sabe nada sobre isso (apud Derrida, 2005:15). Uma Psique estendida,
que no sabe nada sobre isso nem sobre si, pressupe que o relacionamento do sujeito
consigo menos da ordem da auto-soberania do que da vulnerabilidade ao toque do outro.
A extenso permite o toque de uma mo outra, num contato inconsciente e corpreo,
estendido, extensvel. Um corpo que se encarna, que se transforma em artefato ou em
prtese suplementar de si mesmo, abre-se ento ao toque do outro, um outro que, pode-se
visualizar a partir da extenso corprea da psique, est dentro do mesmo ou melhor,
estendido em si mesmo, na psique que no sabe nada sobre isso.
1erra sem fuLuro
Ao longo deste captulo, venho delineando a idia de que Veja se pauta na
ontologia vitalista que subjaz s prprias concepes de modernidade e nao para
violentamente designar o Nordeste e, assim, distanci-lo do territrio da vida e do
progresso representado pelo Sudeste. Nesta seo, darei continuidade discusso da
construo da poltica de verdade de Veja sobre o Nordeste dando ateno especial
matria de capa A agonia do Nordeste, de 17/08/1983 (cf. Figura 7). Utilizarei tambm
dados das matrias que temos analisado at aqui. Quero pontuar especialmente as
estratgias discursivas da ontologia de vida que sintomaticamente indiciada pelo ttulo
da seo As vitrias da morte (Figura 8) e por temas como o da morte de crianas como
genocdio e da vulnerabilidade de seus corpos.
A morte comparece nessa reportagem como condio de inteligibilidade dessas
comunidades nordestinas, onde a morte vence e as crianas no viscejam (sic) (ver
excerto na Figura 9). No incio do texto, aspas do voz e verdade aos nordestinos, com
sua fala arrastada, estranha. Essa fala d morte o privilgio de um neologismo pouco
conhecido por sujeitos modernos: morredor. O tpico frasal Meus filhos so muito
morredor funciona como mote para as temporalidades da morte nessa cartografia
85
Figura 8 Veja, 17/08/1983
discursiva. O rigor cronolgico da morte marcado por diversos recursos textuais. As
aspas, reconhecidas marcas da iterabilidade do signo, so empregadas segundo uma
violenta lgica de ruptura: a apresentao da primeira famlia, cujos dois primeiros filhos
morreram e a terceira filha sobra, precedida e sucedida por dizeres entre aspas, que
indiciam a presena da morte, Meus filhos so muito morredor, Essa a, ningum sabe
se se cria. Outras aspas ao longo do texto reforam a poltica de verdade da revista. A
fala do mdico da Santa Casa de Sobral, um especialista moderno, trazida para dar
sustentao ao anncio de genocdio no Nordeste e sentena de morte de crianas da
regio. Representante poltico da regio, o ento governador de Sergipe, Joo Alves, tem
sua fala citada na reportagem para fundamentar a tese da inferioridade racial nordestina.
Diz a revista: Estamos criando uma sub-raa, ecoa o governador de Sergipe, Joo
Alves. como no Admirvel Mundo Novo, de Aldous Huxley: teremos uma categoria de
homens inferiores pela prpria constituio. E a matria desenvolve a idia:
86
lnferlor, pelo menos no Lamanho, o menlno Marcellno 8arbosa, de 13 anos, de So
8almundo nonaLo, no laul, Lem cerLeza de que val ser. Marcellno, por ser arrlmo de
famllla - ele susLenLa a me vluva e olLo lrmos - esL allsLado numa frenLe de Lrabalho,
e all dlz senLlr frequenLes LonLelras". A razo e que Marcellno senLe fome, e por lsso
esL convencldo de que no val crescer.
Se eu no como - resume ele - no val dar para encher o corpo."
A revista explcita quanto vulnerabilidade do corpo do adolescente de quinze
anos, que tem certeza de que vai ser (inferior). Tal certeza, nessa cartografia discursiva,
coaduna-se com a inevitabilidade da rpida e certeira morte. Note-se o violento uso dos
advrbios j e ainda na designao de subjetividades que so definidas de acordo com
a iminncia da morte: O casal Amadeus e Franscisca Sudrio dos Santos (...) j perdeu
dois dos oito filhos que teve. (nfase acrescida) e [Juarez e Maria Edilse Ferreira dos
Santos] ainda no perderam nenhum de seus filhos (nfase acrescida)
14
.
Figura 9 - Veja, 17/08/1983, Detalhe
14
Estamos diante de uma semntica da violncia, uma idia que articularei noo de comunicabilidade no
captulo seguinte.
87
A racializao dos nordestinos na poltica de verdade e excluso de Veja
evidente tambm na reportagem sobre a Sudene, de 1969. Veja-se a seguir um excerto do
quadro O Nordeste, parte da reportagem, pgina 30, dedicada descrio dessa terra
miservel:
(...) Asslm, a largos Lraos, e o amblenLe onde vlve o homem nordesLlno, uma reglo
cu[as fronLelras pollLlcas lncluem nove LsLados da lederao (8ahla, Serglpe, Alagoas,
ernambuco, aralba, 8lo Crande do norLe, Cear, laul e Maranho), o LerrlLrlo de
lernando de noronha e uma faLla do norLe de Mlnas Cerals. or essas paragens
deslguals, nas cldades malores ou menores, nas caaLlngas, nas lavouras de cana de
cacau, espalham-se os brasllelros do nordesLe, nem sempre lguals ou flslcamenLe
parecldos. C plaulense, o maranhense, mals raqulLlcos, geralmenLe de pele escura e
olhar cansado, gesLos lenLos. uo Cear aLe o norLe da 8ahla, a predomlnncla dos
Llpos aLarracados, mals esperLos, as feles marcadas no rosLo cedo enrugado, barba
cerrada, fala rplda. na 8ahla, a presena do crloulo alLo, mulaLos eleganLes. Mas, se os
Llpos domlnanLes se dlverslflcam sbre a exLensa reglo, as qualldades morals e
comporLamenLo mudam menos. Cuase sempre supersLlcloso, faLallsLa, valenLe, o
nordesLlno agora empenhado na luLa conLra o subdesenvolvlmenLo preclsa ser, como
dlrla Luclldes da Cunha, anLes de Ludo um forLe". (-(B%, 17/12/1969)
Numa franca atitude inventora, Veja enuncia na definio acima que os
nordestinos, alm de no serem modernos (fatalistas, superticiosos), so racialmente
inferiores. Alguns so mais raquticos, outros ficam cedo enrugados. E mais: a maioria
desses nordestinos carrega signos da negritude, um marcador de diferena que, na histria
do Brasil, tem sido fator de excluso. Na reportagem, l-se que, embora as caractersticas
raciais sejam um tanto diferenciadas ao longo do imenso territrio do Nordeste, as
qualidades morais e comportamento mudam menos. Tendo em vista que os signos da
violncia adquirem seu poder de ferir a partir do acmulo histrico e dissimulado da
fora, o texto de Veja, embora se disfarce da constatividade da descrio de jornalistas e
fotgrafos que viram as imagens do Nordeste apresentadas nas oito pginas seguintes
(ver Figura 10), est, na verdade, citando condies de inteligibilidade a partir das quais a
prpria idia de Nordeste se tornou possvel. Como vimos na srie de reportagens de O
Estado de S. Paulo sobre o Nordeste, na dcada de 1920, os nordestinos receberam os
signos da pele escura, ao passo que So Paulo, por conta da imigrao europia, adquirira
uma colorao clara, marca da superioridade. No se pode perder de vista a racializao
dos nordestinos no processo de violncia discursiva a que so submetidos.
88
Figura 10 - Veja, 17/12/1969
Ainda sobre a questo da infncia, tema bastante saliente na reportagem As
vitrias da morte, importante ter em mente que crianas so comumente concebidas
como adultos em potencial, seres que se desenvolvem para adquirir agncia e praticar os
princpios modernos da liberdade e da razo. As crianas do Nordeste, pelo contrrio,
sofrem lento processo de genocdio, so condenadas a no ter futuro algum. Conforme
anuncia o ltimo pargrafo, esses pequenos tm a herana acumulada de sculos de
misria e ainda foram coroados com cinco anos de seca. Ou seja, tais crianas habitam
o lugar do passado esttico e miservel e no so capazes de alcanar o moderno
territrio do futuro.
O subdesenvolvimento dessas crianas chega a se situar no lado do no-humano.
L-se na reportagem que uma criana de 3 anos at agora s incorporou ao vocabulrio
dois sintomticos sinais das ameaas que percebe sua volta: medo e cai. Durante os
sculos XVIII e XIX, crianas selvagens, i.e., criadas longe da convivncia com outros
humanos e que portanto no falam, eram chamadas de corpos sem almas (Massini-
Cagliari, 2003), numa clara referncia fala como aquilo que anima o corpo racional. Se
considerarmos ento que na concepo moderna a fala o sopro que nos diferencia dos
no-humanos, um ser que no fala, por definio, no compartilha de traos humanos.
89
So estas as crianas do Nordeste: seres que no falam, crianas que no aprendem, que
no crescem, definham e morrem. Elas ocupam o pavoroso lugar da abjeo e do
inumano.
Dentro da lgica do inorgnico e do no humano, a reportagem termina fazendo
uma violenta associao entre o mais nobre dessas crianas, a roupa de sair, e a morte. A
revista exibe a imagem da Figura 11 para indexar essa pavorosa associao. Seres de
racionalidade duvidosa, essas crianas vestem suas melhores roupas, como se fossem
para servir de dama de honra num casamento para acompanhar o tpico cenrio da
paisagem nordestina, o minsculo caixo branco s vezes levado com uma s mo.
Figura 11 - Veja, 17/08/1983
Cenas de uma dor agenLlva
Por mais lancinantes e violentos que sejam os textos e as imagens que acabamos de
ler, trajetria nada animadora de milhes de nordestinos praticamente mortos,
proponho que no se pense em paralisis ou sujeio completa a essa violncia. A meu
ver, a idia de que a violncia est na base mesma da constituio das subjetividades no
90
autoriza a concluso de que somos, por assim dizer, paralisados por essa violncia
primeira, contra a qual nada mais h a fazer seno nos rendermos ao insulto em que
fomos constitudos. Defendo que a violncia discursiva na mdia hegemnica do Brasil,
se lida contra o pano de fundo da sobrevida e da lgica de iterabilidade, pode oferecer
possibilidades de que se vislumbrem aes ressignificadoras ou subversivas. Em outras
palavras, proponho que nesta seo pensemos na agncia do sujeito que sofre a violncia
da designao. H fortes indcios de que formas de agncia emergem justamente nessa
cena de vulnerabilidade violncia e, nos termos da presente reflexo, violncia da
linguagem. O argumento de Judith Butler, por exemplo, o de que o discurso do dio
fere; por outro lado, ao pressupor um sujeito a ser violentamente endereado, esse
discurso oferece uma possibilidade de existncia a esse sujeito, uma possibilidade de
visibilidade que acarreta um tipo de agncia.
Temos visto que a identidade nordestina, o espao vacilante entre a vida e a morte,
pode ser pensada como forma de crtica ao modelo vitalista segundo o qual a
modernidade concebida. A questo que se levanta diante de ns como pensar na
agncia fora do paradigma exclusor segundo o qual a modernidade foi instituda.
Contrariamente ontologia vitalista, a noo de agncia pode se distanciar da idia de
soberania ou de possibilidade de ao ilimitada (cf. Butler, 1997; Asad, 2003). Nos
termos do presente trabalho, agncia a capacidade de ao do sujeito que pode emergir
no horizonte das limitaes da linguagem que fere (Butler, 1997), no contexto da dor e do
sofrimento (Asad, 2003) e da sobrevivncia (Derrida, 1979[2004]).
Na mdia, os textos que violentamente constroem os nordestinos e as nordestinas,
encenando a sua dor e violncia constitutivas, participam, simultaneamente, da
construo de uma visibilidade visibilidade que pode permitir agncia. O conceito de
dor agentiva, isto , a noo de que a dor pode ser condio mesma para a agncia,
delineado por Talal Asad em algumas tradies religiosas e seculares. Na discusso do
autor, lemos que os primeiros cristos entendiam que a dor e o sofrimento eram algo a
que se pode dar valor. Assim como Cristo sofreu na cruz, ento o sofrimento de alguns
mrtires era orientado ativamente persecuo de um caminho semelhante ao de Cristo:
como a paixo de Cristo na cruz, a passividade dos mrtires era um ato de triunfo. Essa
abertura dor era precisamente parte da estrutura de sua agncia como cristos (Asad,
91
2003:85, nfase no original). O autor explica que o fato de esses cristos se sujeitarem
dor no era uma forma de agncia devido sua inteno ativa (qualquer que seja ela)
ou significncia simblica do sofrimento (um texto a ser lido). Nos termos de Asad,
trata-se de uma forma de agncia porque, como parte de uma tradio emergente, seu
sofrimento pblico fez diferena no apenas para eles mesmos (para suas prprias aes
potenciais) como membros de uma nova f mas tambm para o mundo em que viviam: tal
sofrimento requeria que a dor prpria e a dor do outro fossem abordadas de modo
diferente (p.87)
A crena secular, nos termos do autor, a de que a vida secular capaz, atravs
da razo, de superar e rejeitar a dor. Asad procura, contrariamente viso secular,
compreender como a agncia pode surgir da dor e em que medida a dor no seria
simplesmente uma causa da ao, mas tambm um tipo de ao (p.69).
A assuno moderna a de que, se algum est sofrendo, ento esse algum no
pode ser um agente. Afinal, o discurso moderno investe na idia de um ser humano
detentor de uma liberdade essencial, uma soberania natural. A partir dessas
premissas, Asad formula a pergunta do sujeito liberal: o que os seres humanos devem
fazer para alcanarem sua liberdade, empoderarem-se e escolherem o prazer? (p.71)
Essa concepo essencializada do sujeito-agente, segundo Asad, pressupe que a dor
exterior ao sujeito e que a sujeio a ela deve ser substituda pelo auto-empoderamento.
No entanto, a visibilidade dos nordestinos, tal como construda nos diversos
discursos que temos analisado, est a a mostrar que a dor e a violncia de viver essa
condio eminentemente social um modo de estar no mundo. A conceitualizao da
dor, nos termos de Wittgenstein, s faz sentido quando se adere a uma prtica cultural
(ver Martins, 2005). Wittgenstein nos ensina que a dor, a despeito de sua localizao
privada, vem a ser compreendida numa prtica pblica, por meio do que ele chama de
expresso. A criana tropea e, culturalmente, aprende a expressar sua dor por meio de
uma interjeio, ou de uma palavra como Droga!; na convivncia com os jogos de
linguagem da comunidade de que participa, a criana aprende a usar palavras para a dor
que internamente sente, de tal modo que a sensao interna estar inelutavelmente
vinculada sua expresso. Wittgenstein utiliza este exemplo para discutir a dimenso
pblica da dor: Uma criana se machuca e chora; ento adultos conversam com ela e lhe
92
ensinam exclamaes e, depois, sentenas. Eles ensinam criana um novo
comportamento da dor [pain behavior]. (244, nfase acrescida)
Asad segue o argumento wittgensteiniano e comenta que a dor no meramente
uma experincia privada mas uma relao pblica (p. 81). Viver a dor viver uma
relao; precisamos do outro a quem podemos externalizar a nossa dor, e assim atribuir
sentido a ela. A experincia da dor, nesse sentido, pode ser um relacionamento ativo e
prtico que habita o tempo (p.83).
A partir dessa viso da agentividade da dor e do sofrimento, creio ser possvel
enxergar a condio nordestina, tal como enunciada nas pginas da mdia brasileira, sob
outras lentes. Os nordestinos e as nordestinas so representados como portadores de uma
dor e um sofrimento permanentes, mas essa condio, no obstante, pode oferecer um
espao crtico de ao ressignificadora. Utilizando-me dos termos da teoria de Judith
Butler, poder-se-ia dizer que dor, sofrimento e morte, na condio nordestina, possuem
um excesso onde o sujeito pode subsistir.
Nos termos de Butler (1997), a linguagem violenta que nos constitui, insultando-
nos desde o princpio, tambm oferece possibilidades de agncia. As palavras que nos
ferem excedem sua prpria marca e seu tempo, e o excesso causado por sua violncia est
a a oferecer possibilidades de ressignificao. Diz a autora:
a linguagem constitui o sujeito em parte atravs da excluso
[foreclosure], um tipo de censura no oficial ou restrio lingstica
primria que constitui a possibilidade de agncia na fala. O tipo de
enunciao [speaking] que se assenta na borda do indizvel promete
expor as arestas vacilantes da legitimidade na fala. Como uma marca
adicional do limite soberania, esta viso sugere que agncia
derivada de limitaes na linguagem, e essa limitao no totalmente
negativa em suas implicaes (Butler, 1997:41).
Os atos de fala so constitudos ento numa temporalidade aberta (Butler,
1997:15), capaz de exceder a inteno violenta com que foram enunciados. Nesse
sentido, a representao do Nordeste, ao mesmo tempo em que se ancora nos signos da
fome, da morte e do passado, distanciando-o do ideal moderno do Sudeste, perde seu
controle de algum modo a cada vez que iterada. A fala est sempre de algum modo
fora do controle, anuncia Butler (ibid.). O poder de ruptura de toda citao de um ato de
93
fala e a suscetibilidade estrutural que esse ato de fala tem falha (Austin, 1975 [1962];
Felman, 2002 [1980]; Pinto, 2002; Silva, 2005) so marcas relevantes desse descontrole,
que permite a reapropriao subversiva ou ressignificao. Embora neste captulo eu no
tenha me detido especificamente na resposta que o sujeito que sofre violncia pode dar,
creio que insistir no esboo das formas discursivas da excluso do Nordeste um passo
para que se visualize uma poltica do performativo e uma crtica prpria excluso na
modernidade.
95
CAPTULO 3
SEMNTICA DA VIOLNCIA
Ele tinha uma palavra tambm. Amor, ele a chamava. Mas eu
estava acostumada a palavras havia muito tempo. Eu sabia
que aquela palavra era como as outras: apenas uma forma para
preencher uma falta.
Enquanto agonizo, William Faulkner
At agora, vimos que linguagem e violncia mantm uma relao imbricada e que
o conceito de violncia na linguagem, ou violncia discursiva, pe em evidncia a vida
corprea e psquica do sujeito, que atingida por atos de fala violentos. Vimos ainda que,
no campo maior da representao da mdia, esse tipo de violncia simblica assume
conotaes poltico-ideolgicas. No caso da representao do Nordeste, a violncia
discursiva por meio da qual as identidades nordestinas so reivindicadas revela a
construo de um territrio para a modernidade brasileira por meio da repudiao do
96
Nordeste, esse espao abjeto cuja pavorosa existncia no entanto requerida para que a
prpria inteligibilidade do Sudeste moderno seja demarcada.
Neste captulo, desenvolvo a idia de que a violncia das palavras, em sendo
lingstica, deve emergir na lngua por meio de certos mecanismos textuais e discursivos.
Analiso, em outras palavras, formas lingsticas violentas que subjugam o Outro. A
anlise textual-discursiva a seguir, acredito, pode acrescentar importantes inferncias
compreenso da dominao simblica (Bourdieu, 1991) que produz certas subjetividades
ao posicion-las no lugar indesejado da raa, regio ou gnero de que se quer afastar, ou
mesmo no repudiado no-lugar da abjeo.
Conforme anunciei no captulo 1, Albuquerque Jr. (2001), em sua abordagem
sobre a inveno do Nordeste, argumenta que superar a opresso discursiva que trata os
nordestinos e nordestinas como seres miserveis requer que se entenda como relaes de
poder e conhecimento geraram tais imagens e no outras. O autor acrescenta que tanto o
discriminado quanto o discriminador so produtos de efeitos de verdade, emersos de uma
luta e mostram os rastros dela (ibidem, grifo meu). Argumento aqui que os traos dessa
luta podem ser textualmente abordados. Tais vestgios textuais so parte da mais ampla
configurao textual-discursiva definida por Charles Briggs como comunicabilidade
(Briggs, 2005, 2007a, 2007b, 2007c).
8rasll (dlscurslvamenLe) dlvldldo
Os discursos que circularam na mdia durante a campanha presidencial brasileira
em 2006 demonstram uma complicada configurao textual da comunicabilidade da
violncia discursiva. Dedico-me, nesta seo, a analisar os modos comunicveis segundo
os quais a mdia em So Paulo basicamente, os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de
S. Paulo, alm do website Mdia Independente mapeou a distribuio geogrfica de
eleitores no Brasil em relao aceitao ou no de polticos corruptos. Busco
especificamente delinear a cartografia comunicvel de duas notcias em O Estado de S.
Paulo que tinham por objetivo discutir uma pesquisa de voto e em cuja cartografia a
violncia discursiva se mostra explcita. Comparo tal cartografia com o mapeamento que
emergiu como contra-argumento no website Mdia Independente. Descrevo ainda uma
97
terceira cartografia comunicvel, na Folha de S. Paulo, e demonstro que, apesar de mais
sutil, no se trata de uma representao menos violenta do que a de O Estado de S. Paulo.
Em 8 de agosto de 2006, o jornal O Estado de S. Paulo publicou duas notcias,
assinadas por Carlos Marchi, que discutem uma pesquisa conduzida pelo jornal
juntamente com o Ibope. A pesquisa articula os ndices raa, idade, regio (Sul, Sudeste,
Norte/Centro-Oeste e Nordeste; Interior e Capital) e escolaridade com a propenso de
voto em um poltico corrupto. A primeira notcia, intitulada Rigor com a corrupo na
poltica varia com a regio e condio social, oferece uma viso geral da distribuio de
eleitores com base na relao que esses marcadores de pertencimento propostos pelo
jornal tm com a aceitao de candidatos no-ticos. A segunda notcia, cujo ttulo
Dois brasis no julgamento tico dos partidos, baseia-se em dados da mesma pesquisa e
expande a anlise.
O jornal afirma que a discusso apia-se em dados da ltima pesquisa
Estado/Ibope, mas no apresenta nenhuma informao sobre mtodo ou amostragem. Os
resultados, no obstante, deixam entrever que houve respostas de diferentes regies do
pas, faixas etrias, de escolarizao e grupos raciais. A cartografia comunicvel de
ambas as notcias mapeia a tese de que o quanto mais sulista, branco, maduro e
escolarizado for o eleitor, menos ele ir tolerar candidatos corruptos (e aqui o masculino
genrico intencional). No incio do primeiro artigo, Carlos Marchi escreve: A
exigncia de tica na poltica hoje parece dividir o Brasil ao meio e variar de acordo com
a regio onde a pessoa vive ou sua condio econmica. Ou seja, a reportagem nos
convida a acreditar que h dois diferentes brasis (como o prprio ttulo informa): um
formado pelos eleitores mais pragmticos (Nordeste e Norte/Centro-Oeste) e outro,
pelos eleitores mais rigorosos na cobrana de procedimentos ticos (Sul e Sudeste).
Como Briggs (2007b:685-686) postula, a construo ideolgica de pesquisas de
opinio complicada pelo fato de conversaes entre dois indivduos s terem valor na
medida em que se transformam em representaes estatsticas. A construo discursiva
da dita diviso no Brasil fortalecida ento pelo uso de dados estatsticos de acordo com
uma formulao discursivo-ideolgica tal que a tese de que os nordestinos so tolerantes
com a corrupo adquire a aparncia de um fato natural. Segundo a reportagem, [n]o
Nordeste e no Norte/Centro-Oeste, apenas 83% dos eleitores asseguram que nunca
98
votariam num possvel corrupto; mas esse porcentual sobe para 87% no Sudeste e 92%
no Sul. A alegada diferena entre os dois brasis ancora-se principalmente no uso de
operadores argumentativos (Anscombre & Ducrot, 1994) tais como o advrbio apenas e
a conjuno adversativa mas, que no apenas articulam informao, mas tambm do
uma orientao argumentativa ao enunciado, [e] conduzem o interlocutor a uma direo
e no outra (Ducrot, 1980:15). Embora haja quatro grupos de regies no excerto em
questo, eles so tratados como um binrio: o contrastivo mas marca um pulo
argumentativo da, por assim dizer, fraca determinao de Norte para a forte tica do Sul.
Mas um marcador argumentativo cuja funo no meramente opor informao entre
p e q (p mas q). Ao contrrio, sua funo argumentativa consiste no jogo segundo o qual
o locutor diz p de tal forma que o interlocutor pensa em R, mas q aponta para no-R. Em
outras palavras, aquilo que o locutor havia anunciado virado de cabea para baixo a
escala argumentativa (Drucot, 1980) alterada.
Os pontos percentuais so gramaticalmente intensificados pela anteposio de
apenas para qualificar os 83% de eleitores que, de acordo com a pesquisa, no
permitiriam corrupo. Embora 4 pontos percentuais sejam estatisticamente
insignificantes, eles se tornam textualmente significativos, conduzindo o leitor, nos
termos de Ducrot, a uma direo, aquela da construo dos subalternos como desviantes.
E, medida que a reportagem progride, os marcadores textuais continuam desdobrando a
tese em questo:
A pesqulsa LsLado/lbope revelou que, enLre os elelLores do candldaLo Ceraldo Alckmln
(Su8), 93 declaram que >&4&0" 78.&'0&4 634 ,&6+0+&.8 ,8''3%.8 e "< ?@ &+40.#4
78.&', mas enLre os elelLores do candldaLo Lulz lnclo Lula da Sllva (1)8 AB@ +#0C&'0&4
+# 78.&' num corrupLo, enquanLo 11 aflrmam que voLarlam.
Ocorre a uma mudana na designao dos eleitores. Agora so os eleitores de
Lula e os eleitores de Alckmin. O pressuposto o de que os eleitores de Lula se
concentram majoritariamente no Nordeste, Norte e Centro-Oeste, ao passo que os de
Alckmin se situam mais ao Sul e Sudeste (conforme, por exemplo, a reportagem de Veja
sobre Gilmara Cerqueira, analisada no captulo 4). Mais uma vez, a insignificncia
estatstica superada pela significncia de estratgias textuais-discursivas. Note-se que,
99
no caso de Alckmin, 93% de seus eleitores jamais votariam em corrupto, mas os 80% de
Lula deixariam de votar num corrupto. As expresses jamais votou e deixou de votar
envolvem diferentes pressupostos (Ducrot, 1972), a primeira sublinhando a idia de que o
simples pensamento de votar em um corrupto a priori evitada, e a segunda sugerindo
que inicialmente poder-se-ia considerar tal voto, mas tal atitude poderia ser dissuadida.
Dito de outro modo, de acordo com a violenta comunicabilidade de O Estado de S. Paulo,
sequer passou pela cabea dos eleitores do Sudeste e do Sul votarem em candidato
corrupto, mas os eleitores do Nordeste, Norte e Centro-Oeste podem no votar mais em
corrupto. Na designao dos eleitores de Alckmin que admitem votar em corrupto, o
jornalista utiliza o advrbio s (s 4%), o que marca uma diferena textual (mas no
estatisticamente) significativa com os 11% dos eleitores de Lula (os mais pragmticos)
que votariam em candidato corrupto. A concluso do pargrafo em anlise traz uma
personificao dos dados, o que refora a poltica de verdade da reportagem: Os dados
mostram que seu eleitor [de Lula] tende a ser mais tolerante com a corrupo na poltica.
Ambas as notcias somam racismo ao preconceito contra os nordestinos.
Observemos o pargrafo abaixo:
Cs que se auLodeclaram )'&6,8" ":8 4&0" 04%/&,D7#0" ,84 & E.0,&: 88 no voLarlam
num corrupLo, os que se auLodeclaram %&'+8" ,8)'&4 4#68" e 83 no voLarlam em
lndlclados por corrupo, 4&" os que se auLodeclaram %'#.8" ":8 8" 4#68" '(=0+8"
,84 & E.0,&F "< 82 negam o voLo a corrupLos.
As diferenas percentuais so pequenas, mas o tratamento dado aos trs grupos
raciais revela diferenas abissais. Brancos, conforme a notcia, so mais implacveis
com a tica (88%), pardos cobram menos (85%), mas pretos so menos rgidos com
a tica e s 82% no votam em corruptos. Um desafio a essa comunicabilidade de raa
seria: 6 pontos percentuais autorizam a afirmao de que negros so mais tolerantes com
a corrupo?
Essas duas notcias so uma forte evidncia da posio do jornal frente s
minorias. Grupos como negros, nordestinos e pessoas pouco escolarizadas so atacados
exatamente em seu ponto mais vulnervel, sua condio. Eis a violncia na linguagem,
uma instanciao da violncia simblica, operando de modo sutil, porm de uma forma
100
no menos danosa do que a violncia fsica. A violncia simblica, nos ensina Geovani
Freitas, to ou mais cruel quanto a violncia fsica. Explica o autor:
Concomitantemente s prticas de violncia fsica que fazem
parte da dinmica cotidiana atual, opera-se uma outra forma de
violncia que, embora no se revele na sua forma imediata, perceptvel
conscincia e sensibilidade das pessoas, to ou mais cruel quanto a
violncia fsica. Chamamos de violncia simblica ou violncia doce os
modos de sentir e de pensar que reproduzem e legitimam, na prtica,
valores classificatrios sobre o outro sem que sejam percebidos como
tais. Neste sentido, h formas de dominao cristalizadas que se
reproduzem quase que inconscientemente na sociedade, assumindo
posio de verdades naturais que se impem de forma irrefletida.
Exemplo disto pode ser referido em relao aos lugares no mundo
social-histrico do masculino em relao ao feminino, do adulto em
relao criana, do saber erudito em relao ao saber popular, entre
outras formas de oposio cognitivas presentes no saber-fazer de nossas
prticas sociais
15
.
A escrita jornalstica, por meio dos recursos textuais-discursivos que analiso neste
captulo, , sem sombra de dvida, um desses modos de sentir e pensar de que fala Freitas.
Utilizando os termos do pensamento do autor, podemos afirmar que o abuso dos dados de
uma pesquisa (de rigor duvidoso) legitima valores classificatrios sobre os nordestinos,
os negros e os pobres que, para grande parte dos leitores do jornal, certamente passam
despercebidos como tais, mas somam-se a um conjunto de preconceitos e julgamentos de
valor segundo os quais minorias so inferiores, burras, condescendentes, ou, nos termos
de O Estado de S. Paulo, mais pragmticas e mais tolerantes com a corrupo. Esses
valores vm disfarados de enunciados constativos (Os dados mostram que...), que no
so seno performativos mascarados (Austin, 1975 [1962]).
A violenta comunicabilidade de O Estado de S. Paulo incitou uma resposta do
jornalista Franklin Martins. Ele publicou, uma semana depois, no portal Mdia
Independente um artigo intitulado Preconceito eleitoral, em que critica os artigos de O
Estado de S. Paulo. Diz Martins,
na realldade, as varlaes so mlnlmas, esLo denLro da margem de erro da pesqulsa e
no lndlcam absoluLamenLe nada. Alls, se alguma colsa pode se depreender desses
15
Freitas, Geovani Fac (2006) Viver pela metade. In: O Povo, 07/10/2006. Acesso em 10/12/2009 de:
http://opovo.uol.com.br/opovo/especiais/pensaromundodeamanha7/636287.html.
101
numeros e que, na valorao da quesLo eLlca, h um padro razoavelmenLe
homogneo nas dlferenLes regles do als - e no o conLrrlo.
Nos termos de Franklin Martins, a pesquisa, por no provar diferenas no padro
do eleitorado, deveria ser arquivada. No obstante, virou matria. Assim ironiza o autor:
Mals um pouco e descobrlremos que os pobres, os nordesLlnos e os negros so os
responsvels pela corrupo no pals, que os rlcos no Lm nada a ver com lsso, que em
So aulo nunca se pagou nem se recebeu proplna e que os brancos sempre repellram
com veemncla a ldela de pagar ou de levar um "por fora".
Martins rejeita a construo comunicvel dos nordestinos e de outras
subjetividades subalternas como corruptos, o que um exemplo de que a
comunicabilidade tambm um processo contestvel (Briggs, 2007c:556). O jornalista,
no excerto acima, usa parodicamente os mesmos termos que haviam sido usados nos
textos de O Estado de S. Paulo para ferir os nordestinos. Como temos discutido ao longo
desta tese, a linguagem injuriosa que constitui o sujeito violentamente extrai sua fora da
iterabilidade, mas a disjuno entre o momento do enunciado e as condies passadas que
esto na base da enunciao violenta permite uma resposta crtica (Butler, 1997). Nas
palavras da autora, o intervalo entre instncias de enunciado no apenas torna a
repetio e a ressignificao do enunciado possveis, mas demonstra como as palavras
podem, atravs do tempo, se deslocar de seu poder de ferir e se recontextualizar de modos
mais afirmativos (ibidem:15).
De modo a mapear a cartografia da Folha de S. Paulo no que diz respeito dita
diviso no Brasil, pesquisei por alguma reportagem com teor semelhante. A Folha de S.
Paulo traz pesquisas de opinio do Datafolha que traam o perfil do eleitorado segundo
sua diviso nas regies do Brasil, sua cor da pele e escolaridade. Na corrida para o
segundo turno, o jornal chega a afirmar que quanto mais branco, mais rico e mais
escolarizado, mais o eleitor pende para o lado do candidato tucano. (Folha de S. Paulo,
8/10/2006), mas a comunicabilidade encenada de um modo diferente da de O Estado de
S. Paulo. Em outras palavras, no h, na Folha, dado de pesquisa que equacione origem
tnica ou geogrfica com rigor tico. No entanto, a falta de tal correlao explcita no
significa que a Folha de S. Paulo encena uma cartografia politicamente favorvel aos
102
nordestinos. O editorial publicado um dia depois do primeiro turno das eleies
presidenciais insidiosamente demonstra a posio do jornal quanto diviso no Brasil.
Eis um excerto:
C mapa da voLao desLe domlngo radlcallza a sensao de um pals dlvldldo. ulvldldo
em classes de renda e escolarldade, dlvldldo reglonalmenLe, dlvldldo pollLlcamenLe. L
vermelha (cor do 1) & 4&6,-& que val de Mlnas ao Amazonas, passando pelo nordesLe.
L azul (dos Lucanos) 8 #"%#,.'8 que val do 8lo Crande do Sul, passa por So aulo e
abrange o CenLro-CesLe. ua mesma manelra, o elelLorado de menor renda apolou
francamenLe a reelelo do presldenLe da 8epubllca, [ as faLlas com malor rendlmenLo
e escolarldade apolaram de modo maclo o ex-governador paullsLa. (!"#$% '( )* +%,#",
LdlLorlal, 02/10/2006)
Briggs (2005) nos chama ateno para como mapas e estatsticas podem ser
utilizados como poderosos recursos para reificar categorias sociais, dando-lhes a
aparncia de fatos naturais. Nos termos do autor, tais recursos figuram como discurso
descontextualizado, desinteressado e abstrato, encenando, portanto, o fetichismo
iluminista por categorias objetivas. A cartografia comunicativa das estatsticas
geralmente apaga a complexa des/recontextualizao que lhes d forma e as histrias de
como elas penetraram nos locais institucionais por que passaram (Briggs, 2005:278). As
estatsticas imaginadas em O Estado de S. Paulo e o mapa imaginado na Folha de S.
Paulo so enredados no processo complexo de naturalizar os nordestinos como aqueles
que sempre foram desviantes e tolerantes com a corrupo em resumo, os maus
smbolos da democracia.
Quero insistir que a comunicabilidade da violncia discursiva na mdia brasileira
se estabelece textualmente. Nesse sentido, importante observar os usos da repetio
lexical, metonmia e metfora no excerto acima. O editorial repete a palavra dividido
quatro vezes, de modo a reforar a tese de que existe um fosso entre aqueles que
economicamente do suporte democracia e aqueles que so suportados por essa mesma
democracia. A relao entre identidade e repetio, como Butler (1999) nos lembra, no
da ordem da casualidade. Ela afirma que a aparncia de uma identidade estvel e
circunscrita deriva da repetio estilizada de atos ao longo do tempo (ibidem:141). A
aparente substncia da identidade dos nordestinos, representada nos termos acima, no
existe fora da repetio temporal de formas textuais e discursivas.
103
A violncia sutil da Folha de S. Paulo intensificada ainda pelo uso de uma
metonmia que correlaciona as cores de partidos polticos com as ditas divises no Brasil,
divises que so em seguida representadas pelas metforas da mancha e do espectro.
Note-se que as metforas so bastante diferentes uma mancha relaciona-se a algo
indesejado, maante, ou mesmo sujo; a imagem do espectro licencia aspectos como
diversidade, continuidade e luz.
Se observarmos como os dois enunciados que correlacionam a diviso do Brasil
com as cores foram construdos em termos de tematizao (Brown & Yule, 1983),
teremos uma pista de que a violenta cartografia comunicvel de A Folha de S. Paulo
funciona de modo diverso da de O Estado de S. Paulo. A idia que defendo aqui que a
primeira mais insidiosa (mas no menos violenta) do que a segunda. Ambos os
enunciados antecipam o predicado (a cor), transformando-o, assim, no tema ou tpico
aquilo que se enfoca. Como observam Brown e Yule, a tematizao no deveria ser vista
meramente como processo da sentena mas principalmente como processo do discurso.
O que o falante ou escritor coloca primeiro ir influenciar a interpretao de tudo o que
vir seguir. Portanto um ttulo ir influenciar a interpretao do texto que o acompanha.
() [A]ssumimos que toda sentena faz parte de uma instruo cumulativa e processual
que nos diz como construir uma representao coerente (ibidem:133-134, nfase
acrescida). Na medida em que a cor de cada diviso do Brasil tematizada, ela influencia
a percepo da mancha e do espectro, que aparecem como informao nova (rema).
Nesse sentido, o texto nos leva a ver os novos itens como continuao do foco. Trata-se
de uma estratgia textual dissimuladora que interpela o leitor a tomar as metforas como
fatos em vez de construtos. Embora o conceito tradicional de coerncia textual (Halliday
& Hasan, 1976; Koch & Travaglia, 1990) no enfatize a construo ideolgica e
comunicvel de identidades, podemos aproximar aqui os comentrios de Brown & Yule
sobre a organizao tpica dos textos segundo os quais o texto oferece instruo
cumulativa que nos diz como construir uma representao coerente noo de Briggs
(2005:332) de que o discurso constri sua prpria emergncia, circulao e recepo de
modo estratgico e seletivo. Em outras palavras, o princpio pragmtico da coerncia,
que dependente de formas textuais que instruem o leitor a tirar certas concluses e no
outras, parte do complexo processo de comunicabilidade. Portanto, o jornal, ao mesmo
104
tempo em que convida os leitores a construir uma representao coerente do discurso
(Brown & Yule, 1983:134), tambm solicita que esses mesmos leitores se interpelem
vis--vis categorias, subjetividades e relaes discursivas aparentemente pressupostas
por processos comunicativos (Briggs, 2005:333).
ConsLruo ldeolglca da ldenLldade e da dlferena
No podemos perder de vista que essa construo ideolgica do discurso em cujos
termos os nordestinos e as nordestinas (e outras minorias, como negros e pessoas de
baixo letramento) so desviantes est vinculada a um processo social de produo de
identidade e diferena. As duas, identidade e diferena, como bem pontua Tomaz Tadeu
da Silva (2000), so mutuamente determinadas se reivindico a identidade de
brasileiro, por exemplo, estou, numa operao lgico-lingstica, excluindo a
possibilidade de ser, por exemplo, argentino ou jamaicano. Isto , reivindico uma
identidade contra o pano de fundo da diferena. Colocar a identidade assim em primeiro
lugar, no entanto, pode nos levar a crer que ela que inicia a operao de identificao, o
que, embora distante de uma viso essencialista da identidade, no chega a ser uma viso
crtica do papel que desempenha a diferena e a instncia do Outro na produo da
identidade. A proposta radical do autor a de que se veja a diferena como o processo
mesmo pelo qual tanto a identidade como a diferena (compreendida aqui como resultado)
so produzidas (Silva, 2000:76). Assim, [n]a origem estaria a diferena
compreendida, agora, como ato ou processo de diferenciao (id.ibid.).
Articularei, ento, a anlise textual que tenho empreendido das formas que
subjugam e ferem os nordestinos e as nordestinas com a questo da produo da
diferena. As inferncias do ps-estruturalismo sero de grande valia, mas creio que
importante consider-las contra o pano de fundo da visada da Sociolingstica e da
Antropologia Lingstica, campos tericos para os quais diferenas no uso da lngua so
rapidamente, e sistematicamente, traduzidas em desigualdades entre falantes
(Blommaert, 2005:71, nfase no original). O uso da lngua est inelutavelmente atrelado a
ordens de indexicalidade (Silverstein, 2003) e economia lingstica (Bourdieu, 1991),
105
conceitos que pem em evidncia o carter desigual da prpria situacionalidade e
diversidade lingstica.
Nos termos do ps-estruturalismo, a identidade e a diferena no so exteriores
nem anteriores aos sistemas de significao. Elas so gestadas no interior da linguagem
(Pinto, 2002; Rajagopalan, 1998). Mas conforme comenta Silva (2000), isso no significa
que elas sejam determinadas, de uma vez por todas, por esses sistemas de significao.
Ocorre que a linguagem (...) ela prpria uma estrutura instvel (p.78). Essa
instabilidade pode ser vislumbrada pelo eterno adiamento da presena nos processos de
significao. A metafsica da presena justamente a iluso de que o signo uma
presena, de que ele traz a coisa referida at ns. Submetido da forma que a cadeias de
diferena, o signo s consegue significar por sua diffrance isto , porque ele difere e
diferencia(-se) (Derrida, 1997[1967]).
Esse pensamento da diffrance est na base mesma da desconstruo da
metafsica empreendida por Heidegger, Nietzsche e Freud autores de quem Derrida
parte para formular essa economia de significao presente na forma sob rasura
16
que
esses autores tratam do Ser, do conhecimento e da psique.
Em relao leitura a que Derrida submete o trabalho de Freud, Spivak
(1997[1974]) comenta que Derrida enxerga na formulao do inconsciente uma
alteridade radical (isto , uma inelutvel diferena). Noes como percepo e
temporalidade assumem em Freud funes de uma escrita cujos traos no aparato
psquico impedem qualquer possibilidade de percepo imediata (Spivak,
1997[1974]:xliii). E acrescenta:
Relacionando esse mecanismo de adiamento economia de opostos,
Derrida escreve: Seguindo um esquema que continuamente guia o
pensamento de Freud, o movimento do trao descrito como um
esforo da vida de se proteger pelo diferimento de um perigoso
investimento, pela constituio de uma reserva (Vorrat). E todas as
oposies conceituais que entalham o pensamento freudiano relacionam
cada conceito ao outro como movimentos de um desvio, dentro de uma
16
Sob rasura (sous rature) uma marca de uma escrita que, apesar de sua inexatido, se faz necessria.
Comenta Spivak (1997[1974]:xiv) que, nos termos de Derrida, colocar sob rasura escrever uma palavra,
risc-la e exibir tanto a palavra como seu apagamento. (Uma vez que a palavra no acurada, ela riscada.
Uma vez que necessria, permanece legvel).
106
economia de diffrance. Um apenas o outro postergado, um
diferenciando-se do outro (id.ibid.).
O mecanismo da diferena, sob a tica ps-estruturalista, est, pois, na base de
qualquer marcao identitria e tomarei essa premissa para entender aquelas
identidades que se demarcam na violncia. Trata-se precisamente do modo como o
Nordeste comparece na mdia hegemnica do Brasil: uma presena que causa
estranhamento (uma diferena horrenda), que para sempre adiada. O Nordeste o Outro
diferido de um pas que se constitui pela prpria lgica do diferimento: Ordem e
progresso, sendo o progresso um mote positivista que comparece no famoso dito O
Brasil o pas do futuro. Se a identidade do Brasil segue essa lgica diferencial, para
sempre prorrogada, o Nordeste ocupa a um duplo adiamento. Em sendo diferente e
abjeto, ele duplamente adiado e submetido ao trao da diferena pavorosa. Uma das
posies de Derrida quanto ao funcionamento da diffrance a de que a escrita do termo
com a provoca o estranhamento e o adiamento que lhe so prprios. Marca-se na
prpria escrita que a presena nunca totalmente possvel temos dela apenas um trao.
O a serve para nos lembrar que, mesmo dentro da estrutura grfica, a palavra
perfeitamente grafada para sempre ausente, constituda por uma srie infinita de erros
de grafia. (Spivak, 1997[1974]:xliii)
Interessa-me aqui articular esse princpio geral da diferena na significao e na
produo da identidade e da prpria diferena com a questo da desigualdade no acesso
aos recursos lingsticos (e sociais). A meu ver, o processo de construo do Nordeste
como o Outro (pr-moderno, arcaico, abjeto) do Brasil segue uma valorao hierrquica.
Alm disso, esse processo tem uma forte feio performativa. Tomemos o modo como a
mdia hegemnica tem denominado os programas sociais do governo Lula. Jornais como
a Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo e revistas como Veja vm
designando a poltica de ataque pobreza apoiada em estratgias como o Bolsa Famlia
como programa de transferncia de renda
17
. Em ltima instncia, toda a valorao
17
As "vitrines" tucanas no Pas resistem implantao de projetos de transferncia direta de renda nos
moldes do Bolsa-Famlia. A um ano da eleio de 2010, Estados e capitais governados pelo PSDB
turbinam projetos sociais, mas fogem do modelo que prev repasse de dinheiro populao de baixa
renda. (O Estado de S. Paulo, 22/11/2009) Os ltimos anos de crescimento econmico e os programas de
transferncia de renda garantiram uma mobilidade social ascendente que no se via na sociedade brasileira
107
negativa dada ao programa marca um descontentamento com a reduo da desigualdade
almejada pelo governo. Atacar o programa pode significar a manuteno de
desigualdades histricas que, se no combatidas, correm o risco de ser revertidas com
uma poltica social direcionada reduo da pobreza. Veja-se a notcia a seguir,
publicada na Folha de S. Paulo, que equaciona o programa Bolsa Famlia com nova
modalidade de cabresto eleitoral (Figura 12).
Figura 12 Folha de S. Paulo, 13/10/2008
A cartografia desta notcia mapeia o programa Bolsa Famlia como nova
modalidade de cabresto eleitoral, uma construo ideolgica que se d sobre a imagem
j sedimentada historicamente dos votos de cabresto do Nordeste dos coronis. O
programa mapeado ainda como programa de transferncia de renda, designao que
explicita a posio ideolgica do jornal frente ao programa do governo. Esses dois modos
de designar marcam uma identidade moderna e democrtica para So Paulo
contrariamente corrupo pr-moderna, pressuposta pelo voto de cabresto. E, mais
importante: performativamente, utilizam-se de argumentos modernos para deslegitimar o
programa e, assim, produzir desigualdade.
h quase trs dcadas, com 13,8 milhes de pessoas passando para faixas sociais mais altas. (O Globo,
22/09/2008)
108
H uma posio iluminista norteando o texto da notcia. Isso funciona como
marca de diferena entre a Folha de S. Paulo e o Ministrio do Desenvolvimento Social,
que teria tido uma ao nebulosa, no-iluminada diante da denncia do jornal.
Enquanto a reportagem revelou que candidatos a prefeito e a vereador de municpios do
nordeste utilizaram [...] o programa de transferncia de renda [para ganhar voto], o
ministrio decidiu impedir o acesso do relatrio imprensa (grifos meus). Conforme
discutirei a seguir, a recepo fala do outro mais especificamente, a
recontextualizao da fala da secretria de Renda da Cidadania, Rosani Cunha, em forma
de citao segue uma atitude valorativa. Nos termos iluministas da Folha, a secretria
estaria impedindo que o esclarecimento se tornasse pblico. Diz o jornal: Ela disse que
ir repassar o documento somente aos rgos de controle. Alm disso, a citao da fala
de Rosani Cunha se recontextualiza para provar que a secretria (e, numa sindoque, o
Ministrio e o Governo Lula) no iluminada pela lei e portanto no a conhece:
Questionada se a divulgao desse relatrio reportagem configuraria um
descumprimento da legislao, ela disse: No sei te dizer.
Conforme discutimos na seo anterior, as estratgias textuais-discursivas da
Folha de S. Paulo so mais insidiosas, mas no menos violentas do que a de outras
instituies da mdia, que, muitas vezes, so bem explcitas em sua forma de se
diferenciar, hieraquizar e ferir o outro. No exemplo a seguir, parte de uma reportagem
que ser analisada detidamente no captulo seguinte, Veja diferencia os seus leitores dos
outros brasileiros atravs de uma designao bastante violenta:
Serrano do Maranho e o munlclplo nordesLlno com o malor porcenLual da populao
reglsLrado no 8olsa lamllla, o programa que ,%#)-%./% ,%(0'%-* ,*# .-"#%1'%-*# 2/'
)-"."10"& ' 3"4"& %&3*#)*# " 55 &%106'# ,' */)-*# .-"#%1'%-*#. (-(B%, 16/08/2006)
Perceba-se que a diferena a hierarquicamente marcada entre os modernos,
habitantes de um Brasil marcado pelo progresso e pela democracia (os brasileiros que
trabalham e pagam impostos) e os outros brasileiros. O sintagma que nomeia os
brasileiros do Sudeste bem mais longo e definido do que aquele que designa os
brasileiros do Nordeste. Fala-se pouco dos nordestinos porque eles so, afinal, abjetos,
no-sujeitos, inferiores.
109
ulferena e deslgualdade
Como anunciei na seo anterior, entendo que o trabalho de anlise ideolgico-
lingstica desenvolvido no interior da Sociolingstica e da Antropologia Lingstica
ser de grande valia para compreender o tratamento desigual dado ao outro nas prticas
de uso da lngua. Diz Blommaert (2005:69) que cada diferena na lngua pode ser
transformada em diferena em valor social diferena e desigualdade so dois lados de
uma moeda, algo que freqentemente desconsiderado ou minimizado no trabalho de
anlise. O autor argumenta ainda que a desigualdade construda no interior da prtica
lingstica vincula-se ao fato de que a cada recurso lingstico ou social atribudo um
valor (no sentido poltico-econmico). A atitude responsivo-valorativa central prtica
lingstica, como bem aponta Bakhtin (1986). Diz o autor:
O todo do enunciado no uma unidade da lngua (nem uma unidade
do fluxo da fala ou da cadeia da fala), mas uma unidade da
comunicao lingstica que no tem uma mera definio formal, mas
significado contextual (ou seja, significado integrado que se relaciona
ao valor verdade, beleza e assim por diante e que requer uma
compreenso responsiva, alm de avaliao). (Bakhtin, 1986:125)
A compreenso responsivo-valorativa vincula-se, por sua vez, a ordens de
indexicalidade
18
. O carter indexical da prtica lingstica isto , sua relao com
contextos de uso e com falantes de uma determinada classe, gnero, profisso,
sexualidade etc. no igualmente avaliado na sociedade. Na era da globalizao,
podemos ver o funcionamento dessas ordens de indexicalidade nos fluxos de lnguas,
dialetos e modos de falar. Tome-se, por exemplo, o caso de um falante brasileiro, de
classe mdia alta, que aprende ingls em um dos inmeros cursos de lnguas a que tem
acesso uma certa frao da populao. A proficincia nessa lngua, no contexto de uma
cidade brasileira digamos, So Paulo associa-se a uma ordem indexical especfica (ela
indicia, por exemplo, pertencimento a uma certa classe social e o acesso a certos bens
simblico-materiais). A vinculao dessa forma de falar a uma ordem social no ser a
mesma caso o falante se reposicione em outra ordem indexical. Por exemplo, se esse
mesmo falante viajar para uma cidade como Boston, o seu uso de ingls passar a se
18
A noo de ordem de indexicalidade, nos termos de Silverstein (2003), aprofundada no captulo 4.
110
vincular a uma outra ordem indexical: no s o seu uso de ingls, mas tambm sua
identidade sero submetidos a outros ndices avaliativos em termos de raa,
pertencimento geogrfico e domnio dos recursos lingsticos.
Os excertos a seguir so respostas de leitores de O Estado de S. Paulo srie de
reportagens Pas divido, que discutimos anteriormente. Nessas duas cartas pode-se
perceber o trabalho de produo de identidade/diferena empreendido pelos autores, um
processo que no se d sem uma forte indexicalidade correlacionando os eleitores de Lula
a escndalos de corrupo:
als dlvldldo
! que o als flcou claramenLe dlvldldo enLre Lula e Alckmln, cabe uma pergunLa: ser
que a parLe que voLou em peso no Lula acelLarla ser governada por ele sem conLar com
os lmposLos arrecadados da parLe que voLou em peso no Alckmln?
CL8ALuC ALALClC CALC, ggalo10@terra.com.br
Cuarulhos
or que, em vez de gasLarmos mals dlnhelro com campanhas presldenclals para o
segundo Lurno (rdlo, 1v, calxa 2, compra de dossls, eLc.), no dlvldlmos os
presldenLes? ! que o norLe e o nordesLe querem Lulla e sua gangue, [unLamenLe com
bolsa-esmola e mensalo, que flquem com ele. ! as 8egles Sul, SudesLe e CenLro-
CesLe flcam com Ceraldo Alckmln. Cue Lal?
8C8L81C MA8lC l. uCS SAn1CS llLPC, rmfsanto@uol.com.br
lguape
(@ C.3%'" '( )D" +%,#", Lspao AberLo, CarLas, 3/10/2006)
Esses excertos devem ser entendidos no contexto da iterabilidade de um tema
comum, aquele que indexa o Nordeste no contexto da pr-modernidade e da morte e o
Sudeste no terreno do progresso e da vitalidade. Perceba-se, na segunda carta, que a
construo da identidade e da diferena ancora-se no apenas em significados indiciais,
mas tambm em significados icnicos. Norte e Nordeste querem Lulla e sua gangue
traz uma forma icnica que associa a escrita do nome de Lula ao de Collor o que
correlaciona, por sua vez, Lula e corrupo. A expresso bolsa-esmola iconicamente se
utiliza de uma semelhana fnica entre esmola e escola para iterar que o Bolsa
Famlia transferncia de renda do pujante Sudeste para o miservel Nordeste.
Tais cartas so tambm um bom ndice impresso da responsividade forma como
o Nordeste tratado na mdia. As reportagens que temos analisado, ao se utilizarem de
111
citaes, estatsticas, mudanas de escala dentre outros recursos textuais-discursivos
constroem uma poltica de voz e verdade que aceita como tal por aqueles que se
identificam com esse projeto poltico e ideolgico. No percamos de vista que estamos
tratando, em outras palavras, de violncia simblica (Bourdieu, 1991) embora no seja
percebida como tal, ela to ou mais perniciosa do que a violncia que nos atinge nas
ruas. A violncia simblica, alm de ser insidiosa, , literalmente, aquela que se exerce
com o consentimento daquele que dominado (Bourdieu, 1991:50-51)
19
.
Vejamos essa outra faceta do carter responsivo da violncia na linguagem isto
, quando quem interpreta e consente com a violncia aquele a quem a violncia se
direciona em termos de um dado etnogrfico. O texto desta tese tem viajado comigo ao
redor do Brasil. Sempre comento o andamento do texto e suas reelaboraes com colegas
e com alunos em cursos que eventualmente ministro em algumas cidades do pas. Em
novembro de 2009, viajei a Macap, cidade que tem um grande influxo de nordestinos.
Com meus alunos, todos eles professores de lngua portuguesa em escolas de ensino
fundamental e mdio matriculados em um curso de Especializao em Lngua Portuguesa,
discuti a forma como Veja representa o Nordeste. Mostrei-lhes excertos de reportagens,
capas de revista, discorri longamente sobre modos e violncias do dizer. Uma aluna, ela
mesma procedente do Piau, interrompeu-me a certa altura e disse-me que no
concordava com minha anlise. Segundo ela, em suas andanas pelo Piau, possvel
comprovar que l se passa fome, que a terra no serto seca e que as crianas de fato no
vicejam. Veja, segundo ela, estaria to-somente representando no sentido de
espelhamento uma realidade existente. Veja no est mentindo, professor, ou voc
acha que essas estatsticas foram inventadas?, retoricamente arrematou ela. Inicialmente,
fiquei ferido com aquele comentrio, estarrecido diante do que eu acabara de ouvir.
No momento, contive-me ao desejo de explorar a violncia simblica que estava
literalmente estampada no dizer da aluna. Tinha diante de mim o prprio corpo do
dominado consentindo com a violncia das palavras. A aluna estava concordando com
Veja, aceitando observar o mundo a partir da perspectiva da revista estranhamente, uma
perspectiva contra a sua prpria condio de nordestina. O argumento que utilizei para
refutar o comentrio da aluna foi: tudo bem, pode ser que seja verdade que as pessoas
19
Ver captulo 4 para uma expresso mais elaborada desse conceito.
112
continuem morrendo por causa da seca, que a misria e a fome sejam uma realidade na
vida de milhares de pessoas no Nordeste. Respirei um pouco e rapidamente acessei
alguns dados de captulos deste trabalho. Continuei ento minha rplica: esses fatos, no
entanto, no autorizam que Veja chame 18 de milhes de nordestinos de pessoas
praticamente mortas, ou que designe crianas nordestinas como membros de uma futura
sub-raa, muito menos que se utilize de um tom genocida para falar das estratgias de
sobrevivncia de muitos nordestinos e nordestinas.
O mal-estar se instaurou na sala. A aluna no esboou nenhuma trplica. Talvez o
tom de minhas palavras tenha sido agressivo. Talvez minha fala tenha tornado mais
explcito o modo como Veja representa certo estado de coisas. Talvez minha posio de
poder naquela cena interativa tenha ajudado a configurar uma situao de silncio e mal-
estar. De todo modo, o silncio da aluna, francamente, no significava concordncia.
O fato de uma nordestina, naquele evento, entender que a representao de Veja
o que realmente acontece no Nordeste vincula-se a uma das questes centrais do modo
de operar do tipo de violncia que estou tratando neste trabalho. Nosso conhecimento
sobre o Nordeste e sobre qualquer outro signo, independente de conhec-lo fisicamente
ou no, apenas possvel porque houve uma mediao semitica. A aluna vinha do
Nordeste e atestou que visitara muitas outras vezes a regio. Sua viso sobre aquele lugar,
no entanto, seguiu um princpio interpretativo baseado na mediao que Veja estava
oferecendo. Em outras palavras, a aluna estava aceitando o lugar projetado por Veja, um
territrio que iconiza fotografias de misria e indicia experincias de fome e morte.
Ensina-nos Peirce que s temos acesso a um objeto atravs da mediao de um signo.
No temos acesso direto coisa. Vejamos a definio que Augusto Ponzio nos oferece
para o que seja signo nos termos de Peirce:
De acordo com Peirce, um signo algo que significa outra coisa, em
algum respeito. Ele cria na mente do intrprete um signo equivalente, ou
talvez um signo mais desenvolvido, isto , um interpretante (...). O fato
de o signo significar algo em algum respeito quer dizer que ele no se
refere ao objeto inteiramente (objeto dinmico), mas apenas a parte dele
(objeto imediato). Alm disso, um signo subsiste para Peirce de acordo
com a categoria de terceiridade, isto , ele pressupe uma relao
tridica entre si mesmo, o objeto e um pensamento interpretante, que
tambm um signo. E dado que ele faz mediao entre o signo
113
interpretante e o objeto, o signo sempre desempenha o papel de uma
terceira parte (Ponzio, 2006:596).
Perceba-se nesta definio o adiamento da presena: o signo significa apenas
parte de um objeto; o signo, para chegar at o objeto, depende de um terceiro signo, um
interpretante; por mediar a relao do objeto com essa terceira parte (o interpretante), o
signo tambm, ele mesmo, uma terceira parte, uma presena diferida. O signo promete
uma presena que ser para sempre mediada e, portanto, adiada como pura presena. A
aluna, ao dizer que vira com seus prprios olhos o que Veja disse, estava substituindo
esse diferimento permanente da presena por um outro signo. Dito de outro modo, ela
aderia comunicabilidade de Veja e, assim, aceitava fixar-se no territrio da morte e do
passado. Em se tratando de uma situao de dominao simblica, tinha-se o dominado
consentindo, em seu habitus
20
, com a violncia investida contra si.
Munidos dessa importante inferncia isto , de que estamos tratando de uma
violncia discursiva e, portanto, mediada , analisemos como a mdia cobriu o polmico
proferimento de Jos Serra, durante a campanha para governador de 2006, sobre as
causas do insucesso de alunos do Estado de So Paulo em exame nacional de educao
bsica.
C caso Serra ?(2.,. nL
No dia 16 de agosto de 2006, Jos Serra, em entrevista SPTV, rede afiliada da
TV Globo no interior de So Paulo e sul de Minas, relacionou o baixo rendimento dos
estudantes de So Paulo no Sistema Nacional de Avaliao Bsica (Saeb) s intensas
migraes para o Estado. Eis o destaque dado a essa fala no jornal Folha de S. Paulo, na
sesso Frases de 18 de agosto de 2006:
20
Habitus um conceito que Bourdieu utiliza amplamente para se referir rotinas em que os sujeitos
ancoram suas aes. Os atores sociais se engajam em prticas relativamente estveis, uma estabilidade que
expressa em disposies para agir de certos modos, e esquemas de percepo que ordenam perspectivas
individuais de acordo com parmetros socialmente definidos (Hanks, 2005:69).
114
789:;<=>
ulferenLemenLe dos LsLados do Sul, que so os que Lm melhor slLuao [nos exames],
So aulo Lem mulLa mlgrao. MulLa genLe que conLlnua chegando, esLe e um
problema
?9@A @<88>
candldaLo do Su8 ao governo do LsLado de So aulo, onLem na B*10"
Aps a divulgao da entrevista de Serra, instaurou-se uma polmica na mdia. A
oposio, de imediato, associou o dizer migrao nordestina e o utilizou em sua
campanha contra Jos Serra, ento candidato ao governo de So Paulo. Serra, poucas
horas depois, tentou reformular seu dizer, como informa O Globo:
Larde, o candldaLo Lucano LenLou amenlzar o que dlssera aflrmando que So aulo e
um esLado mulLo mals dlnmlco em relao a mlgrao, o que ampllou mulLo as
exlgnclas do enslno. (Serra conLlnua sendo alvo dos peLlsLas em programa elelLoral",
@ A#"<", 17/08/2006)
significativa a cobertura dada ao caso pelo jornal Folha de S. Paulo no dia 21
de agosto de 2006. Como podemos perceber pelo fac-smile da edio impressa (Figura
13), o jornal exibe a notcia intitulada Lula acusa os tucanos de vomitarem
preconceito e, ao lado desta, uma nota explicativa, [+] saiba mais (Figura 14).
Figura 13 - Folha de S. Paulo, 21/10/2006
115
Figura 14 Detalhe da reportagem Folha de S. Paulo, 21/10/2006
A notcia-apndice esclarece ao leitor que Serra no citou nordestinos em
entrevista. A negao na manchete, juntamente com o contedo da notcia, tenta mostrar
ao leitor que Serra no falou, especificamente, em migrantes nordestinos. Para o jornal,
embora o tucano no tenha citado a origem da migrao, o PT explorou a frase como
demonstrao de preconceito contra os nordestinos. Tentar negar que Serra tenha se
referido aos nordestinos, no entanto, desconsiderar a prpria sedimentada historicidade
do termo nordestino. H no Brasil uma memria, socialmente construda, segundo a
qual nordestinos, pelas condies de seca e misria de sua regio, tm, historicamente,
migrado para So Paulo em busca de melhores condies. O prprio jornal, apoiando-se
em pesquisa do IBGE, havia publicado, em abril, a seguinte notcia:
CAMlnPC lnvL8SC
esqulsa mosLra que em 2004, pela 1 vez, mals pessoas salram do LsLado rumo a
reglo do que o conLrrlo
nordesLlnos delxam S e mlgram de volLa
(!"#$% '( )* +%,#", 23/04/2006)
116
Atos de fala que enunciam migrao para So Paulo so fortemente associados
histrica ida de nordestinos a esse estado. O prprio termo nordestino carrega em si o
signo da dispora. Tanto assim que se trata de um vocbulo cristalizado pelo uso,
dicionarizado, comprimindo toda uma diversidade scio-cultural como forma daquela
alteridade que migra em busca de sobrevivncia. Como explicar que exista um termo
como nordestino, mas nada como sudestino?
21
Haveria, ento, uma relao de sinonmia entre migrante e nordestino? Se
observarmos o primeiro pargrafo da notcia anterior sobre a migrao, podemos
perceber que os termos so, de fato, intercambiveis, formando uma sinonmia que nega
tanto as reformulaes de Serra sobre a relao entre migrante e nordestino, quanto as da
Folha:
Consolldado nas ulLlmas decadas na poslo de LsLado que recebla 8 4&08' 78/34# +#
40='&6.#", So aulo [ no e mals Lo recepLlvo aos 68'+#".068" como nos anos 80 e
90. C reflexo dlsso e que, pela prlmelra vez, houve em 2004 mals pessoas delxando 8
!".&+8 '348 &8 G8'+#".# +8 23# H&1#6+8 8 ,&406-8 067#'"8. (!"#$% '( )* +%,#",
23/04/2006)
O dizer polmico de Serra foi um trunfo para os petistas. O ento candidato
Aloizio Mercadante, adversrio de Serra nas eleies estaduais, afirmou ser odioso o
comportamento conservador de Serra. Diz o senador: "Se expressa nessa declarao, mais
uma vez, um preconceito inaceitvel. Os nordestinos em So Paulo so soluo, no so
problema" (Folha de S. Paulo, 17/08/2006). Lula, por seu turno, adere s crticas de
Mercadante e se identifica com o povo nordestino:
C presldenLe enLrou na dlspuLa lnlclada por Alolzlo MercadanLe polemlzando
alnda mals a declarao de Serra sobre a llgao dos problemas educaclonals de So
aulo com a mlgrao, 06.#'%'#.&+& %#/8" %#.0".&" ,848 %'#,86,#0.8 & 68'+#".068".
21
Poder-se-ia explicar a emergncia na lngua do termo nordestino e ausncia de um correlato como
sudestino nos termos da visada de Voloshinov (1976) em torno dos ndices de avaliao social. Como
argumenta Voloshinov, quando crenas sociais estabelecidas entram na carne e no sangue de todos os
representantes de um grupo social, geralmente elas no emergem lingisticamente (p.101). No
necessrio falar sobre crenas e fenmenos naturais quando estes so pontos pacficos em um grupo social.
No entanto, sempre que algum julgamento bsico verbalizado (...), podemos estar certos de que ele se
tornou dbio (id.ibid).
117
"Se Lem uma colsa que eu me orgulho e de ser nordesLlno. 1rabalhel pela rlqueza de
So aulo mulLo mals que uns que no gosLam de ns."
Ao pedlr voLos para Alolzlo MercadanLe, candldaLo do governo, Lula dlsse que
o povo do nordesLe val ser bem LraLado aqul". (!"#$% '( )* +%,#", 20/08/2006)
Note-se que o jornal, mais uma vez, atribui a associao entre migrantes e
nordestinos, na fala de Serra, ao discurso petista. Serra, no entanto, tenta se redimir,
mesmo no reconhecendo que sua fala se referisse ao Nordeste. O ento candidato visita
o bairro de So Miguel Paulista e, na casa de uma cearense, elogia Marta Suplicy, sua
adversria quando das eleies para a prefeitura de So Paulo. Diz o jornal:
1anLo o eloglo a MarLa quanLo o local escolhldo para a declarao foram uma resposLa
a lnslsLncla de MercadanLe em dlzer que o Lucano Lem preconcelLo conLra mlgranLes
nordesLlnos. 9#''& #6&/.#,#3 & %#.0".& +#6.'8 +& ,&"& +& +84E".0,& ,#&'#6"# G&.&/06&
+& 90/7&* IJ* -D JB &68" #4 9:8 ;&3/8. (!"#$% '( )* +%,#", 19/08/2006)
Nos termos da mediao dessa fala, possvel perceber um apelo freqente da
mdia literalidade e constatividade do dizer de Serra. A Folha de S. Paulo foi bem
explcita ao afirmar que Serra no citou os nordestinos em entrevista (Figura 14). A
viagem das palavras de Serra para o discurso petista criticada pela Folha como sendo
uma transformao de declaraes em ataque a nordestinos:
MercadanLe Lambem volLou a Lransformar as declaraes do adversrlo num aLaque a
nordesLlnos, mesmo que o Lucano no Lenha clLado mlgraes especlflcas. Lu no
acelLo qualquer preconcelLo, prlnclpalmenLe conLra nordesLlnos." (!"#$% '( )* +%,#",
21/08/2006)
O excerto acima um bom exemplo do funcionamento desse processo mediador
que a comunicabilidade. O jornal constri uma cartografia que determina uma
metapragmtica especfica para o modo como a fala de Serra deve ser interpretada
22
.
22
Emprego o termo metapragmtica nos termos que a Antropologia Lingstica dele se vem utilizando
(Silverstein, 2003; Briggs, 2007a; Signorini, 2008). No se trata de ir alm da pragmtica (o que seria
impossvel), mas de se debruar, na interao, sobre a pragmtica da interao mesma. Os usurios da
lngua esto constantemente falando sobre o prprio dizer e sobre os modos como se usa esse dizer.
Pragmtica e metapragmtica so indissociveis: a pragmtica, o modo como os signos so posicionados
no mundo, anda de mos dadas com a metapragmtica, o modo como os signos representam o seu prprio
estar-no-mundo (Briggs, 2007a:332).
118
Assim, nos termos da Folha, Mercadante transformou as palavras de Serra em algo que
no elas seriam, i.e., um ataque aos nordestinos. O termo migrantes, de acordo com
essa metapragmtica, no teria sido usado de modo equivalente a nordestinos.
A metapragmtica do discurso um fator central para a construo desses mapas
que, em ltima instncia, guiam nossos modos de caminhar e enxergar um certo lugar. O
dizer de minha aluna, uma nordestina com grau elevado de escolarizao, alertou-me de
modo impactante para como essas cartografias mediam o acesso ao possvel do Nordeste.
A comunicabilidade, nos termos de Briggs (2007a:332), sugere que o discurso pblico
posiciona precisamente a pragmtica vista do pblico imaginando sua prpria
emergncia de modo seletivo e estratgico. Essa construo metapragmtica no
inocente nem incua. Pelo contrrio, essa metapragmtica torna algumas dimenses
visveis e as interpreta de certos modos, apaga outros e projeta as subjetividades, relaes
sociais e forma de agncia requeridas para circulao e recepo (ibid.:332-333).
Assim, nessa construo ideolgica e metapragmtica, a Folha de S. Paulo
recontextualiza discursos, determina modos de ver e entender e insiste numa viso
representacionista da linguagem de forma a por uma mscara constativa na constitutiva
performatividade do dizer (cf. Austin, 1975[1962]). O excerto abaixo significativo a
esse respeito:
A emlssora dlsse onLem, por melo de sua assessorla de lmprensa, que o 1 [ Llnha sldo
noLlflcado, pedldo desculpas e lnformado que Llrarla o vldeo do programa da nolLe. C
slLe do Lucano repercuLlu: Serra respondeu a uma pergunLa sobre educao e
qualldade do enslno em S. A resposLa refleLe uma anllse das caracLerlsLlcas da rede
esLadual de enslno. Mas basLou para que o 1 dlsLorcesse os faLos e menLlsse." (!"#$%
'( )* +%,#", 18/08/2006)
O jornal cita o pronunciamento do site do tucano ao fim da notcia
PT rompe acordo com TV Globo e exibe fala de Serra sobre migrao (cf. Figura 15).
Tendo em vista que a citao conclui o texto da notcia, seu funcionamento nessa
construo comunicvel visa, sobretudo, a reforar a metapragmtica representacionista e
constativa segundo a qual o jornal representou o dizer de Serra. Assim, a resposta [de
Serra] reflete [isto , espelha] uma das caractersticas da rede estadual de ensino. Ou seja,
o pronunciamento de Serra deveria ser visto to-somente como um enunciado constativo,
119
algo que descrevia um estado de coisas pr-existente e independente da linguagem que o
nomeia. Alm disso, a pura e inocente fala constativa de Serra bastou para que o PT
distorcesse os fatos e mentisse. A performatividade, por outro lado, estaria na fala do PT,
que distorce fatos e mente.
Figura 15 Folha de S. Paulo, 18/08/2006
A ideologia de linguagem da Folha de S. Paulo, em cujos termos o falante
racional e moderno embala um significado unvoco no significante enquanto o falante
pr-moderno engana e mente ao enxergar multiplicidade nesse significado, alinha-se a
um dos fundamentos da epistomologia lingstica da modernidade, a saber, o pensamento
de John Locke (Bauman & Briggs, 2003:29-69). Conforme comentam Bauman & Briggs,
Locke procura estabelecer a linguagem como um fundamento seguro para a construo
da modernidade ao purific-la, isto , livr-la de sua dependncia do contexto e da
sociedade. Purificar a linguagem da sociedade envolveu [para Locke] um processo
120
complexo de redefinir a linguagem de tal modo que a sua vinculao ao social poderia ser
interpretada como perifrica, patolgica e suprimvel, o que implicava, ao mesmo tempo,
que um ncleo purificado poderia ser elevado ao status do modo privilegiado de gerar
conhecimento (p.36). Esse ncleo purificado consiste justamente numa lngua
absolutamente convencional e arbitrria, independente de relaes contextuais, histricas
ou afetivas. A Folha de S. Paulo to lockeana que, provavelmente no por mera
coincidncia, itera o modo como Locke condenou a polissemia das palavras, nomeando-a
de evidente engano e abuso:
O estabelecimento de uma rgida correspondncia um-para-um entre
som e significado , de acordo com Locke, requisito para a
comunicao: evidente engano e abuso, quando eu fao [as palavras]
significarem em um momento uma coisa e noutro momento outra coisa
(Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, apud
Bauman & Briggs, 2003:37)
Se a possibilidade de ser infinitamente recontextualizada que marca a
iterabilidade da linguagem e portanto seu eterno potencial de ressignificao, a Folha de
S. Paulo tenta conter a ao ressignificadora ao insistir numa ideologia modernista
segundo a qual a fala o produto de uma mente racional, livre de contexto, e,
principalmente, livre da histria e da memria das palavras.
Lm Lorno da vulnerabllldade
A fala de Jos Serra, que atribui a culpa da falha do sistema educacional queles
que migram, um caro exemplo do lugar que pode ocupar o migrante em ocasies de
crise. Segundo Rogrio Haesbaert (2006:248), o migrante pode se tornar o bode
expiatrio de crises da governabilidade, tendo sua condio ainda mais fragilizada,
principalmente ao deparar-se com legislaes que tornam ainda mais duras as restries
territoriais de ingresso, circulao e permanncia.
Uma condio fragilizada o que, em ltimo caso, se encena no jogo da
identidade e da diferena da mdia hegemnica brasileira em sua relao com o Nordeste.
Encerrarei este captulo sobre a semntica dos usos lingsticos violentos contra os
121
nordestinos e as nordestinas a partir de consideraes sobre a fragilidade e a
vulnerabilidade da condio nordestina, algo que, ao longo desta tese, venho articulando
prpria condio humana.
Em maio de 2006, uma onda de ataques a instituies como a Polcia e o Corpo de
Bombeiros, alm de bancos e nibus, foi deflagrada no estado de So Paulo. A autoria
dos atos foi atribuda ao Primeiro Comando da Capital, faco criminosa no estado de
So Paulo conhecida pela sigla PCC. A causa maior da onda de ataques teria sido a
transferncia de lderes da faco a presdios de segurana mxima. Um clima de pnico
e medo se instaurou na cidade de So Paulo e no interior do estado. Lembro-me de uma
tarde de maio em que Campinas foi completamente interrompida pela violncia os
nibus pararam de circular, celulares no funcionavam, ruas ficaram vazias, o comrcio
fechou suas portas.
Na cobertura que a mdia deu ao caso, mereceu destaque a fala de Chiquinho
Scarpa, famoso playboy paulistano, sobre as causas da onda de violncia em So Paulo:
C9D9 <88>E9
"1odo derroLado pe a culpa nos ouLros, e fol o que o governador fez. Se cada um
volLasse para seu LsLado, Ludo funclonarla. C problema e que 80 do LoLal de voLos
para presldenLe so de So aulo - e os nordesLlnos voLam errado."
F0%2/%(0* @$"-3"G crlLlcando o governador Cludlo Lembo, que culpou a "mlnorla branca" pela
onda de vlolncla, e dlzendo que a quesLo e de ordem demogrflca, onLem na B*10".
(!"#$% '( )* +%,#", lrases, 20/03/2006)
Chiquinho Scarpa iterou a geografia imaginada de So Paulo como o maior estado
nordestino do pas, tendo em vista o grande influxo de migrantes do Nordeste, o que lhe
daria um maior nmero de nordestinos do que qualquer estado nordestino; o mesmo se
aplicaria cidade de So Paulo
23
. H, na fala dele, uma culpabilizao do migrante
nordestino os culpados seriam os nordestinos, que votam errado. A soluo ao
23
A cidade de So Paulo, por exemplo, freqentemente designada como a maior cidade nordestina do
pas: Helosa Helvcia, 46, nasceu aqui mesmo, na maior cidade nordestina do pas. (Folha de S. Paulo,
24/10/2004).
122
problema no se daria, nos termos de Scarpa, sem um apelo a uma poltica de exceo,
que expulsa os cidados de segunda classe, seres abjetos e indesejveis.
No percamos de vista o contexto da fala de Chiquinho Scarpa. A violenta
semntica do seu dizer se ancora em outro ato violento, o ataque que So Paulo havia
sofrido por grupos criminosos. O playboy responde onda de violncia com mais
violncia. A mesma estratgia de vingana foi adotada pelo governo de George Bush
como resposta aos violentos ataques aos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001.
Certamente, o ataque do PCC e o 11 de setembro tiveram propores radicalmente
diferentes. Mas ambos compartilham de um trao comum: a vulnerabilidade a que a
violncia nos expe. Pensando nos termos de uma lgica peirceana, no seria essa
vulnerabilidade desvelada por ataques violentos um cone, uma semelhana de forma, da
nossa vulnerabilidade ao toque (por vezes violento) do outro? No seria essa
vulnerabilidade, pela sua realidade somtica, um ndice de uma conexo corprea com a
fragilidade de nossa condio, dependentes que somos, desde nosso nascimento, ao
intencional do outro (Butler, 2004:29)?
Corpo e vulnerabilidade esto portanto na base dessa semntica da violncia. O
corpo, nos termos de Butler (2004:26), implica vulnerabilidade. A pele e a carne nos
expem ao olhar do outro, mas tambm ao toque e violncia (id.ibid.) Os corpos, para
Butler, nos submetem ao risco de nos tornarmos tambm a agncia e instrumento desse
toque e dessa violncia. Por termos os corpos que temos dependentes que so da ao
do outro, os corpos mesmos pelos quais lutamos no so em absoluto apenas nossos ,
estamos vulnerveis ao violenta dos laos e das relaes em que somos formados. E a
violncia, segundo a autora, nos expe a uma vulnerabilidade primeira ao outro. Trata-se
de um modo terrvel de exposio em que somos submetidos, sem controle, ao desgnio
do outro, um modo em que a vida mesmo depende da ao intencional do outro (28-29).
Butler demonstra que a condio vulnervel que temos derivada da forma como
nossos laos nos formaram: adultos (...) amaram seus pais e tambm outros outros
primrios de modos absolutos e no-crticos e algo desses padres sobrevive em seus
relacionamentos adultos (26-27). Portanto, parece que, se pensamos na cena da violncia,
a vulnerabilidade uma condio partilhada tanto pela vtima como pelo perpetrador. A
ocorrncia de um ataque como foi o 11 de setembro, analisado pela autora, e como
123
foi o atentado do PCC, aqui discutido gera um sentimento de pesar que nos remete a
essa vulnerabilidade primeira, aos momentos em que somos submetidos a algo fora de
nosso prprio controle e em que nos encontramos alm de ns mesmos, no precisamente
conosco. A autora acrescenta que talvez o pesar carregue em si um modo de privao
que fundamental para quem ns somos.
Pensando no aspecto poltico dessa vulnerabilidade, talvez seja interessante
levantar aqui a mesma pergunta que faz a autora: h algo a ser aprendido da distribuio
geopoltica da vulnerabilidade corprea da nossa breve e devastadora exposio a essa
condio? (Butler, 2004:29). A filsofa de Berkeley se referia aos sentimentos de pesar
e melancolia instaurados por ocasio do 11 de setembro. A proposta da autora,
diferentemente do modo como a poltica militar norte-americana procedeu, no era a de
que se respondesse violncia dos atentados com mais violncia. Segundo ela, abria-se a
possibilidade de pensar sobre essa condio vulnervel da subjetividade.
Parafraseando as palavras de Butler, eu perguntaria: h algo a ser aprendido da
distribuio geopoltica da vulnerabilidade corprea das identidades nordestinas,
radicalmente fragilizadas pelos modos como so designadas na mdia hegemnica do
Brasil? O que essa condio que se desvela na mdia do Brasil e que inicialmente se
refere a um conjunto de subjetividades, seres que muitas vezes sequer adquiriram o
estatuto de sujeitos, diz, num salto de escala, da prpria condio do sujeito?
125
CAPTULO 4
PRAGMTICA DA VIOLNCIA
preciso falar do fantasma, at mesmo ao fantasma e com ele,
uma vez que nenhuma tica, nenhuma poltica, revolucionria
ou no, parece possvel, pensvel e justa, sem reconhecer em
seu princpio o respeito por esses outros que no esto mais ou
por esses outros que ainda no esto a, presentemente vivos,
quer j estejam mortos, quer ainda no tenham nascido. Justia
alguma no digamos lei alguma, e mais uma vez lembro que
aqui no falamos do direito parece possvel ou pensvel sem
o princpio de alguma responsabilidade, para alm de todo
presente vivo, diante dos fantasmas daqueles que j esto
mortos ou ainda no nasceram, vtimas ou no das guerras, das
violncias polticas ou outras, dos extermnios nacionalistas,
racistas, colonialistas, sexistas ou outros, das opresses do
imperialismo capitalista ou de todas as formas do totalitarismo.
Espectros de Marx, Derrida
Venho demonstrando que a violncia discursiva encenada nas reportagens e nas
imagens da mdia brasileira vinculada a um complexo uso de recursos textuais-
discursivos. No captulo anterior, por exemplo, argumentei que a dinmica textual de
pesquisas de opinio e mapas de votao construa, s vezes de modo insidioso, s vezes
de modo evidente, certos modos de interpretar e, simultaneamente, exclua outros. Essa
construo textual-ideolgica tambm oferecia possibilidades de contranarrativas. Essa
dinmica pode ser vista como uma instanciao textual do processo de comunicabilidade.
126
Neste captulo, amplio a anlise da cartografia comunicvel da violncia discursiva na
mdia brasileira, e fao isso ao observar os horizontes polticos e pragmticos de tal
comunicabilidade.
Quando afirmo que pretendo focar o nvel pragmtico, no quero dizer que tal
anlise se d desvinculada das inferncias semnticas que delineamos at agora. Na
verdade, a anlise semntico-textual que empreendi no se deu dissociada de inferncias
pragmticas e metapragmticas. Muitos tericos apontam que se tem freqentemente
concebido a pragmtica como lata de lixo onde restos e pedaos da explicao
lingstica no adequadamente tratada em teorias sinttico-semnticas so jogados (Bar-
Hillel, 1971:405). A premissa subjacente a de que a pragmtica seria um apndice da
semntica. Tyler (1978) comenta que a tradio que remonta a Morris (1955), com a
trplice diviso da anlise lingstica em funes bem demarcadas (sintaxe, semntica e
pragmtica), no faz nada bem (p.461). Nessa distribuio hierrquica de camadas, o
papel da pragmtica o de apenas modificiar significados j dados pelo sistema
semntico ela no tem papel constitutivo algum (id.ibid.). Eu insistiria, ao contrrio,
numa abordagem holstica, como o prprio conceito de comunicabilidade pressupe. Eu
entendo, portanto, que a anlise pragmtica aquela que superpe o lingstico ao
poltico (Mey, 1985; Pinto, 2001; Rajagopalan, 2006). Como nos lembra Rajagopalan
(2006:437), a pesquisa em pragmtica est inevitavelmente envolvida na poltica da
linguagem.
Neste captulo, avanarei no delineamento desse processo poltico de construo
de identidades na mdia. Partirei de algumas elaboraes no campo da antropologia e da
teoria crtica segundo as quais a violncia se encontra na circulao das narrativas.
Retomarei conceitos j abordados nos captulos anteriores: de um lado, a fala do crime
(Caldeira, 2000 e 2003) e os campos de comunicabilidade (Briggs, 2007a), conceitos
antropolgicos teis para a compreenso do modo como a mdia e os sujeitos de um
modo geral projetam sua compreenso sobre o que seja o crime e a violncia e, assim,
instituam uma cartografia do possvel; de outro lado, a iterabilidade (Derrida, 1977;
Butler, 1997), visada filosfica fundamental para que se entenda como, ao repetir uma
histria, o sujeito no s reitera uma forma de ferir prvia como tambm desloca dessa
origem o termo que fere. Tendo em vista que a circulao de histrias mantm estreita
127
relao no somente com a violncia simblica, mas tambm com a prpria construo
da esfera pblica (Habermas, 1992[1962]), partirei da sntese dessas elaboraes
antropolgicas e filosficas sobre circulao e violncia para entender como o Nordeste
posicionado nessa circulao de discursos que constitui a esfera pblica. Em se tratando
de discursos sobre democracia e esfera pblica, enfocarei, novamente, a cobertura
miditica da campanha para presidente do Brasil em 2006, mais precisamente o modo
como o Nordeste foi representado nessa cobertura, de forma a demonstrar como a
circulao de discursos e a projeo dessa circulao foram violentas.
A fala do crlme
Para Teresa Caldeira (2000 e 2003), a violncia em So Paulo encontra-se na
segregao da cidade. So Paulo, de acordo com a autora, a eptome do modelo de
desenvolvimento do Brasil. O pas se enquadra entre os dez pases de maior Produto
Interno Bruto (PIB); no entanto, sua distribuio de renda uma das piores (2003:52).
Se, por um lado, o pas alcanou, desde a dcada de 1940, um rpido desenvolvimento
capitalista, por outro, convive com uma desigualdade crescente e falta de liberdade
poltica e de respeito pelos direitos dos cidados (p.48). So Paulo, a exemplo do Brasil,
convive cotidianamente com essas contradies. A cidade se segrega por causa da
violncia e, porque se segrega, causa mais violncia, na medida em que deslegitima os
espaos pblicos e privatiza a segurana. Alm disso, assim como em outras cidades
brasileiras, a polcia parte do problema da violncia (p.135). Trata-se de uma polcia
extremamente violenta, a qual, em 1992, foi responsvel por 20,63% do total de
homicdios na cidade, ao passo que nas cidades de Nova York e Los Angeles, no mesmo
ano, os homicdios causados pela polcia foram, respectivamente, 1,2% e 2,1% (id.ibid.).
A atuao violenta da polcia apenas um exemplo da pesquisa etnogrfica de Caldeira
na cidade de So Paulo em meados da dcada de 1990: a ao violenta da polcia,
legitimada por inmeras narrativas de cidados que defendem esse tipo de poltica de
punho de ferro, associa-se ao desrespeito aos direitos humanos, aos direitos do cidado de
um modo geral e descrena em instituies democrticas como a justia.
128
A resposta violncia em So Paulo consiste, em parte, num rearranjo da cidade
concomitante industrializao do Estado e, em parte, num conjunto de discursos que
circulam em torno do crime e da criminalidade. Em termos da resposta fsica violncia,
a nova configurao da cidade que obviamente no deriva apenas da violncia, mas
tambm de sucessivas polticas pblicas e da especulao econmica privilegia os
enclaves fortificados. Trata-se de prdios de apartamentos, condomnios fechados,
conjuntos de escritrios ou shopping centers [que] constituem o cerne de uma nova
maneira de organizar a segregao, a discriminao social e a reestruturao econmica
em So Paulo (p.255). Em termos da resposta simblica, tem-se a fala do crime, um
modo simplificado e essencializado de falar sobre o crime e sua relao com as
transformaes econmicas por que passa a cidade.
A idia de circulao da fala do crime fundamental para compreendermos a
violncia simblica que est em jogo na mdia brasileira. Como afirma Caldeira,
medo e violncia, coisas difceis de entender, fazem o discurso proliferar
e circular. A fala do crime ou seja, todos os tipos de conversas,
comentrios, narrativas, piadas, debates e brincadeiras que tm o crime e
o medo como tema contagiante. Quando se conta um caso, muito
provavelmente outros casos se repetem; e raro um comentrio ficar
sem resposta (Caldeira, 2003:27, nfase acrescida).
Ela acrescenta que, apesar de repetitivas, essas histrias do crime so contadas
incansavelmente pelas pessoas. Os cidados parecem compelidos a continuar falando
sobre o crime, como se as infindveis anlises sobre os casos pudessem ajud-los a
encontrar um meio para lidar com suas experincias desconcertantes ou com a natureza
arbitrria e inusitada da violncia (id.ibid.). interessante como, no discurso da autora,
a metfora do contgio ajuda a desenvolver um de seus principais argumentos, o de que a
violncia se dissemina juntamente com a circulao de histrias: a repetio das
histrias (...) s serve para reforar a sensao de perigo e insegurana das pessoas
(id.ibid.).
Creio que seja fundamental dar ateno nfase de Caldeira na circulao da fala
do crime, principalmente porque essa circulao pressupe um movimento paradoxal de
combate e ampliao da violncia. A autora salienta que essas conversaes do dia-a-dia
129
so o lugar onde as opinies so formadas e as percepes moldadas (id.ibid.). Mais
uma vez, estamos diante do carter produtivo da violncia; mais importante, estamos
diante da performatividade da fala da violncia: o medo e a fala do crime no apenas
produzem certos tipos de interpretaes e explicaes, habitualmente simplistas e
estereotipadas, como tambm organizam a paisagem urbana e o espao pblico,
moldando o cenrio para as interaes sociais que adquirem novo sentido numa cidade
que progressivamente vai se cercando de muros (id.ibid.).
Outro dado relevante da etnografia de Caldeira a associao que muitos
paulistanos por ela entrevistados fazem entre Nordeste e violncia. Reproduzo abaixo
excertos da fala do crime de uma residente da Moca, bairro paulistano que no incio do
sculo passado recebeu muitos imigrantes italianos e, a partir dos anos 1950, sofreu
mudanas com a sada de muitos desses imigrantes para outros bairros e com a chegada
de migrantes nordestinos. A narradora, uma dona de casa cujo marido agente
imobilirio, tinha, poca da entrevista (1989), mais de 50 anos. Seus pais vieram da
Itlia em 1924. Vejam-se excertos da conversao entre a entrevistada e a autora do
estudo:
C que esLragou mulLo a Moca foram as favelas. (...) 1em Lambem mulLo corLlo.
1em mulLo corLlo na Moca desde que vleram a genLe do norLe. 1em 300 corLlos,
cada um Lem 30 famlllas, s com Lrs prlvadas - como e que se pode vlver asslm?! C
que L pre[udlcando e lsso al, e a pobreza. Aqul Lem classe medla, classe rlca e uma
dlferena mulLo grande, a pobreza dos nordesLlnos. C balrro plorou desde que
comearam a chegar a Lurma do norLe... laz uns 13 anos. Agora Lem demals. Casas
llndas, bonlLas da Moca foram subalugadas e ho[e no se pode enLrar, arrebenLaram
as casas. (...) A Moca Leve mulLo progresso, mas regrlde pela populao pobre.
- E%. %03(. 0D" 350$% 4"<2( 0% E"F/%G
- AnLes no exlsLla. A genLe sala de chapeu, os professores andavam de chapeu.
Lu usava luva e chapeu. uos 13 aos 18 anos eu sala na rua de chapeu. A raa da Se, a
8ua ulrelLa, era uma flnura. Po[e, a genLe no val l, no e posslvel, voc sabe como e.
HI"9(J%9". % /"0?(2.%2 ."<2( " 6,( 4"'(25% .(2 1(53" (9 2(#%JD" K 4"<2(L% ( %".
4"<2(. 6,( ?5?5%9 %#5*M
Lles deverlam receber mals apolo do governo. Lles empesLearam Ludo, deverla
volLar Ludo pra l. C governo deverla dar casas pra eles l no nordesLe pra eles no
preclsarem vlr pra c... Po[e aqul na Moca no se pode nem salr de casa. laz sels anos
que eu ful assalLada, e sels anos que parece que Ludo perdeu o gosLo. Aqul na Moca
no Lem pessoa que no fol assalLada.
(...)
- N,(9 .D" ". /25950".".G
130
- essoal que assalLa e Ludo norLlsLa. 1udo genLe favelada. CenLe do balrro e
genLe de fora. Mas no adlanLa nada querer fazer alguma colsa. voc faz ocorrncla,
depols no resolve nada. Cuando eu ful assalLada, eu flz ocorrncla, Llnha advogado
amlgo, no adlanLou nada, no enconLraram nada...
Po[e nlnguem quer saber de morar em casa devldo a falLa de segurana. Lu
morava na 8ua Came, com porLo eleLrnlco, lnLerfone, dobermann denLro de casa.
um dla, as 7 horas da manh, meu marldo salu para enLrar na garagem, um cara velo,
pulou em clma dele, Lapou a cara dele e deu uma punhalada no corao dele. uepols
desse dla, meu marldo nunca mals Leve saude, e cardlaco.
HC#% /"03%8 (03D"8 6,( '(4"5. '( 1(252(9 " 9%25'"8 ". #%'2O(. (032%2%9 0% /%.% ( #$(
4('52%9 '50$(52" ( BF5%.* P***Q +('5 6,( (#% 9( '(./2(?(..( ". #%'2O(.RM
Lles Llnham cara boa. um era balxlnho, morenlnho, se v que era do norLe. C
ouLro Llnha cara branca, mas sempre norLlsLa, devla ser do Cear.
(...)
1erla soluo. 1erla de parLlr do governo. C governo deverla dar asslsLncla pra
pobreza. C balrro Lornou-se felo com os corLlos. L pobre e pobre, quando no pode
comprar as colsas que preclsa, assalLa. L falLa de culLura Lambem... A Moca fez mulLo
progresso, engrandeceu mulLo, fez progresso de casas, predlos, mas Lem uma exLenso
de corLlo que no acaba mals... C governo devla fechar a exporLao, Lermlnar com
essa vlnda de pessoal do norLe. Se voc soubesse o que o meu marldo fala quando ele
passa em frenLe a uma favela! Lle e Lo revolLado! (...) Lle v um corLlo, uma favela,
fala que uma garrafa de querosene e um fsforo resolvla aqullo num mlnuLo...
(...) A Moca regrlde pelos corLlos. uevla acabar com essa vlnda de genLe pra
c, devla dar condles pra eles l. (...) Lles recebem pouco, mas se voc enLrar denLro
de uma favela, v um monLe de Lelevlso, vldeo, som, da onde e? 1udo roubado...
vou logo dlzendo pra vocs: eu sou a favor da pena de morLe a quem merea.
(...)
Cuando eu flco enfezada, flco com o vocabulrlo bem bonlLo... Cuando eu esLou
enfezada posso falar Lo bem quanLo um advogado. AnLlgamenLe, eu falava alnda
melhor, mas perdl o hblLo... no Lenho mals prLlca de falar LanLo. LsLou enfezada!
Me mudel LanLo com esse assalLo, perdl a vonLade de fazer as colsas. AnLes eu era fellz
- a genLe era fellz e nem sabla. A casa llmplnha, bonlLlnha, Ludo em ordem. (...)
na Moca Lodo mundo Lem medo, por lsso que Lodo mundo val embora. A populao
flna val embora e os nordesLlnos vo chegando, ns vamos dando espao pra eles...
Cuando ful assalLada pela segunda vez, esLava com meu cunhado, lrmo do
meu marldo, em casa, fazla 17 dlas que ele esLava no 8rasll, ele Leve enfarLo e morreu.
lazla olLo dlas que ele esLava aqul quando fol o assalLo. Lle Lava dormlndo. 1lnha vlndo
pra passear e pra se LraLar. lalo pro meu marldo que no fol por causa do assalLo, mas
meu marldo acha que no, que ele flcou assusLado... um dos assalLanLes Llnha um
punhal e flcou com ele encosLado nos olhos do meu fllho. C consulLrlo dele e Lodo
chelo de grade, [anela fechada, porLa fechada - pode-se vlver asslm?...
Agora as pessoas s se enconLram em enLerro. Clrculo de amlzades, de
conLerrneo, de paLrlclo, L se desfazendo. val se dlsLanclando a amlzade devldo ao
medo de salr a nolLe. Clha que senLena bonlLlnha!...
A Moca que eu conhecl era Lo dlferenLe! odla-se vlver, salr sem esse pavor.
Cuando a populao era menor, exlsLla mals Lranqullldade. LmpesLearam a Moca,
delxaram a Moca fela.
(Caldelra, 2003:29-32, nfases no orlglnal)
131
Embora a anlise que Caldeira oferea dessa narrativa seja excelente, e ainda que
eu cite algumas de suas elaboraes, gostaria de comear empreendendo minha prpria
reflexo sobre a narrativa que acabamos de ler. Um fato que elidido na etnografia de
Caldeira o modo como as narrativas que compem seu estudo foram concedidas. H
uma certa descrio de quem so os informantes (vrias falas do crime constam em seu
estudo, que a autora coletou nos bairros Jardim das Camlias, Moca e Morumbi, dentre
outros, representando diferentes classes sociais de So Paulo), mas alguns marcadores de
pertencimento que certamente nortearam a interao, como o fato de a autora ser
paulistana, branca, proveniente de uma classe econmica favorecida etc., no participam
da anlise. Apesar de a autora, na introduo da traduo da obra ao portugus,
reconhecer que marcadores de pertencimento como sua posio social e filiao
universidade tenham marcado sua relao com todas as pessoas que estud[ou],
suscitando detalhadas respostas de pessoas da classe trabalhadora e silncio de
pessoas da classe alta (p.22), essa interao com a alteridade no problematizada na
anlise em si. Alis, Caldeira explica que, [d]efinitivamente, a alteridade no foi uma
questo que estruturou minha pesquisa metodologicamente, embora tenha sido com
certeza um dos seus temas centrais (p.18-19). E continua: [n]este estudo, no h
alteridade, no sentido de que no h um outro fixo; no h posio de exterioridade,
assim como tambm no h identidades estveis nem localizaes fixas. H apenas
deslocamentos (p.19). Talvez devido a esse apagamento conceitual do papel da
alteridade, a anlise tenha se desenvolvido de forma a desconsiderar o fato de que essa
informante, a exemplo de outras pessoas que participaram do estudo, est falando a um
par. Com essa crtica, quero postular que se eu, um pesquisador do Nordeste cujo corpo
falante marca outra diferena, tivesse conduzido a entrevista, a fala do crime teria
encontrado outra direo. No quero com isso tirar o valor do dado. Ao contrrio, quero
complicar as j difusas relaes entre significao e violncia que podem ser entrevistas
na fala acima.
Segundo a residente da Moca, a migrao de nordestinos responsvel pelo
aumento do crime violento no bairro, o que, por sua vez, provocou mudanas (para pior)
em sua vida. Como aponta Caldeira, pessoas que passaram por experincias traumticas,
causadas por violncia, costumam narrar suas histrias a partir de um antes e um
132
depois do crime. No caso da fala do crime acima, a violncia do bairro, chegando
junto com a chegada dos nordestinos, que organiza a temporalidade da vida na Moca.
De acordo com esta narrativa essencializadora, antes, as pessoas andavam de chapu, a
regio era fina; depois, a chegada dos nordestinos trouxe consigo a pobreza e a violncia
(pobre pobre, quando no pode comprar as coisas que precisa, assalta), provocando
desordem na casa limpinha, bonitinha, tudo em ordem. Nordestinos so o oposto da
ordem e da limpeza: so signos do carter desordenador da violncia, so capazes de
viver num cortio com 50 famlias, s com trs privadas.
Caldeira esclarece que a narradora, ao diferenciar a pobreza dos nordestinos da
classe mdia, classe rica da Moca, est falando de dois tipos de migrao. Trata-se dos
antigos migrantes, vindos da Itlia, e os novos, provenientes do Nordeste. Certamente,
essa diferenciao entre uma boa e uma m migrao segue um critrio racial de
inteligibilidade. Assim como nos discursos que inventaram o Nordeste na dcada de 1920
(ver Captulo 2), a branquitude da migrao europia vista com bons olhos, ao passo
que a negritude do Nordeste condenada. Na verdade, a questo da racializao do
Nordeste vai bem alm da mera dicotomia branco/negro. Como bem aponta Blackledge
(2006), a racializao o processo por meio do qual uma maioria (geralmente branca)
atribui a uma minoria certas caractersticas de raa, origem ou etnicidade com a
finalidade ltima de produzir desigualdade. A prpria narradora da fala do crime em
questo enftica ao tematizar que, para identificar a nordestinidade dos assaltantes, a
cor da pele no era suficiente. Um dos assaltantes era baixinho, moreninho,
evidentemente vindo do Norte, mas o outro era branco, mas sempre nortista, devia ser
do Cear. Pode-se afirmar ainda que a esses processos de designao da cor ou da
origem do Outro isto , sua racializao somam-se outras avaliaes dicotmicas,
como a questo da limpeza/sujeira e da beleza/feira, tal como se pode ler na fala do
crime acima.
No percamos de vista o argumento central de Caldeira, o de que, em se tratando
da relao violncia/significao, na circulao das histrias que a violncia se encontra.
interessante observar o modo como certas histrias viajam, iterando condies
violentas numa temporalidade aberta (Butler, 1997): na dcada de 1920, o jornal O
Estado de S. Paulo j anunciara que a vinda de migrantes europeus, ao contrrio da
133
migrao nordestina, fez So Paulo progredir; no sculo seguinte, o governador Jos
Serra foi o autor da violenta associao entre migrao nordestina e baixo rendimento
escolar em So Paulo, algo por ns analisado no captulo anterior. Essa circulao uma
cara instanciao da dissimuladora e acumuladora historicidade da fora do ato de fala (cf.
Butler, 1997). Como a violenta histria do termo migrao demonstra, o discurso
discriminatrio, ao ser recontextualizado e transformado em contextos de legitimidade
crescente, ganha autoridade medida que viaja (Blackledge, 2006:61).
Os discursos que circulam tambm possuem uma metapragmtica (Silverstein,
2003), ou seja, eles se voltam sobre si mesmos, de forma a nortear s vezes de um
modo explcito, s vezes nem tanto o seu prprio percurso. No caso da residente da
Moca, seus comentrios sobre sua prpria fala do crime parecem incitar mais violncia:
a narradora demonstra ficar irada com o que ela julga ser o retrocesso de seu bem-estar,
diz ento estar enfezada, o que provoca mudanas em seu modo de falar (fico com o
vocabulrio bem bonito, posso falar to bem quanto um advogado). interessante
observar que a linguagem do direito paradoxalmente invocada contra os direitos
humanos sua fala sobre extermnio de pobres e pena de morte assume feio genocida,
dado que refora a elaborao de Caldeira no tocante ao aumento do apoio a grupos e
aes no-democrticos de combate violncia, como seguranas privados e grupos de
extermnio, o que acompanha o crescimento da violncia em So Paulo e no Brasil.
Ainda em relao reflexividade do discurso sobre sua prpria pragmtica, observe-se a
imbricao da beleza que a narradora percebe em suas palavras e o medo que circula
nessa elaborao esttica: Vai se distanciando a amizade devido ao medo de sair noite.
Olha que sentena bonitinha!. Esse complicado relacionamento s refora a relao ao
mesmo tempo ntima e ambgua entre violncia e linguagem.
A fala do crime, em cujas redues os nordestinos so ignorantes, preguiosos,
sujos, imorais; [n]uma palavra, eles so criminosos (Caldeira, 2003:36), circula por
diferentes classes sociais e espaos da cidade. Embora nem todos os sujeitos
entrevistados por Caldeira equacionem os migrantes nordestinos com o crime,
impressionante como h uma forte correlao nesse sentido. As categorias de alteridade
que emergiram nas narrativas so as mais diversas. Assim, nordestinos so estrangeiros
entre aspas, que so de outros estados, [deixando a Moca] diferente daquela Moca de
134
antigamente, que eram todas as pessoas tradicionais, eu digo descendentes de italianos, de
espanhis, principalmente, e tambm de portugueses (...) Atacadista, Moca, 45 anos,
casado; mora com a mulher e dois filhos" (p.85). So pessoas de nimos exaltados:
Dentro de So Paulo tem gente que presta e gente que no presta, a gente no pode
generalizar a coisa. Agora, o que estraga geralmente o nordestino que eles so sangue
quente, s vezes eles no so nem assaltantes nem bandidos, mas se eles esquentam a
cabea, eles puxam a faca e matam (...) Vendedor desempregado, 32 anos, solteiro; mora
com uma irm casada na Moca (p.86). Trouxeram maus costumes para So Paulo: Eu
me lembro muito bem quando So Paulo era um lugar onde se encontrava muito europeu.
Quando comeou a vir o pessoal do Norte, os costumes foram modificados, eles
trouxeram costumes... Ns ramos mais educados; no sou contra o nortista, mas o que
acontece. Mudou o costume, mudou o respeito que se tinha pelo que era do outro, pelo
aquilo que seu e que a gente v to bem, to bonito nos Estados Unidos. (...)
Empreendedor imobilirio, quarenta e poucos anos, proprietrio de uma empresa de
desenvolvimento imobilirio; mora com a mulher e trs filhos no Morumbi (p.87)
Histrias como essas, correlacionando nordestinos com pouca civilidade, viajam
no apenas entre bairros de classe mdia e classe mdia alta, como Moca e Morumbi,
mas tambm para a periferia, como o bairro Jardim Peri-Peri, na zona oeste da cidade. A
informante abaixo, uma digitadora de 33 anos que residente nesse bairro, diz que os
nordestinos, por virem de condio horrvel, so mais propensos ao crime do que os
sulistas, pessoas mais civilizadas:
- Lu acho que e a prprla cldade que conLrlbul pra lsso. Sabe, eu acho que, por
exemplo: decerLo ele vlu o ouLro com um monLe de blusa, casaco, Ludo, e ele sem
blusa, passando um frlo desgraado, vendo o ouLro vesLldo, ele fol l, deu no sel
quanLas facadas e arrancou a blusa dele e fol embora (...) Agora, eu acho que e a
prprla cldade que conLrlbul pra lsso. orque voc v: a malorla que L aqul, vleram de
onde? vleram l do nordesLe, vleram l do Sul - apesar que o pessoal do Sul eu acho
mals, asslm, clvlllzado, ne? Lu acho que o pessoal do nordesLe, eles vlvem numa
condlo, do norLe e do nordesLe... a numa condlo, asslm, horrlvel de vlda, horrlvel.
(Caldelra, 2003:91)
A noo de circulao na teorizao de Caldeira assume uma dimenso discursiva
e temtica que ser de grande valia para a anlise a seguir, onde me debruo sobre a
135
circulao do discurso poltico e sobre sua projeo. Em termos discursivos, vimos que a
autora posiciona o crescimento da violncia e do medo na esfera da circulao de
narrativas que assumem a forma da fala do crime, algo que contagiante. No nvel
temtico, percebemos em vrias narrativas a idia do crime e da criminalidade como algo
infeccioso, e os nordestinos entram nessa generalizao, por exemplo, na fala do crime da
residente da Moca para quem os nordestinos empestearam (sic) a Moca, deixaram a
Moca mais feia
24
. Nos termos da autora, um dos resultados dessa teoria do contgio e da
inabilidade do Estado no controle do crime que as pessoas intensificam suas prprias
medidas de encerramento e controle (p.90). Os cidados acabam construindo barreiras,
tanto simblicas (como preconceito e estigmatizao de alguns grupos) como materiais
(muros, cercas e toda parafernlia eletrnica de segurana) (id.ibid.). Creio que a
etnografia de Caldeira importante ainda para mostrar que a representao do Nordeste
nos termos da violncia fsica e simblica supera as fronteiras da mdia: ela se encontra
tambm nas narrativas que circulam no dia-a-dia de So Paulo.
uols modos de enLender clrculao
Antes de proceder anlise da circulao de discursos sobre o Nordeste na esfera
eleitoral-democrtica de 2006, gostaria de reformular o conceito de circulao de
Caldeira luz das noes de comunicabilidade e iterabilidade, dois modos alternativos de
compreender como os discursos circulam.
Conforme discutimos no captulo 1, a noo de comunicabilidade (Briggs, 2005,
2007a, 2007b, 2007c) consiste na projeo que os textos fazem de seu prprio fluxo (um
aspecto pragmtico), de tal forma a posicionar os leitores de acordo com certas opinies,
certos modos de ver o mundo (um aspecto ideolgico). Comenta Briggs que, em termos
pragmticos, a poltica de verdade dos textos moldada pelo modo como as histrias
24
interessante observar a dinmica da traduo de City of Walls. Os dados foram coletados em portugus,
mas a etnografia foi escrita em ingls. Na traduo do livro para o portugus, os dados aparecem conforme
a transcrio original da entrevista. Na obra original em ingls, os dados foram traduzidos pela autora. Em
portugus, o final da entrevista dessa informante, como consta na reproduo que fiz, Empestearam a
Moca, deixaram a Moca feia" (Caldeira, 2003:32). Em ingls, Caldeira, em parte pela exigncia que a
lngua faz pela marcao do sujeito, em parte para marcar que a informante correlaciona nordestinos com o
crime, traduz: The nordestinos infested Moca, made Moca ugly.
136
constroem a si mesmas como objetos epistemolgicos atravs da projeo de sua prpria
produo, disseminao e recepo (2007a:325). Dito de outro modo, o discurso projeta
para seus interlocutores uma histria e uma circulao especficas. O jornal Folha de S.
Paulo e a revista Veja, a exemplo das outras mdias, publicam periodicamente pesquisas
sobre o perfil de seus leitores. Veja, por exemplo, anuncia na Internet que tem [l]eitores
inteligentes e exigentes, com alto poder aquisitivo, timo nvel cultural e perfil ideal para
consumir marcas de qualidade
25
. A Folha, por seu turno, indica que o seu leitor tpico
tem 40 anos e um alto padro de renda e de escolaridade e que adota, via de regra,
uma viso liberal
26
. Obviamente, os modos de determinar por onde o discurso vai
circular so bem mais abrangentes do que a divulgao de tais pesquisas de opinio elas
esto inscritas na pragmtica do discurso. Alm dessa projeo da circulao, os textos
utilizam seus elementos textuais-discursivos ideologicamente. Assim, personagens de
notcias, acontecimentos, estatsticas, etc. transformam-se em metonmias de vises de
mundo que as mdias querem levar adiante. Vimos na seo anterior que a prpria
histria do Nordeste revela a construo de cartografias comunicveis em que a regio
desponta como metonmia do passado e da morte, traos de que os discursos modernos de
So Paulo e do Sudeste querem se distanciar.
Note-se que nesta discusso sobre comunicabilidade, menciono o texto ou o
discurso como responsveis pela criao dos mapas pelos quais as notcias da violncia
sero compreendidas e iro interpelar os leitores a aceitar seu projeto ideolgico. Briggs
bastante cauteloso em no atribuir a um autor especfico, ou ao autor em abstrato, essa
responsabilidade. Essa questo densamente discutida por Judith Butler (1997) em sua
reapropriao do conceito de iterabilidade de Derrida. O juiz que, ao interpretar a lei,
aplica uma pena e decide sobre a vida ou a morte de um cidado (considerando um lugar
em que uma tal situao seja possvel), responsvel pelo ato injurioso que condena
morte e violncia? primeira vista, um categrico no parece caber como resposta,
mas se analisamos a prpria questo da responsabilidade pela circulao ou iterao das
palavras que ferem, a resposta se torna bem mais complicada. Na discusso da autora
sobre a formao do sujeito, a questo da performatividade da linguagem e do agente que
25
http://veja.abril.com.br/idade/publiabril/midiakit/veja_perfil_perfildoleitor.shtml
26
http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/quem_e_o_leitor.shtml
137
instituem esse sujeito como o mdico ou a mdica que enuncia uma menina no
momento do parto e institui assim uma feminilidade no corpo nascente, o qual, a partir de
ento, passa a participar de uma gramtica do gnero em sua sociabilidade ligada a
uma temporalidade citacional que excede o momento e o agente, mas que, mesmo assim,
institui aquele momento e aquele agente como originadores do ato, numa espcie de
fico retrospectiva. Diz Butler (1997:49) que o poder de racializar e, certamente, o
poder de atribuir um gnero, precede aquele que enuncia tal poder, mas aquele que
enuncia, no obstante, parece ter aquele poder.
A violncia na linguagem, no modelo de Butler, encontra-se justamente na
circulao ou iterao das palavras injuriosas. Circulao, em seu trabalho, assume
feies de temporalidade e subjetivao. Como atribuir responsabilidade a algum que
ecoa um dito injurioso? Aquele que conta uma piada racista responsvel pelo seu dizer
ou est apenas repetindo ditos populares cuja origem (em especial no caso da piada)
bastante difusa? A comunidade de riso que magicamente invocada com o fim da piada
tambm responsvel pela circulao da injria? Parece haver uma condensao do tempo
no ato da injria, esse tempo difuso e citacional. O sujeito que enuncia as palavras
socialmente injuriosas, diz a autora, mobilizado por aquela longa corrente de
interpelaes injuriosas: o sujeito adquire um estatuto temporrio ao citar aquele
enunciado, ao performativizar-se como origem daquele enunciado (p.50).
Como venho repetindo ao longo desta tese, h uma acumuladora e dissimuladora
historicidade da fora em jogo na circulao da injria. O prprio funcionamento do
performativo, segundo Butler, deriva de seu poder de se apropriar de suas convenes
constitutivas e de, ao mesmo tempo, encobri-las (p.51).
Creio que assim reformulado, o conceito de circulao (da fala do crime, da
injria, da invectiva racial etc.) pode ser bastante til para a construo ideolgica que
analisaremos nas sees seguintes. A circulao tem implicaes pragmticas,
ideolgicas e temporais que permitem o trabalho insidioso da violncia da linguagem,
uma violncia que, a despeito de sua historicidade difusa e dissimulada, carrega em si a
necessidade de sua prpria crtica (Ferreira, 2007:16).
138
gora Comunlcvel
Em 16 de agosto de 2006, Veja exibiu a face de uma mulher negra segurando seu
ttulo eleitoral (Figura 16). Na capa, Gilmara dos Santos Cerqueira foi apresentada como
o prottipo do eleitor que poderia decidir as eleies presidenciais daquele ano (Ela pode
decidir as eleies). Logo abaixo desse ttulo, a revista exibe a seguinte legenda:
Nordestina, 27 anos, educao mdia, 450 reais por ms, Gilmara Cerqueira retrata o
eleitor que ser o fiel da balana em outubro. Gilmara sorri tanto na capa como na
primeira pgina da reportagem (Figura 17), demonstrando uma espcie de consentimento
com o olhar constitutivo e violento de Veja.
Figura 16 Veja, 16/08/2006
139
Figura 17 - Veja, 16/08/1983
Creio que essa economia de significao seja um bom exemplo do que Bourdieu
(1991) chama de violncia simblica. Trata-se de uma forma sutil de dominao que
exercida com o consentimento daquele que ferido. Toda dominao simblica,
escreve Bourdieu (1991:50-51), pressupe, por parte daqueles que se submetem a ela,
uma forma de cumplicidade que no nem submisso passiva a uma coao externa nem
uma adeso livre a valores. um tipo de violncia que excede a dicotomia usual entre
conscincia e coero. Aquele que sujeito violncia simblica usualmente exibe a sua
cumplicidade violao em seu habitus. Bourdieu tipifica essa disposio com o caso de
algum que intimidado. A intimidao, uma violncia simblica que no sabe de si (na
medida em que no implica nenhum ato de intimidao), s pode ser exercida em pessoa
predisposta (em seu habitus) a senti-la, ao passo que outras iro ignor-la (p.51). Eu
t i pi f i co t al vi ol nci a com as pr edi sposi es no habi t us de Gi l mar a.
Referi-me ao sorriso de Gilmara e ao olhar de Veja. Em sua interessante discusso
sobre a economia visual da tortura e do desaparecimento de corpos durante a guerra
suja da Argentina, Taylor (1997) argumenta que o olhar um aspecto central na
140
formao de indivduos e de Estados. A autora entende o complicado jogo de olhares na
constituio do sujeito e da nao a partir da concepo de Lacan sobre o olhar. Olhar,
nos termos de Lacan (1981), ser olhado por um Outro. E a instituio do sujeito no
visvel, para tomar emprestada uma expresso de Lacan, corre o risco do
desreconhecimento (p.106). Na nossa relao com as coisas, afirma Lacan, na medida
em que essa relao constituda pela viso, e ordenada nas figuras da representao,
algo escorrega, passa, transmitido, de estgio em estgio, e sempre em alguma medida
e s qui va do ni s s o i s s o o que ns c ha ma mos de ol ha r ( p. 73) .
Nesse sentido, devemos entender o regime escpico de Veja como aquele que
produz o sujeito pela contingncia: Gilmara representada como o eptome dos
promissores cidados que votam no candidato de esquerda, Lula, mas a ironia no texto,
como veremos a seguir, no diz exatamente isso. Gilmara escorrega no violento jogo da
representao, talvez no exatamente no sentido lacaniano de que o sujeito no sabe
muito sobre seu contedo psquico. O espao escorregadio situado entre o sorriso de
Gilmara nas imagens e a violenta descrio verbal de Veja, no entanto, revela uma
instncia do poder dissimulado e citacional da construo ideolgica do discurso. Alm
disso, esse espao violento na medida em que acarreta o consentimento de algum com
o olhar e a descrio verbal do Outro, mas, como resposta, esse Outro os utiliza contra o
sujeito. Na distribuio desigual do poder na linguagem, a revista Veja, mais uma vez,
sutilmente posiciona os nordestinos e as nordestinas num lugar vulnervel.
Nesse regime escpico, Gilmara est sorrindo ao mesmo tempo em que sua
identidade perversamente constituda na violenta economia visual e verbal da revista de
direita. Seu consentimento empregado contra ela mesma, o que caracterstico da sutil
porm dolorosa natureza da violncia simblica. A reportagem, assinada por Julia Dualibi,
descreve Gilmara como algum que, apesar de ser ingnua e de sofrer as privaes da
pobreza, tem f na vida e em Lula. Ela vive em Irar, cidade a 145 quilmetros de
Salvador, numa casa de taipa, com cho de terra batida e paredes encardidas. Divide o
teto com seus filhos, sua me, um irmo e uma cunhada. Mais adiante: A guerreira d
duro o dia inteiro numa creche que j foi hospital e ganha um salrio mnimo. No tem
dinheiro para comprar um par de culos de 140 reais para o filho caula, mas est
satisfeita com a vida e com Lula. Soma-se aos aspectos de seu cotidiano sofrido a
141
construo da identidade de uma pessoa ingnua: Ela acredita que a reeleio de Lula
lhe far a vida ainda melhor. Ele olha muito para o povo brasileiro. Gilmara no sabe o
que mensalo. Geraldo Alckmin? No conheo.
Perceba-se a ironia de Veja ao declarar que uma pessoa que no sabe quem o
candidato de direita nem o que foi o recente escndalo no legislativo envolvendo o
governo de esquerda, o mensalo, o perfil do eleitor que ir decidir o futuro da
democracia brasileira. Segundo o modelo de circulao da injria que elaboramos neste
captulo, pode-se entender que a violncia, na representao de Gilmara e dos nordestinos
e nordestinas de quem ela eptome, pode ser evidenciada tanto na iterao de signos que
ferem como na criao de um mapa comunicvel que ideologicamente constri a
circulao (e a excluso) do discurso poltico.
Os signos da vida sofrida, da persistncia e da ingenuidade de Gilmara encontram
sustentao histrica, por exemplo, no famoso dito de Euclides da Cunha de que o
sertanejo antes de tudo um forte. A descrio de Gilmara tambm guarda muitas
semelhanas com o modo como os nordestinos e as nordestinas tm sobrevivido na
representao que, ao mesmo tempo que os fere, os torna possveis.
A iterabilidade da condio de Gilmara, eptome da condio nordestina
tenhamos em mente que Butler localiza a violncia na iterabilidade acarreta, em Veja,
uma projeo discursiva de quem participa e quem fica de fora da democracia (e da
modernidade) brasileira. Uma idia bsica no pensamento de Habermas (1992[1962])
sobre a construo da esfera pblica burguesa a de que a democracia depende da
circulao do discurso poltico. Para uma viso crtica do modelo de Habermas, tomarei a
crtica feminista de Nancy Fraser (1992) sobre essa teorizao. De acordo com Fraser,
Habermas concebe a esfera pblica como um teatro nas sociedades modernas em que a
participao poltica desempenhada por meio da fala. o espao em que os cidados
deliberam sobre seus assuntos comuns, e portanto uma arena institucionalizada de
interao discursiva. (p.110) Esse espao discursivo no o Estado. Ao contrrio, trata-
se de um lugar de produo e circulao de discursos que podem em princpio criticar o
Estado (p.110-111, nfase acrescida). importante entender que, desde o seu
encetamento, pblico no significa acessvel a todos. A circulao dos discursos que
definem a democracia , por definio, restrita a alguns. O prprio ttulo do ensaio de
142
Habermas, A transformao estrutural da esfera pblica: uma investigao de uma
categoria da sociedade burguesa (grifo meu), j anuncia que se trata de um modelo
especfico de democracia, isto , o modelo liberal-burgus. Ficam de fora dessa
concepo de esfera pblica vrios modelos de democracias, governanas e
sociabilidades que no se enquadram nos princpios liberais, como a Amrica Latina ps-
ditatorial, o mundo ps-sovitico, os estados muulmanos etc. Fraser aponta ainda que o
modelo amplamente aceito de esfera pblica e de democracia se pauta ainda em
excluses de gnero. Feminilidade e esfera pblica so termos construdos como
incongruentes: etimologicamente, pblico vem de pbico, um trao grfico de que no
mundo antigo ter um pnis era requisito para falar em pblico (Fraser, 1992:114).
Podemos acrescentar que h uma excluso racial em jogo tambm. Talvez no
aleatoriamente Veja escolheu uma mulher negra para indicar, insidiosamente, por meio de
sua capa, quem no o retrato da democracia brasileira. Compreender a circulao do
discurso poltico demanda, portanto, que se avalie criticamente quem deixado de fora
dessa circulao. Esto em questo, nessa circulao, hegemonia e dominao: a esfera
pblica oficial de ento era, e ainda , o lcus institucional primrio da construo do
consentimento que define o novo e hegemnico modo de dominao (Fraser, 1992:117).
Pode-se perceber pela descrio que Veja faz de Gilmara que ela no tem os
requisitos mnimos para participar da democracia e da modernidade idealizadas por Veja.
Ela sequer pode comprar para o filho um par de culos de 140 reais. Esse dado de sua
existncia sofrida pe em evidncia a metonmia de uma me relapsa ou incapaz (uma
iterao das mes nordestinas que deixariam os filhos morrer) e a metfora da viso, to
central para a construo das premissas iluministas em que se assenta o pensamento
moderno.
Argumentei nas linhas precedentes que Gilmara constituda pelo olhar perverso
de Veja. Em sendo violento, esse olhar constitutivo e a representao verbal voltados para
Gilmara minam suas possibilidades de se sustentar como sujeito poltico. Como
discutimos antes, as economias visual e textual-discursiva de Veja enganosamente
representam Gilmara como o prottipo dos sujeitos imperfeitos da democracia brasileira.
143
Ela no posicionada, portanto, na gora comunicvel
27
das cidadanias que Veja advoga
para os chamados brasileiros que trabalham e pagam impostos, um sintagma que faz
referncia ao Sudeste moderno e que se repete cinco vezes na trade de artigos que
constituem a matria de capa.
Como essa gora comunicvel constituda? Primeiro consideremos a poltica de
leitura de jornais e revistas vis--vis a construo de identidades nacionais. Como
Benedict Anderson (2008[1991]) argumenta, o consumo dirio de jornais est no centro
da criao de uma nao imaginada. De acordo com o pensamento de Anderson, a
emergncia da nao moderna foi corolria do capitalismo impresso na medida em que
aquela dependeu tanto do tipo de estandardizao que as lnguas impressas nacionais
(p.82) tornaram possvel para a inevitvel diversidade de lnguas humanas como do
sentimento de comunidade que surgiu do ato simultneo de ler o mesmo jornal em um
certo espao. A fico de uma nao substancial portanto ancorada nessa atividade
simultnea: o leitor do jornal, ao ver rplicas idnticas sendo consumidas no metr, no
barbeiro ou no bairro em que mora, reassegura-se continuamente das razes visveis do
mundo imaginado na vida cotidiana. Como em Noli me tangere, a fico se infiltra
contnua e silenciosa na realidade, criando aquela admirvel confiana da comunidade no
anonimato que constitui a marca registrada das naes modernas (p.68-69). Mas o
estatuto comum de tal prtica de leitura no equivalente a distribuio igualitria de
cidadanias. As naes modernas so normalmente disjuntivas no modo como organizam
suas cidadanias (Holston, 2008:24,21), e no caso brasileiro as diferenas legalizadas
entre cidados so mantidas por uma assustadora persistncia de desigualdade.
Portanto, a gora comunicvel representada por Veja um mapa que inclui certos
tipos de cidados e exclui outros. A poltica de circulao dessa revista exemplar nesse
27
gora comunicvel uma traduo possvel para communicable loop, uma expresso que Charles
Briggs, orientador deste trabalho no exterior, utilizou quando discutindo este captulo. Penso ser difcil
traduzir loop literalmente neste contexto. Em ingls, a primeira imagem que me vem mente quando leio
ou escuto essa expresso o centro comercial e de diverses de Chicago, conhecido como The Loop. O
mapa do metr permite uma imagem ainda mais clara de um loop: nessa regio, as linhas de trem do um
lao (loop), circundam o centro. O termo gora, por seu turno, est na prpria discusso de Habermas do
surgimento da esfera pblica no mundo antigo: A vida pblica, bios politikos, acontecia na praa (agora)
(Habermas, 1992[1962]:3). Tanto o Loop como a gora no so lugares desenhados para a subalternidade.
No obstante, o centro no fixo e est sempre suscetvel ressignificao: bom lembrar que a festa de
posse de Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, foi realizada no Millenium Park,
exatamente no Loop de Chicago.
144
sentido. Veja no destinada aos cidados de segunda classe da democracia brasileira
(Holston, 2008:40), uma categoria a que Gilmara e muitos nordestinos e nordestinas
pertencem. Conforme discutimos brevemente na seo anterior, Veja divulga seus modos
de circulao fsica no Brasil. Em seu site, encontramos dados da distribuio de seus
leitores ao redor do Brasil e em termos de classe econmica, gnero e idade. A primeira
informao no item Perfil do Leitor a de que [o]s leitores de VEJA so atuantes,
preparados e bem posicionados no mercado de trabalho, representando o principal grupo
de consumidores do Brasil. No ano de 2008, 72% de seus leitores ocupavam as classes
A e B, ou seja, as fatias da populao perfazendo renda mensal individual entre R$
2.012,67 e 6.563,73 (classe B) e mais de R$ 6.563,73 (classe A). O salrio mensal de
Gilmara (R$ 450) a posiciona na classe mais baixa (E), que correspondeu, juntamente
com a classe D, a apenas 4% dos leitores em 2008. Nesse sentido, Gilmara excluda da
comunidade de leitura imaginada que constitui a nao e, assim, do cenrio poltico. A
construo dessa gora comunicvel, de que deriva a excluso de Gilmara e dos
nordestinos e nordestinas que ela representa, ancora-se numa indexicalidade e numa
metapragmtica especficas, as quais investigarei na seo seguinte.
Crdem lndexlcal e consLruo meLapragmLlca da excluso
Argumento que tanto a indexicalidade como a construo metapragmtica dessa
reportagem de Veja funcionam para produzir desigualdade na linguagem. A produo de
desigualdade, vale ressaltar, pressuposta nas relaes que envolvem violncia, na
medida em que h uma assimetria entre os participantes de tais relaes. Conforme
discutimos no captulo anterior, lingistas e antroplogos tm demonstrado que as
condies discursivas e polticas para o uso da lngua so desigualmente distribudas na
sociedade (Bourdieu, 1991; Bauman & Briggs, 2003; Silverstein, 2004; Blommaert,
2005). O uso da linguagem, alerta Silverstein (2004:632), pressupe uma no-
uniformidade de conhecimento dentro de uma comunidade. Alm disso, conforme
venho apontando ao longo desta tese, o projeto mesmo da modernidade foi construdo em
145
bases desiguais (Bauman & Briggs, 2003). Tal projeto, desde o Iluminismo, no se deu
separadamente de construes ideolgicas da linguagem e da alteridade.
A indexicalidade da reportagem pode nos ajudar a entender o quo desigual a
construo da gora comunicvel que define quem conta ou no para a democracia
brasileira. Silverstein defende que toda forma lingstica uma forma indexical
(2003:194-195). Ou seja, toda forma lingstica refere-se s condies envolventes de sua
prpria produo e ordem macrossocial maior que tanto modela a interao lingstica
como exerce uma espcie de fora gravitacional nos significados em jogo. Em suas
palavras, todo evento discursivo manifesta, em diferentes graus, entextualizaes
autoritrias, autorizadas, ou antes disso, no aprovadas ou mesmo contestadas por centros
de criao de valor (Silverstein, 2004:623)
28
.
Para entendermos como funciona a indexicalidade nessa reportagem de Veja,
analisarei alguns recursos textuais-discursivos mobilizados pela revista para atacar o
Bolsa Famlia, o programa social criado no governo Lula destinado a oferecer recursos
financeiros a famlias pobres que mantiverem suas crianas na escola. No segundo artigo
de Julia Dualibi, intitulado "O que vem depois da euforia?" percebe-se uma construo
indexical que ser utilizada no s nesse texto, mas tambm no seguinte, Refns do
assistencialismo, assinado por Alexandre Oltramari. Refiro-me a um salto de escala da
representao de Gilmara, cuja narrativa longamente analisada no primeiro artigo, para
44 milhes de outros brasileiros. Esses outros brasileiros so nomeados justamente nos
termos do avesso modernidade to caracterstico da representao do Nordeste:
C nordesLe experlmenLa uma bolha de cresclmenLo lnflada pelo aumenLo do consumo,
que, por sua vez, e lasLreado em grande parLe no dlnhelro que os brasllelros que
Lrabalham e pagam lmposLos carrelam para a reglo em programas asslsLenclals
gerenclados pelo governo federal, como o 8olsa lamllla (!ulla uuallbl, C que vem
depols da euforla?", -(B%, 16/08/2006)
Serrano do Maranho e o munlclplo nordesLlno com o malor porcenLual da populao
reglsLrado no 8olsa lamllla, o programa que dlsLrlbul dlnhelro dos brasllelros que
28
Bauman & Briggs (1990:73) cunham o conceito de entextualizao, uma noo que muito semelhante a
iterabilidade. Trata-se do processo segundo o qual o discurso pode ser extravel. Na entextualizao, um
trecho de produo lingstica transformado numa unidade um texto que pode ser deslocado de seu
contexto interacional. E mais: a entextualizao pode muito bem incorporar aspectos do contexto, de tal
forma que o texto resultante carrega elementos de sua histria de uso consigo.
146
Lrabalham e pagam lmposLos a 44 mllhes de ouLros brasllelros (Alexandre ClLramanl,
8efens do asslsLenclallsmo", -(B%, 16/08/2006).
Nessa construo discursiva, o Bolsa Famlia concebido como transferncia de
renda do Sudeste moderno e democrtico (os brasileiros que trabalham e pagam
impostos) para o Nordeste medieval e miservel (diz a revista que A regio mantm
viva suas oligarquias, em especial na Bahia de Antonio Carlos Magalhes e no Maranho
de Jos Sarney). A revista utiliza-se da voz de especialistas para legitimar sua poltica de
verdade e confirmar que se trata de transferncia de renda e no de ataque pobreza.
L-se na reportagem: Especialistas lembram que a transferncia de renda no pode ser
mantida indefinidamente. A citao da voz dos especialistas evidentemente uma
estratgia crucial para essa construo poltica. As aspas so um recurso indexical
importante por implicarem uma existncia real (Peirce, 1955[1897]:101) entre o signo
(uma marca textual) e o objeto (a voz no mundo real). Assim, as aspas aparecem para
legitimar uma violenta inferncia, a saber, de que os seres abjetos nordestinos
(verdadeiros animais?) agora no morrem mais de fome:
A bodega e a felra da cldade so os prlmelros lugares onde se percebem os reflexos
desse aumenLo de renda. 'CuanLo mals pobre, mals forLe e essa regra. Lsse dlnhelro e
que faz glrar o comerclo local', dlz 8osa Marques, coordenadora do nucleo de esqulsa
em ollLlcas para o uesenvolvlmenLo Pumano da uC-S. Lm maro passado, uma
pesqulsa reallzada em parcerla enLre duas unlversldades federals, a llumlnense e a da
8ahla, consLaLou que quase 60 das pessoas no nordesLe passaram a consumlr mals
depols que enLraram para o 8olsa lamllla. Mas no apenas o esLmago fol
conLemplado. (!ulla uuallbl, C que vem depols da euforla?", -(B%, 16/08/2006)
O naturalismo do enunciado Mas no apenas o estmago foi contemplado itera,
obviamente, um conjunto de enunciados que temos analisado sobre a abjeo e a
animalizao dos nordestinos e das nordestinas. Invocar o territrio no humano, afinal,
necessrio para reivindicar a prpria autonomia humana e orgnica dos sujeitos
hegemnicos. Veja constri uma violenta epistemologia moderna que exclui Gilmara e
outros 44 milhes de nordestinos, faces emblemticas dos significados de raa, classe,
gnero e territorialidade repudiados pela comunicabilidade de Veja.
147
H ainda recursos icnicos participando dessa violncia. A construo da verdade
baseia-se tambm em grficos que anunciam o Nordeste como o Outro do Brasil (Figuras
18 e 19) e em uma imagem catica (Figura 20) em que pobres residentes de Serrano do
Maranho so fotografados em uma longa fila, esperando, segundo a legenda, para
receber a esmola dada pelo governo assistencialista.
Alm da indexicalidade, a comunicabilidade de Veja depende de uma construo
metapragmtica especfica. Tem-se a encenao de uma metafsica da presena (Derrida,
1974): os dois reprteres, Julia Dualibi e Alexandre Oltramari, escrevem seus artigos,
respectivamente, das cidades de Irar, Bahia, e Serrano, Maranho, indexando, portanto,
a voz de Veja proximidade da dita realidade que os reprteres tentam descrever. O
ndice, nos termos de Peirce (1955[1897]), tem uma relao existencial, real com o
objeto da essa metafsica da presena segundo a qual os jornalistas assinam seus
textos do lugar em que viram e fotografaram (portanto tambm iconizando a
realidade em construo) ser uma das principais bases da construo ideolgica da gora
comunicvel de Veja.
Nessa construo metapragmtica, Veja aponta ainda para representaes
especficas do aqui e agora do discurso, bem como de seu ns e eles. Em outras
palavras, a construo metapragmtica depende de uma dixis. O excerto a seguir
bastante representativo disso:
Serrano do Maranho e uma amosLra do que se passa em mllhares de ouLras pequenas
cldades pobres. na semana passada, -(B% percorreu 1.200 qullmeLros e vlslLou clnco
munlclplos, enLre o Maranho e o laul. LnconLrou slLuaes parecldas em quase Lodos.
(...) uma noLvel exceo e a cldade de edro ll, no laul, a 220 qullmeLros da caplLal,
1ereslna. >1%, alem de oferecer enslno fundamenLal adequado, a prefelLura [ mlnlsLrou
23 cursos proflsslonallzanLes nos ulLlmos dols anos (...) edro ll vem lnvesLlndo na
formao de arLeso, garons e [oalhelros - e abrlndo, asslm, uma 3*-)" ,' #"H," do
8olsa lamllla. (...) um dos cursos de capaclLao esL enslnando Lecnlcas de ourlvesarla
bslca aos alunos. Csmarlna uchoa da Sllva, 33 anos, dols fllhos e 8olsa lamllla de 80
reals, e um deles. ara seLembro, quando Lermlna o curso, ela [ Lem uma promessa de
emprego que lhe render 300 reals por ms - e slgnlflcar o flm da dependncla do
governo federal. ena que edro ll se[a uma exceo. (Alexandre ClLramanl, 8efens do
asslsLenclallsmo", -(B%, 16/08/2006).
148
Figura 18 - Veja, 16/08/2006 Figura 19 - Veja, 16/08/2006
Figura 20 Veja, 16/08/2006
Veja ancora-se em sua visita a municpios pobres do serto nordestino para
descrever o que se passa em milhares de (...) cidades pobres. Essa metafsica da
149
presena no apenas a base para uma construo ideolgica da verdade, mas tambm o
fundamento de uma dixis violenta. As localidades visitadas so enunciadas como o ali,
que marca sua distncia do aqui das cidades do Sudeste que no dependem do Bolsa
Escola. Esses ali e aqui tambm pressupem um eles (inferiores, pr-modernos) e
um ns (superiores, observadores modernos). O campo experiencial tambm a
motivao para a porta de sada pela qual a cidade de Pedro II saiu da dependncia
do governo assistencialista. No obstante, Pedro II no passa de uma exceo para a
epistemologia moderna que Veja advoga, uma construo comunicvel que posiciona
Veja e sua comunidade de leitura imaginada em agudo contraste com o Bolsa Escola e os
significados raciais, de gnero e territoriais que ele acarreta.
O discurso de Veja tambm jocoso. A referncia nordestina Osmarina Uchoa
da Silva (35 anos, dois filhos e Bolsa Famlia de 80 reais), uma forma lingstica que soa
derrisria, no apenas itera a legenda da capa (Nordestina, 27 anos, educao mdia, 450
reais por ms), mas tambm extrai seu efeito de zombaria de uma ordem poltico-
pragmtica maior que estipula os limites da modernidade brasileira. Os sujeitos que esto
fora desse mbito poltico se tornam objeto do ridculo. Como mencionei anteriormente,
o prprio termo sujeito quando aplicado representao dos nordestinos e das
nordestinas na mdia hegemnica se torna problemtico na medida em que estes so
freqentemente empurrados para o inabitvel territrio da abjeo. Abaixo ofereo dois
exemplos dessa abjeo, o primeiro, do artigo Refns do assistencialismo, e o segundo,
da sempre preconceituosa coluna de Diogo Mainardi:
Serrano do Maranho e o munlclplo nordesLlno com o malor porcenLual da populao
reglsLrado no 8olsa lamllla, o programa que dlsLrlbul dlnhelro dos brasllelros que
Lrabalham e pagam lmposLos a 44 mllhes de ouLros brasllelros. So 6.910
beneflclrlos. !I* #' #".' 2/"()* ," 3*3/1"JI* %##* #%4(%K%$", aLe porque, segundo o
ulLlmo censo, havla menos de 3.000 hablLanLes na cldade. A $'-)* 2/' 2/"#' LMMN
,*# &*-",*-'# ,* O%1"-'P* '#)I* (* 3-*4-"&". (-(B%, 16/08/2006, negrlLo acrescldo)
S".T C',%2'" U,32% 1(L /%22(52% /"9" .50'5/%#5.3% '% IVW ( .(0%'"2 '" +W 4(#" (.3%'"
'( )(2X54(* 7D" .(5 " 6,( T 45"2* P***Q Y,#% T ,9 "4"23,05.3%* N,(2 '5L(28 ,9% .(9%0%
(#( /"0/('( % (Z4#"2%JD" '( 9%'(52%8 0% .(9%0% .(X,503( (#( /25% ,9% 2(.(2?%
1#"2(.3%# X2%0'( /"9" [#%X"%.8 )(2X54(8 "#0 /D #3KKK %8' #""&" )&6+&" +# 86+# #/#"
7L4. (ulogo Malnardl, Agora me acusam de anLlnordesLlno", -(B%, 14/03/2007,
negrlLo acrescldo, lLllco no orlglnal).
150
As estratgias textuais-discursivas em ambos os excertos se assemelham por
tornarem o Nordeste um territrio difuso e incognoscvel, traos tpicos de uma categoria
abjeta. No primeiro excerto, o dado do censo apresentado como a nica fonte possvel
de mensurao da quantidade de habitantes de Serrano do Maranho, o que, pela
cartografia criada pelo artigo, discrepa do dado sobre o nmero de beneficirios do Bolsa
Famlia (5.000 habitantes contra 6.910 beneficirios, o que tambm pode ser lido como
um indcio de que haveria corrupo na distribuio das bolsas). Em outras palavras, no
possvel saber o porcentual de habitantes beneficiados (mais uma caracterstica no-
moderna da cidade, a inaptido estatstica), apenas que todos recebem ajuda dos
brasileiros que trabalham e pagam impostos. Na coluna de Diogo Mainardi, evidente
a impossibilidade de diferenciar um estado nordestino do outro, o que faz o colunista se
irritar e dizer que eles vm daquelas bandas. O Nordeste aparece, portanto, como uma
imprecisa e menosprezada categoria que, no entanto, requerida para constituir os limites
da inteligibilidade do discurso moderno de Veja.
A abjeo comunicvel e a desigualdade encenadas nas pginas de Veja e da
mdia hegemnica do Brasil participam da violncia discursiva que fere os nordestinos.
Como temos visto, esses sujeitos tambm so ridicularizados como animais, plantas,
cidados de segunda classe, pessoas ingnuas e maus estrangeiros. Eles so atacados
justamente em seu ponto mais vulnervel: sua condio. Esse ataque verbal e visual
articulado a uma comunicabilidade que d a toda uma construo discursivo-ideolgica a
aparncia de um fato natural ou de apenas uma piada. Como Diogo Mainardi
argumenta em seu violento artigo, Eu admito que chamei Lula de oportunista. Eu admito
que, privadamente, costumo referir-me a ele com termos bastante mais imprprios. Eu
admito at mesmo um imperdovel desconhecimento em matria de geografia nordestina.
O que nunca poderei admitir preconceito. O desreconhecimento de Mainardi de seu
preconceito evidente remete-nos ao fato de que, em sua construo comunicvel, o
discurso que fere precisa disfarar sua prpria construo pragmtica (e, portanto,
poltica). Tendo em vista que os performativos que ferem sempre encobertam suas
condies constitutivas (Butler, 1997:51), creio ser necessrio prosseguir na
caracterizao desses performativos.
151
CAPTULO 5
CARTOGRAFIAS DA SUBJETIVIDADE
Sua me queria v-lo. Ele estava embaixo da cama respirando
escurido enquanto a voz dela pronunciava o nome dele pelos
cmodos, sua procura. Ben? Ben? Benjamin?" Ele se
encolhia dentro do prprio silncio. No queria ser visto,
agora no. Havia erros antigos zumbindo sua volta,
pensamentos amargos, uma pobreza de ser que era
desagradavelmente mida. Ela o queria em estado de brilho.
Ele no era capaz de brilhar, agora no, e assim desapareceu e
deixou a me chamar seu nome em cmodos que respondiam
apenas com papel de parede e luz da tarde, e a muda dignidade
feminina da moblia. (...) Esperou ali, oculto em sua verso
mais triste, um menino debaixo de uma cama que no
respondia ao chamado da me. (...) Estava em seu eu menor, o
eu suplicante, o eu que se escondia, e logo, muito em breve,
ele e o av encontrariam sua me, que tinha necessidade de
que ele fosse outro. (...)
E o av falou para Ben: Me d um abrao apertado;
e Ben se entregou aos grandes braos peludos do av. L
estava o perfume, a doura almiscarada, penetrante, do hlito
dele. Ben se desfez no abrao do av. Ele estava livre para ser
ningum.
Laos de sangue, Michael Cunningham
Para no fim da prxima dcada trazer para a civilizao sses
18 milhes de nordestinos prticamente mortos, a Sudene
precisa das reformas, de poder poltico para lutar por elas.
Veja, 17/02/1969
SerLo-favela
No imaginrio brasileiro, bastante conhecida a dicotomia serto/mar. A exemplo
de outras dicotomias, esta carrega uma diviso assimtrica entre seus dois termos. O
152
serto comumente aparece como o lugar do vazio e da pobreza, um espao que precisa
ser preenchido com uma misso civilizadora que lhe traga desenvolvimento. O litoral
compe, muito freqentemente, a imagem do lado civilizado e opulento da nao, cujo
progresso se deve estender ao serto. Como bem observa Vidal e Souza (1997), essa
geografia imaginada no se isenta de ambigidades. Se, por um lado, o serto o espao
de um vazio que alm de deserto atrasado, por outro lado, a esse serto que se
atribuem as chances de conservao do esprito verdadeiramente nacional (Vidal e
Souza, 1997:161). O litoral, como marca da diferena que compe a identidade do serto,
surge ora como parte civilizada que deve se estender ao interior, ora como poro
degradada e inautntica que deve se renacionalizar, absorvendo a pura brasilidade da
hinterlndia (id.ibid.).
Na esfera da arte brasileira, imagens de serto ou de mar ocupam um lugar central
na composio de uma utopia da nao. Em seu ensaio A utopia no cinema brasileiro,
Lucia Nagib discute as origens de Utopia, a ilha idealizada pelo filsofo renascentista
Thomas More. Conta a autora que a ilha teria sido imaginada a partir de correspondncias
trocadas entre More e Amrico Vespcio, que havia visitado a ilha de Fernando de
Noronha. A descrio da beleza da ilha, de sua tranqilidade e harmonia teria inspirado
More a localizar ali a sociedade perfeita que imaginara, ptria de uma sociedade isolada
da opresso e da injustia que a circundavam. A ilha e o conceito idealizados por More
fazem parte de uma dialtica que carrega em si o possvel e o impossvel. Nas palavras de
Nagib:
Faz parte essencial de Utopia a sua impossibilidade. A palavra,
inventada por More, rene o vocbulo grego topos, ou seja, lugar, a
uma combinao de dois prefixos: ou, que significa negao, e eu, que
indica boa qualidade. Assim, utopia seria ao mesmo tempo o bom
lugar e o lugar nenhum, uma combinao que, na poca, serviu a
More para camuflar seu projeto muito concreto de mudanas sociais,
aplicveis a seu prprio pas, a Inglaterra. Era, portanto, na origem, um
projeto prtico, que acabou se universalizando com o sentido de sonho
impossvel, de sociedade ideal cuja perfeio se torna irrealizvel.
(Nagib, 2006:32)
Essa dialtica da utopia bastante presente no modo como o serto e o mar
surgem na arte do Brasil. Na obra de Graciliano Ramos, o lugar nenhum se avoluma na
153
composio do serto nordestino, um lugar que, no obstante, carrega em si o trao do
bom lugar. Em Vidas Secas, Fabiano, Sinh Vitria, os dois meninos e a cachorra
baleia transitam do nada para lugar nenhum. Suas vidas so to secas quanto a caatinga
por onde erram. A adaptao de Nelson Pereira dos Santos de Vidas Secas [1964] para o
cinema captura essa utopia calcada no desalento, numa representao da misria e da
fome que abalam o expectador. O incmodo permanente no filme: o mesmo rudo
agudo e contnuo que abre a pelcula retorna em seu final, poucos instantes aps Sinh
Vitria [Maria Ribeiro] perguntar a Fabiano [tila Irio] se eles um dia se tornariam
gente. A isso, Fabiano, que pouco fala em todo filme, responde com um categrico no.
Deus e o diabo na terra do sol, clssico filme de Glauber Rocha, lanado no
mesmo ano de 1964, apresenta ao cenrio artstico aquilo que Lucia Nagib chamar de a
utopia mais famosa do cinema brasileiro: O serto vai virar mar, e o mar vai virar
serto (2006:25). Reconhecida matriz do cinema autoral brasileiro, Deus e o diabo na
terra do sol aposta nesse leitmotiv de transformao do serto em mar. A opressiva
paisagem seca e miservel do serto contraposta imensido do mar. Na cena final do
filme, Manuel [Geraldo Del Rey] e Rosa [Yon Magalhes], dois nordestinos que so
submetidos ao longo da narrativa ao pior da violncia estrutural
29
e da violncia fsica,
correm em direo ao mar. Rosa cai durante a corrida; Manuel, no obstante, segue em
sua marcha utpica, at que ao plano-seqncia de sua corrida no serto se superpe a
imagem do mar. Nessa obra, o nordestino, aps ter sofrido as piores injustias, finalmente
encontra o prometido mar, o avesso daquilo que compusera at ento sua sobrevida. A
lgica da sobrevida derridiana ocupa, alis, um lugar importante na visada utpica de
Glauber Rocha. Antes de correr para o mar, Manuel havia se juntado ao bando de Corisco
[Othon Bastos]. O cangaceiro, que acabara de batizar Manuel de Satans, diz ao vaqueiro
29
Violncia estrutural um conceito bastante controverso no campo da antropologia. A noo de violncia
estrutural nasce na teologia da libertao e se refere aos modos de dominao invisveis que naturalizam
injustias e desigualdades de gnero, raa, classe e sexualidade, dentre outras. Trata-se da violncia da
pobreza, da fome e das precrias condies de sobrevivncia. A violncia estrutural, de acordo com Nancy
Scheper-Hughes (2004:14), mascara as origens sociais da pobreza, da doena, da fome, da morte prematura.
Apesar de ser uma violncia gestada na superestrutura, no vista como tal. Ideologias autorizadas pela
violncia estrutural no culpabilizam o estado, ningum tido como responsvel, a no ser os prprios
pobres (id.ibid.). Alguns antroplogos, em especial Alba Zaluar (1999:11), criticam esse conceito pelo
fato de nele violncia ser sinnimo de desigualdade, explorao, dominao, excluso, termos
comumente utilizados com referncia pobreza e discriminao de raa e gnero. Encontram-se apenas
causas externas para o ato violento e apagam-se o abuso da fora, o desmando e as relaes de poder e
dominao que se estabelecem no interior dos grupos.
154
que siga rumo ao mar caso ele (Corisco) morra. E continua: Por onde passar, pode dizer
que Corisco estava mais morto que vivo. Tal como os retirantes de Portinari, nem vivos
nem mortos, seres que subvertem o ideal moderno de triunfo da vida, Corisco assume sua
morte em vida e atribui a ela um fim de justia social e uma teleologia: Virgulino
morreu de uma vez, Corisco morreu com ele. Por isso mesmo precisava ficar de p,
lutando sem fim, desarrumando o arrumado, at que o serto vire mar e o mar vire
serto.
A utopia de Glauber Rocha evidencia no paralelismo cruzado de seu quiasma (o
serto vai virar mar e o mar vai virar serto) um excesso no espao ednico a ser
alcanado. Em se chegando ao mar, este mar virar serto. Para alm da pureza de um
mar redentor, a salvao do nordestino pressupe o transbordamento do prprio mar onde
ela se completar como promessa um mar que , de partida, excedido pelo serto que o
constitui como diferena.
Neste captulo, pretendo discutir como o oposto dessa utopia comparece na forma
de instanciao de uma matriz antiutpica que constitui as identidades nordestinas na
mdia do Sudeste. Apresento uma anlise da premiada srie de reportagens sobre o
Nordeste intitulada Vida Severina: Da misria do serto realidade da favela, assinada
por Paulo Marqueiro e Selma Schmidt e veiculada pelo jornal O Globo entre 15 e 22 de
maio de 2005. Como o ttulo da srie antecipa, o movimento no ednico. O destino da
misria do serto no o mar, mas o outro plo da pobreza do Brasil, a favela. A forma
como as subjetividades de dezenas de nordestinos e nordestinas so descritas nessa srie
ser o meu leitmotiv para fazer, adiante neste captulo, um esboo da subjetividade sobre
bases no-modernas. Tentarei enxergar caractersticas icnico-indexicais nessas vidas
severinas que esto contiguamente vinculadas no apenas ao eles, os nordestinos
miserveis, mas tambm ao ns, os opulentos habitantes do Sudeste.
vlda Severlna
Durante oito dias seguidos do ms de maio de 2005, O Globo publicou uma srie
de reportagens sobre o movimento migratrio entre o serto nordestino e o Rio de Janeiro.
155
A srie de reportagens intitulada Vida Severina: da misria do serto realidade da
favela, de autoria de Paulo Marqueiro e Selma Schmidt, recebeu importantes prmios de
jornalismo naquele ano, dentre eles o Prmio Esso de Jornalismo e o Prmio Imprensa
Embratel. Vale ressaltar que esta era a 50
a
edio do Prmio Esso, cuja primeira edio,
em 1955, havia premiado os jornalistas Mario de Moraes e Ubiratan de Lemos, da revista
O Cruzeiro por uma reportagem sobre a desconfortvel viagem de migrantes nordestinos
em paus-de-arara. A srie Vida Severina faz meno a essa matria histrica, intitulada
Uma tragdia brasileira: os paus-de-arara (Figura 21). Como se pode ler no excerto da
Figura 21, os jornalistas de O Globo entrevistam um dos autores da reportagem de O
Cruzeiro, Mario de Moraes. As citaes da fala do reprter enfatizam a ilegalidade dos
nordestinos nesse tipo de transporte (Era proibida a entrada de paus-de-arara no Rio),
seu sofrimento (O caminho s parava quando quebrava ou quando o motorista queria.
O sofrimento era brutal), a abjeo de sua condio (As pessoas urinavam no prprio
caminho) e a violncia que os acompanha e os constitui (Vi acidentes e at
assassinatos de motoristas por nordestinos revoltados).
Figura 21 O Globo, 17/05/2005
Esses trechos da fala de Mario de Morais citam, por sua vez, o prprio modo
como a condio nordestina se tornou inteligvel. Tanto o sofrimento quanto a abjeo e a
violncia tm ocupado lugar central em minha descrio da encenao dessas identidades
156
da mdia. Nesta seo, darei continuidade a essa descrio, associando-a sobretudo ao
primeiro aspecto da citacionalidade do excerto de O Globo, a saber, o abandono pela lei
(Agamben, 1998). Como veremos adiante, de um lado, sofrimento, abjeo e violncia e,
de outro, abandono da e pela lei so questes definidoras no apenas das subjetividades
nordestinas, mas do sujeito moderno.
Conforme j apontado neste captulo, a marcha dos nordestinos ao Rio de Janeiro,
nos termos de O Globo, antiutpica. Em vez de correrem rumo ao mar, como no
utpico Deus e o diabo na terra do sol, os nordestinos e as nordestinas descritos pelo
jornal migram de um plo da misria nacional, o Serto, para o outro, a Favela (Figura
22). Na primeira reportagem da srie, os jornalistas salientam que a demanda entre
cidades do Nordeste e as comunidades pobres do Rio tanta que j existem linhas
fazendo a ponte serto-favela. E continuam:
A cada ms, pelo menos dols nlbus da vlao lLapemlrlm parLem do nordesLe (um do
Cear e ouLro da aralba) com desLlno as favelas da 8oclnha e de 8lo das edras. CuLros
dols fazem o Lra[eLo lnverso. As passagens so vendldas pela agncla v8M 1urlsmo, que
funclona denLro das comunldades, e por represenLanLes da operadora nas cldades de
var[oLa e Carlre, no Cear, e de Camplna Crande, na aralba. (@ A#"<", 13/03/2003,
p.26)
Dor, sofrimento e tristeza acompanham os nordestinos em sua errncia rumo ao
Eldorado. A cearense Queila Freitas a primeira personagem apresentada nesse drama.
O sol est comeando a iluminar a caatinga quando Antonia Queila de Sousa Freitas, de
16 anos, entra no Aude de Araras, no serto do Cear, para o ltimo banho antes de
partir, eis como iniciado o texto da reportagem. Depois do banho, a cearense abraa
calorosamente os avs, a me e seis dos oito irmos. O pai, que nunca aprovou a ida de
Queila ao Rio de Janeiro, leva a moa no colo at a canoa que a transportar pelo aude.
Queila chora ao longo de quase todo o trajeto. medida que o barco avana, ela vai
deixando para trs a famlia e a casa modesta na Ilha de Iza, rea rural de Hidrolndia,
onde nasceu e foi criada.
Assim como Gilmara Cerqueira, personagem central da violenta reportagem de
Veja sobre o perfil do eleitor nordestino nas eleies para presidente de 2006, Queila
Freitas se torna um cone da dor e da misria que constituem os nordestinos. A cearense
157
Figura 22 O Globo, 15/05/2005
citada, por exemplo, como doloroso exemplo das estatsticas da mortalidade infantil no
Nordeste:
A esperana de vlda ao nascer na 8eglo nordesLe e de 66,7 anos, enquanLo no SudesLe
e de 70,1 anos. A Laxa de morLalldade lnfanLll e de 41,4, o dobro da reglsLrada no
SudesLe (20,2). Cuella e um doloroso exemplo dessas esLaLlsLlcas: ela perdeu dols de
seus dez lrmos com pneumonla: um com nove meses e ouLro com um ano. (@ A#"<",
13/03/2003, p.26)
Insisto aqui que os nordestinos so, de fato, fantasmas que assombram a ontologia
vitalista das subjetividades do Sudeste. O fantasma, de acordo com Derrida
(1994[1993]:158), se materializa atravs da incorporao em um corpo sem natureza,
em um corpo no-fsico que poderia ser chamado, se pudermos confiar nessas oposies,
de um corpo tcnico ou um corpo institucional. No excerto anterior, perceba-se que a
esperana de vida no Nordeste menor do que no Sudeste e a taxa de morte entre os
158
nordestinos (na infncia) o dobro da que se registra no Sudeste. Os nordestinos, nesta
srie de reportagens, no esto nem vivos nem mortos; so os habitantes do territrio
fantasmagrico da sobrevida. O semblante entristecido do garoto Linaldo Rodrigues
(Figura 23), que carrega lenha para ajudar os pais, acompanhado, na pgina de jornal,
da legenda A gente almoa no meio da tarde para comer uma vez s, que uma citao
da fala da cearense Rosa Cardoso Moura. Tanto a imagem sofrida como o texto que
anuncia a falta daquilo que indispensvel para o corpo dos modernos, mas que assume
outra lgica para identidades que se incorporam, indexam uma forma de existncia
espectral, uma forma de entrevida ou, nos termos de Agamben (1998), de indistino
entre vida e morte que, em ltima instncia, constitui o paradigma moderno
30
. mesma
pgina do jornal, a fala do auxiliar de pescador Francisco das Chagas Rodrigues citada,
evocando a sobrenaturalidade e a sacralidade dessas formas de vida: A gente vive pelo
milagre de Deus. Segue-se a essa fala uma meno fatalidade da fome na (entre)vida
da famlia de Rosa Moura:
no menos dlflcll e a vlda da famllla de 8osa Cardoso Moura, de 47 anos, vllemar
Moura, de 29, e seus Lrs fllhos. P clnco anos, vllemar passou um ms no 8lo, na casa
de um lrmo no Morro dos Macacos, e reLornou para o Cear porque no Llnha como
consegulr emprego.
- As crlanas merendam na escola e ns almoamos no melo da Larde, para comer s
uma vez por dla - conLa 8osa. (@ A#"<", 13/03/2003, p.28)
30
Agamben (1998) centra sua discusso sobre a biopoltica moderna na figura do homo sacer, uma
categoria de sujeito no direito arcaico romano cuja vida podia ser morta mas no sacrificada (p.53,
nfase no original). Matar um homo sacer no significava cometer um crime (nos termos da lei humana)
tampouco um sacrifcio (nos termos da lei divina). O homo sacer era duplamente banido. Tanto esse
banimento quanto essa sacralidade em questo na figura do homo sacer so conceitos ambguos que
remetem, em ltima instncia, zona de indistino em que foram gestados tais conceitos e forma como
essa indistino permanece na biopoltica contempornea, quando alguns sujeitos os presos de
Guantnamo, por exemplo so expropriados dos mais bsicos direitos humanos, por entrarem numa zona
de exceo tpica dos estados totalitrios modernos e da (bio)poltica de exceo adotada pelo governo do
presidente George Bush, ex-lder da maior e mais antiga democracia do planeta. A sacralidade da vida,
que hoje invocada como um direito absolutamente fundamental em oposio ao poder soberano, na
verdade uma expresso original precisamente tanto da sujeio da vida a um poder sobre a morte quanto a
exposio irreparvel da vida relao de abandono (Agamben, 1998:53). A zona de indistino est
presente na prpria raiz de banimento -ban. Esse radical est na origem de termos que incluem e
excluem: bando e bandido, bandana e abandono. A palavra latina sacer, significando sagrado e
maldito, carrega a mesma indistino.
159
Figura 23 O Globo, 15/05/2005
Essas falas de nordestinos, somadas a descries de seu sofrimento e de suas
alegrias, funcionam como sindoques da condio nordestina. A sindoque tem um
funcionamento semelhante ao da metonmia, mas, diferente desta, a relao de
contigidade que aquela estabelece est relacionada mais especificamente com a
quantificao parte pelo todo, gnero pela espcie, singular pelo plural (Houaiss &
Villar, 2001; Tringale 1988). Lembremos que contigidade a palavra-chave da relao
estabelecida por um ndice com o seu objeto. Nesse sentido, h um funcionamento
indexical nessas identidades que no podemos perder de vista.
O espao da sobrevida, essa zona de indistino entre a vida e a morte, um dos
princpios estruturantes da viagem dos nordestinos ao Rio de Janeiro. A iminncia da
morte assombra a vida desses retirantes. A histria de suas vidas s faz sentido se
160
vinculada ao desastre: Para passar o tempo, Vladimir recorre ao jogo eletrnico. A mo
esquerda mutilada, deslizando sobre o aparelho, denuncia uma realidade cruel: ele perdeu
trs dedos ao se acidentar numa mquina de espalhar massa, quando trabalhava numa
padaria em Guaraciaba. Tinha apenas 11 anos (O Globo, 15/05/2005, p.27). O tlos da
morte funciona como uma espcie de sentena de morte. Na mesma reportagem, o jornal
diz que a seca (um prenncio da morte iminente) est sempre espreita:
uenLro do nlbus, nada escapa a fllmadora de AnLnlo Marcos 8odrlgues de Souza,
morador e dono de um bar em 8lo das edras. uo lado de fora, a caaLlnga domlna a
palsagem. Lmbora escassa, a chuva nesLa epoca do ano garanLe o verde da vegeLao.
Cs serLane[os sabem que e por pouco Lempo: a seca esL sempre a esprelLa. (@ A#"<",
13/03/2003, p.27)
Dito de outro modo, o fantasma da morte est sempre espreita: no excerto, a
seca uma certeza. Na mesma pgina do excerto, o jornal apresenta a imagem de uma
imensa cratera no percurso do nibus (Figura 24), iconizando uma imagem de perigo,
uma sentena de morte. O princpio da sobrevida pode nos ajudar a entender melhor essa
sentena. Ao reler Larret de mort, de Maurice Blanchot, Derrida (2004[1979]:91)
comenta que, na obra, a sentena de morte o momento em que a morte significada,
anunciada, como uma condenao que traz a morte tona e chama J. morte assente,
consente, o que tambm uma sentena. A personagem J. havia sido condenada morte
pelo mdico, que lhe dera um ms de vida; apesar disso, continuou vivendo. Assim se
refere a ela o narrador: Ela poderia haver morrido h muito tempo, mas no apenas no
estava morta, como continuou a viver, amar, rir, andar em volta da cidade, como algum
em quem a doena no poderia tocar. O seu mdico me contou que desde 1936 a havia
considerado morta (Blanchot, apud Derrida(2004[1979]:91). Tendo em vista que J. fora
sentenciada de morte pelo mdico, ela no estava propriamente viva. Tambm no estava
morta, porque podia ainda viver, amar, rir, andar em volta da cidade. J. estava, portanto,
sobrevivendo. Diz Derrida: [c]ondenada (pela doena, pelo mdico, pelo narrador), J.
deveria j ter morrido. Ela assim sobrevive, mais viva do que nunca, no entanto. (p. 92)
161
Figura 24 O Globo, 15/05/2005
A reportagem Vida Severina um claro exemplo do funcionamento dessa
lgica. Apesar de a morte e a seca os rondarem, os nordestinos subsistem. Suas formas de
vida
31
pautam-se em regras antimodernas, articulando o horror da morte que espreita com
a alegria da vida que no se preocupa com seu fim. Assim como a personagem J., os
nordestinos so sentenciados morte e assim sobrevivem, mais vivos do que nunca, no
entanto. O excerto a seguir exemplifica bem essa prtica lingstica e social regrada
pelos termos da sobrevida:
Ao longo do Lra[eLo, conversas e brlncadelras aproxlmam pessoas de Lodas as ldades.
Cada um conLa sua vlda. lellpe Arago, de 13 anos, fala sobre a lavela da 8oclnha, onde
morou duranLe anos, e expllca por que no se preocupa com LlroLelos.
31
O conceito de forma de vida se aproxima da noo de prtica lingstica e social situada, o que se realiza
por meio do uso de regras. Uma forma de vida uma formao cultural ou social, a totalidade das
atividades comunitrias em que esto imersos os nossos jogos de linguagem (Glock, 1998:174). Para
Wittgenstein, um jogo de linguagem depende do contexto no-lingstico, de modo que a prtica lingstica
est necessariamente situada no contexto maior das aes humanas, que, historicamente, precedem o uso
lingstico. A linguagem eu quero dizer um refinamento. No princpio era o ato (Wittgenstein,
1993:420; Wittgenstein cita Goethe, Fausto 1, a cena de abertura no Studierzimmer). As formas de vida
participam, portanto, do todo das nossas aes lingsticas, corpreas e culturais: Comandar, questionar,
contar histrias, conversar fazem parte da nossa histria natural do mesmo modo que andar, comer, beber,
jogar. (Wittgenstein, 1953 25).
162
- Sou W$( !#%.$". As balas no me pegam - brlnca, provocando gargalhadas. (@ A#"<",
13/03/2003, p.27)
O humor a totalmente contrrio ontologia vitalista. Ele nasce da reapropriao
de condies que originalmente so significadas, principalmente em discursos
hegemnicos, com o objetivo de ferir. Tanto a violncia do tiroteio como a favela em si
so traos de um passado vencido pela ontologia vitalista. Essas condies injuriosas
constitutivas do Outro da ontologia vitalista se transformam, na fala de Felipe Arago, em
humor, do tipo que, definitivamente, no se usa para ferir. O humor que escapa s balas
uma instanciao da ressignificao, um modo de contradiscurso que est previsto pela
prpria temporalidade aberta dos atos de fala (Butler, 1997).
aus-de-arara: passado e abandono da/pela lel
Outro aspecto que salta aos olhos na srie Vida Severina a permanncia do
passado na vida dos nordestinos e nas prticas sociais do Nordeste. Se o Sudeste, para
alcanar a modernidade, teve de olhar para o futuro, o Nordeste insiste em se voltar para
o passado, essa terra que contra a histria (Albuquerque Jr., 2001:172). O pau-de-
arara um dos cones mais fortes dessa luta do passado contra o futuro. Veja-se no
excerto a seguir, parte da primeira reportagem da srie, como o passado insiste em se
repetir:
1rs elxos, polLronas recllnvels e banhelro a bordo. C nlbus da lLapemlrlm
esLaclonado numa rua de var[oLa, no serLo do Cear, com desLlno as favelas de 8lo das
edras e 8oclnha, no 8lo de !anelro, em nada lembra os anLlgos paus-de-arara -
camlnhes que nas decadas de 40 e 30 LransporLavam reLlranLes para as meLrpoles do
SudesLe. Mudaram as carrocerlas, mas no os passagelros. (@ A#"<", 13/03/2003, p.27)
Os passageiros so os mesmos, habitantes de um passado que teima em subsistir.
Na pgina seguinte da matria, l-se que os paus-de-arara, formas de transporte muito
comuns entre as dcadas de 1940 e 1950, por transportarem os passageiros em
condies desumanas, acabaram proibidos. Nessa meno aos paus-de-arara, articulam-
se dois aspectos que, acredito, so centrais no apenas na composio das identidades
nordestinas, mas tambm do prprio sujeito moderno. Refiro-me articulao que, nesse
163
passado permanente, se estabelece entre no-humanidade e ilegalidade. Na forma como a
srie Vida Severina apresentada ao leitor, os nordestinos, ao mesmo tempo, so
abandonados pela lei e a abandonam. Por sua condio de misria e privao, so
obrigados a adotar como meio de transporte desconfortveis caminhes, que, segundo
os prprios passageiros, deixam o corpo to modo que leva um dia para se recuperar.
Os paus-de-arara, conforme O Globo, foram proibidos de transportar passageiros nas
rodovias federais. Suas rotas situam-se, ento, nas estradas empoeiradas do serto.
No obstante, a falta de nibus em cidades do interior do Cear, por exemplo, levam
motoristas a utilizar picapes como paus-de-arara. As pessoas so transportadas nas
carrocerias, at mesmo em rodovias.
Nos termos da cartografia comunicvel que emerge em O Globo a falta de
nibus metonmia de um Estado falho, pobre e incapaz que leva os nordestinos a
abandonarem a lei e embarcarem em um pau-de-arara. A circularidade a esta: porque
foram abandonados pela lei, os nordestinos a abandonam. Mas qual seria a relao do
sujeito com a lei? A idia comum que se tem de que, em um estado-nao, o cidado
est a priori dentro da lei, protegido por ela. Ns, cidados brasileiros, faramos parte,
por exemplo, do bando da lei. No entanto, como de forma excelente pontua Agamben
(1998), pertencer ao bando da lei significa, ao mesmo tempo, poder ser abandonado por
ela. Segundo o autor, a lei originalmente se refere vida de forma a inclu-la em si ao
suspend-la (p.23). O autor d a essa incluso exclusiva o nome de bando:
Tomando a sugesto de Jean-Luc Nancy, demos o nome de bando (do
antigo termo germnico que designa tanto excluso da comunidade
quanto a ordem e a insgnia do soberano) a essa potencialidade (...) da
lei de manter-se em sua prpria privao, de se aplicar ao no se aplicar.
(Agamben, 1998:23)
esta, afinal, a aplicao/abandono da lei brasileira aos bandidos. O bandido
carrega um trao do bando no s por compartilhar com este a mesma raiz latina, mas
tambm por ser interpretado como criminoso a partir de uma matriz que julga como
culpabilizveis certos sujeitos a partir de certos ndices de raa, classe, gnero etc.
Alexandre Nodari (2006), ao indagar o que seja um bandido, percebe que essa relao de
incluso exclusiva do bando soberano est fortemente presente em sua interpretao legal.
164
O autor aponta que a tipificao legal insuficiente para sabermos o que a sociedade
considera de fato crime (e por conseqncia, criminosos e bandidos) (p.2). Segundo ele,
a noo de criminalizao que pode responder pergunta sobre quem sejam os
bandidos. A possibilidade que tem a lei de se aplicar e no se aplicar permite que se
interprete determinada classe de indivduos como criminosos mas outra, no. Deste
modo, um roubo pode ser visto tanto como um crime quanto cleptomania. Diariamente,
os cidados das classes A e B cometem infraes dirigem embriagados, sonegam
impostos e no so vistos como bandidos. (p.3). Nodari aponta que os bandidos
antigamente eram o bicheiro e o malando; depois passaram a ser o comunista
subversivo. Hoje o trombadinha e o traficante armado da favela (id.ibid.). Inspirando-
se em Agamben, ele pergunta: Quanto tempo levaremos para perceber que o bandido
no passa de uma categoria mvel e volvel para qual o Direito, o bando soberano, se
suspende excepcionalmente s para se manter? (idem).
Parece-me ento que ser abandonado pela lei no algo a que apenas os paus-de-
arara nordestinos podem ser submetidos. Esse abandono uma potencialidade (e uma
atualidade) na vida do sujeito moderno. Como afirma Agamben, a relao originria da
lei com a vida no de aplicao mas de Abandono (p.23, nfase do autor). Os
nordestinos que so transportados em condies desumanas so sindoques do bando
humano, um bando que inclui todos ns, seres para quem o humano no uma garantia.
O homo sacer uma figura exemplar de que a marca do humano pode ser suspensa para a
aplicao da lei, uma lei que se aplica ao se abandonar. O homo sacer aquele sujeito em
quem a poltica atinge o prprio corpo sua matabilidade uma instncia da biopoltica,
a incluso crescente da vida natural do homem nos mecanismos e clculos do poder
(p.70). Os campos de concentrao do sculo XX so, segundo Agamben, o territrio
emblemtico da biopoltica contempornea. So, alm disso, um paradigma da vida
poltica moderna. Naqueles espaos de exceo, o poder sobre a vida nua dos indivduos
atingiu seu auge. O campo, abrigando milhes de homines sacri como o espao puro,
absoluto e intransitvel espao biopoltico (na medida em que fundado somente no
estado de exceo) ir aparecer como o paradigma escondido do espao poltico da
modernidade, cujas metamorfoses e dissimulaes teremos de aprender a reconhecer
(p.72-73).
165
nordesLlno como $"9" .%/(2
O que , afinal, a vida dos nordestinos de acordo com a srie Vida Severina? J
apontei anteriormente que, em se tratando de Nordeste, vida um conceito que ocupa um
limiar indistinto entre vida e morte; trata-se de um conceito que no pode ser entendido
nos termos de uma matria orgnica que vence o inorgnico do passado e da morte, o que
est na base da ontologia vitalista. Essa vida se aproxima de uma sobrevida, nos termos
da lgica do sobreviver de Derrida. Assim, uma forma de vida apesar de um quase-
viver estrutura a srie de textos sobre os nordestinos. Na pgina seguinte, reproduzo um
excerto da sexta reportagem da srie, intitulada Onde o Rio mais nordestino (Figura
25).
Figura 25 O Globo, 20/05/2005
L-se no excerto da Figura 25 a histria de Eliane Pereira da Silva, uma retirante
cujo sonho nasce em uma favela carioca. O texto da reportagem indica que as
condies materiais de Eliane e do marido, Sebastio Arajo, melhoraram em virtude de
sua migrao ao Rio de Janeiro. Apesar de viverem em um cmodo de nove metros
quadrados (...) onde se amontoam pertences de segunda mo, bero doado por amigos e
carrinho de beb comprado por R$ 180 em trs prestaes, trata-se de uma situao
melhor do que quando chegaram ao Rio. O jornal cita a voz de Eliane, que anuncia com
otimismo: Para quem chegou ao Rio com trs malas, j conseguimos muito. No entanto,
166
o otimismo de Eliane, numa reportagem que aponta progresso na qualidade de vida do
casal e delineia esperana, no chega a se firmar como utopia. Os nordestinos, embora
tenham conseguido ascender no Sudeste, no so capazes de ser modernos: Sebastio, por
exemplo, no tem carteira assinada. Ele est, em outras palavras, abandonado pela lei.
Em termos da organizao icnica do quadro da reportagem, perceba-se que o
texto se encerra com o medo da violncia. Eliane, segundo a reportagem, se diz
assustada com a violncia. A fala da nordestina, ao fim do texto, acentua uma metafsica
da presena que posiciona a violncia para alm do olhar distncia (Antes, s tinha
visto essas coisas na TV); a violncia, ao contrrio, est prxima do corpo (J
presenciei assaltos dentro de nibus). A meu ver, anunciar a violncia iminente ao fim
da reportagem uma estratgia que, iconicamente, posiciona a violncia como aquilo que,
ultimamente, constitui a condio nordestina. No apenas a seca est sempre espreita,
mas tambm a violncia.
O nordestino habita, assim como o homo sacer, um limiar indistinto entre as
fronteiras escuras separando a vida da morte (Agamben, 1998:77). Ele , tal qual o homo
sacer, um morto-vivo (ibid.), e a violncia na construo de sua condio um ndice
de que nem sua vida nem sua humanidade so garantias. O nordestino s vive por um
milagre o que remete essa vida ao espao da sacralidade. A sacratio, diz Agamben,
toma a forma de uma dupla excluso, tanto do ius humanum como do ius divinum
(p.52). Nesse sentido, o homo sacer duplamente banido da lei dos homens e da lei de
Deus. Na medida em que a lei, na exceo soberana, se aplica a esse caso excepcional ao
no se aplicar e ao se eximir, ento o homo sacer pertence a Deus na forma da no-
sacrificabilidade e includo na comunidade ao poder ser morto. Uma vida que no pode
ser sacrificada e, no entanto, pode ser morta a vida sagrada (ibidem, nfase no
original).
Neste quadro da reportagem, o jornal faz meno explcita ao poema que inspira o
ttulo da srie, Morte e Vida Severina, de Joo Cabral de Melo Neto. Conforme
discutimos no captulo 2, a iterabilidade o que permite que se recontextualize um
discurso contra o seu propsito original. A exploso da vida severina, nesse sentido, deve
ser vista contra o pano de fundo da interrupo e do destino distpico dos nordestinos.
Diferentemente de Severino, personagem do poema de Joo Cabral, cujo destino utpico
167
o mar, os nordestinos de O Globo tm como destino a favela. O futuro dessas
subjetividades, nos termos da srie de reportagens, antiutpico, na medida em que o
serto no se transformar em mar, mas em mais misria, iconizada na srie pela imagem
da favela.
A utopia da condio nordestina , portanto, interrompida. Na reportagem da
srie dedicada aos paus-de-arara, retrata-se o banimento dos nordestinos do utpico
encontro com o mar:
Lm 26 de [anelro de 1990, a curlosldade de reLlranLes dlanLe das belezas da 8ala de
Cuanabara levou a apreenso de um pau-de-arara na onLe 8lo-nlLerl. L mosLrou que
o melo de LransporLe, que se lmaglnava banldo das rodovlas federals, alnda era usado.
Anslosos para observar a vlsLa da ponLe, alguns dos 22 mlgranLes que vla[avam
espremldos no camlnho l-4000, da 8ahla para So aulo, reLlraram a lona que cobrla
a carrocerla, desperLando a aLeno da pollcla. (@ A#"<", 17/03/2003, p.18)
Os nordestinos figuram a como no-sujeitos. Tal como animais, viajavam
espremidos, cobertos por uma lona. O desvelamento da superfcie que os encobria expe
polcia a ilegalidade de sua condio, a sua impossibilidade constitutiva de participar do
bando da lei. O pau-de-arara foi, portanto, apreendido pela polcia.
Em que medida essa interrupo do encontro com o mar se relaciona com a
prpria inteligibilidade da condio nordestina? Tendo em vista que as identidades
nordestinas, como defendo nesta tese, so demarcadas no territrio da violncia, no
carregariam elas tambm o trao da interrupo que comumente se associa violncia?
Essa interrupo do encontro com o mar no seria ela mesma a interrupo do encontro
com o humano, com a possibilidade de se tornar humano?
A ltima reportagem da srie, intitulada Otimismo e desiluso 3 semanas aps a
chegada, bastante significativa quanto a essa interrupo que est na base da
construo das identidades nordestinas. A ltima matria da srie faz um balano sobre o
sucesso e o fracasso de alguns migrantes cujas histrias foram narradas ao longo das oito
reportagens. A boa perspectiva de alguns migrantes contrastada com a tristeza e a
violncia que outros passaram a experienciar no Sudeste. Abaixo, reproduzo os dois
ltimos pargrafos do texto, que encerram tambm a srie Vida Severina:
168
num rpldo Lelefonema, dado de um orelho domlngo passado, o pedrelro !ose de
Souza, de 41 anos, parecla desesperado. ela Lercelra vez ele salra de var[oLa para
morar no 8lo. velo para casa de uma enLeada em 8ocha Mlranda:
- no esLou aguenLando mals. no conslgo emprego. Acho que vou volLar - dlzla ele,
quando a llgao calu. (@ A#"<", 22/03/2003)
A narrativa sobre o pedreiro Jos de Souza, que parecia desesperado, explora a
potencialidade icnica da linguagem que fere para expor uma linearidade icnica entre
signo e objeto, aqui representados por narrativa e condio nordestina, respectivamente.
Essa relao icnica que significa as identidades nordestinas vem sendo iterada ao longo
da srie de reportagens e culmina, em seus ltimos pargrafos, na idia de interrupo.
Apesar de todo o esforo dos migrantes, o que lhes resta uma ligao telefnica feita no
auge do desespero uma ligao que no consola porque cai, interrompida. Comenta
Briggs que dispor as mesmas partes configuradas nas mesmas relaes pode dar s
narrativas uma poderosa iconicidade, a habilidade de projetar conexes aparentemente
diretas, automticas e naturais com objetos violentos pelo fato de partilharem das mesmas
caractersticas nas mesmas relaes (p.323). Assim, de um modo insidioso, O Globo
itera a violncia que, em ltima instncia, constitui o nordestino, esse homo sacer
antimoderno.
Aproveitando as inferncias peirceanas e austinianas que temos desenvolvido ao
longo da tese, gostaria agora de dar um salto de escala e pensar nas conexes que as
narrativas sobre os nordestinos mantm com a subjetividade humana de um modo mais
geral, para alm da produo de identidade e diferena que se estabelece na mdia
hegemnica do Brasil. Minhas perguntas, a partir de inferncias icnico-indexicais e
performativas, seriam: no seriam essas identidades construdas nos termos da violncia e
da interrupo um testemunho da constituio de subjetividades em nosso prprio tempo-
espao contemporneo? Essa interrupo e essa no-humanidade em jogo na encenao
de identidades nordestinas no atestariam uma vulnerabilidade humana e no apenas
nordestina? No seramos ns todos, por nossa prpria constituio, frgeis, vulnerveis
ao dito injurioso, suscetveis bala que interrompe a poesia ou ao tapa racista que destri
a possibilidade de ser diferente? No seria o sujeito, de partida, vulnervel interrupo,
a se tornar ningum?
169
vulnerabllldade e lnLerrupo
Uma questo crucial em Filosofia a questo do toque. O modo como o sujeito
toca a si ou o outro implica uma tica da subjetividade. Auto-afetividade, hetero-
afetividade e auto-hetero-afetividade so trs posies filosficas diferentes sobre o modo
como esse toque se estabelece. Numa tica auto-afetiva, poder-se-ia dizer que o sujeito,
de modo soberano, toca a si mesmo a partir de si mesmo. Esta seria a premissa
fundamental do cogito cartesiano e o pilar da auto-afetividade. Numa tica hetero-afetiva,
o toque no sujeito viria de fora, atravs de uma mo outra que constitui o sujeito. A idia
de dialogismo em Bakhtin, por exemplo, fundamentada nesse princpio. Nos termos da
dialogia, o sujeito se constitui por seu dilogo com a alteridade. Numa tica auto-hetero-
afetiva, o sujeito tambm tocado por um outro, mas esse outro no est fora, mas
dentro do sujeito. Derrida (2005) toma o enigmtico dizer de Freud, manuscrito pouco
antes de sua morte, A Psique estendida, ela no sabe nada sobre isso (p.15), para
pensar nessa superfcie estendida um plano de imanncia, corpreo e inconsciente, que
favorece o toque do outro.
Parto desse prembulo sobre tica dos afetos em Filosofia para pensar sobre o
papel da violncia nessa possibilidade de tocar, nesse toque que, em ltima instncia,
implica o modo como o sujeito se constitui. Em seu livro Precarious life [Vida precria],
Judith Butler postula que a violncia um toque da pior ordem (2004:28). A filsofa,
nessa obra, no est tratando da tica da afeio em termos do toque que muito
brevemente delineei acima, mas eu gostaria de tomar seu dito para questionar se a
violncia seria mesmo um tipo de toque ou se ela no seria, ao contrrio, o
desmantelamento e a destruio da possibilidade de tocar, uma espcie de interrupo que
assombra a subjetividade.
Vista sob o vis de sua natureza destrutiva (cf. Nancy, 2005), a violncia paralisa
e oblitera o seu objeto, posicionando aquele que o seu alvo num lugar de no-
humanidade, de abjeo ou de morte. Butler (2004:28-29) insiste que a violncia um
modo em que uma vulnerabilidade humana primria a outros humanos exposta do modo
170
mais terrvel, um modo em que somos submetidos, sem controle, vontade do outro, um
modo em que a vida mesma pode ser eliminada pela ao intencional do outro.
A violncia tem, portanto, um carter interruptivo. O sujeito perde o controle de si
do modo mais terrvel. Ao longo desta tese, venho delineando o modo como a violncia
participa, de modo ambguo, tanto da constituio como da interrupo das identidades
nordestinas. Em ltima instncia, o papel que a violncia exerce na constituio dessas
identidades testemunha uma fragilidade humana fundamental, uma vulnerabilidade
interrupo e ao no-humano que delimitam as prprias fronteiras da subjetividade
humana. As identidades nordestinas, por se tornarem inteligveis a partir de sua exposio
ao territrio da abjeo, do no-humano e da sobrevida, constituem-se, por essa via, como
eptomes das identidades contemporneas. De forma a indicar como, em Filosofia, a
interrupo uma potencialidade do sujeito, explorarei, a seguir, o modo como a noo
de interrupo comparece na filosofia hetero-afetiva de Deleuze (1986), particularmente
em sua discusso do afeto-puro nas Paixes da alma, de Descartes.
A face e o afeLo-puro
Deleuze, em sua obra Cinema 1 o movimento-imagem, apresenta uma viso
particular da economia dos afetos em Descartes. Deleuze (1986) argumenta que, para
Descartes, a face se torna o plano de imanncia onde os afetos se inscrevem. Quando
exibe o afeto da admirao, por exemplo, a face se torna a admirao em si. Como a
palavra imanncia pressupe, a face se torna independente. importante salientar que,
ao comentar que a face uma extenso dos afetos, Descartes pela primeira vez emprega a
palavra signo em As paixes da alma. A face, como Deleuze advoga, se tornaria o afeto
como tal, na medida em que ela um dos mais importantes signos externos das seis
paixes primitivas da alma: Tenho ainda de lidar com os tantos signos externos que
comumente acompanham as paixes (...) Os mais importantes de tais signos so as
expresses dos olhos e a face, mudanas de cor, estremecimento, desnimo, desmaio,
gargalhada, lgrimas, gemidos, suspiros (Descartes, 1985[19649]) 112).
171
A face esse plano de inscrio independente e interrompido. O cinema, de acordo
com Deleuze, explorou essa independncia da face atravs da tcnica do close-up.
Podemos evidenciar isso nos minutos iniciais de Deus e o diabo na terra do sol, na cena
em que Rosa e Manuel conversam no cho de sua casa. Rosa e Manuel foram
abandonados pela lei Manuel diz que ir cidade fazer a partilha do gado com Cel.
Morais, vender algumas vacas e comprar do coronel um pedao de terra. Antecipando a
injustia que aconteceria com Manuel, Rosa diz: No adianta. Segue-se um close-up
em que a face triste e desolada de Rosa , por assim dizer, congelada por quase dez
segundos. Nenhum dilogo, nenhuma msica, nada a no ser o barulho da fogueira e sua
luz vacilante acompanham esse momento em que a face de Rosa interrompida.
Figura 26 Close-up de Rosa [Yon Magalhes] em Deus e o diabo na terra do sol
Nos termos de Deleuze, a interrupo da face no close-up aponta para a no-
humanidade que a face assume quando representa o afeto puro. A face, quando capturada
pelo close-up, perde todas as suas caractersticas de individualidade. Ela se torna
impessoal, interrompida, independente de espao e tempo. Deleuze chama essa
concepo do puro afeto de fantasmtica: o close-up transforma a face num fantasma,
e o livro dos fantasmas. A face o vampiro, e as letras so seus morcegos, seus meios de
172
expresso (Deleuze, 1986:99). A concepo deleuziana de afetos, cujo eptome a
figura da face no cinema, expe os limites no-humanos da vida humana. Esses limites
no assombram apenas os nordestinos e as nordestinas na mdia do Sudeste. Tais limites
demarcam as fronteiras da subjetividade, vista de uma forma mais ampla. Os afetos,
dizem Deleuze e Guatarri (1994), vo alm das afeies (...). O afeto no a passagem
de um estado vivo a outro, mas sim a transformao no-humana do homem (p.173).
L se a face for ferlda?
A interrupo e a impessoalidade que Deleuze atribui aos afetos tm sido
abordadas por uma diferente tradio terica, a Neurobiologia. Neurobilogos tais como
Antonio Damsio tm demonstrado que o crebro tambm um plano de inscrio um
plano de inscrio plstico e certas leses ou doenas podem causar total perda de
afetos. Uma total destruio do contedo psquico pode suceder uma leso cerebral, o que
desafia, por exemplo, a posio de Freud (1915) quanto indestrutibilidade dos estgios
primrios da vida psquica.
Em seu ensaio Pensamentos para os tempos de guerra e morte, Freud (1915)
discute a plasticidade da vida mental e argumenta que, embora o sujeito possa ser
destitudo de impresses na vida psquica inscritas em estgios avanados de seu
desenvolvimento, os estgios primitivos so, no entanto, indestrutveis. Segundo Freud,
(...) cada estgio anterior persiste juntamente com o estgio posterior,
que emergiu daquele; a sucesso aqui tambm envolve co-existncia,
embora seja aos mesmos materiais que a srie inteira de transformaes
se aplique. O estgio mental anterior pode no se manifestar por anos,
mas, mesmo assim, ele to presente que pode, a qualquer momento, se
tornar novamente o modo de expresso das foras da mente, ou mesmo
o nico, como se os estgios mais avanados pudessem ser anulados ou
desfeitos. Essa plasticidade extraordinria dos desenvolvimentos
mentais no irrestrita no que diz respeito a direes; pode-se descrev-
la como uma capacidade especial para a involuo para a regresso
na medida em que pode acontecer igualmente que um estgio de
desenvolvimento posterior e superior, uma vez abandonado, no se
possa mais alcanar. Mas os estgios primitivos podem sempre ser re-
estabelecidos; a mente primitiva , no sentido pleno da palavra,
indestrutvel. (Freud, 1915:285-286)
173
Haveria, segundo Freud, um ncleo de nosso aparelho psquico que no poderia
ser interrompido. Esse aspecto da plasticidade mental do sujeito se pode atestar por nosso
retorno a estgios primrios da vida psquica no momento em que dormimos. Continua
Freud:
As assim chamadas doenas mentais inevitavelmente produzem
uma impresso no leigo de que toda vida mental e intelectual foi
destruda. Na verdade, a destruio se aplica apenas a aquisies e
desenvolvimentos posteriores. A essncia da doena mental repousa
num retorno a estados anteriores da vida e funcionamento afetivos. Um
exemplo excelente da plasticidade da vida mental pode ser extrado do
estado de sono, que o nosso objetivo toda noite. Uma vez que
aprendemos a interpretar mesmo os sonhos mais absurdos e confusos,
aprendemos que sempre que vamos dormir jogamos fora nossa
moralidade que to duramente sedimentamos, como se esta fosse uma
pea de roupa, e a colocamos de volta na manh seguinte. (Freud,
1915:286)
A questo que se esboa na neurobiologia que mesmo tais estados anteriores e
primitivos podem ser destrudos. Alguns casos de leso cerebral, por exemplo, podem
destruir a capacidade que o sujeito tem de sonhar (Solms & Turnbbull, 2002:208), aquilo
que Freud entende como um retorno contnuo do sujeito aos estados primitivos e
indestrutveis da vida mental. Como a seguir descrevem Solms & Turnbull, uma leso na
zona 3 do crtex visual implica completa perda da capacidade de sonhar:
Leso no crtex primrio visual, Zona 1, no apresenta (talvez de modo
surpreendente) efeito algum na capacidade de sonhar. Embora tais
pacientes no possam ver quando esto acordados, eles vem
perfeitamente bem em sonhos. (...) Leso na zona mdia do sistema,
Zona 2, causa exatamente os mesmos dficits nos sonhos que na
percepo acordada: esses pacientes continuam a sonhar em vrias
modalidades de sentido, especialmente somatosensrio e auditrio, mas
suas imagens visuais dos sonhos so deficientes em aspectos
especficos. Por exemplo, eles no sonham em cores, ou sonham com
imagens estticas (perda do movimento visual), ou no podem
reconhecer nenhuma das faces em seus sonhos. Leso na zona superior
(...), Zona 3, por outro lado, produz completa perda da capacidade de
sonhar. (Solms & Turbull, 2002:210)
174
Afetaes no crebro de diversas ordens podem produzir, em certas circunstncias,
o que os autores definem como a perda de uma grande medida do que significa ser
humano (ibid.:204). Antonio Damsio (2004) vem discutindo casos de sujeitos que,
depois de sofrerem leso no lobo frontal, se interromperam por completo. A perda da
capacidade de ser humano parece ser uma conseqncia lgica de alguns tipos de leso.
Damsio, em The feeling of what happens
32
, discute o caso de uma paciente (por ele
chamada de L.) que, aps sofrer um ataque, teve leses nas regies internas e superiores
do lobo frontal em ambos os hemisfrios. Uma rea conhecida como crtex cingulado foi
lesada, juntamente com regies vizinhas. Ela de repente perdeu os movimentos e a fala
(Damsio, 1999:102). Observando a equanimidade da expresso da paciente, Damsio
comenta que neutro seria um termo adequado para descrev-la, mas uma vez que voc
se concentrasse nos olhos dela, a palavra vazio [vacuous] seria mais precisa. Ela estava l
mas no estava l. (...) Mais uma vez, a emoo havia desaparecido (p.103).
Damsio tambm discute o transbordamento da fronteira do humano em O erro
de Descartes. Analisando o caso de um paciente que tivera um meningioma (um tumor
assim chamado porque emerge das meninges, as membranas que revestem o crebro) de
seu lobo frontal, Damsio comenta:
A cirurgia foi um sucesso em todos os aspectos e, como este tipo de
tumor no tende a desenvolver-se outra vez, as perspectivas eram
excelentes. Mas a parte que no correu to bem teve a ver com a
reviravolta que a personalidade de Elliot sofreu. As alteraes, que
tinham comeado durante a convalescena fsica, surpreenderam os
familiares e os amigos. Para ser exato, a inteligncia, a capacidade de
locomoo e de falar de Elliot permaneceram ilesas. No entanto, sob
muitos pontos de vista, Elliot j no era Elliot. (Damsio, 2004:60,
nfase acrescida)
Esses relatos de experincias limtrofes ajudam a exemplificar que a fragilidade
to freqentemente projetada aos nordestinos na comunicabilidade da mdia hegemnica
uma fragilidade do humano o qual, nos termos de algumas posies em Filosofia e em
Neurobiologia, pode ter sua tnue fronteira extrapolada. Como demonstra Damsio,
32
No Brasil: Damasio, Antonio (2000) O mistrio da conscincia. Trad. Laura Teixeira Motta. So Paulo:
Cia das Letras.
175
somos vulnerveis a nos tornamos ningum ou a virarmos uma outra pessoa,
completamente diferente de quem ramos.
O dilogo entre essas duas tradies que vm discutindo a interrupo do sujeito
Filosofia e Neurobiologia ultrapassa o meu objetivo neste trabalho. Minha apresentao
panormica da questo nas duas reas apenas objetivou demonstrar que a possibilidade de
adentrar no territrio do no-humano e do abjeto e de ser interrompido o que se encena
nas cartografias comunicveis dos jornais e revistas do Sudeste do Brasil em sua projeo
ideolgica da sobrevida dos nordestinos e das nordestinas acompanha a ontologia do
sujeito.
Na encenao das identidades nordestinas da mdia, o carter ao mesmo tempo
destrutivo e definidor da violncia, em suas mais diversas formas, o sobreviver um
verdadeiro desafio tanto ao viver quanto ao morrer , a presena constante do abjeto,
muitas vezes ultrapassando a fronteira que, a priori, se pensaria definida, a no-
humanidade a que chegam muitos dos sujeitos do Nordeste, a relao de excluso que
posiciona os nordestinos, ao mesmo tempo, dentro e fora, no bando e no abandono
parecem ser bons ndices, no sentido peirceano, da existncia de um objeto que subverte
o paradigma liberal-racionalista, que pensa o sujeito a partir do controle da violncia, da
vitria sobre a morte e sobre o passado, da incluso do sujeito no domnio da lei. Nos
termos de Peirce (1955[1897]:101), o ndice um signo de fato a pegada, por
exemplo, mantm uma relao existencial com o passo, ela foi afetada por ele. Parece
haver, portanto, entre essas identidades degradadas e o universo simblico da
subjetividade uma relao indicial, corprea, material que testemunha a vulnerabilidade
do sujeito e seus limites, que podem alcanar o no-humano.
Em ltima instncia, a exposio ao territrio do no-humano significa que a
condio humana no designada a priori. A condio humana conquistada sobre um
corpo frgil, numa superfcie que no sabe muito de si, sob o risco do tapa que fere a face
por nenhuma outra razo a no ser o dio gratuito. Seja no campo da ontologia ou da
antropologia, o sujeito est constantemente suscetvel a ser interrompido, destrudo, a se
tornar no-humano. Parece-me que um tipo de anlise lingstica que leve em
considerao a tica da fragilidade do humano e no suas promessas transcendentais
extremamente urgente.
177
CONCLUSO
O ato de fala diz mais, ou diz diferentemente, do que quer
dizer.
Judith Butler, Excitable Speech
Nesta tese, defendi que a semntica e a pragmtica do discurso da mdia sobre os
nordestinos e as nordestinas encenam um violento processo de subjugao. Utilizando-se
de diferentes estratgias textuais e discursivas, a mdia hegemnica do Brasil constri um
campo de comunicabilidade em que o Nordeste emerge como o indesejado lugar da
pobreza, da democracia incompleta e da ingenuidade poltica. Os nordestinos e as
nordestinas figuram nessa comunicabilidade como cones de raa e de gnero desse lugar
178
inabitvel, que , no entanto, requerido para delimitar a gora comunicvel onde a dita
modernidade brasileira teria sido alcanada.
Na medida em que os sujeitos se engajam no mundo simblico de um modo
corpreo, as palavras que discriminam so tambm palavras que ferem. Ao abordar os
atos de fala que afetam o sujeito numa dimenso violenta e, portanto, somtica, a anlise
oferecida neste trabalho posiciona a violncia e a vida corprea do sujeito no centro dos
processos de construo discursiva da desigualdade.
Uma vez que reconhecemos que a violncia parte da nossa condio humana
(Scheper-Hughes, 2004), desempenhando, assim, um papel central na emergncia de
tradies (Asad, 2008:598), na autoria (Foucault, 1998[1969]:108), na subjetividade (Das
et al., 2000), nas narrativas (Briggs, 2007a) e no prprio conceito de civilizao (Freud,
1961[1929]), ento me parece que uma Lingstica que se proponha a refletir
criticamente sobre as causas subjacentes dos fenmenos por ela estudados e a natureza da
sociedade que usa certa(s) lngua(s) (Fowler & Kress, 1979:186) no deveria
menosprezar a participao da violncia no uso da lngua.
A ampla discusso sobre violncia e significao que tem sido empreendida em
campos como a Antropologia demonstra que a violncia uma aspecto de nossa vida
social e subjetiva que no pode ser desconsiderado. Darei dois exemplos de trabalhos em
Antropologia elaborados por Veena Das e Allen Feldman, dois antroplogos interessados
em entender como significao e violncia so articulados formao do sujeito. Das
(2000:205) parte de atos de testemunho na violncia catastrfica da Partio da ndia em
1947 e procura entender como narrativas de mulheres vivendo na era ps-partio so
delineadas pela violncia e pelo trauma. Sua anlise persegue o papel que a violncia
desempenha na emergncia mesma dessas mulheres como sujeitos que carregam marcas
de gnero e sexualidade, e tambm como o conhecimento e o prprio senso de identidade
esto emaranhados num complexo jogo de injria e violao. O ato de testemunhar
engendra, na abordagem de Das, um conhecimento venenoso [poisonous] que permite o
sujeito ocupar certo momento presente tendo o passado como marca indelvel. Nas
palavras de Das, se o modo de estar-com-os-outros de algum foi brutalmente ferido,
ento o passado entra no presente no necessariamente como memria traumtica mas
como conhecimento venenoso (ibid.:221). Tambm interessado pela relao entre
179
violncia e subjetividade, Feldman (2000) investiga a violncia poltica na Irlanda do
Norte e, como Taylor (1997), delineia o regime escpico que produz sujeitos atravs de
atos especficos de violncia (visual). A violncia do olhar militar na Irlanda do Norte
uma violncia que historicamente faz interseo com masculinidade. Tal violncia com
marcas de gnero, em sendo escpica, escamoteia suas prprias condies de produo: o
olhar masculino naturaliza a construo poltica do seu aparato perceptual e se exibe
como natural, imutvel e a-histrico (Feldman, 2000:62). A discusso de Feldman
sobre a violncia visual na Irlanda do Norte, em ltima instncia, nega a possibilidade de
se desenharem fronteiras ntidas entre violncia fsica e poltica: [e]m termos da criao
de medo e do domnio h pouca diferenciao (...) entre agresso fsica e poder escpico;
cada um refora e, principalmente, cada um simula o outro (ibid.:59).
Os dois trabalhos brevemente descritos propem uma concepo de subjetividade
que no toma a violncia como trao de um passado congelado (Cheah, 1999:226), mas
como uma categoria que participa dos modos como os sujeitos se engajam no mundo
(Winchell, 2008). Tanto Das quanto Feldman se distanciam da concepo liberal e
moderna do sujeito, nos termos da qual a violncia entendida como resduo ou
anacronismo, um trao infeliz de um passado que pode (e deve) ser deixado para trs
(Winchell, 2008:1). Nos termos de Das (2000:223), profundidade temporal o que
permite que o sujeito habite os signos da injria e lhes d um significado (...) por meio
de atos de narrar.
Conforme discuti ao longo desta tese, violncia e significao so intimamente
imbricadas. Por que a Lingstica tem conferido pouca importncia a esse relacionamento?
Entre as explicaes possveis, que compreendem desde reivindicaes epistemolgicas
at polticas de pesquisa, gostaria de sugerir que existe na disciplina uma ontologia
vitalista (Cheah, 1999, 2003; Winchell, 2008) subjacente que conduz crena liberal de
que a vida deve triunfar sobre a morte e seus correlatos violncia, dor, pobreza,
subordinao. Dentro do esquema biogentico da ontologia vitalista, a vida oposta
morte, o presente ao passado, o esprito matria e, em ltima instncia, a atualidade
concreta viva forma fantasmtica abstrata (Cheah, 1999:227). Essa ontologia informa a
idia de progresso e modernidade que atribui o pensamento liberal a toda forma de
180
organizao poltica, negando, assim, formas de sociabilidade e subjetividade que no se
encaixam nesse padro.
De forma a criticar a presena dessa ontologia em Lingstica, discutirei aqui
traos do vitalismo em duas elaboraes sobre o uso de palavras positivas e negativas,
empreendidas por Michael Kelly (2000) e Zhuo Jing-Schmidt (2007). Enquanto Kelly
defende que palavras positivas so mais freqentes do que palavras negativas nas lnguas
do mundo, o que, de acordo com o autor, se trata da instanciao de uma viso otimista
da vida (Kelly, 2000:48), Jing-Schmidt (2007:418,424) defende o argumento oposto de
que prestamos significativamente mais ateno informao desagradvel do que
agradvel, i.e., em nossa realidade subjetiva universal existe um aparato cognitivo-
afetivo chamado de inclinao negatividade [negativity bias], um componente vital do
nosso comportamento adaptativo (Jing-Schmidt, 2007:425) que refletido na lngua.
A adeso ao vitalismo ubqua na reflexo de Kelly. A felicidade, em seu
trabalho, est no cerne da fala humana: [e]mbora poucos de nossos dias transbordem de
alegria, ns mesmo assim passamos maior parte do tempo navegando no lado feliz da
vida. Assim, dizemos lindo mais do que feio porque a beleza , felizmente, mais
comum (Kelly, 2000:5). O autor acrescenta que a motivao para isso no deve ser
econmica, porque a fala otimista aparece nas lnguas ao redor do mundo apesar da
grande variao das generosidades da vida (id.ibid.). Kelly nega uma correlao natural
entre riqueza material e inclinao ao positivo, mas no exclui essa possvel causa para o
uso das palavras positivas sem lamentar que os Estados Unidos no detenham as mais
altas taxas de otimismo lingstico na geopoltica da felicidade:
Palavras positivas so usadas mais freqentemente do que palavras
negativas em lnguas e culturas to diversas como chins, finlands e
turco. H alguma variao na fora do efeito, mas ele no pode ser
inferido por mensuraes da riqueza material. Os Estados Unidos, por
exemplo, so a nao mais rica da histria da humanidade, mas a
tendncia americana a usar mais palavras positivas do que negativas no
equivalentemente grande. De fato, a inclinao ao positivo no ingls
relativamente pequena se comparada com outras lnguas, inclusive
aquelas cujos falantes tm sido historicamente empobrecidos (idem)
Os Estados Unidos ocupam nesse discurso o lugar prototpico do progresso. [A]
mais rica nao da histria da humanidade , em outras palavras, a nao que superou as
181
sombras de um passado que subsiste em outras naes cujos falantes tm sido
historicamente empobrecidos. Essa diferenciao vitalista ecoada em sua discusso do
realismo nominal, a crena de que um smbolo carrega a essncia do seu referente, uma
essncia que pode ser transferida a qualquer objeto assim nomeado (ibid.:7). O autor cita
James George Frazer, para quem o homem primitivo toma o seu nome como uma poro
vital de si mesmo e cuida do nome nesses termos (Frazer, 1951, apud Kelly, 2000:7).
Kelly acrescenta que Piaget tambm atribuiu esse modo de pensar s mentes de
crianas (id.ibid.). Essa forma primitiva de conhecer, que habita o sujeito moderno
apenas quando este uma criana e portanto no foi capaz de adquirir a agncia para
superar essa condio, contrastada com estudos de nomes na literatura filosfica
ocidental que enfatizam a arbitrariedade essencial do elo entre nome e referente
(ibid.:8). Embora Kelly reconhea que os padres de nomeao americanos sejam
calcados fortemente no realismo nominal, o autor faz o comentrio iluminista de que
[n]os serenos momentos de cognio clarificada, podemos rejeitar o realismo nominal e
relegar seu poder mgico a mentes simples e infantis (id.ibid.).
Se a invocao de um passado pavoroso no trabalho de Kelly correlacionada
com a persistncia de modos de pensamento em mentes primitivas e simples ou com
a possibilidade que mentes infantis tm de caber no organicismo teleolgico de seu
discurso, no trabalho de Jing-Schmidt ela feita em nome da evoluo biolgica. Nos
termos da autora, o mau mais saliente cognitivamente, i.e., demanda mais ateno do
que o bom porque sinaliza para a necessidade de mudana que geralmente aumenta a
adaptabilidade evolutiva (Jing-Schmidt, 2007:419). O vocabulrio do bom e do mau, no
artigo da autora, segue o lxico vitalista do prazer e do triunfo sobre a morte. Por bom
entendemos os resultados desejveis, benficos ou agradveis, inclusive estados e
conseqncias. O mau o oposto: indesejvel, perigoso ou desagradvel (Baumeister
et al., apud Jing-Schmidt, 2007:418). Ela argumenta que o princpio fundacional da
inclinao negatividade tanto automtico (p.419) quanto universal (p.424), uma
estratgia de sobrevivncia que, em ltima instncia, nos faz mobilizar melhor nossa
ateno e outros recursos corpreos para evitar riscos potenciais (p.420).
A teleologia em ambos os discursos clara: seja a tendncia humana orientada a
atribuir salincia cognitiva a palavras positivas (nos termos de Kelly) ou a palavras
182
negativas (nos termos de Jing-Schmidt), os modos de subjetividade liberais so a ltima
palavra, aquela que ir iluminar a sombra da morte, interpretada ora nos termos de uma
mente primitiva ou de sociabilidades no-ocidentais, ora nos termos de coisas ou eventos
desagradveis. Violncia, dor e medo apenas comparecem nessas duas abordagens na
medida em que podem ser suplantados pela busca pelo prazer (Asad, 2003:68). No
entanto, se nos lembrarmos das representaes sobre os nordestinos e as nordestinas no
discurso miditico brasileiro, a violncia e seus modos de exibio emergem em uma
comunicabilidade que no apenas demarca o mapa que define os participantes da
modernidade do Brasil e os outsiders, sujeitos que habitam o territrio da excluso e do
no-humano, mas tambm conferem, freqentemente sob o signo da dor e da abjeo,
possibilidades de existncia poltica e subjetiva.
Como defende a posio no-vitalista de Judith Butler (1997), a violncia que as
palavras infligem tambm confere possibilidades de agncia. Dito de outro modo, habitar
o passado da violncia lingstica algo que todos ns, de um modo ou de outro, j
experienciamos, um ato ambguo que oferece os prprios termos da insurgncia. Os
mesmos termos que ferem so, contraditoriamente, aqueles que oferecem possibilidade
de existncia poltica. [S]er nomeado por outro traumtico: trata-se de um ato que
precede a minha vontade, um ato que me traz a um mundo lingstico em que eu posso
ento exercer agncia. Uma subordinao fundadora, e ainda a cena da agncia,
repetida nas seguidas interpelaes da vida social (Butler, 1997:38). Esse trabalho ao
mesmo tempo subordinador e agentivo da injria foi explorado em alguns momentos
desta tese. Poder-se-ia citar o caso da ao ressignificadora de Franklin Martins, discutida
no Captulo 3. Martins parodicamente ressignifica os dados que haviam sido usados pelo
jornal O Estado de S. Paulo para posicionar nordestinos, negros e pobres como
desviantes: Mais um pouco e descobriremos que os pobres, os nordestinos e os negros
so os responsveis pela corrupo no pas, que os ricos no tm nada a ver com isso, que
em So Paulo nunca se pagou nem se recebeu propina e que os brancos sempre repeliram
com veemncia a idia de pagar ou de levar um por fora. Os mesmos signos que ferem
so aqui reutilizados para conferir certa existncia poltica resistente.
Se olharmos para a lngua e para o sujeito fora da ontologia vitalista que informa
os trabalhos nos estudos da linguagem que no reconhecem a permanncia da violncia e
183
de outras sensibilidades e sociabilidades no-liberais, possvel compreender as
identidades que so encenadas violentamente, cujo eptome, nesta tese, so aquelas
identidades excludas pela comunicabilidade modernista da mdia hegemnica do Brasil.
Ao tornar visvel e comunicvel a linguagem que fere, podemos perceber suas arestas
vacilantes e, assim, delinear as instveis formas de agncia que emergem nessas margens
difusas.
185
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Agamben, Giorgio (1998) Homo sacer: Sovereign power and bare life. Trad. Daniel
Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press.
Albuquerque Jr., Durval Muniz (2001) A inveno do Nordeste e outras artes. 2.ed. So
Paulo: Cortez.
Althusser, Louis (1971) Ideology and ideological apparatuses. In: Lenin and philosophy
and other essays. Trad. B. Brewster. New York: Monthly Review Press, pp.127-186.
Anderson, Benedict (2008[1991]) Comunidades imaginadas: Reflexes sobre a origem e
a difuso do nacionalismo. Trad. Denise Bottmann. So Paulo: Companhia das Letras.
Andrade, Oswald de (1991) Marco Zero I: A revoluo melanclica. So Paulo: Globo.
Asad, Talal (2008) Reflections on blasphemy and secular criticism. In: de Vries, H. (Ed.)
Religion: Beyond a concept. Fordham University Press, Fordham, pp.580-609.
_________. (2003) Formations of the secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford:
Stanford University Press.
Austin, John (1975 [1962]) How to do things with words. Cambridge: Harvard
University Press.
Bakhtin, Mikhail (1986) Speech genres and other later essays. Trad. Vern W. McGee.
Austin: University of Texas Press.
Bauman, Richard & Charles Briggs (2003) Voices of Modernity. Language ideologies
and the politics of inequality. Cambridge: Cambridge University Press.
_________. (1990) Poetics and performance as critical perspectives on language and
social life. Annual Review of Anthropology, 19:59-88.
Bar-Hillel, Y. (1971) Out of the pragmatic wastebasket. Linguistic Inquiry 2, 401-407.
Beauvoir, Simone de (1953[1989]) The second sex. New York: Vintage Books.
Blackledge, A., 2006. The racialization of language in British political discourse.
Critical Discourse Studies, 3 (1):61-79.
Blommaert, Jean (2005) Discourse. A critical introduction. Cambridge University Press,
Cambridge.
186
Bourdieu, Pierre (1993) The field of cultural production: Essays on art and literature (Ed.
Johnson, R). Columbia University Press, New York.
_________. (1991) Language and symbolic power. Trad. G. Raymond & M. Adamson.
Cambridge: Harvard University Press.
Briggs, Charles (2005) Communicability, racial discourse, and disease. In: Annual
Review of Anthropology 34:269-291.
_________. (2007a) Mediating infanticide: Theorizing relations between narrative and
violence. In: Cultural Anthropology, 22(3):315-356.
_________. (2007b) The Gallup poll, democracy, and the vox populi: Ideologies of
interviewing and the communicability of modern life. In: Text & Talk, 5(6):681-704.
_________. (2007c) Anthropology, interviewing, and communicability in contemporary
social life. In: Current Anthropology, 48(4):551-580.
Brown, G., Yule, G., 1983. Discourse Analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
Butler, Judith (2004) Precarious life. The powers of mourning and violence. London &
New York: Verso.
_________. (1999) Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. 2.ed. New
York and London: Routledge.
_________. (1997) Excitable speech: a politics of the performative. London and New
York: Routledge.
_________. (1993) Bodies that matter: on the discursive limits of sex. London and New
York: Routledge.
Caldeira, Teresa (2003) Cidade de muros: Crime, segregao e cidadania em So Paulo.
Trad. Frank de Oliveira & Henrique Monteiro. 2.ed. So Paulo: Edusp & Editora 34.
_________. (2000) City of Walls. Crime, segregation and citizenship in So Paulo.
Berkeley: University of California Press.
Cheah, Peng (2003) Spectral nationality: passages of freedom from Kant to postcolonial
literatures of liberation. Nova York & Chichester: Columbia University Press.
_________. (1999) Spectral nationality: The living on [sur-vie] of the postcolonial nation
in neocolonial globalization. In: Boundary 2, 26(3):225-252.
Cottingham, John (1995) Dicionrio Descartes. Trad. Helena Martins. Rio de Janeiro:
Zahar.
187
Damsio, Antonio (2004) O erro de Descartes. Trad. Dora Vicente & Georgina
Segurado. So Paulo: Cia. das Letras.
_________. (1999) The feeling of what happens. Body and emotion in the making of
conscience. Nova York: Harcourt.
Das, Veena (2000) The act of witnessing: Violence, poisonous knowledge, and
subjectivity. In: Das, V., Kleinman, A., Ramphele, M., Reynolds, P., 2000. (Eds.)
Violence and subjectivity. University of California Press, Berkeley, pp. 205-225.
Das, V., Kleinman, A., Ramphele, M., Reynolds, P., (2000) (Eds.) Violence and
subjectivity. Berkeley: University of California Press.
Deleuze, Gilles (1986) Cinema 1 The movement-image. Trad. Hugh Tomlinson &
Barbara Habbejam, University of Minnesota Press.
Deleuze, Gilles & Felix Guattari (1994) What is Philosophy? Trad. Hugh Tomlinson and
Grahan Burchell. Nova York: Columbia University Press, 1994.
Derrida, Jacques (2005) On touching Jean-Luc Nancy. Trad. Christine Irizarry.
Stanford: Stanford University Press.
_________. (2004[1979]) Living On. In: Bloom, H. et al. Deconstruction and criticism.
London & New York: Continuum.
_________. (1997[1967]) Of Grammatology. Trad. Gayatri Chakravorty Spivak.
Baltimore: John Hopkins University Press.
_________. (1994[1993]) Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of
Mourning, and the New International. Trad. Peggy Kamuf. London & New York:
Routledge.
_________. (1991) Limited Inc. Trad. Constana Marcondes Cesar. Campinas: Papirus.
_________. (1977) Signature event context. Trad. Samuel Weber & Jeffrey Mehlam. In:
Glyph, 1:172-197.
Descartes, Ren (1985[1649]) The passions of the soul, in The Philosophical Writings of
Descartes. Trad. John Cottingham, Robert Stoothoff & Dugald Murdoch. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ducrot, Oswald (1980) Les cheles argumentatives. Paris: Les ditions de Minuit.
_________. (1972) Dire et ne pas dire: Principes de smantique linguistique. Paris:
Hermann.
188
Feagin, J. (2002) Foreword. In: Santa Ana, O., Brown tide rising. Metaphors of Latinos
in contemporary American discourse. Austin: University of Texas Press, pp. xi.-xiv.
Feldman, Allen (2000) Violence and vision: The prosthetics and aesthetics of terror. In:
Das, V., Kleinman, A., Ramphele, M., Reynolds, P., 2000. (Eds.) Violence and
subjectivity. Berkeley: University of California Press, pp. 46-78.
Felman, Shoshana (2002 [1980]) The Scandal of the Speaking Body: Don Juan with J. L.
Austin, or Seduction in Two Languages. Trad. Catherine Porter. Stanford: Stanford
University Press.
Ferreira, Ruberval (2007) Guerra na lngua: mdia, poder e terrorismo. Fortaleza:
Eduece.
Ferreira, lida (2003) Jacques Derrida e o rcit da traduo: o Sobreviver/Dirio de
Borda e seus transbordamentos. Tese de doutorado, Campinas, Unicamp.
Foucault, Michel (1998[1969]) What is an author? In: James D. Faubian (Ed.) Aesthetics,
Method and Epistemology. Vol. 2 of Essential Works of Foucault, 1954 1984. The
New Press (205-222).
Fowler, R., Kress, G. (1979) Critical Linguistics. In: Fowler, R., Hodge, B., Kress, G.,
Trew, T., Language and control. London: Routledge & Kegan Paul, pp. 185-213.
Fraser, Nancy (1992) Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of
Actually Existing Democracy. In Calhoun, Craig (Org.) Habermas and the Public
Sphere. Cambridge & London: The MIT Press.
Freud, Sigmund (2004[1893]) Studies in histerya. Trad. Nicola Luckhurst. New York &
London: Penguin.
___________. (1997[1930]) O mal-estar na civilizao. Trad. de Jos Octvio de
Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago.
___________. (1996a[1923]) O Ego e o Id, trad. sob a direo geral e reviso de Jayme
Salomo. In: Edio standard das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud,
vol. 19. Rio de Janeiro: Imago.
___________. (1996b[1920]) Alm do princpio de prazer, trad. sob a direo geral e
reviso de Jayme Salomo. In: Edio standard das obras psicolgicas completas de
Sigmund Freud, vol. 19. Rio de Janeiro: Imago.
189
Freud, Sigmund (1932) Why war? In: New Introductory Lectures on Psycho-Analysis
and Other Works, Vol.XXII. Trad. de James Strachey. London: The Hogarth Press and
The Institute of Psycho-Analysis.
_________. (1915) Thoughts for the Times on War and Death. In: The Standard Edition
of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol XIV. Trad. de James
Strachey. London: The Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis.
Glock, Hans-Johann (1998) Dicionrio Wittgenstein. Trad. Helena Martins. Rio de
Janeiro: Zahar.
Habermas, Jrgen (1992[1962]) The structural transformation of the public sphere: An
inquiry into a category of bourgeois society. Trad. Thomas Burger & Frederick
Lawrence. Cambridge & Oxford: Polity Press.
Haesbaert, Rogrio (2006) O mito da desterritorializao: do fim dos territrios
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Halliday, M., Hasan, R. (1976) Cohesion in English. Longman, London.
Hanks, William (2005) Pierre Bourdieu and the practices of language. In: Annual Review
of Anthropology, 34:67-83.
Holston, James (2008) Insurgent citizenship: Disjunctions of democracy and modernity
in Brazil. Princeton: Princeton University Press.
Houaiss, Antonio; & Villar, Mauro de Salles (2001) Dicionrio Houaiss da Lngua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.
Jing-Schmidt, Z. (2007) Negativity bias in language: A cognitive-affective model of
emotive intensifiers. Cognitive Linguistics, 18(3), 417-443.
Kelly, M. (2000) Naming on the bright side of life. Names, 48(1), 3-26.
Koch, I. & L. Travaglia (1990) A coerncia textual. Contexto, So Paulo.
Kristeva, Julia (1982) Powers of horror: An Essay on Abjection. Trad. Leon S. Roudiez.
New York: Columbia University Press.
Lacan, Jacques (1981) The four fundamental concepts of Psychoanalysis. Trad. A.
Sheridan. New York: W. W. Norton & Company.
Lakoff, George & M. Johnson (1999) Philosophy in the flesh. New York: Basic Books.
_________. (1980) Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press.
190
Lima, Paula L. C. (1999) Desejar ter fome: novas idias sobre antigas metforas
conceituais. Tese de doutorado, Campinas, Unicamp.
Mahmood, Saba (2007) Religious signs in a secular age: communicating across
religious divides? Paper delivered at the workshop on religion and secularism by the
Social Science Research Council on Sep. 12-14, 2007, New York.
_________. (2005) Politics of piety: the Islamic revival and the feminist subject.
Princeton & Oxford: Princeton University Press.
Malkki, Lisa (1995) Purity and exile: Violence, memory, and national cosmology among
Hutu refugees in Tanzania. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Marcuschi, Luiz A. (2003) Do cdigo para a cognio: o processo referencial como
atividade criativa. In: Veredas revista de estudos lingsticos, 6(1):43-62.
Martins, Helena (2005) Palavras de sensao. In Miranda, N. & M. Name (orgs.)
Lingstica e cognio. Juiz de Fora: Ed. UFJF.
Morris, C. (1955) Signs, language and behavior. Nova York: George Braziller, Inc.
Mey, Jacob (1985) Whose language? A study in linguistic pragmatics. Amsterdam: John
Benjamins.
Nagib, Lcia (2006) A utopia no cinema brasileiro: matrizes, nostalgia, distopias. So
Paulo: Cosac Naify.
Nancy, Jean-Luc (2005) The ground of the image. Trad. Jeff Fort. New York: Fordham
University Press.
Nodari, Alexandre (2006) O que um bandido? In: Instituto da Cultura e da Barbrie
(http://www.culturaebarbarie.org/textos/bandido.pdf) Acesso em 10/09/2009.
Peirce, Charles Sanders (1955[1897]) Logic as semiotic: the theory of signs. In Buchler,
Justus (org.) Philosophical writings of Peirce. New York: Dover Publications.
Pinto, Joana (2002) Estilizaes de gnero em discurso sobre a linguagem. Tese de
doutorado, Campinas, Unicamp.
_________. (2001) Pragmtica. In: Mussalin, F., Bentes, A., (Eds.) Introduo
Lingstica. Cortez, So Paulo.
Ponzio, Augusto (2006) Indexicality: Theory. In: Brown, Keith (Ed.) Encyclopedia of
Language and Linguistics. 2.ed. Oxford: Elsevier.
191
Rajagopalan, Kanavillil (2006) Social aspects of pragmatics. In: Brown, K., (Ed.)
Encyclopedia of Language & Linguistics, second ed. Elsevier, Oxford, pp. 434-440
(Em Portugus: Rajagopalan, K (no prelo). Aspectos sociais da pragmtica. In: A nova
pragmtica. Trad. Claudiana Nogueira de Alencar. So Paulo: Parbola)
_________. (2000) On Searle (on Austin) on language. In: Language and
Communication 20:347-391.
_________. (1998) O conceito de identidade em lingstica: chegada a hora de uma
mudana radical? In Signorini, Ins (org.) Lngua(gem) e identidade. Campinas:
Mercado de Letras, pp.21-45.
Ramos, Graciliano (1977[1938]) Vidas secas. Rio de Janeiro: Record.
Reisigl, M., Wodak, R. (2000) Discourse and discrimination: Rhetorics of racism and
antisemitism. Routledge, London.
Rgo, Jos Lins do (1972[1943]) Fogo morto. 11.ed. Rio de Janeiro: Jos Olmpio.
Scheper-Hughes, Nancy (2004) Dangerous and endangered youth: Social structures and
determinants of violence. Annals of the New York Academy of Sciences 1036:13-46.
Scheper-Hughes, Nancy & P. Bourgois (2004) Introduction: Making sense of violence
the violence continuum. In: Scheper-Hughes, N. & Bourgois, P. (Eds.) Violence in war
and peace. Malden: Blackwell, pp. 1-31.
Seligmann-Silva, Marcio (2005) O local da diferena: Ensaios sobre memria, arte,
literatura e traduo. So Paulo: Editora 34.
Searle, John R. (1977) Reiterating the differences: a reply to Derrida. In: Glyph, 1:198-
208.
Signorini, Ins (2008) Metapragmticas da lngua em uso: unidades e nveis de anlise.
In: Signorini, Ins (Org.) Investigaes sobre lngua[gem] situada 1. So Paulo:
Parbola.
Silva, Daniel (2005) Brahma Kumaris: a construo performativa de identidades de
gnero. Dissertao de mestrado, Campinas, Unicamp.
Silva, Tomaz Tadeu (2000) A produo cultural da identidade e da diferena. In: Silva,
T. (org.) Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis: Vozes.
Spivak, Gayatri C. (1997[1974]) Translators Preface. In Derrida (1997[1967]) Of
Grammatology. Trad. Gayatri C. Spivak. Baltimore: John Hopkins University Press.
192
Silverstein, Michael (2004) Cultural concepts and the language-culture nexus. Current
Anthropology, 45(5):621-652.
_________. (2003) Indexical order and the dialectics of the sociolinguistic life.
Language and Communication, 23:193-229.
Solms, Mark & Oliver Turnbull (2002) The brain and the inner world: an introduction to
the neuroscience of subjective experience. New York: The Other Press.
Taylor, Diana (1997) Disappearing acts: Spectacles of gender and nationalism in
Argentinas Dirty War. Durham: Duke University Press.
Tefilo, Rodolfo (2002[1890]) A fome. Fortaleza: Edies Demcrito Rocha.
Tringali, Dante (1988) Introduo retrica: a retrica como crtica literria. So
Paulo: Duas Cidades.
Tyler, S. (1978) The said and the unsaid. New York: Academic Press.
Vidal e Souza, Candice (1997) A ptria geogrfica: serto e litoral no pensamento social
brasileiro. Goinia: Ed. da UFG.
Voloshinov, V. (1976) Discourse in life and discourse in art. Trad. I. Titunik. In:
Freudianism: A Marxist Critique. New York: Academic Press, pp. 93-116.
Winchell, M. (2008) Life, death and the subject: Thinking violence beyond the vitalist
ontology of liberalism. Berkeley: University of California, ms.
Wittgenstein, Ludwig (1953) Philosophical Investigations. Trad. G. E. M. Anscombre.
Oxford: Blackwell.
_______. (1993) Cause and Effect. In Philosophical Occasions (Ed. James Klagge). Trad.
Peter Winch. Indianapolis & Cambridge: Hackett Publishing.
Zaluar, Alba (1999) Um debate disperso: violncia e crime no Brasil da
redemocratizao. So Paulo em Perspectiva 13(3):3-17.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- 1000 QuestõesDokument348 Seiten1000 QuestõesTatiana Miranda90% (10)
- O Lado Sombrio Dos Buscadores Da Luz - Debbie FordDokument100 SeitenO Lado Sombrio Dos Buscadores Da Luz - Debbie FordASCENSÃO100% (9)
- Hagin, Kenneth W. Construídos para DurarDokument156 SeitenHagin, Kenneth W. Construídos para DurarROBSON CARVALHO RIBEIRO0% (1)
- Workbook TecendoaansiedadeDokument55 SeitenWorkbook TecendoaansiedadeJoicy LopesNoch keine Bewertungen
- Karl Marx e Satan PDFDokument131 SeitenKarl Marx e Satan PDFAlexandre Rey PereiraNoch keine Bewertungen
- Visualizações e Meditacoes Com Mestre KuthumiDokument163 SeitenVisualizações e Meditacoes Com Mestre Kuthumijambar040% (1)
- Como aprender sobre emoções com DivertidaMenteDokument3 SeitenComo aprender sobre emoções com DivertidaMenteYonaisa Karina100% (1)
- Suicidio - o Que Precisamos Saber - Cartilha - Versão 03Dokument26 SeitenSuicidio - o Que Precisamos Saber - Cartilha - Versão 03Mateus ButinhoneNoch keine Bewertungen
- Habilidades socioemocionais no 6o anoDokument25 SeitenHabilidades socioemocionais no 6o anoMarcus Vinicius Moraes100% (2)
- Victor Gabriel Rodrígues - Manual de Redação Forense - 2º Edição - Ano 2004 PDFDokument445 SeitenVictor Gabriel Rodrígues - Manual de Redação Forense - 2º Edição - Ano 2004 PDFnathalia Soares100% (2)
- Projeto de PráticaDokument4 SeitenProjeto de Práticathatiane farias santos thatiNoch keine Bewertungen
- Caso ElisabethDokument17 SeitenCaso ElisabethNatália MoreiraNoch keine Bewertungen
- As principais abordagens pedagógicas da Educação FísicaDokument26 SeitenAs principais abordagens pedagógicas da Educação FísicaTrafalgar LawNoch keine Bewertungen
- Percebendo as energias quânticas na vida cotidianaDokument18 SeitenPercebendo as energias quânticas na vida cotidianaGabriela Rodrigues100% (1)
- SERRES, Michel. (Org.) - Elementos para Uma História Das Ciências - de Pasteur Ao Computador - Volume III PDFDokument235 SeitenSERRES, Michel. (Org.) - Elementos para Uma História Das Ciências - de Pasteur Ao Computador - Volume III PDFEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Marcos Nobre - Apontamentos Sobre A Pesquisa em Direito No BrasilDokument19 SeitenMarcos Nobre - Apontamentos Sobre A Pesquisa em Direito No BrasilLolPimNoch keine Bewertungen
- Consequências da falta de centro cirúrgico em GroaírasDokument6 SeitenConsequências da falta de centro cirúrgico em GroaírasEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Prova 1 FaseDokument17 SeitenProva 1 FaseEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Nos Labirintos de Uma Escrita SociotécnicaDokument15 SeitenNos Labirintos de Uma Escrita SociotécnicaEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Mario Engler Pinto Junior Pesquisa Juridica No Mestrado Profissional 2a. Versao 22-08-2016Dokument23 SeitenMario Engler Pinto Junior Pesquisa Juridica No Mestrado Profissional 2a. Versao 22-08-2016Emanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Mario Engler Pinto Junior Pesquisa Juridica No Mestrado Profissional 2a. Versao 22-08-2016Dokument23 SeitenMario Engler Pinto Junior Pesquisa Juridica No Mestrado Profissional 2a. Versao 22-08-2016Emanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Origens Do Science Studies Política e Interdisciplinaridade Na Constituição Do MovimentoDokument9 SeitenOrigens Do Science Studies Política e Interdisciplinaridade Na Constituição Do MovimentoEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- HistoriaDokument15 SeitenHistoriaandrern10100% (1)
- Semantica Semanticas Primeiro CapituloDokument12 SeitenSemantica Semanticas Primeiro CapituloConferencistRosePradoNoch keine Bewertungen
- 2847 8802 1 PBDokument23 Seiten2847 8802 1 PBEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Sobre Realismo Crítico e EconomiaDokument31 SeitenSobre Realismo Crítico e EconomiaEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- 133 20171002 1506975080Dokument13 Seiten133 20171002 1506975080Emanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- O Método de Análise Cartesiano PDFDokument26 SeitenO Método de Análise Cartesiano PDFElder FogacaNoch keine Bewertungen
- Regras Abnt Novas 2013 2014Dokument13 SeitenRegras Abnt Novas 2013 2014Aldson RuppNoch keine Bewertungen
- Guia de Normalizacao Uece V.1 21 08 2016 PDFDokument151 SeitenGuia de Normalizacao Uece V.1 21 08 2016 PDFsandracamurcaNoch keine Bewertungen
- Ciência e tecnologia no olhar de LatourDokument7 SeitenCiência e tecnologia no olhar de LatourFlávia BarbosaNoch keine Bewertungen
- INTER10 PG 227 243Dokument17 SeitenINTER10 PG 227 243Sueli RamosNoch keine Bewertungen
- Searle Interpretando Austin: Retórica e Medo da Morte nos Estudos da LinguagemDokument275 SeitenSearle Interpretando Austin: Retórica e Medo da Morte nos Estudos da LinguagemEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- 669 2885 1 PBDokument18 Seiten669 2885 1 PBEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Tese Sobre o Modernismo PotiguarDokument191 SeitenTese Sobre o Modernismo PotiguarEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- FxaEclogítica CearáDokument18 SeitenFxaEclogítica CearáRenato SantiagoNoch keine Bewertungen
- Técnica de redação forense: princípios e boas práticasDokument54 SeitenTécnica de redação forense: princípios e boas práticasLeonardo Buglione FilhoNoch keine Bewertungen
- Prova Gabaritada The UECE 2013 2Dokument7 SeitenProva Gabaritada The UECE 2013 2Mayra QueirozNoch keine Bewertungen
- Caracterização geológica e tecnológica das rochas ornamentais do stock granítico Serra do Barriga, Sobral (CEDokument280 SeitenCaracterização geológica e tecnológica das rochas ornamentais do stock granítico Serra do Barriga, Sobral (CEEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Emanoel Pedro Martins GomesDokument172 SeitenEmanoel Pedro Martins GomesEmanoel Pedro MartinsNoch keine Bewertungen
- Castelfranchi, J. Tese - As Serpentes e o BastãoDokument380 SeitenCastelfranchi, J. Tese - As Serpentes e o BastãoJosé Paulo NetoNoch keine Bewertungen
- InCID - R Ci Inf e Doc - 1 (1) 2010-Um Banho de Empirismo - de Hume Deleuze Ao Empirismo Radical de Bruno LatourDokument21 SeitenInCID - R Ci Inf e Doc - 1 (1) 2010-Um Banho de Empirismo - de Hume Deleuze Ao Empirismo Radical de Bruno LatourGoshai DaianNoch keine Bewertungen
- Bruno Latour e a antropologia simétricaDokument20 SeitenBruno Latour e a antropologia simétricaVinicius Machado Pereira dos santosNoch keine Bewertungen
- O perfil do líder para o novo séculoDokument44 SeitenO perfil do líder para o novo séculoPriscila SousaNoch keine Bewertungen
- Marcelo Augusto Mendes Barbosa - Guia de Estudos Estratégia de NegociaçãoDokument104 SeitenMarcelo Augusto Mendes Barbosa - Guia de Estudos Estratégia de NegociaçãoEduarda MendonçaNoch keine Bewertungen
- Aula 4 - Resolução de Questões Sobre A BNCC Da Educação InfantilDokument40 SeitenAula 4 - Resolução de Questões Sobre A BNCC Da Educação InfantilceciliaNoch keine Bewertungen
- Introdução à Gestão de Pessoas: humanização no ambiente de trabalhoDokument5 SeitenIntrodução à Gestão de Pessoas: humanização no ambiente de trabalhoAdriano Hoffmann100% (1)
- Psicanálise: a teoria de Freud sobre o inconscienteDokument4 SeitenPsicanálise: a teoria de Freud sobre o inconscienteFagner WillysNoch keine Bewertungen
- O cosmismo russo: ideias para o futuro da humanidadeDokument8 SeitenO cosmismo russo: ideias para o futuro da humanidadeLuke StoneNoch keine Bewertungen
- Transdisciplinaridade e fragmentação do conhecimentoDokument3 SeitenTransdisciplinaridade e fragmentação do conhecimentoMoisés CâmaraNoch keine Bewertungen
- Avaliação Do ComportamentoDokument5 SeitenAvaliação Do ComportamentoFrescura1Noch keine Bewertungen
- Goffman-Irene RectificadoDokument15 SeitenGoffman-Irene RectificadoIvan Do RosarioNoch keine Bewertungen
- AULA 5 Indicadores de Saúde, Segurança e Qualidade VIDA NO TRABALHODokument53 SeitenAULA 5 Indicadores de Saúde, Segurança e Qualidade VIDA NO TRABALHOJose ItaloNoch keine Bewertungen
- Alfred Adler, fundador da Psicologia IndividualDokument4 SeitenAlfred Adler, fundador da Psicologia IndividualElizabeth NevesNoch keine Bewertungen
- O Que é PsicopedagogiaDokument6 SeitenO Que é PsicopedagogiaAna Paula da Cunha GóesNoch keine Bewertungen
- Negociando e Fechando Venda de ImoveiDokument9 SeitenNegociando e Fechando Venda de ImoveiLuana LimaNoch keine Bewertungen
- Fracasso Escolar (Instituição)Dokument16 SeitenFracasso Escolar (Instituição)Isabelle Marques BertoldoNoch keine Bewertungen
- O papel das mulheres na sociedade: diferentes formas de submissãoDokument9 SeitenO papel das mulheres na sociedade: diferentes formas de submissãoMarcos Zeca PaisNoch keine Bewertungen
- ... Contribuições Da Psicanálise À Discussão Da InclusãoDokument8 Seiten... Contribuições Da Psicanálise À Discussão Da InclusãoMaira De Lisboa Veras FerreiraNoch keine Bewertungen
- Adaptações na naturezaDokument26 SeitenAdaptações na naturezaLuiz TavernardNoch keine Bewertungen