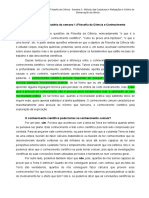Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
O que é conhecimento? Uma introdução à epistemologia
Hochgeladen von
anapbulgarelliOriginalbeschreibung:
Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
O que é conhecimento? Uma introdução à epistemologia
Hochgeladen von
anapbulgarelliCopyright:
Verfügbare Formate
EPISTEMOLOGIA
*
ANTHONY CLIFFORD GRAYLING
Introduo
Epistemologia, tambm chamada de teoria do conhecimento, o ramo da filosofia que se ocupa da inves-
tigao sobre a natureza, as origens e a validade do conhecimento. Entre as principais questes que ela procura
responder so: o que o conhecimento? Como o obtemos? Pode-se defender nossa maneira de obt-lo contra o
questionamento ctico? Essas questes, de modo implcito, so to antigas quanto a filosofia, embora sua primei-
ra abordagem explcita seja encontrada em PLATO (c. 427-347 a.C.) (ver captulo 23), em particular em seu Teete-
to. Contudo, foi principalmente na poca moderna, do sculo XVII em diante como resultado da obra de
DESCARTES (1596-1650) (captulo 26) e LOCKE (1632-1704) (captulo 29), juntamente com a ascenso da cincia
moderna , que a epistemologia ocupou o centro da cena filosfica.
Um passo evidente na direo da resposta primeira questo da epistemologia tentar uma definio. A
definio padro preliminar afirma que o conhecimento uma crena verdadeira justificada. Essa definio parece
plausvel pois, pelo menos, parece que para conhecer algo se deve acreditar nisso, que a crena deve ser verda-
deira e a razo que se tem para acreditar nela precisa ser satisfatria luz de algum critrio pois no se pode
afirmar conhecer algo se as razes para acreditar nisso so arbitrrias ou casuais. Assim, cada uma das trs par-
tes da definio parece expressar uma condio necessria para o conhecimento, e a tese que, tomadas conjun-
tamente, so suficientes.
Existem, todavia, srias dificuldades com essa ideia, em particular no que concerne natureza da justifi-
cao requerida para a crena verdadeira se transformar em conhecimento. Propostas rivais foram apresentadas
para dar conta das dificuldades seja pela adio de outras condies, seja pela descoberta de uma melhor formu-
lao da mesma definio. A primeira parte deste captulo considera tais propostas.
Paralelamente a esse debate sobre como definir o conhecimento h um outro sobre o modo como se
adquire o conhecimento. Houve, na histria da epistemologia, duas escolas principais de pensamento relaciona-
dos aos meios para chegar ao conhecimento. Uma a escola racionalista (ver captulos 26 e 27), que declara
que a razo desempenha esse papel. A outra a empirista (ver captulos 29, 30 e 31), que afirma ser a experi-
ncia, principalmente o uso dos sentidos auxiliado, quando necessrio, pelos instrumentos cientficos que cumpre
essa funo.
O paradigma do conhecimento para os racionalistas a matemtica e a lgica, nas quais se chega s
verdades necessrias pela intuio e pela inferncia racional. Questes sobre a natureza da razo, a justificao
da inferncia e a natureza da verdade, especialmente a verdade necessria, tambm exigem resposta.
O paradigma empirista fornecido pela cincia natural, em que a observao e a experincia so essen-
ciais para a investigao. A histria da cincia na poca moderna d sustentao ao partido empirista; mas, preci-
samente por esse motivo, questes filosficas sobre percepo, observao, indcio e experincia adquiriram
grande importncia.
Entretanto, para ambas as tradies em epistemologia a preocupao central se podemos confiar nos
caminhos que eles apontam para o conhecimento. Argumentos cticos do a entender que no podemos sim-
plesmente pressup-los como confiveis; de fato, eles alegam que preciso provar que so dignos de confiana.
O esforo para responder ao ceticismo fornece, portanto, uma maneira aguda de compreender o que crucial na
epistemologia. De acordo com isso, a segunda parte deste estudo ocupa-se com uma anlise do ceticismo e al-
gumas respostas a ele.
H outros debates epistemolgicos concernentes, entre outras coisas, memria, ao juzo, introspec-
o, ao raciocnio, distino entre a priori [= antes da experincia] e a posteriori [= aps a experincia], ao mto-
do cientfico e s diferenas metodolgicas, se que existem, entre as cincia naturais e as cincias sociais. Con-
tudo, as questes aqui consideradas so fundamentais para todos eles.
*
Fonte: BUNNIN, Nicholas; TSUI-JAMES, E. P. Compndio de Filosofia. Traduo de Luiz Paulo Rouanet. So Paulo: Loyola,
2007, p. 41-62.
2
1 Conhecimento
1.1 Definindo o conhecimento
H diferentes maneiras pelas quais se pode dizer que algum possui conhecimento. Podem-se conhecer
pessoas ou lugares, no sentido de estar familiarizado com eles. o que significa a frase: Meu pai conheceu Lloyd
George. Pode-se saber como fazer algo, no sentido de ter uma habilidade ou destreza. o que significa a frase:
Sei jogar xadrez. E pode-se saber que algo de tal forma, como quando se diz: Sei que o Everest o pico mais
alto. E este ltimo denominado s vezes conhecimento proposicional, e o tipo de conhecimento que os epis-
temlogos mais procuram entender.
A definio de conhecimento j mencionada conhecimento como crena verdadeira justificada pre-
tende ser uma anlise do conhecimento no sentido proposicional. Chega-se definio perguntando pelas condi-
es que precisam ser satisfeitas para descrever corretamente algum como conhecendo algo. Ao fornecer a
definio, estabelecemos o que esperamos que sejam as condies necessrias e suficientes para a verdade da
assertiva S conhece p, em que S o sujeito epistmico o suposto cognoscente e p uma proposio.
A definio contm certo ar de plausibilidade, pelo menos se aplicada ao conhecimento emprico, pois
parece atender ao mnimo que se pode necessitar de um conceito to conseqencial. Parece correto esperar que,
se S sabe que p, ento p precisa pelo menos ser verdade. Parece correto achar que S no est apenas especu-
lando ou esperando que p seja de tal forma, mas precisa ter uma atitude epistmica positiva em relao a ele: S
precisa acreditar que seja verdade. E se S acredita em alguma proposio verdadeira sem possuir fundamentos,
ou possuindo fundamentos incorretos, ou meramente arbitrrios e fantasiosos: se fizesse isso no diramos que S
conhece p; o que significa que S deve ter fundamentos para crer em p, que, em certo sentido, justifiquem o fato de
faz-lo.
Dessas condies de conhecimento propostas, a terceira a mais problemtica. O motivo para isso
ilustrado de maneira simples por contra-exemplos, que assumem a forma de casos nos quais S acredita que uma
proposio verdadeira pelos motivos errados, embora sejam, de seu ponto de vista, convincentes. Suponha-se,
por exemplo, que S possua dois amigos, T e U. O ltimo est em viagem pelo exterior, mas S no sabe onde.
Quanto a T, S o viu fazendo compras e depois dirigindo um Rolls Royce, e acredita ento que ele possui um. Ago-
ra, a partir de qualquer proposio p pode-se validamente inferir a disjuno p ou q. Assim, S tem fundamentos
para crer T compra um Rolls Royce ou U est em Paris, mesmo que, ex hypothesi [= por hiptese], ele no tenha
idia da localizao de U. Mas, suponha-se que T de fato no possua o Rolls Royce ele o comprou para outra
pessoa, e o dirige com sua autorizao. Suponha-se ainda que, por acaso, U esteja de fato em Paris. Ento S cr,
justificadamente, numa proposio verdadeira, mas no deveramos chamar sua crena de conhecimento.
Exemplos como esses foram um pouco a situao, mas funcionam. Eles mostram que preciso esclare-
cer mais a noo de justificao, antes de poder afirmar que possumos uma explicao adequada do conheci-
mento.
1.2 Justificao
Como questo preliminar indagamos se ter justificaes para crer em p implica a verdade de p, pois, se
assim for, contra-exemplos do tipo que acabamos de mencionar no tm validade e no precisamos encontrar
maneiras de enfrent-los. Existe, com efeito, uma concepo denominada de infalibilismo, que oferece tal recur-
so. Ela estabelece que, se verdade que S sabe que p, ento S no pode estar enganado ao crer em p, e portan-
to sua justificao para acreditar em p garante sua verdade. A tese, em poucas palavras, que no se pode estar
justificado por crer numa proposio falsa.
Essa concepo rejeitada pelos falibilistas, que afirmam que se pode de fato ter uma justificao para
crer em algum p, mesmo que ele seja falso. Seu argumento contra o infalibilismo consiste em identificar um erro
no argumento bsico deste ltimo. O erro reside em que, se a verdade de S conhece p de fato exclui a possibili-
dade de S estar errado, isto no o mesmo que dizer que S est de tal modo disposto que no pode estar errado
sobre p. correto dizer (1) impossvel para S estar errado sobre p se ele conhece p, mas no sempre correto
dizer (2) se S sabe que p, ento impossvel para ele estar errado sobre p". O erro consiste em pensar que a
leitura (1) correta de alcance abrangente de impossvel autoriza a leitura (2) de alcance limitado que constitui o
infalibilismo.
Uma formulao infalibilista faz a definio de conhecimento parecer simples: S sabe que p se sua crena
nele infalivelmente justificada. Contudo, essa definio torna a noo de conhecimento demasiado restritiva, pois
3
afirma que S pode, justificadamente, crer em p apenas quando a possibilidade da falsidade de p estiver excluda.
No entanto, um lugar-comum da experincia epistmica o fato de algum poder ter os melhores indcios para
crer em algo e ainda assim estar errado (como a exposio do ceticismo fornecida abaixo se esfora em mostrar),
o que significa que o falibilismo parece constituir a nica explicao da justificao adequada aos fatos da vida
epistmica. Precisamos, portanto, investigar at que ponto as teorias falibilistas da justificao podem prover-nos
de uma explicao adequada do conhecimento.
O problema das explicaes falibilistas precisamente aquele ilustrado pelo exemplo do Rolls Royce
apresentado antes e por outros similares a ele (denominados exemplos de Gettier, introduzidos por Gettier,
1963), ou seja, que a justificao para crer em p no se conecta com a verdade de p na maneira certa, e talvez
no se conecte absolutamente. O que se exige uma explicao que vincular de maneira adequada a justifica-
o de S tanto com sua crena que p como com a verdade de p.
O que necessrio uma descrio ntida de crena justificada. Caso se possa identificar o que justifica
uma crena, percorreu-se todo ou quase todo o caminho para dizer em que consiste a justificao; e, en route, ter-
se- revelado a conexo correta entre a justificao, por um lado, e a crena e a verdade, por outro. Neste contex-
to, h diversas espcies de teoria.
Fundacionismo
Uma classe das teorias de justificao emprega a metfora de um edifcio. A maioria de nossas crenas comuns requer apoio de
outras; justificamos uma dada crena recorrendo a outra, ou outras, na qual ela se baseia. Porm, se a cadeia de crenas justificadas
regredisse ao infinito, sem terminar numa crena que seja, de certo modo, segura, fornecendo assim uma fundao para as outras,
aparentemente teramos uma falta de justificao para alguma crena na cadeia. Mostra-se necessrio, por conseguinte, que haja
crenas que no necessitem de justificao, ou que, de certo modo, se autojustifiquem, para poderem servir de base epistmica.
De acordo com essa concepo, uma crena justificada ou uma crena fundacional, ou apoiada por uma. Os prximos pas-
sos so tornar clara a noo de fundao, e explicar o modo como as crenas fundacionais apiam as no-fundacionais. Faz-se
necessria uma maneira de compreender o fundacionismo sem basear-se em metforas construtivistas.
No suficiente afirmar que uma crena fundacional uma crena que no requer justificao, pois preciso haver um motivo
para isso ocorrer. O que torna uma crena independente ou autnoma? comum afirmar-se que essas crenas justificam a si mes-
mas, ou so auto-evidentes, ou so indiscutveis, ou incorrigveis. No so expresses sinnimas. Um crena pode ser justificar a si
mesma sem ser auto-evidente (pode ser bem difcil provar que ela justifica a si mesma). Indiscutvel significa que nenhuma outra prova
ou outras crenas, alternativas, podem tornar uma dada crena insegura. Porm, essa uma propriedade que a crena pode ter
independentemente do fato de ela justificar a si mesma ou no. E assim por diante. No entanto, o que essas caracterizaes preten-
dem mostrar a idia de que se vincula s crenas em questo certa imunidade dvida, erro ou reviso.
Pode at mesmo ser desnecessrio, ou errneo, pensar que crena que fornece as fundaes para o edifcio do conhecimen-
to: alguma outra condio pode ter essa funo. Condies relativas percepo foram muitas vezes apresentadas como candidatas
a esse papel, pois no parecem, apropriadamente, passveis de correo se parece a algum ver, digamos, uma almofada verme-
lha, no se pode dizer que esteja errado no fato de lhe parecer ver uma almofada vermelha. E parece plausvel afirmar que a crena
de algum em que p no necessita mais nenhuma justificao ou fundao do que o fato de as coisas parecerem para algum tal
como p as descreve.
Essas afirmaes esto cercadas de dificuldades. H uma tendncia em extrair exemplos de crenas auto-evidentes ou autojus-
tificadoras da lgica e da matemtica so da variedade x x, ou um mais um igual a dois, que os crticos rapidamente apontam
como sendo de pouca ajuda na fundamentao de crenas contingentes. Estados de percepo, do mesmo modo, revelam-se candi-
datos improvveis para a fundao, na medida em que a percepo envolve a aplicao de crenas que necessitam elas mesmas de
justificao entre as quais, crenas sobre a natureza das coisas e as leis que as regem. O que se contesta com maior nfase o
mito do dado, a idia de que existem dados firmes, primitivos e originais que a experincia fornece a nossa mente, anteriores e for a
de alcance do juzo, fornecendo os meios para assegurar o restante de nossas crenas.
H uma dificuldade tambm sobre o modo como a justificao passa das crenas fundacionistas para as crenas dependentes.
precipitado afirmar que as ltimas so dedutveis das primeiras. A maioria das crenas contingentes, se no todas, no inferida
pelas crenas que as apiam; a evidncia de que estou sentado agora escrivaninha uma evidncia emprica to forte quanto pode
ser uma evidncia emprica, embora, levando em conta as objees cticas (como, por exemplo, a possibilidade de eu estar sonhan-
do), isso no implique que eu esteja de fato sentado aqui.
Se a relao no de tipo dedutivo, ento de que tipo ? Outras hipteses indutivas ou por critrios so, por natureza, discut-
veis e, portanto, a menos que sejam suplementadas, insuficientes para a tarefa de transmitir justificao das fundaes para outras
crenas. A suplementao teria de consistir na garantia de que as circunstncias que pem por terra a justificao no-dedutiva no
prevaleam de fato. Porm, se tal garantia entenda-se, para evitar circularidade, que ela no faz parte das supostas fundaes
estivesse disponvel para proteger as bases no-dedutivas, ento recorrer a uma noo de fundao pareceria simplesmente intil.
4
1.3 Coerncia
A insatisfao com o fundacionismo levou alguns epistemlogos a preferir a tese de que uma crena
justificada se coerente com crenas inseridas num conjunto aceito. A tarefa imediata especificar o que coe-
rncia e descobrir uma maneira no-circular de lidar com o problema de como as crenas j aceitas vieram a s-
lo.
Segue bem de perto essa tarefa certo nmero de questes. a coerncia um critrio negativo (isto ,
uma crena carece de justificao se ela no coerente com um conjunto) ou positivo (ou seja, uma crena
justificada quando coerente com o conjunto)? E deve ser entendida no sentido forte (em que a coerncia sufi-
ciente para a justificao) ou no fraco (em que a coerncia uma caracterstica justificadora entre outras)?
O conceito de coerncia tem sua base terica na noo de sistema, compreendido como um conjunto
cujos elementos permanecem em relao mtua tanto de consistncia como de (algum tipo de) interdependncia.
A consistncia, claro, uma exigncia mnima e se subentende. A dependncia mais difcil de se especificar de
modo adequado. Seria excessivo pois suscitaria redundncia assertiva exigir que a dependncia significasse
implicao recproca entre crenas ( o que alguns exigiram, citando a geometria como seu exemplo mais prxi-
mo). Uma noo mais difusa a de que um conjunto de crenas coerente se de qualquer uma delas seguir-se
do resto, e se nenhum subconjunto delas for logicamente independente do restante. Contudo, isso vago, e de
qualquer modo parece exigir que o conjunto seja identificado como completo antes de se poder julgar se dada
crena coerente com ele.
Uma soluo poderia ser afirmar que uma crena coerente com um conjunto antecedente se pode ser
inferida dele ou de algum subconjunto significativo dentro dele, considerando-o a melhor explicao no caso. Po-
de-se objetar que nem todas as justificaes assumem a forma de explicaes. Uma alternativa poderia consistir
em afirmar que uma crena justificada se ela resiste comparao com outras crenas concorrentes aceitao
no conjunto antecedente. No entanto, um objetor poderia perguntar como isso pode ser suficiente, dado que, por si
mesmo, isso no mostra o motivo pelo qual as crenas merecem aceitao em detrimento de rivais igualmente
coerentes. De fato, qualquer teoria da justificao tem de assegurar o mesmo para as crenas rivais, de modo que
no h nada na proposta que apie de modo distintivo a teoria da coerncia. Alm disso, esses pensamentos
deixam sem exame a questo do conjunto antecedente e sua justificao, que no pode ser uma questo de
coerncia, pois com o que ele prprio deveria manter coerncia?
1.4 Internalismo e externalismo
Tanto a teoria fundacionista como a teoria da coerncia so s vezes descritas como internalistas, pois
admitem que a justificao consiste em relaes internas entre crenas, seja como no primeiro caso uma
relao vertical de apoio entre crenas supostamente bsicas e outras dependentes delas, seja como no se-
gundo caso uma relao de sustentao mtua de crenas em um sistema apropriadamente compreendido.
Em suas caractersticas gerais, as teorias internalistas asseveram ou tm por certo que uma crena no
pode ser justificada para uma sujeito epistmico S, a menos que S tenha acesso ao que proporciona a justificao,
seja de fato ou em princpio. Essas teorias implicam, em geral, a exigncia forte de fato, pois a justificativa da
crena de S em p procurada em termos de S possuir razes assumidas para considerar p como verdadeiro,
onde possuir razes deve ser entendido num sentido ocorrente.
Aqui surge de imediato uma objeo. Qualquer S tem acesso apenas finito ao que pode justificar ou minar
suas crenas, e esse acesso se restringe a seu ponto de vista particular. Ao que parece, a justificao plena de
suas crenas ocorreria raramente, pois sua experincia se limitaria ao que est prximo dele no espao e no tem-
po, e ele estaria em condies de manter as crenas autorizadas por sua experincia limitada.
Uma objeo correlata que o internalismo parece incoerente com o fato de que muitos pessoas parecem
ter conhecimento, embora no sejam suficientemente sofisticadas para reconhecer que o assim uma razo
para crer que p como o caso, por exemplo, com crianas.
5
Uma objeo mais geral que as relaes entre as crenas, quer do tipo fundacionista, quer do tipo coe-
rencial, podem se estabelecer sem que as crenas em questo sejam verdadeiras a respeito de qualquer coisa
alm delas mesmas. Pode-se imaginar um conto de fadas coerente que no corresponda a uma realidade externa,
mas no qual as crenas so justificadas por suas relaes recprocas.
Essa incmoda reflexo provoca o pensamento de que deveria haver uma coero sobre as teorias de
justificao, na forma de uma exigncia de que haja uma conexo adequada entre a posse de uma crena e fato-
res externos ou seja, algo alm das crenas e de suas relaes mtuas que determine seu valor epistmico.
Desse modo, surge uma alternativa: o externalismo.
1.5 Confiabilidade, causalidade e rastreamento da verdade
Externalismo a concepo segundo a qual o que justifica S na crena de p talvez no seja algo a que S
tem acesso cognitivo. Talvez os fatos no mundo sejam como S acredita que sejam e realmente o levem a acreditar
que so assim pelo estmulo adequado de seus receptores sensrios. S no precisa estar ciente de que desse
modo que sua crena se formou. Assim, S poderia estar justificado em crer que p sem saber disso.
Um tipo importante de teoria externalista o confiabilismo, a sua tese ou feixe de teses segundo a
qual uma crena justificada se ela se conecta, de modo confivel, com a verdade. De acordo com uma variante
importante, a conexo em questo dada por processos confiveis formao de crena. Um exemplo de um pro-
cesso confivel pode ser a percepo normal em condies normais.
Muitas teorias baseadas na noo de vinculao externa, em especial a vinculao causal, entre uma
crena e o objeto dessa crena tm aparncia de plausibilidade. Um exemplo de uma tal teoria a abordagem de
Alvin Goldman (1986) do conhecimento como crena verdadeira apropriadamente causada, em que causao
apropriada assume vrias formas, compartilhando a propriedade de serem processos que so tanto globalmente
como localmente confiveis. No primeiro sentido, o processo tem alta percentagem de xito na produo de
crenas verdadeiras, no segundo o processo no teria produzido a crena em questo em alguma situao con-
trafactual pertinente, em que a crena falsa. A concepo de Goldman , de acordo com isso, um paradigma da
teoria confiabilista.
Uma concepo muito semelhante a essa a de Robert Nozick (Nozick, 1981). s condies
(1) p verdadeiro
e
(2) S acredita que p
Nozick acrescenta
(3) se p no fosse verdadeiro, S no acreditaria que p
e
(4) se p fosse verdadeiro, S acreditaria nele.
As condies (3) e (4) tm a inteno de refutar os contra-exemplos do tipo Gettier para a anlise da
crena verdadeira justificada, anexando firmemente a crena de S verdade de p. A crena de S de que p se
conecta com o mundo (com a situao descrita por p) por uma relao que Nozick chama de rastreamento: a
crena de S rastreia verdade de que p. Ele acrescenta refinamentos na tentativa de afastar os contra-exemplos
que os filsofos esto sempre inventando, de maneira engenhosa e frtil.
Se essas teorias parecem plausveis, porque elas concordam com nossas concepes pr-tericas.
Mas, como de imediato se pode ver, h vrias coisas a objetar nelas, e uma literatura abundante se encarrega
disso. A falha mais sria, contudo, que elas incorrem em petio de princpio. No enfrentam a questo de como
S deve confiar em que dada crena seja justificada; em vez disso, se apropriam de dois pressupostos pesadamen-
6
te realistas, um sobre o domnio sobre o qual versa a crena, e outros sobre como esse domnio e S se conectam,
de modo que eles podem asseverar que S justificado em crer em dado p, mesmo se o que o justifica se situa
fora de sua prpria competncia epistmica. Qualquer outra concluso que se tire dessas afirmaes no esclare-
ce S, tampouco portanto se compromete com o mesmo problema enfrentado pelas teorias internalistas.
O que pior assim poderia dizer um crtico austero , os amplos pressupostos de que se apropriam
essas teorias so precisamente aqueles que a epistemologia deveria examinar. As teorias externalistas e causais,
sob qualquer aspecto ou combinao em que se apresentem, so melhor executadas pela psicologia emprica, em
que as assertivas bsicas a respeito do mundo externo e a conexo de S com ele so postas como premissas. A
filosofia, com certeza, consiste no exame pormenorizado dessas premissas.
1.6 Conhecimento, crena e, mais uma vez, justificao
Considere-se o argumento: Se algum conhece algum p, ento essa pessoa pode estar certa que p.
Porm, ningum pode estar certo de nada. Logo, ningum conhece nada. Este argumento (apresentado assim
por Unger, 1975) instrutivo. Repete o equvoco de Descartes de pensar que o estado psicolgico de se sentir
certo em que algum pode estar em relao a inverdades, como no fato de que posso me sentir certo de que
Arkle vencer o grande prmio na prxima semana, e estar errado o que estamos buscando na epistemolo-
gia. Mas exemplifica tambm a tendncia, entre as discusses sobre o conhecimento, enquanto tal, a definir o
conhecimento de uma maneira to restritiva que nada aceito como adequado. Deveria causar preocupao o
fato de uma possvel definio de conhecimento ser tal, como nos informa o argumento que acabamos de citar,
que ningum possa conhecer nada? Na medida em que se possuem vrias crenas bem justificadas que funcio-
nam bem na prtica, no se pode ficar bastante satisfeito em no conhecer nada? Da minha parte, penso que sim.
Isso d a entender que, na medida em que os pontos esboados nos pargrafos precedentes apresentam
interesse, em conexo com a justificao das crenas e no com a definio do conhecimento que isso aconte-
ce. A justificao uma questo importante, entre outras coisas porque nas reas de aplicao da epistemologia
em que o interesse realmente srio deveria residir em questes sobre a FILOSOFIA DA CINCIA (captulo 9), a
FILOSOFIA DA HISTRIA (captulo 14) ou os conceitos de evidncia e prova em DIREITO (ver captulo 13) a justifi-
cao o problema crucial. sobre essas reas que os epistemlogos deveriam estar trabalhando. Em contrapar-
tida, os esforos para definir o conhecimento so triviais e ocupam muito esforo da epistemologia. A desagrad-
vel propenso do debate gerado pelos contra-exemplos de Gettier admiravelmente antecipados por Russel em
sua reviso de James (Russell, 1910, p. 95) a se desenvolver num tabuleiro de xadrez de ismos, como exem-
plificado acima, um sintoma.
O problema geral com a justificao que os procedimentos que adotamos em todos os passos da vida
epistmica parecem bastante permeveis s dificuldades postas pelo ceticismo. O problema da justificao ,
portanto, em grande parte, o problema do ceticismo. Eis por que a discusso do ceticismo central para a episte-
mologia.
2. Ceticismo
Introduo
Pode-se dizer que, em certo sentido, o estudo e a utilizao dos argumentos cticos definem a epistemo-
logia. Um objetivo epistemolgico fundamental determinar como podemos ter certeza de que nossos meios de
conhecimento (aqui, conhecer toma o lugar de crena justificada) so satisfatrios. Uma maneira incisiva de
mostrar o que est sendo exigido examinar cuidadosamente os questionamentos cticos de nossos esforos
epistmicos, questionamentos que sugerem maneiras pelas quais eles podem estar errados. Se formos capazes
no s de identificar, mas de enfrentar esses questionamentos, um objetivo epistemolgico bsico ter sido alcan-
ado.
7
O ceticismo descrito com freqncia como a tese de nada ou, de modo ainda mais forte, pode ser
conhecido. Mas essa uma m caracterizao, pois se no sabemos nada ento no sabemos que no co-
nhecemos nada, e assim, num sentido trivial, a tese destri a si mesma. mais til caracterizar o ceticismo da
maneira acima sugerida. um questionamento dirigido contra as pretenses do conhecimento, com a forma e a
natureza do questionamento variando de acordo com o campo da atividade epistmica em questo. Em geral, o
ceticismo assume a forma de um pedido de justificao dessas pretenses de conhecimento, junto com a declara-
o de razes que motivam tal pedido. Geralmente, as razes so que certas consideraes do a entender que a
justificao proposta pode ser insuficiente. Conceber o ceticismo dessa forma v-lo como sendo mias perturba-
dor e importante filosoficamente do que se for descrito como uma tese positiva enunciando nossa ignorncia ou
incapacidade para o conhecimento.
2.1 Primeiro ceticismo
Alguns dos pensadores da Antiguidade Pirro de Elis (c. 360-c. 270 a.C.) e sua escola, e os sucessores
de Plato na Academia expressaram decepo pelo fato de que os sculos de investigao por parte de seus
predecessores filosficos pareciam ter trazido frutos limitados seja para a cosmologia, seja para a tica (esta lti-
ma era abrangente o baste para incluir a poltica). Sua decepo os incitou na direo de concepes cticas. Os
pirrnicos diziam que, por ser a investigao rdua e interminvel, dever-se-ia abrir mo de julgar o que verda-
deiro e falso, ou certo e errado. Apenas assim se conseguiria paz de esprito.
Uma forma de ceticismo menos radical atingiu os sucessores de Plato na Academia. Eles concordavam
com Pirro: a certeza nos escapa; mas moderaram sua viso, aceitando que se devem cumprir exigncias prticas
da vida. No consideraram uma opo praticvel a suspenso do juzo, como recomendava Pirro, e argumenta-
vam no sentido de que devemos aceitar as proposies ou teorias que so mais PROVVEIS (p. 329-332) do que
suas rivais. As concepes desses pensadores, conhecidos como cticos acadmicos, esto registradas na obra
de Sexto Emprico (c. 150-c. 225 d.C.).
A anatomia do ceticismo
Os argumentos cticos exploram certos fatos contingentes sobre nossas maneiras de adquirir, testar, lembrar e raciocinar
sobre nossas crenas. Qualquer problema que comprometa a aquisio e a utilizao das crenas sobre determinado tema, e,
em particular, qualquer problema que comprometa nossa confiana de que sustentamos essas crenas justificadamente amea-
am nossa segurana nesse tema.
Os fatos contingentes em questo se relacionam com a natureza da percepo, a vulnerabilidade humana normal ao erro e
a existncia de estados de esprito sonho e delrio, por exemplo que podem ser subjetivamente indiscernveis dos que
normalmente consideramos apropriados para adquirir crenas justificadas. Ao apelar a essas consideraes, o ctico tem por
objetivo mostrar que h questes significativas por responder sobre o grau de confiana que devemos depositar em nossas
prticas epistmicas usuais.
As consideraes cticas colocam problemas para epistemlogos racionalistas como para epistemlogos empiristas. Essa
diviso em escolas rivais de pensamento sobre o conhecimento tosca, porm, til, fornecendo uma maneira prtica de marcar
a diferena entre os que defendem a razo como o principal meio para o conhecimento e os que atribuem esse papel experi-
ncia. Os racionalistas enfatizam a razo porque, de seu ponto de vista, os objetos do conhecimento so as proposies eter-
namente imutveis e necessariamente verdadeiras os exemplos que apresentam so as proposies da matemtica e da
lgica , as quais, segundo eles, s podem ser adquiridas pelo raciocnio. Os empiristas alegam que o conhecimento substan-
cial e genuno do mundo s pode ser adquirido pela experincia, por intermdio dos sentidos e de sua extenso mediante ins-
trumentos como telescpios e microscpios. O racionalista no precisa negar que o conhecimento emprico seja uma ajuda
importante, at mesmo indispensvel, da razo, e tampouco o empirista nega que a razo seja um auxlio importante, talvez
mesmo indispensvel, experincia. Mas ambos insistiro em que o principal meio de conhecimento , respectivamente, a
razo ou a experincia.
Os refinamentos do debate sobre essas questes merece um exame pormenorizado para o qual no h espao aqui. O
ponto a ser assinalado que o ceticismo um problema para ambas as escolas de pensamento. Para ambas, no momento, a
possibilidade de erro e de delrio constitui um desafio. Em particular para o empirista, a esses problemas acrescentam-se pro-
blemas especficos a respeito da percepo.
8
No final da Renascena ou, que o mesmo, no incio dos tempos modernos , estando as certezas
religiosas sob ataque e as novas idias sendo difundidas, alguns dos argumentos cticos dos acadmicos e pirr-
nicos adquiriram uma significado especial, em particular como resultado do uso que deles fez Ren Descartes,
que mostrou serem eles poderosos instrumentos para investigar a natureza e as fontes do conhecimento.
Na poca de Descartes, o mesmo indivduo podia ser tanto astrnomo como astrlogo, qumico como
alquimista, mdico como mgico. Era difcil separar o conhecimento do disparate; era ainda mais difcil separar os
mtodos de investigao que podiam produzir conhecimento genuno dos que poderiam apenas aprofundar a
ignorncia. Assim, havia uma necessidade premente de uma teoria epistemolgica precisa, clara. Em suas Medi-
taes, Descartes identificou a epistemologia como um prembulo essencial e fsica e matemtica e tentou
estabelecer os fundamentos da certeza como uma propedutica cincia. O primeiro passo de Descartes nessa
tarefa foi adaptar e aplicar alguns do argumentos tradicionais do ceticismo (mais tarde comentarei seu uso no
ceticismo).
2.2 Erro, delrio e sonhos
Um modelo caracterstico do argumento ctico extrado de um conjunto de consideraes sobre o erro,
os delrios e os sonhos. Consideremos, em primeiro lugar, o argumento do erro. Somos criaturas falveis; s ve-
zes cometemos erros. Se, contudo, formos capazes de afirmar que conhecemos (ou seja, pelo menos devemos
estar justificados em acreditar) alguma proposio p, precisaremos ser capazes de excluir a possibilidade de que,
ao declararmos conhecer p, estejamos errados. Porm, uma vez que, de modo tpico, ou pelo menos com fre-
qncia, no estamos cientes dos erros quando os cometemos, e podemos, portanto, estar inadvertidamente em
erro ao declarar conhecer p, no estamos justificados quando em fazer tal declarao.
O mesmo se aplica quando um pessoa objeto de um delrio, iluso ou alucinao. s vezes, as pessoas
que passam por um ou outro desses estados no tm conscincia disso e acreditam estar tendo experincias
verdicas. Claramente, embora pensem que se encontram num estado que se presta sua justificao da afirma-
o de conhecer p, no esto em tal estado. Assim, para que qualquer um pretenda ter conhecimento de algum p,
ele precisa ser capaz de excluir a possibilidade de estar sujeito a tais estados.
Esse modelo de argumentao mais familiar no argumento do sonho utilizado por Descartes. Uma ma-
neira de exp-lo como se segue. Quando durmo, s vezes sonho e, quando sonho, algumas vezes na verda-
de, com freqncia no sei que estou sonhando. Assim, posso ter experincias que parecem ser experincias
verdicas que tenho quando estou acordado, com base nas quais me considero justificado ao conhecer tal e tal
coisa. Contudo, por estar sonhando, no conheo de fato tal e tal coisa; meramente sonho que as conheo. No
estarei sonhando agora? Se no posso rejeitar a possibilidade de que esteja, neste momento, sonhando, sou in-
capaz de pretender possuir conhecimento das coisas que, neste momento, julgo conhecer. Parece-me, por exem-
plo, que estou sentado escrivaninha prximo a uma janela que permite uma viso de rvores e campos. No en-
tanto, como eu poderia estar sonhando isso, no posso declarar conhec-lo.
Nesses argumentos, a possibilidade de erro, delrio ou sonho age como o que se pode chamar de um
destruidor das pretenses de conhecimento. O modelo : se algum conhece p, ento nada est agindo para
destruir a justificao dessa pessoa na afirmao de um conhecimento de p. No entanto, uma pessoa pode pare-
cer a outra inteiramente habilitada a declarar que conhece algum p, e na verdade carecer dessa legitimidade, co-
mo mostram as consideraes anteriores. Desse modo, nossas pretenses ao conhecimento necessitam de me-
lhores fundamentos do que os que usualmente julgamos ter. Precisamos descobrir uma maneira de derrotar os
destruidores.
2.3 Percepo
Tanto a concepo racionalista como a empirista a respeito das fontes do conhecimento so ameaadas
pelos argumentos delineados. Argumentos que apresentam problemas particulares para o empirismo so indica-
9
dos pela natureza e pelas limitaes da percepo, cuja melhor descrio nos diz algo semelhante seguinte
histria.
A luz refletida pela superfcie dos objetos no ambiente fsico e atinge os olhos, onde irrita as clulas das
retinas de tal modo que provoca impulsos nos nervos ticos. Os nervos ticos transmitem esses impulsos para a
regio do crtex cerebral, que processa os dados visuais, onde eles estimulam certos tipos de atividades. Como
resultado, de maneira ainda misteriosa para a cincia e para a filosofia, quadros mveis coloridos surgem na
conscincia do sujeito, representando o mundo externo. Essa notvel operao repetida, mutatis mutandis [=
uma vez feitas as devidas adaptaes], nas outras modalidades sensrias, audio, olfato, paladar e tato, susci-
tando percepes de harmonias e melodias, perfumes e sabores picantes, suavidade, maciez, calor e assim por
diante.
Esse modelo pode ser utilizado para fornecer outra aplicao ctica do argumento do destruidor. A hist-
ria causal complexa que ento nos contada assinala o ctico pode ser interrompida de modo problemtico
em qualquer ponto. As experincias que afirmamos resultar da interao entre nossos sentidos e o mundo podem
ocorrer quando, conforme notado acima, sonhamos, estamos alucinados ou sofremos de delrios; ou, para usar a
imaginao, podem ser produzidos em ns por um deus, ou por um cientista que tenha conectado nossos cre-
bros a um computador. Do ponto de vista do sujeito que experincia, no h como distingui-las. Assim, continua o
ctico, a menos que encontremos meios de excluir essas possibilidades, no estamos autorizados a afirmar co-
nhecer o que usualmente julgamos conhecer.
2.4 Relatividade perceptiva
As mesmas consideraes sobre a percepo podem suscitar questionamentos cticos por um percurso
diferente. Um pouco da reflexo ensinada por LOCKE, BERKELEY (1685-1753) (captulo 30) e outros participantes
desse debate mostra que algumas dessas propriedades que parecemos perceber nos objetos no esto nos
objetos mesmos, so criaes da relao perceptiva. As qualidades dos objetos cor, sabor, som e textura
variam de acordo com a condio daquele que as percebe ou com as condies sob as quais elas so percebidas.
Os exemplos so vrios: a grama verde luz do dia, e negra noite; a gua morna parece quente para uma
mo fria, fria para uma mo quente; objetos parecem grandes vistos de perto, mas pequenos vistos de longe; e
assim por diante.
Essa relatividade perceptiva citada pelo ctico para formular questes no s sobre a confiabilidade da
percepo enquanto fonte de informao sobre o mundo, mas a respeito da existncia do mundo independente-
mente da percepo. O que dizer se as propriedades por meio das quais detectamos a presena dos objetos no
podem ser descritas a no ser como objetos da percepo? Considere-se o velho problema de saber se a rvore
que cai na floresta emite algum rudo, quando no h nenhum ser presente capaz de ouvi-lo. A resposta, de acor-
do com a teoria da percepo corrente na cincia contempornea, que ela cai em completo silncio. Porque, se
no h ningum para ouvi-lo, no existe som; existem no mximo as condies ondas de ar vibratrias que
tornariam o som audvel se houvesse tmpanos em funcionamento, nervos auditivos e todo o restante para serem
estimulados por ele.
Essas consideraes insinuam uma descrio ctica na qual os seres perceptivos estariam mais ou me-
nos na seguinte situao: imagine-se um homem usando um capacete sem visor, que cobre sua cabea de modo
que ele no pode ver, ouvir, provar ou sentir qualquer coisa externa. Imagine-se que uma cmera, um microfone e
outros sensores estejam afixados no alto do capacete, transmitindo imagens e outras informaes para o interior
dele. Suponha-se, enfim, que esse homem esteja impossibilitado de remover o capacete para comparar a informa-
o que ele recebe desses sensores com qualquer coisa que esteja no exterior, de modo que ele no pode checar
se ela representa fielmente o mundo externo. De algum modo, esse homem tem de confiar no carter intrnseco
da informao disponvel dentro do capacete para julgar sua confiabilidade. Ele sabe que a informao provm por
vezes de outras fontes distintas das do mundo exterior, como em sonhos e delrios; ele deduziu que o equipamen-
to fixado ao capacete trabalha sobre os dados que entram e os modifica, por exemplo adicionando cores, odores e
10
sons sua imagem do que, intrinsecamente, no possui nenhuma dessas propriedades (pelo menos nessas for-
mas); ele sabe que suas crenas sobre o que existe fora do capacete se baseiam nas inferncias que ele extrai da
informao disponvel dentro do capacete, e que suas inferncias so apenas o que suas aptides falveis, sujei-
tas a erro, permitem que sejam. Dado tudo isso, pergunta o ctico: no um trabalho excessivo justificar nossas
pretenses ao conhecimento?
2.5 Ceticismo problemtico e metodolgico
Antes de examinar esses argumentos e discutir algumas maneiras de responder a eles, importante ob-
servar duas coisas. Uma que tentativas de refut-los um a um no so a melhor maneira de lidar com os argu-
mentos cticos. A segunda que h uma distino importante, vital a ser feita entre duas maneiras pelas quais o
ceticismo pode ser empregado na epistemologia. importante fazer essas observaes, porque, de outro modo, a
implausibilidade prima facie [= primeira vista] da maioria dos argumentos cticos nos levaria, erroneamente, a
subestimar sua significncia. Examino cada ponto separadamente.
Pode-se sustentar que a tentativa de refutao dos argumentos cticos um a um ftil por duas razes.
Como insinuei no incio, os argumentos cticos so mais fortes no quando procuram provar que somos ignoran-
tes a respeito de algum assunto, mas quando nos pedem para justificar nossas pretenses de conhecimento. Um
desafio para a justificao no uma assertiva ou teoria, e no pode ser refutado; s pode ser aceito ou despre-
zado. Dado que o ctico apresenta razes por que se faz necessria a justificao, a resposta pode ser investigar
essas razes, para ver at que ponto o desafio precisa ser enfrentado. Essa, de fato, uma boa resposta ao ceti-
cismo. Onde as razes so convincentes, a prxima boa resposta tentar enfrentar o desafio proposto.
A segunda razo que os argumentos cticos, tomados em conjunto, possuem o efeito de mostrar que h
trabalho a ser feito se quisermos ter uma explicao satisfatria do conhecimento e o ceticismo indica o que
preciso para tanto. Caso se queira refutar, ou mostrar a falta de fundamento de um ou outro argumento ctico
particular, restariam outros que ainda exigiriam tal explicao.
Esses pontos podem ser ilustrados pela considerao da tentativa de Gilbert Ryle (1900-1976) de refutar
o argumento do erro utilizando o argumento do conceito polar. No pode haver moedas falsas, observou Ryle,
sem que haja moedas genunas, nem caminhos sinuosos sem que haja caminhos retos, nem homens altos sem
que haja homens pequenos. Muitos conceitos possuem tais polaridades, uma caracterstica que no se pode a-
preender em um dos plos sem considerar ao mesmo tempo seu oposto. Ora, erro e apreenso correta das
coisas so polaridades conceituais. Caso se compreenda o conceito de erro, compreende-se o conceito de apre-
enso correta. Porm, compreender este ltimo conceito ser capaz de aplic-lo. Assim, a prpria apreenso do
conceito de erro implica que, s vezes, apreendemos as coisas corretamente.
Obviamente, Ryle pensou que o ctico do erro est dizendo que, para tudo o que conhecemos, estamos
sempre errados. Assim, seu argumento se compreendemos o conceito de erro, precisamos por vezes ter a
apreenso correta visa refutar a inteligibilidade da afirmao de que estamos sempre errados. Mas, claro,
ctico do erro no est afirmando. Ele est perguntando apenas, dado que s vezes cometemos erros, como po-
demos excluir a possibilidade de estar em erro em determinada ocasio em que emitimos um juzo digamos, no
presente momento.
Entretanto, o ctico precisa no admitir as teses mais gerais postuladas por Ryle, em especial a de que
para cada polaridade conceitual ambos os plos precisam ser compreendido, e mais do que isso, e de maneira
mais tendenciosa compreender um conceito saber como aplica-lo, e para ele ser aplicvel preciso ser de
fato aplicado (ou ter sido aplicado). Este ltimo movimento incorre em petio de princpio, e o mesmo se d com
a tese das polaridades conceituais perfeito-imperfeito, mortal-imortal, FINITO-INFINITO (captulo 11) nos
quais de modo algum fica claro que os plos mais exticos se aplicam a qualquer coisa, ou mesmo que ns real-
mente os compreendemos. Afinal, tomar um termo e ligar a ele um prefixo negativo no garante que tenhamos,
por isso, capturado um conceito inteligvel.
11
Esses comentrios mostram que os argumentos cticos, mesmo que isoladamente paream implausveis,
juntos convidam a uma resposta sria; o que, em grande parte, a epistemologia procura proporcionar. Contudo,
ainda resta explicar a distino entre ceticismo metodolgico e ceticismo problemtico, e aqui ser til uma breve
recapitulao do tratamento dado por Descartes aos argumentos cticos.
Os sucessores de Descartes, todavia, ficaram muito mais impressionados com os argumentos cticos
utilizados por ele do que por sua resposta a eles. Para a tradio do pensamento epistemolgico posterior, esses
argumentos cticos e outros similares no eram meros artifcios metodolgicos, mas problemas srios exigindo
soluo. Da a distino por mim estabelecida entre ceticismo metodolgico e ceticismo problemtico.
claro que h consideraes cticas que possuem mera utilidade metodolgica, pois no representam
um questionamento estvel e convincente a nossos padres epistemolgicos usuais. O gnio maligno de Des-
cartes um caso a assinalar. Dado que a hiptese de haver algo assim uma hiptese arbitrria e desprovida de
fundamento, no merece ser levada a srio, a no ser como um artifcio ttico. No entanto, as consideraes cti-
cas sobre a percepo, o erro, o delrio e os sonhos suscitam questes mais interessantes e perturbadoras que
merecem, portanto, exame.
O mtodo da dvida de Descartes
O objetivo de Descartes era o de encontrar uma base para o conhecimento, e ele o fez procurando um ponto de partida so-
bre o qual pudesse ter certeza. Para descobrir a certeza ele precisou excluir tudo que pudesse ser duvidoso, por absurda que
fosse essa dvida, pois somente dessa maneira permaneceramos com o que realmente indubitvel. Na primeira Meditao,
ele se lana a essa tarefa tomando emprestados dos antigos alguns argumentos cticos. Em primeiro lugar, Descartes cita o fato
de que podemos estar equivocados em nossa percepo. Mas esse no um ceticismo suficientemente geral, pois mesmo que
a percepo nos engane h muito que podemos conhecer. Assim, ele considera em seguida a possibilidade de estar sonhando
em toda ocasio em que se afirme conhecer algo. Esse pensamento ctico mais eficaz, mas ainda insuficiente, pois mesmo
nos sonhos podemos conhecer algo, como, por exemplo, as verdades matemticas. Desse modo, para que a reflexo tenha um
alcance to abrangente quanto possvel, Descartes introduz a idia do gnio maligno. Nesse caso a suposio que, com
respeito a qualquer coisa sobre a qual a pessoa pudesse estar enganada, um gnio maligno estivesse realmente a levando ao
engano. Como se sabe, tal ser incapaz de fazer algum enganar-se a respeito do cogito ergo sum todas as vezes que se
pensa na proposio eu existo, ela verdadeira.
essencial notar que uso de Descartes desses argumentos puramente metodolgico. O resto das Meditaes dedica-
do a mostrar que conhecemos bastante, porque a existncia (que Descartes tenta, sem xito, provar) de um Deus bom (ver
captulo 15) garante que, na medida em que usarmos nossas faculdades com responsabilidade, o que quer que se perceba com
clareza e distino como verdadeiro seja efetivamente verdadeiro. Isto porque um Deus bom, diferente de um gnio maligno,
no desejaria que aderssemos ignorncia. Descartes no era em absoluto um ctico, nem pensava que os argumentos cti-
cos, exceto aquele empregado para colocar de lado o maior nmero de crenas possvel, eram persuasivos. O mtodo da dvi-
da era simplesmente uma ferramenta.
Entre a muitas questes que convm notar a respeito da discusso de Descartes esto as duas seguin-
tes. Em primeiro lugar, conforme insinuamos antes, sua busca de certeza parte de uma concepo equivocada. A
certeza um estado psicolgico em que se pode estar independentemente de acreditar ou no verdadeiramente.
A falsidade de uma crena no constitui obstculo para que algum se sinta certo de que no assim. Descartes
procurou especificar maneiras de reconhecer quais de nossas certezas so verdadeiras, mas ele prprio se deixou
arrastar por um sentimento de certeza, pois e este o segundo ponto pressups que a tarefa epistemolgica
permitir s pessoas saber, de um ponto de vista subjetivo, quando se possui conhecimento. De modo conse-
qente, ele inicia com os dados privados de uma conscincia singular e tenta mover-se para fora dela, buscando
no percurso garantias para o processo. Quase todos os sucessores de Descartes em epistemologia, at mesmo
RUSSELL (1872-1970) (captulo 37) e Ayer (1910-1989) aceitaram essa perspectiva. em grande parte por esse
motivo, conforme veremos indicado abaixo, que eles julgaram to difcil enfrentar o desafio ctico.
12
2.6 Algumas respostas ao ceticismo
O desafio ctico nos mostra que temos uma dificuldade epistmica, a saber, que podemos ter as melho-
res evidncias possveis para crer em algum p e ainda assim estar errados. Estabelecido de maneira sucinta e
formal, o ceticismo a observao de que no h nada contraditrio na conjuno de proposies s englobando
nossos melhores fundamentos para determinada crena p com a falsidade de p.
Uma representao instrutiva do ceticismo pode ser resumida como se segue. Os argumentos cticos
abrem um hiato entre, de um lado, os fundamentos que um suposto cognoscente tem para uma assertiva de co-
nhecimento, e, de outro, a prpria assertiva. As respostas ao ceticismo assumem em geral a forma de tentativas
seja de construir uma ponte sobre esse hiato, seja de fech-lo. O modelo perceptivo padro, no qual as crenas
so formadas por meio de interao sensvel com o mundo, postula um ponte causal sobre o hiato; porm, essa
ponte vulnervel sabotagem ctica, de modo que a explicao precisa pelo menos de apoio. Descartes, con-
forme notado, identificou a tarefa epistemolgica como a necessidade de especificar uma garantia chamemos
de X que, adicionada aos fundamentos subjetivos de nossa crena, protege-os conta o ceticismo e eleva assim
a crena ao status de conhecimento. Seu candidato a X era Deus; rejeitar esse candidato (embora continuando a
aceitar sua concepo da tarefa epistemolgica) nos obriga a encontrar um alternativa. Se no se pode encontrar
um X para apoiar a ponte sobre o hiato ctico, a opo tentar fech-lo ou, de modo mais preciso, mostrar que
absolutamente no existe hiato. Tanto a busca de X como o fechamento da fenda constituram os maiores esfor-
os epistemolgicos contra o ceticismo por parte da filosofia moderna. Mostraremos a seguir, de maneira abrevia-
da, algumas dessas tentativas.
Os sucessores imediatos de Descartes, conforme mencionado, no ficaram persuadidos por sua tentativa
de estabelecer uma ponte sobre o hiato invocando uma divindade boa para servir como X. Locke (captulo 29),
sem muito alarde, empregou uma verso mais atenuada do expediente cartesiano, afirmando que podemos des-
considerar as ameaas cticas histria causal, pois a luz que reside em ns dispe de um brilho suficiente para
todos os nossos propsitos. Do ponto de vista de Locke, no importa se a luz interior disposta em ns por Deus
ou pela natureza; o ponto que h algo X, a luz interna, que poderia ser, talvez, a razo, a intuio emprica ou
a confiana inata na confiabilidade dos sentidos que nos fornece os fundamentos para aceitar nossos meios
usuais de aquisio do conhecimento como adequados.
Outros, insatisfeitos com tais procedimentos, procuraram X em outro lugar e afirmam t-lo encontrado em
alguma verso do fundacionismo: o pensamento delineado acima de que nosso sistema epistmico se ba-
seia em crenas particulares que, de algum modo, se autojustificam ou so auto-evidentes e, em conjuno com
os indcios que empregamos usualmente para efetuar assertivas de conhecimento, fornecem uma garantia contra
o ceticismo. Conforme vimos acima, uma importante razo alegada para rejeitar tais teorias que nenhuma delas
identifica candidatos satisfatrios para papel de fundaes. Contudo, uma maneira estimulante de defender uma
posio fundacionista fornecida por Kant, cuja tentativa suscitou outras.
2.7 Argumentos transcendentais
KANT (1724-1804) (captulo 32) considerou o fracasso em refutar o ceticismo o escndalo para a filosofia
e apresentou sua Crtica da Razo Pura como soluo. Sua tese que nossa mente de tal modo constituda que
impe um quadro de conceitos interpretativos sobre nossos dados sensveis, entre os quais o da objetividade e da
interconexo causal do que percebemos. A aplicao desses conceitos transforma a recepo passiva dos dados
sensveis em EXPERINCIA (p. 784-792). Nossas faculdades so tais que, quando os dados brutos so submetidos
atividade interpretativa de nossos conceitos, eles j possuem uma forma espacial e temporal a eles conferida
pela natureza de nossas capacidades sensrias. Toda a nossa experincia considerada enquanto se relacionando
com o que est fora de ns experincia de um mundo espacialmente estruturado, e todas as nossas experin-
cias consideradas enquanto se relacionando a seu carter adquirido em nossas mentes fazem parte de um mundo
temporalmente estruturado. Sobre os dados espcio-temporais que se apresentam a nossas mentes impomos as
13
categorias, isto , os conceitos que tornam a experincia possvel, conferindo a ela seu carter determinado. E
aqui est o argumento de Kant: se o ctico nos pede que justifiquemos nossas pretenses de conhecimento, ns o
fazemos traando esses fatos sobre o modo como a experincia se constitui.
Kant invocava HUME (1711-76) (captulo 31) como sua inspirao, pois Hume afirmara que, embora no
possamos refutar o ceticismo a razo no estava, segundo ele, altura da tarefa , no deveramos ficar per-
turbados com isso, pois a natureza humana se constitui de tal modo que ns simplesmente no podemos deixar
de ter as crenas que o ceticismo nos desafia a justificar. Essa crenas incluem, por exemplo, a existncia de um
mundo externo, que relaes causais se mantm entre os eventos no mundo, que o raciocnio indutivo confivel,
e assim por diante. A partir dessa sugesto, Kant elaborou sua teoria de que os conceitos que o ctico nos pede
que justifiquemos so caractersticas constitutivas de nossa capacidade de ter toda e qualquer experincia.
A estratgia, se no os pormenores, da crtica de Kant ao ceticismo suscitou interesse na filosofia mais
recente. O argumento que ele emprega um argumento transcendental, que pode ser caracterizado, de forma
resumida, como dizendo que, porque A uma condio necessria de B, e, porque B o caso, A precisa ser o
caso tambm. Um exemplo de como funciona esse argumento contra o ceticismo o seguinte.
Um tpico questionamento ctico concerne crena na imperceptvel existncia contnua de objetos. O
que justifica nossa manuteno dessa crena e o fato de nos basearmos nela? O interlocutor transcendental res-
ponde que porque consideramos a ns mesmos como habitantes de um mundo singular unificado de objetos
espcio-temporais, e porque nesta concepo os objetos espcio-temporais tm de existir de maneira impercept-
vel para constituir o mundo como nico e unificado, uma crena em sua imperceptvel existncia contnua uma
condio de nosso pensamento tanto sobre o mundo como de nossa experincia dele. Dado que de fato pensa-
mos assim, a crena que o ctico nos pede que justifiquemos est portanto justificada. Uma pensador contempo-
rneo que faz notvel uso desse estilo de argumento P. F. Strawson.
2.8 Idealismo e fenomenalismo
Paralelamente a essas maneiras kantianas de responder ao desafio ctico, h outra abordagem, que
nega a existncia de um hiato gerado pelo ceticismo. As principais figuras desse campo so Berkeley e, mais
recentemente, os fenomenlogos, entre os quais se incluem MILL (1806-73) (captulo 35), Russell e Ayer sem
considerar as diferenas entre eles e o fato de que os dois ltimos sustentaram essas concepes s em parte de
suas carreiras.
Na concepo de Berkeley, o ceticismo surge do pensamento segundo o qual, por trs ou alm de nossas
experincias sensveis, h um mundo material. A palavra material significa feito de matria, e matria um
termo filosfico tcnico que denota uma substncia impossvel de detectar empiricamente, que os antecessores de
Berkeley acreditavam estar na base das propriedades sensveis detectveis das coisas, como suas cores, formas
e texturas. Berkeley rejeitou o conceito de matria, assim compreendido uma leitura errnea comum de Ber-
keley considerar que ele negou assim a existncia dos objetos fsicos; ele no fez isso , dizendo que, pelo fato
de os o objetos fsicos serem conjuntos de qualidades sensveis, e porque qualidades sensveis so idias e as
idias s podem existir se percebidas, a existncia dos objetos consiste, por conseguinte, no fato de serem perce-
bidas; se no por mentes finitas como as nossas, ento em qualquer lugar e sempre por uma mente infinita (po-
demos notar que Berkeley pensava que sua refutao do ceticismo era simultaneamente um novo argumento
poderoso em prol da existncia de Deus.)
O hbito de Berkeley de afirmar que as coisas existem na mente levou leitores incautos a supor que ele
entendesse por isso que os objetos existem apenas na cabea das pessoas, algo que um idealista subjetivo ou
solipsista poderia tentar sustentar. O idealismo de Berkeley, seja ou no defensvel, no de modo algum uma
concepo to instvel. O seu na mente deveria ser lido como com referncia essencial experincia ou pen-
samento.
Para os presentes fins, importa assinalar que Berkeley procurou repudiar o ceticismo negando a existn-
cia de um hiato entre a experincia e a realidade, baseando-se na idia de que experincia e realidade so a
14
mesma coisa (ele tinha uma teoria de como, a despeito disso, podemos imaginar, sonhar e cometer erros). Os
fenomenlogos, com uma importante diferena, argumentavam de modo semelhante. Sua concepo, em poucas
palavras, que nossas crenas sobre o mundo derivam do que nos aparece na experincia. Quando analisamos
as aparncias os fenmenos , vemos que elas se baseiam nos dados da sensibilidade: os menores frag-
mentos coloridos visveis em nosso campo visual, os mnimos sons em nosso campo auditivo. Com base nesses
dados sensveis, construmos logicamente as cadeiras e mesas, as rochas e montanhas que constituem o cen-
rio familiar do mundo habitual.
Uma maneira alternativa, mas equivalente, de apresentar o argumento fenomenalista afirmar que as
proposies sobre objetos fsicos so meros atalhos convenientes para proposies mais extensas e complicadas
sobre como as coisas aparecem para ns no uso comum de nossas capacidades sensveis. E afirmar que os obje-
tos continuam a existir de maneira imperceptvel afirmar na frase de Mill que eles so possibilidades per-
manentes de sensao, isto significando que se poderia ter a experincia deles se certas condies fossem cum-
pridas.
Berkeley afirma que as coisas continuam a existir quando no percebidas por mentes finitas porque so
percebidas por uma divindade. Os fenomenlogos alegam que afirmar que as coisas existem sem ser percebidas
afirmar que certas condicionais contrafactuais so verdadeiras, em particular as que asseveram que essas coi-
sas seriam percebidas se alguma pessoa capaz de percebe-las estivesse adequadamente posicionada em relao
a elas. Tais condicionais so notoriamente problemticos, porque no fica claro como compreende-las. O que, em
particular, as torna verdadeiras quando so (ou obviamente parecem ser) verdadeiras? As respostas usuais, em
termos de mundos possveis, leis, regularidades ideais e coisas similarmente exticas so de pouca ajuda. No
certo que se tenha avanado muito em relao deidade ubqua de Berkeley pondo em seu lugar contrafactuais
dificilmente verdadeiros. A concepo de Berkeley tem o modesto encanto de que tudo no mundo efetivo
qualquer coisa que exista percebida , ao passo que, no universo fenomenalista, a maior parte do que existe
enquanto possibilidade, mais do que como efetividade, especificamente como uma percepo possvel.
Uma coisa, pelos menos, est clara: no se obtm o fenomenalismo pela mera subtrao da teologia da
teoria de Berkeley. preciso fazer isso e ento, no vcuo metafsico resultante, pr em seu lugar um compromisso
com a existncia de contrafactuais, com um adicional compromisso com a existncia de coisas possveis. Desse
modo, tanto a teoria de Berkeley como o fenomenalismo pagam um preo alto para fechar o hiato ctico entre o
mundo e a realidade.
2.9 Epistemologia ctica versus anticartesianismo
Alguns epistemlogos no tentam refutar o ceticismo pela boa razo de que o julgam verdadeiro, ou pelo
menos irrefutvel. Em linhas gerais, suas concepes afirmam que o ceticismo o resultado inevitvel da reflexo
epistemolgica. Assim sendo, deveramos aceitar ou que vamos sempre ter crenas imperfeitamente justificadas,
sujeitas reviso luz da experincia, ou que devemos reconhecer que o ceticismo, a despeito de ser irrefutvel,
no uma opo prtica, e portanto que temos de viver como a maior parte da pessoas vivem, ou seja, simples-
mente desprezando-o.
Segundo alguns comentadores, Hume adota esta ltima concepo sobre o assunto, intitulada resposta
humiana ao ceticismo. Stroud (1984) e Strawson (1985) adotam algo semelhante concepo de Hume.
No debate recente, outros so mais combativos, como DEWEY (1859-1952) (ver captulo 26) e
WITTGENSTEIN (1889-1951) (captulo 39). A despeito das diferenas essenciais em outros aspectos, esses dois
pensadores possuem uma interessante concepo comum, que consiste em considerar que o ceticismo resulta da
aceitao do ponto de partida cartesiano entre os dados privado da conscincia individual. Se, em vez disso, afir-
mam eles, partimos do mundo pblico com consideraes relacionadas a fatos sobre o carter essencialmente
pblico do pensamento e da linguagem humana surge um quadro diferente.
Dewey sustentou a idia de que o modelo cartesiano torna o sujeito epistmico um recipiente meramente
passivo de experincias, como algum sentado no escuro de um cinema olhando para a tela. Mas, assinalava,
15
nossa perspectiva , na verdade, participativa somos atores no mundo e nossa aquisio de conhecimento o
resultado do que fazemos nele.
Wittgenstein contestou a prpria coerncia do enfoque cartesiano, afirmando que a LINGUAGEM PRIVADA (p.
883-887) impossvel. A linguagem privada, no sentido de Wittgenstein, est logicamente disponvel para apenas
um usurio, que o que o sujeito cartesiano necessitaria para comear a discursar sobre sua experincia privada
interior. este o seu argumento: a lngua uma atividade governada por regras, e s se consegue falar uma ln-
gua caso se sigam as regras para o uso de suas expresses. Contudo, o suposto usurio solitrio de uma lngua
no seria capaz de distinguir entre a obedincia efetivas s regras e a mera crena de que ele est fazendo isso;
assim, a lngua que ele fala no pode ser-lhe logicamente privada; precisa ser compartilhvel com outros. Com
efeito, Wittgenstein afirma que a lngua s pode ser adquirida em um espao pblico (ele compara o aprendizado
da lngua ao treinamento de animais; aprender uma lngua imitar o comportamento lingstico do professor), o
que de modo similar se coloca contra a idia de que o projeto cartesiano seja possvel mesmo teoricamente.
As possibilidades anticticas do argumento da linguagem privada parecem no ter sido inteiramente evi-
dentes ao prprio Wittgenstein. Em notas esparsas sobre o ceticismo e o conhecimento, escritas nos ltimos me-
ses de sua vida postumamente publicadas sob o ttulo On Certainty (1969) ele oferece uma resposta ao
ceticismo, que assinala um retorno a um enfoque mais tradicional, no muito diferente daquele apresentado por
Hume e Kant. A saber, que h certas coisas que devemos aceitar para poder continuar com nossas maneiras
habituais de pensar e falar. Proposies como: existe um mundo externo ou que o mundo existe h muito tempo
no do margem a dvidas: no temos a opo de question-las. Tampouco podemos dizer, segundo Wittgenste-
in, que as conhecemos, pois conhecimento e dvida esto estreitamente relacionados, no sentido de que s pode
haver conhecimento onde pode haver dvida, e vice-versa.
As proposies das quais no podemos duvidar constituem o andaime para nosso pensamento e nossa
fala comuns, ou Wittgenstein varia suas metforas so como o leito e as margens de um rio, ao longo do
qual a corrente do discurso comum flui. Nesse sentido, as crenas que o ceticismo tenta questionar no esto
abertas negociao; o que, diz Wittgenstein, d conta do ceticismo.
Esses pensamentos so to reveladores quanto os que ocorrem na filosofia de Hume e Kant. No entanto,
um dos problemas com a maneira de Wittgenstein formul-los que ele usa conceitos fundacionistas na descrio
da relao entre as proposies gramaticais e as proposies comuns, mas rejeita o fundacionismo enquanto tal
e parece autorizar uma verso de relativismo o leito e as margens do rio, diz ele, podem, com o tempo, desgas-
tar-se. Contudo, o relativismo no mais do que o ceticismo disfarado , talvez, a forma mais poderosa e
perturbadora de ceticismo, pois a concepo de que o conhecimento e a verdade so relativos a um ponto de
vista, a um tempo, a um lugar, a um ambiente cultural ou cognitivo: e conhecimento e verdade assim compreendi-
dos no so conhecimento e verdade.
Observaes finais
H muitas coisas sobre as quais gostara de insistir na tentativa de descrever corretamente o trabalho que
precisa ser realizado no campo da epistemologia, pois esse o passo preliminar para, de algum modo, progredir-
mos, Limitar-me-ei a enfatizar algumas observaes j efetuadas antes.
Em primeiro lugar, os debates sobre a definio do conhecimento parecem-me um assunto de segunda
importncia. A justificao das assertivas no campo das cincias naturais, das cincias sociais (e da histria) e do
direito onde o trabalho epistemolgico efetivo precisa ser realizado. E esse comentrio se aplica apenas ao caso
emprico: o que dizer a respeito das questes epistemolgicas prementes no campo da TICA (captulo 6) e da
FILOSOFIA DA MATEMTICA (captulo 11)? No pode haver garantias e, de fato, improvvel que haja de que
generalidades de alto grau sobre a justificao e o conhecimento tero aplicao unvoca a todos esses campos.
Justificao um simulacro de conceito que precisa ser aplicado em termos particulares; isso deveria ser bvio
com base no fato de que relatos de justificao irrestritamente gerais provam-se vulnerveis contra-exemplos.
16
Em segundo lugar, pouco da bibliografia atual a respeito do ceticismo deixa algum confiante de que sua
natureza tenha sido propriamente compreendida. O ceticismo define um dos problemas centrais da epistemologia,
a saber, a necessidade de mostrar como possvel justificao da crena. Isso feito enfrentando o desafio de
mostrar que, afinal, as consideraes cticas no derrotam nossas melhores iniciativas epistmicas neste ou na-
quele campo especfico. Implcitas nessa caracterizao esto duas importantes asseres: a melhor maneira de
compreender o ceticismo como um desafio, no como uma afirmao de que no conhecemos ou que no po-
demos conhecer nada; e a melhor maneira de responder ao ceticismo no tentando refut-lo argumento por
argumento, mas mostrando como adquirimos justificao para nossas crenas. Esses dois pontos, que eram evi-
dentes para nossos predecessores, de certo modo se perderam de vista.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- (APOSTILA) Epistemologia PDFDokument26 Seiten(APOSTILA) Epistemologia PDFCristiane AldavezNoch keine Bewertungen
- O que é EpistemologiaDokument27 SeitenO que é Epistemologiajaimirc100% (2)
- O Problema Da Justificaã Ã o Do ConhecimentoDokument8 SeitenO Problema Da Justificaã Ã o Do ConhecimentoRodrigo SousaNoch keine Bewertungen
- 26 Epistemologia - Curso de Filosofia CIFICDokument26 Seiten26 Epistemologia - Curso de Filosofia CIFICmatoseNoch keine Bewertungen
- Filosofia Questões ImportantesDokument3 SeitenFilosofia Questões ImportantesMaria João CamposNoch keine Bewertungen
- Filosofia Questões ImportantesDokument3 SeitenFilosofia Questões ImportantesMaria João CamposNoch keine Bewertungen
- Texto Prof. Caetano Teoria Do ConhecimentoDokument17 SeitenTexto Prof. Caetano Teoria Do ConhecimentoWalter MarcianoNoch keine Bewertungen
- Análise Do Conhecimento - C. CostaDokument26 SeitenAnálise Do Conhecimento - C. CostaArthurNoch keine Bewertungen
- Epistemologia e a busca pelo conhecimentoDokument12 SeitenEpistemologia e a busca pelo conhecimentoUlisses Heckmaier CataldoNoch keine Bewertungen
- Eros Moreira Carvalho, Flavio Williges, Mateus Stein e Paola Oliveira de Camargo - Alexandre Luz e Delvair Moreira - Tradução - Epistemologia - SEPDokument71 SeitenEros Moreira Carvalho, Flavio Williges, Mateus Stein e Paola Oliveira de Camargo - Alexandre Luz e Delvair Moreira - Tradução - Epistemologia - SEPInvestigação Filosófica100% (3)
- Barata Andre Crenca Corroboracao Verdade CientificaDokument26 SeitenBarata Andre Crenca Corroboracao Verdade CientificaF@BIOIlluminatusNoch keine Bewertungen
- Origens e tipos de conhecimento segundo a epistemologiaDokument7 SeitenOrigens e tipos de conhecimento segundo a epistemologiaEdno gonçalves siqueiraNoch keine Bewertungen
- Epistemologia, o estudo do conhecimentoDokument2 SeitenEpistemologia, o estudo do conhecimentoterrible vibeNoch keine Bewertungen
- A Questão Do Conhecimento Enquanto EpistemeDokument8 SeitenA Questão Do Conhecimento Enquanto EpistemeJose Carlos SNoch keine Bewertungen
- Definição de EpistemologiaDokument5 SeitenDefinição de EpistemologiaSofs VishNoch keine Bewertungen
- Sobre A Teoria Do ConhecimentoDokument6 SeitenSobre A Teoria Do ConhecimentoJose Carlos SNoch keine Bewertungen
- Fechamento epistêmico e ceticismo acadêmicoDokument12 SeitenFechamento epistêmico e ceticismo acadêmicoLuís Antonio ZamboniNoch keine Bewertungen
- Filosofia - ConhecimentoDokument5 SeitenFilosofia - ConhecimentoAndreiaNoch keine Bewertungen
- C - RODRIGUES, T. - Contextualismo EpistemicoDokument19 SeitenC - RODRIGUES, T. - Contextualismo Epistemico030366Noch keine Bewertungen
- O Que É ConhecerDokument11 SeitenO Que É ConhecerndwijdiNoch keine Bewertungen
- Resumo Teoria Do ConhecimentoDokument5 SeitenResumo Teoria Do Conhecimentojonasmjr2Noch keine Bewertungen
- Teorias sobre a natureza e origem do conhecimentoDokument2 SeitenTeorias sobre a natureza e origem do conhecimentoHalysson IsmaelNoch keine Bewertungen
- Filosofia 11o - Definição de ConhecimentoDokument84 SeitenFilosofia 11o - Definição de ConhecimentoCarolina RodriguesNoch keine Bewertungen
- Descrição e Interpretação Da Atividade CognoscitivaDokument5 SeitenDescrição e Interpretação Da Atividade CognoscitivaMiriam FilipaNoch keine Bewertungen
- EpistemologiaDokument3 SeitenEpistemologiaDébora Maria BiesekNoch keine Bewertungen
- Resenha-Teoria Do Conhecimento PDFDokument10 SeitenResenha-Teoria Do Conhecimento PDFGina S. ReisNoch keine Bewertungen
- AYER, A. J. The Problem of Knowledge.Dokument17 SeitenAYER, A. J. The Problem of Knowledge.ClaudiaBucheNoch keine Bewertungen
- O Que É A Teoria Do Conhecimento - CNR - ArtigoDokument4 SeitenO Que É A Teoria Do Conhecimento - CNR - ArtigoProf. José Carlos Almeida (410)Noch keine Bewertungen
- Senso comum e métodos científicosDokument3 SeitenSenso comum e métodos científicosInês CardosoNoch keine Bewertungen
- Hipotiposes PirronicasDokument5 SeitenHipotiposes PirronicasJc RuzzaNoch keine Bewertungen
- O que é a verdade? Os critérios de verdade segundo os SofistasDokument3 SeitenO que é a verdade? Os critérios de verdade segundo os SofistasDelcio NeryNoch keine Bewertungen
- Um Mapa Da Epistemologia Pos-Gettier PDFDokument15 SeitenUm Mapa Da Epistemologia Pos-Gettier PDFEduardo KuhnNoch keine Bewertungen
- Desvendando o Mito do Dado na EpistemologiaDokument21 SeitenDesvendando o Mito do Dado na EpistemologiabielsmNoch keine Bewertungen
- 1-Filosofia e EpistemologiaDokument3 Seiten1-Filosofia e EpistemologiaNelio KingNoch keine Bewertungen
- Evidência e ProbabilidadeDokument2 SeitenEvidência e ProbabilidadelcatarinoliborioNoch keine Bewertungen
- Ockham sobre a noção de ciência e seus sentidos segundo AristótelesDokument45 SeitenOckham sobre a noção de ciência e seus sentidos segundo AristótelesDiogopradoevanNoch keine Bewertungen
- Lógica I UFOP - Introdução à lógicaDokument64 SeitenLógica I UFOP - Introdução à lógicaleonidesNoch keine Bewertungen
- Pessoas Epistemicamente Virtuosas PDFDokument12 SeitenPessoas Epistemicamente Virtuosas PDFbalmarcalNoch keine Bewertungen
- Estrutura Do Ato de ConhecerDokument2 SeitenEstrutura Do Ato de ConhecerFrancisca João TeixeiraNoch keine Bewertungen
- Problemas Do Conhecimento Ficha 7 Descarte e HumeDokument20 SeitenProblemas Do Conhecimento Ficha 7 Descarte e HumeDanielaNoch keine Bewertungen
- Conhecimento: Verdade e Certeza emDokument6 SeitenConhecimento: Verdade e Certeza emmillyguitaristNoch keine Bewertungen
- Argumentos CéticosDokument4 SeitenArgumentos CéticosEdgar RendeiroNoch keine Bewertungen
- A alegoria da caverna e os principais problemas da filosofiaDokument5 SeitenA alegoria da caverna e os principais problemas da filosofiaJúlio SantosNoch keine Bewertungen
- Crítica - O Que É A Teoria Do ConhecimentoDokument4 SeitenCrítica - O Que É A Teoria Do ConhecimentoEduardo BritzNoch keine Bewertungen
- O que é Epistemologia? Uma introdução à teoria do conhecimentoDokument6 SeitenO que é Epistemologia? Uma introdução à teoria do conhecimentoRodrigo Soares SamerslaNoch keine Bewertungen
- Eqt11 Questoes Exame Nacional Cap1 Outras QuestoesDokument29 SeitenEqt11 Questoes Exame Nacional Cap1 Outras QuestoesMariaNoch keine Bewertungen
- Os Quatro Problemas Fundamentais Do ConhecimentoDokument6 SeitenOs Quatro Problemas Fundamentais Do ConhecimentoLúcia RibeiroNoch keine Bewertungen
- Crítica sobre o problema do conhecimento e do cepticismoDokument3 SeitenCrítica sobre o problema do conhecimento e do cepticismomariasousaNoch keine Bewertungen
- Filosofia da Ciência - Método das Conjeturas e RefutaçõesDokument5 SeitenFilosofia da Ciência - Método das Conjeturas e RefutaçõesAna Isabel Freitas CamachoNoch keine Bewertungen
- RESUMO - o Que É ConhecimentoDokument4 SeitenRESUMO - o Que É ConhecimentoRoge CavalcanteNoch keine Bewertungen
- Racionalidade argumentativa da filosofiaDokument27 SeitenRacionalidade argumentativa da filosofiaafNoch keine Bewertungen
- APOSTILA 03 - A Experiência Filosófica e o ConhecimentoDokument12 SeitenAPOSTILA 03 - A Experiência Filosófica e o ConhecimentoPré-Universitário Oficina do Saber UFFNoch keine Bewertungen
- Tema 01 - Introdução A FilosofiaDokument9 SeitenTema 01 - Introdução A FilosofiaGuilherme ArinsNoch keine Bewertungen
- O Problema Do Conhecimento em DescartesDokument12 SeitenO Problema Do Conhecimento em DescartesTiago E InêsNoch keine Bewertungen
- Sintese Temática - I - O Que É A Filosofia - II - LógicaDokument5 SeitenSintese Temática - I - O Que É A Filosofia - II - LógicaFlor FlorNoch keine Bewertungen
- Filosofia da mente e do conhecimentoDokument8 SeitenFilosofia da mente e do conhecimentoDaniel KovalNoch keine Bewertungen
- Poder Político e Direito: a instrumentalização política da interpretação jurídica constitucionalVon EverandPoder Político e Direito: a instrumentalização política da interpretação jurídica constitucionalNoch keine Bewertungen
- Châtelet, François - As Concepções Políticas Do Século XX - PreliminaresDokument42 SeitenChâtelet, François - As Concepções Políticas Do Século XX - PreliminaresLeonardo Alexandre100% (2)
- SULMAM, M. O Amor É Uma FaláciaDokument9 SeitenSULMAM, M. O Amor É Uma FaláciaanapbulgarelliNoch keine Bewertungen
- Tradução Do Texto de BachrachDokument10 SeitenTradução Do Texto de BachrachFabiane PredesNoch keine Bewertungen
- O que é conhecimento? Uma introdução à epistemologiaDokument16 SeitenO que é conhecimento? Uma introdução à epistemologiaanapbulgarelliNoch keine Bewertungen
- Texto Sobre A Dimensão Estética - de Herbert Marcuse (1898-1979)Dokument7 SeitenTexto Sobre A Dimensão Estética - de Herbert Marcuse (1898-1979)anapbulgarelliNoch keine Bewertungen
- Kant Ideia de Uma Historia UniversalDokument22 SeitenKant Ideia de Uma Historia UniversalLeo DahmerNoch keine Bewertungen
- O que é conhecimento? Uma introdução à epistemologiaDokument16 SeitenO que é conhecimento? Uma introdução à epistemologiaanapbulgarelliNoch keine Bewertungen
- A filosofia de Ernst Cassirer e o IluminismoDokument238 SeitenA filosofia de Ernst Cassirer e o IluminismoThemístocles Griffo100% (4)
- FOUCAULT - Uma Introdução - Salma Tannus MuchailDokument14 SeitenFOUCAULT - Uma Introdução - Salma Tannus MuchailanapbulgarelliNoch keine Bewertungen
- Análise da estrutura clássica na Sonatina no 3 de GuarnieriDokument1 SeiteAnálise da estrutura clássica na Sonatina no 3 de GuarnieriÂngelo MelloNoch keine Bewertungen
- Worksheet 9 - Possessive DeterminersDokument2 SeitenWorksheet 9 - Possessive DeterminersAndré100% (2)
- Os Riscos de Se Vestir Com Um Lençol - Abcdpdf - PDF - To - PPTDokument48 SeitenOs Riscos de Se Vestir Com Um Lençol - Abcdpdf - PDF - To - PPTValdir SilvaNoch keine Bewertungen
- Figuras VotivasDokument16 SeitenFiguras VotivasDani MatosNoch keine Bewertungen
- Uma manhã na aldeia KalapaloDokument2 SeitenUma manhã na aldeia KalapaloThomaz PedroNoch keine Bewertungen
- Concurso Público - Edital 001/2024: Prefeitura Municipal de Anori - AmDokument56 SeitenConcurso Público - Edital 001/2024: Prefeitura Municipal de Anori - AmShadow MoonNoch keine Bewertungen
- Os principais transtornos depressivosDokument2 SeitenOs principais transtornos depressivosLuiza Pimenta RochaelNoch keine Bewertungen
- Compress Ores Demand CoolingDokument2 SeitenCompress Ores Demand CoolingDavid MattosNoch keine Bewertungen
- Fator de Potencia GeneralizadoDokument10 SeitenFator de Potencia GeneralizadoRamon Frickes CostaNoch keine Bewertungen
- Edital 14-2024 Moradia EstudantilDokument6 SeitenEdital 14-2024 Moradia Estudantiloliveiraraphaell162Noch keine Bewertungen
- Apresentação Lançamento MU8Dokument141 SeitenApresentação Lançamento MU8José Roberto VircentsNoch keine Bewertungen
- Apresentação para Agências DigitaisDokument20 SeitenApresentação para Agências DigitaisLuiz Felipe GhellerNoch keine Bewertungen
- PO-lcqMET-01 Determinação de Acidez (Leite, Soro e Mix)Dokument2 SeitenPO-lcqMET-01 Determinação de Acidez (Leite, Soro e Mix)AnandaNoch keine Bewertungen
- Configuração Absoluta - ResoluçãoDokument6 SeitenConfiguração Absoluta - ResoluçãoPatrik Lanes100% (1)
- 0006 Ok - Limpeza de CanaletasDokument11 Seiten0006 Ok - Limpeza de CanaletasDenis Tadeu100% (1)
- Abril e agora? Viver em ditaduraDokument18 SeitenAbril e agora? Viver em ditaduraDomingos MendesNoch keine Bewertungen
- Cristologia e Soteriologia no Curso de TeologiaDokument3 SeitenCristologia e Soteriologia no Curso de TeologiaMarcone SousaNoch keine Bewertungen
- O Macaco, A Banana e o Preconceito RacialDokument102 SeitenO Macaco, A Banana e o Preconceito RacialAegonbNoch keine Bewertungen
- ATIVIDADE 1 EstatísticaDokument4 SeitenATIVIDADE 1 EstatísticaPatricia pinehrio50% (2)
- Agosto Verde - Leishmaniose 002Dokument15 SeitenAgosto Verde - Leishmaniose 002CPSSTNoch keine Bewertungen
- Engenharia Econômica teste de conhecimentoDokument3 SeitenEngenharia Econômica teste de conhecimentoNickNoch keine Bewertungen
- DAMSemaeDokument1 SeiteDAMSemaeGabriela BarrosoNoch keine Bewertungen
- FL 2000 A1 - MedpejDokument36 SeitenFL 2000 A1 - MedpejBrunoNoch keine Bewertungen
- Concurso Marinha CAP 2020 calendário atualizadoDokument70 SeitenConcurso Marinha CAP 2020 calendário atualizadofeufrancaNoch keine Bewertungen
- Manual de Tarefas Padronizadas 01 - Tarefas Preliminares - CPFL ServiçosDokument199 SeitenManual de Tarefas Padronizadas 01 - Tarefas Preliminares - CPFL ServiçosEpaminondas Sampa100% (1)
- O Lugar Onde VivoDokument36 SeitenO Lugar Onde VivoEdson BrasilNoch keine Bewertungen
- Questões de CalorimetriaDokument7 SeitenQuestões de CalorimetrialaviniaNoch keine Bewertungen
- Avaliação (7º - 8º - 9º - 10º) (Página 2 de 6)Dokument4 SeitenAvaliação (7º - 8º - 9º - 10º) (Página 2 de 6)rapahel moreiraNoch keine Bewertungen
- Acidente ofídico em cão - relato de casoDokument2 SeitenAcidente ofídico em cão - relato de casoAnaNoch keine Bewertungen
- Vademecum PlusDokument247 SeitenVademecum PlusJose Gabriel PintoNoch keine Bewertungen