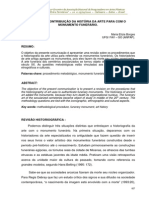Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
A Boa Morte Tica No Fim Da Vida
Hochgeladen von
Adriano Ghisi0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
45 Ansichten251 SeitenCopyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
45 Ansichten251 SeitenA Boa Morte Tica No Fim Da Vida
Hochgeladen von
Adriano GhisiCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 251
BIOTICA
Jos Antnio Saraiva Ferraz Gonalves
A Boa Morte:
tica no fim da vida
3 Curso de Mestrado em Biotica
Dissertao apresentada para a obteno do grau de Mestre em Biotica, sob a
orientao do Professor Doutor Rui Nunes
Porto
2006
2
Abreviaturas
a.C. Antes de Cristo
AHA Alimentao e hidratao artificiais
AMA Associao Mdica Americana
col Colaboradores
CVAH Cessao voluntria de alimentao e hidratao
d.C. Depois de Cristo
DA Directivas antecipadas
EUA Estados Unidos da Amrica
EVP Estado vegetativo persistente
IV Intravenoso(a)
OMS Organizao Mundial de Sade
RCP Reanimao crdio-pulmonar
SC Subcutneo(a)
SIDA Sndroma de imunodeficincia adquirida
SPO Sociedade Portuguesa de Oncologia
TV Testamento vital
UCI Unidade de cuidados intensivos
VIH Vrus da imunodeficincia humana
3
AGRADECIMENTOS
Ningum faz nada isoladamente. Mesmo quando algum toma a iniciativa, pensa no que
quer alcanar e toma a responsabilidade de fazer algo, tem sempre de reconhecer que necessita
de contribuies de vrios tipos. Finda a obra, altura de mostrar reconhecimento a quem
prestou uma ajuda preciosa, sem a qual o caminho teria sido muito difcil, se no impossvel.
Antes de mais tenho de agradecer ao meu orientador o Professor Rui Nunes pelo seu
encorajamento, pelas suas sugestes e pela leitura crtica deste trabalho. Agradeo ao Professor
Henrique de Barros do Servio de Higiene e Epidemiologia a disponibilidade que mostrou na
leitura e crtica que fez do questionrio do trabalho de investigao e por ter permitido que os
seus colaboradores, a Dr Joselina Barbosa e o Dr. Milton Severo me ajudassem na digitalizao
dos dados e na anlise estatstica. Agradeo ao professor Carlos Saraiva pela leitura crtica que
me fez do captulo Suicdio. Agradeo a Helga Kuhse, Frederich Stiefel David Doukas e Diane
Meier por me terem enviado os questionrios que utilizaram nos seus estudos. Agradeo
Seco Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro por ter financiado o trabalho de
investigao. Agradeo ainda Dr Elisete Franois e minha esposa ngela pela reviso do
manuscrito.
4
ndice
1. Introduo, 1
1.1. A Morte e a Sociedade, 2
1.2. O Medo da Morte, 5
1.3. O Valor da Vida, 10
1.4. Seres Humanos e Pessoas, 12
1.5. Conceitos e Critrios de Morte, 15
1.5.1. A Morte Crdio-Respiratria, 17
1.5.2. A Morte do Tronco Cerebral/Morte Cerebral Global (Holocerebral), 17
1.5.3. A Morte Cerebral Superior (Neocortical), 21
1.5.4. O caso dos Recm-nascidos Anenceflicos como Dadores de rgos, 23
2. Absteno ou Suspenso de Tratamentos, 29
2.1. Cuidar e Tratar: os Objectivos da Medicina, 29
2.2. Tratamentos Ordinrios e Extraordinrios, 31
2.3. Absteno e Suspenso de Tratamentos, 33
2.4. Futilidade, 34
2.5. O Processo de Deciso, 40
2.5.1. Autonomia, 40
2.5.2. Competncia, 42
2.5.3. Consentimento Informado, 45
2.5.4. Doentes Incompetentes, 47
2.5.5. Directivas Antecipadas, 49
2.5.6. Ordens de no Ressuscitao, 51
2.6. Matar e Deixar Morrer, 52
2.7. Alimentao e Hidratao Artificiais, 53
2.7.1. Alimentao e Hidratao Artificiais no Estado Vegetativo Persistente, 56
2.8. Concluso, 58
3. Suicdio, 63
3.1. Epidemiologia, 64
3.1.1. Factores de Risco e Factores Protectores, 65
3.2. Suicdio nos Doentes com Cancro, 68
3.2.1. Ideao Suicida, 71
3.3. Suicdio nos Doentes com SIDA, 72
3.4. Suicdio noutras Doenas, 72
3.5. Suicdio e Sociedade, 73
3.6. Consideraes Filosficas, 74
3.7. O Suicdio e as Religies, 79
3.8. Concluso, 81
4. Cessao Voluntria da Alimentao e da Hidratao, 88
4.1. Autonomia, 88
4.2. Implicaes par Terceiros, 90
4.3. Resultados de um Estudo Emprico de CVAH, 91
4.4. Implicaes ticas da CVAH, 92
4.5. Concluso, 93
5. A Morte Assistida, 95
5.1. Definies, 97
5.2. Factos sobre a Morte Assistida, 100
5.3. Motivao dos Doentes, 102
5
5.4. O Estado Mental dos Doentes, 105
5.5. Problemas Clnicos Relacionados com a Realizao da Eutansia e do Suicdio Assistido,
107
5.6. Relao entre a Eutansia e o Suicdio Assistido, 108
5.7. Argumentos a Favor e Contra a Morte Assistida, 111
5.7.1. Respeito pela Autonomia, 111
5.7.2. Alvio do Sofrimento, 113
5.7.3. Consequncias Sociais, 115
5.7.4. O Papel do Mdico e a Posio da Medicina, 120
5.7.5. Matar e Deixar Morrer, 122
5.8. O que se Passa em Alguns Pases, 124
5.8.1. Holanda, 124
5.8.2. Blgica, 125
5.8.3. Sua, 125
5.8.4. EUA, 126
5.8.5. Austrlia, 128
5.8.6. Portugal, 128
5.9. Perspectiva das religies, 129
5.10. Concluso, 131
6. Sedao, 139
6.1. Uso da Sedao em Medicina, 139
6.2. Sintomas Refractrios, 140
6.3. Definies de Sedao, 142
6.4. Causas e Frequncia da Sedao, 144
6.5. Sintomas Psicolgicos e Existenciais, 146
6.5.1. A Sedao como Teraputica, 147
6.6. Efeito da Sedao na Sobrevivncia, 147
6.7. Eficcia da Sedao, 148
6.8. Consideraes ticas, 149
6.8.1. O Processo de Deciso, 149
6.8.2. A Eutansia Lenta, 150
6.9. Princpio do Duplo Efeito, 153
6.10. Concluso, 156
7. Cuidados Paliativos, 161
7.1. Conceitos Actuais sobre Cuidados Paliativos, 162
7.2. Os Problemas dos Doentes, 166
7.3. Barreiras ao Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos, 167
7.4. Os Cuidados Paliativos e as Prioridades na Sade, 169
7.5. Os Cuidados Paliativos e os Princpios da tica Mdica, 176
7.6. Concluso, 179
8. Estudo sobre as Decises em Situaes de Fim de Vida Tomadas pelos Oncologistas
Portugueses na Prtica Clnica, 182
8.1. Mtodos, 183
8.2. Resultados, 185
8.2.1. Eutansia, 186
8.2.2. Suicdio Assistido, 189
8.2.3. Doentes Incompetentes, 190
8.2.4. Suspenso de Tratamentos, 191
8.2.5. Controlo de Sintomas e Cuidados Paliativos, 195
8.2.6. Alargamento de Conceitos, 196
6
8.3. Discusso dos Resultados, 196
8.3.1. Eutansia e Suicdio Assistido, 197
8.3.2. Doentes Incompetentes, 202
8.3.3. Suspenso de Tratamentos, 204
8.3.4. Controlo de Sintomas e Cuidados Paliativos, 206
8.4. Concluso, 207
9. Concluso, 211
10. Anexos, 216
10.1. Anexo 1 Questionrio, 218
10.2. Anexo 2 - Quadros
7
1
INTRODUO
A morte o que temos de mais certo, diz o povo. Efectivamente, semelhana do que
sucede com todos os outros seres animais, todos morremos. A morte indispensvel para a
renovao e para a evoluo da vida. Espcies inteiras desapareceram e outras apareceram ao
longo dos milhes de anos em que a vida existe na Terra. O Hommo sapiens sapiens uma das
mais recentes, e a sua existncia s foi possvel devido a este processo de renovao e
adaptao contnua.
Os homens sabem que a sua morte inexorvel. No entanto, tomam-na como uma
realidade longnqua, sem data marcada, como algo de vago que talvez s acontea aos outros.
Por outro lado, a morte aterroriza-nos e, geralmente, no a desejamos. Na realidade, sempre
houve o desejo de imortalidade e sempre houve sistemas que ajudaram as pessoas a conviver
com a sua finitude. O mais importante desses sistemas a religio, que no podendo prometer a
vida eterna na Terra a promete noutro lugar, eventualmente melhor. Outro, muito mais restrito,
excepto em certos perodos histricos particulares, o proporcionado pelas entidades oficiais
que condecoram os seus heris, os que arriscaram a vida e muitas vezes a perderam ao seu
servio e homenageiam outros indivduos que de qualquer modo se distinguiram: Aqueles que
por obras valorosas se vo da lei da morte libertando....
Porm, o sofrimento provocado por certas doenas fsicas e psicolgicas leva algumas
das pessoas por elas atingidas a desejar e a procurar a morte. Este trabalho incluiu as diversas
8
formas que essa procura da morte toma, os problemas ticos que o progresso tecnolgico da
medicina causa, quando se torna claro que no h recuperao, e as respostas possveis que a
medicina pode dar ao sofrimento.
1.1 A MORTE E A SOCIEDADE
O modo como a morte encarada individual e socialmente difere entre diferentes
culturas e tem variado ao longo do tempo. A morte era um acontecimento com que se convivia
naturalmente. Numa poca em que a esperana de vida era curta devido s duras condies de
vida das populaes, insalubridade das habitaes, ausncia de saneamento nas povoaes
e ineficcia da medicina, a morte era uma ocorrncia com que se convivia frequentemente. Na
famlia, na vizinhana, na povoao, havia sempre algum gravemente doente e que morreria a
breve trecho, sendo visitado durante a vida e acompanhado aps a morte por toda a gente da
comunidade, fosse qual fosse a sua idade.
A morte como ocorrncia comum era encarada com naturalidade, como fazendo parte
da vida. No era, porm, banalizada. A morte era um acontecimento srio que no devia ser
considerado de um modo superficial, um acontecimento temvel, mas no temvel ao ponto de
fazer com que as pessoas o afastassem, fugissem dele, procedessem como se no existisse ou
falsificassem as suas aparncias [1]. At primeira guerra mundial, no Ocidente de cultura
latina, a morte de algum era um perodo solene. Os parentes, os amigos e os vizinhos estavam
presentes durante os actos fnebres e durante o perodo de luto que se lhe seguia. Depois as
visitas iam-se espaando progressivamente at a vida voltar ao normal, continuando apenas as
visitas peridicas ao cemitrio. A casa onde a morte ocorrera era identificada com um aviso de
luto afixado porta e, houve mesmo um tempo em que o corpo, ou o caixo, era exposto porta
da casa [1]. A morte era, assim, um acontecimento social e pblico que envolvia a comunidade.
9
Pela parte de quem ia morrer havia tambm uma atitude de resignao, de aceitao do
seu destino, apesar de no ser esse, em geral, o seu desejo. Considerava-se essencial que o
moribundo conhecesse o seu destino para que se preparasse espiritualmente e tomasse as suas
ltimas disposies. Esta advertncia, o nuncius mortis, podia ser feita pelo mdico, por um
familiar ou amigo, mas frequentemente era feito por um sacerdote. Desta circunstncia resultou
que a entrada do padre no quarto de um moribundo passou a ser o sinal de que a morte estava
prxima, deixando de ser necessrio dizer mais nada [1].
A advertncia foi sempre considerada uma tarefa desagradvel, no desejada mas
indispensvel. Contudo, a partir da segunda metade do sculo XIX a advertncia comeou a
tornar-se mais difcil para as pessoas e comeou a aparecer a noo de que havia de proteger o
paciente do conhecimento de que o seu fim estava prximo. Comea a considerar-se que o
doente no necessita de ser advertido porque j sabe, porm, pretende-se manter a iluso. Os
sinais que possam alertar o paciente so dissimulados. O padre passa a administrar a extrema-
uno sobretudo quando o doente j est morto ou se est inconsciente e, a partir do Conclio
Vaticano II, a extrema-uno passou a chamar-se sacramento dos doentes [1]. Com a
dissimulao retira-se ao moribundo o controlo da situao e o direito de revelar as suas ltimas
vontades e disposies, passando os familiares a controlar a situao com a cumplicidade dos
mdicos. O doente isolado, no podendo frequentemente satisfazer a sua necessidade de
informao sobre a sua situao nem revelar os seus pensamentos e sentimentos. As decises
so tomadas sem consultar o doente. o paternalismo.
Nos dias de hoje, a morte j no tem o mesmo carcter pblico, a no ser no caso das
figuras pblicas. Os sinais pblicos relacionados com a morte deixaram de ser exibidos e
procura-se que a morte passe o mais despercebida possvel. Esta mudana na atitude perante a
morte ocorreu muito rapidamente, em paralelo com muitas outras alteraes ocorridas durante o
10
sculo XX. Philippe Aris chama a esta atitude perante a morte a morte invertida, como se esta
atitude fosse o negativo da atitude tradicional [1].
Hoje, a morte ocorre com muita frequncia em hospitais, tendo perdido o carcter social
que tinha anteriormente. A morte reduzida a uma ocorrncia causada por doenas sendo por
isso medicalizada. , no entanto, uma ocorrncia desconfortvel para os mdicos modernos que
muitas vezes a consideram um fracasso. Por isso, o que rodeia a morte , frequentemente,
tratado de modo defensivo no contacto dos mdicos com os familiares e com os outros mdicos
do servio hospitalar, sendo em alguns casos as situaes discutidas em reunies, que tm uma
inteno pedaggica, onde se procuram possveis erros que possam ter justificado essas
mortes. Usam-se com frequncia meios de diagnstico e tratamentos agressivos em situaes
obviamente irreversveis em que a morte ocorreria naturalmente como o desfecho mais
apropriado. A morte assim considerada amputa este processo de outras dimenses como a
espiritual e social e o do significado pessoal, familiar e social que a morte tem como marco
importante da vida.
Na idade mdia rezava-se a Ladainha dos Santos (Litaniae Sanctorum) de uma morte
repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor (a subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine)
[2]. Pretendia-se ter tempo para a preparao para a morte, o que seria impedido por uma morte
sbita e imprevista. Ao contrrio, actualmente, o desejo da maioria das pessoas morrer
subitamente, de preferncia durante o sono, para que no tenha de viver a situao e o
sofrimento e o medo que a morte eventualmente implica.
Ainda, segundo Aris [1], os progressos ocorridos durante o sculo XX em termos do
conforto, da higiene das habitaes e da higiene pessoal, a ideia de assepsia, tornaram as
pessoas mais delicadas, mais sensveis aos odores associados doena e morte. Alm disso,
a ajuda dos elementos da famlia, geralmente numerosa, e de outras pessoas da comunidade,
comeou a desaparecer com a diminuio desse grupo que muitas vezes se passou a limitar aos
11
familiares mais prximos. Estas famlias com poucos elementos, que podem trabalhar, ter
poucos recursos fsicos, psicolgicos ou econmicos, deixaram de ter a ajuda que antes existia.
Alm disso, muitas das habitaes das cidades no tm condies apropriadas para lidar com
doentes graves e dependentes. Por todo este conjunto de motivos os doentes tendem a ser
hospitalizados e a morrer no hospital ... ss.
1.2 O MEDO DA MORTE
O medo da morte universal e est relacionado com o instinto de conservao da vida.
Este medo importante porque nos leva a defender a vida, lutando ou fugindo se formos
atacados, e a evitar situaes que podem pr em risco a nossa sobrevivncia. O medo da morte
pode tambm levar-nos a adoptar comportamentos saudveis para conservarmos a sade, e
consequentemente a vida, o mais tempo possvel. No entanto, em certas circunstncias pode
tornar-se patolgico, inibindo as nossas aces, e incapacitando-nos para desfrutar da vida.
Para nos ajudar a lidar com o nosso medo da morte inevitvel as religies tm sido
importantes. As religies, em geral, fazem-no negando a morte, isto , afirmando que, na
verdade, a morte no existe. Para algumas existe a reencarnao, o que significa que aps a
morte do corpo o indivduo volta a viver noutro corpo. Para outras religies, como a catlica,
morte fsica do indivduo segue-se uma vida eterna (da alma) de felicidade, o que significa que
se vai para uma situao melhor. No entanto, a vida eterna de felicidade no para todos, j que
existe a possibilidade de se ir para o Inferno, onde essa vida de felicidade no existe [3]. Claro
que a influncia da religio s se aplica aos crentes e, mesmo na maioria destes, provavelmente,
no debelar satisfatoriamente o medo da morte. Acresce, ainda, que as sociedades actuais,
sobretudo, as da Europa e da Amrica do Norte esto a secularizar-se, o que obviamente vai
reduzindo a importncia do papel da religio como factor que ajude as pessoas a lidar com o
medo da morte.
12
Mas ser o medo da morte racional ou irracional? Por outras palavras, podemos
racionalmente justificar o nosso medo da morte? A tradio da filosofia considerar que o
homem racional no teme a morte. No entanto, o modo proposto para extinguir o medo da morte
diverso. Para Montaigne filosofar aprender a morrer [4], o que significa que o melhor modo
de lidar com a questo pensar nela frequentemente, opinio compartilhada com os epicuristas
e os esticos. Opinio diferente a de Espinoza para quem O homem livre em nada pensa
menos que na morte; e a sua sabedoria no uma meditao da morte, mas da vida[5].
Segundo Murphy [4] o medo da morte racional se a morte for um evento inevitvel, ou
dificilmente evitvel, e se for muito indesejvel, mau ou perverso. Outra condio ser a de o
medo da morte poder ser instrumental para desencadear um comportamento ou aco para a
evitar, isto , como foi dito, adoptando uma atitude defensiva perante o perigo e estimulando
comportamentos saudveis. Ainda, segundo Murphy, para ser racional o medo da morte deve
ser compatvel, pelo menos a longo prazo, com a satisfao de outros desejos importantes, o
que quer dizer que podemos racionalmente ter medo da morte, mas se esse medo nos impedir
de prosseguir normalmente a nossa vida, torna-se irracional; podemos certamente considerar
que um medo assim poderia no ser irracional se a morte fosse iminente.
As condies propostas por Murphy so facilmente compreensveis e aceitveis, mas
falta responder questo: por que a morte indesejvel, m ou perversa?
Para Epicuro, a morte no nada para ns ... porque quando estamos vivos, a morte
no veio, e quando a morte vem, ns j no estamos [6]. Esta afirmao significa que estando
mortos nada sentimos e, portanto, estar morto no mau para quem morre. Subjacente
afirmao de Epicuro est a ideia de que para algo ser mau para uma pessoa deve ser
experimentado como mau ou de certo modo desagradvel por essa pessoa mas, como aps a
morte nada podemos experimentar, nada pode ser mau para a pessoa. Em consequncia, para
13
um acontecimento ser mau para uma pessoa ela deve estar viva quando esse acontecimento
ocorre, logo aps a morte nada pode ser mau para o indivduo.
Mas ser que uma coisa pode ser m para um indivduo e no ser experimentada por
ele? Usando exemplos que tm sido dados na discusso destes temas, imaginemos um
indivduo adulto e inteligente que sofre um traumatismo que lhe afecta o crebro e o reduz
condio de uma criana de 5 anos feliz, cujas necessidades podem ser satisfeitas por um tutor,
no requerendo cuidados de sade. Todos consideraro que o indivduo sofreu um grande
infortnio ainda que este no tenha capacidade de o avaliar desse modo [7]. Se algum trado
por um amigo, a esposa ou um scio pode dizer-se que isso um infortnio se o indivduo
descobrir a traio, porque o faz sofrer, mas mesmo que o indivduo no descubra, no mau
por si s ser trado? Estes dois exemplos mostram que uma coisa pode ser m mesmo quando
no experimentada pelo indivduo. Considerando agora o estar morto, pode-se perguntar se
no mau para algum que o seu testamento no seja cumprido ou que factos da sua vida
sejam deturpados minando o seu prestgio? No entanto, a objeco a estes argumentos
novamente a de que, para quem est morto no faz qualquer diferena, visto que j no existe.
Outro modo de abordar a questo do infortnio da morte a chamada teoria da
privao. Segundo esta, a vida, ainda que acarrete sofrimento, considerada pela maioria como
boa e como valendo a pena. Ora, poderemos dizer que uma coisa boa quanto mais durar
melhor, portanto, a morte ao terminar com a vida indesejvel. De facto, a maioria das pessoas
deseja uma vida longa e tendemos a lamentar mais a morte de um jovem e menos (ou nada) a
de uma pessoa de 90 anos, porque percebemos que a perda do jovem foi maior, mas isto no
significa que a morte do idoso no seja m. A morte impede-nos de cumprir os nossos projectos
[4] sejam eles grandiosos ou banais (para os outros). Em geral, temos vrios projectos na nossa
vida: completar um mestrado em biotica, ver os filhos independentes, comprar uma casa, poder
reparar uma ofensa, reconciliar-se com uma pessoa significativa, etc. Mantermo-nos vivos a
14
condio indispensvel para podermos construir e executar esses projectos. S algum que no
tenha qualquer interesse poder no ser prejudicado pela morte. Assim, a morte seria m, no
porque estar morto seja mau para o indivduo, mas pela vida que nos impede de viver [7]. Esta
concluso suscita uma pergunta epicurista: quando a morte m para ns? Antes de morrermos
no parece ser, porque enquanto estamos vivos a morte no nos priva de nada. Depois de
morrermos tambm no ser, porque a j no existimos [8].
Mas se o problema a quantidade de vida porque no concordar com Lucrcio,
discpulo de Epicuro, que perguntava porque nos preocuparmos com o tempo que no vivemos
aps a nossa morte e no nos preocuparmos com o tempo que no vivemos antes de
nascermos? Ser racional essa assimetria de atitudes? Em primeiro lugar, pouco se pode fazer
para antecipar um nascimento, embora as tcnicas actuais de reproduo assistida permitam
retardar significativamente a data do nascimento. Mas quanto concepo natural de um
indivduo, de longe a maioria, ela s pode ocorrer no momento em que ocorre e no noutro,
porque resulta do encontro de dois gmetas nicos e irrepetveis que s se encontraro nesse
momento e no noutro; outros gmetas daro origem a outro indivduo. O nascimento s seria
antecipado, e de modo pouco significativo, se ocorresse um parto prematuro. Outra razo para a
assimetria de atitudes explicada pela nossa atitude tambm assimtrica ao que de bom
podemos ter. Atribumos mais importncia ao que de bom pudermos vir a ter no futuro, que
esperamos ter, do que ao que de bom tivemos no passado. Por isso, -nos indiferente o que de
bom nos poderia ter acontecido se nascssemos mais cedo. Para dar um exemplo anlogo ao
de Brueckner e Ficher [9], estando ns em 2006, suponhamos que tnhamos 80 anos para viver
e que nos era dada a hiptese de escolher entre nascer em 1940 e viver at 2020 e nascer em
1960 e viver at 2040. Certamente escolheramos a segunda hiptese, apesar de termos os
mesmos anos de vida. Esta uma escolha racional.
15
A questo da racionalidade do medo da morte e do infortnio que a morte pode constituir
tem, assim, sido discutida por alguns filsofos, geralmente, partindo da famosa afirmao de
Epicuro referida atrs. Para a maioria das pessoas saudveis e activas a morte considerada
um infortnio, mas, como vimos, contestar racionalmente a afirmao de Epicuro tem sido uma
tarefa difcil.
Em certas circunstncias, como para as pessoas com doenas graves, incurveis e em
sofrimento, a morte pode mesmo ser racionalmente desejada. Tambm para algum que no
tenha desejos ou projectos para o futuro e que tenha perdido a motivao para viver, a morte
no ser um infortnio.
Outra questo a de se a morte m para os outros. Pode responder-se que pode ser
m para os familiares e amigos porque lhes pode causar sofrimento pela perda que tiveram. No
entanto, isso, por si s, no torna a morte m para o indivduo que morre.
Uma questo ainda saber se o processo de morrer pode ser mau. Aqui a resposta
claramente sim, pois como todos sabem esse processo pode ser doloroso e associado a
sofrimento intenso. Provavelmente, muitas vezes quando se fala no medo da morte ou quando
se diz que a morte m, as pessoas referem-se ao morrer, ao processo que conduz morte.
Mas considerar a morte como m significa que a imortalidade desejvel? Alguns
filsofos pensam que a morte necessria para dar significado vida, enquanto outros pensam
que a morte oblitera o significado da vida e torna os nossos esforos patticos e absurdos [10].
Segundo alguns existencialistas, a morte que d significado vida apenas porque o medo da
morte que d significado vida [11]. Para Wiliams [11], os indivduos tm um conjunto de
objectivos, projectos e desejos que so essenciais para a sua identidade. Ento, a morte
prematura seria m porque no permitiria satisfazer esse conjunto de objectivos e desejos mas,
com o tempo, as pessoas vo perdendo esses desejos com os quais se identificam, tornando-se
a vida tediosa. Se, pelo contrrio, esse desejos fundamentais se vo mudando uma e outra vez,
16
para evitar o tdio, abandona-se a identidade. Por estas razes Williams conclui que a
imortalidade indesejvel. Vrios filsofos contrapem que no bvio que a vida se torne
tediosa, j que composta de muitos elementos como amizade, amor, famlia, actividade
atltica, intelectual, artstica, sexualidade, etc., e deste modo pode-se imaginar que a vida
poderia ser interessante para sempre [10]. Assim, a questo da imortalidade vista de vrios
modos e, como no se pode fazer a experincia, as concluses so especulativas. Como refere
Thomas Nagel a questo se podemos ver como um infortnio qualquer limitao, como a
mortalidade, que normal para a espcie [7].
1.3 O VALOR DA VIDA
A tradio ocidental a de considerar a vida intrinsecamente valiosa, isto , valiosa em
si mesmo, no necessitando de mais justificaes. Esta concepo designa-se santidade da
vida e tem fundamentalmente uma base religiosa, que compartilhada, pelo menos, pelas trs
principais religies monotestas. Segundo esta concepo Deus d a vida e s Ele a pode tirar,
tendo os humanos obrigao de a preservar, porque, como diz o Catecismo da Igreja Catlica,
somos administradores e no proprietrios da vida que Deus nos confiou; no podemos dispor
dela [12].
Por um lado, o desenvolvimento recente da medicina criou situaes que levaram a
rever a definio de morte (ver adiante) e, por outro lado, a progressiva diminuio da influncia
das religies nas sociedades ocidentais, criaram o substracto para o surgimento de uma
concepo diferente designada por qualidade de vida. Segundo esta concepo, a vida no
tem um valor intrnseco mas depende de factores externos ou extrnsecos, passando assim o
valor da vida a no ser considerado absoluto mas sim relativo. Esta concepo implica que as
pessoas tm direito a avaliar a sua qualidade de vida e a dispor da sua vida de acordo com essa
avaliao e os seus desejos.
17
A questo que o argumento da qualidade de vida pe a de que h vidas mais valiosas
do que outras. Poderemos perguntar se intuitivamente assim que as pessoas sentem. Isto ,
se mais trgica a morte de uma criana sem qualquer deficincia fsica do que uma com o
sndrome de Down, a morte de um jovem mais do que a de um idoso ou a morte de um cientista
mais do que a de um sem abrigo. A resposta pode ser reveladora ou ... assustadora.
A relevncia dos argumentos da santidade da vida e da qualidade de vida resulta da
influncia que estes podem ter nas decises sobre o tratamento das pessoas em situaes
crticas ou com deficincias profundas. Na verdade, nestas decises no podemos fugir
questo da qualidade de vida. Quando nos abstemos de intervir agressivamente para prolongar
a vida (neste caso, prolongar o processo de morte) dos doentes agnicos e fazemos tratamento
sintomtico e medidas de conforto, estamos a ter em conta o argumento da qualidade de vida.
Tambm, quando nos abstemos de reanimar um recm-nascido anenceflico, estamos a ter em
conta o mesmo argumento. Nestas duas situaes as decises tomam-se considerando a
qualidade de vida que resultaria das intervenes destinadas a prolongar a vida e,
provavelmente, nem mesmo os defensores da santidade da vida discordariam das decises
indicadas. Nas decises mdicas tem de haver um balano entre os benefcios esperados e os
malefcios que acarretam para o doente. No h boa prtica mdica sem se ter em considerao
as consequncias que as decises tero na qualidade de vida dos doentes. Porm, a qualidade
de vida deve, sempre que possvel, ser avaliada pelo doente e no pelos outros. Nos doentes
incompetentes as decises devem ser tomadas segundo o que se pode determinar como os
seus melhores interesses e no os melhores interesses da famlia, da sociedade ou de outros.
No se pode confundir qualidade de vida com o valor que a vida do doente possa ter para outros
[13].
18
1.4 SERES HUMANOS E PESSOAS
Seres humanos so todos os membros da espcie humana Homo sapiens sapiens.
Esta afirmao aceite por todos. J o mesmo no se pode dizer de pessoa, porque, embora o
conceito comum de pessoa seja equivalente a ser humano, em filosofia debate-se o que se
considera uma pessoa.
Boecio no sculo VI d.C. definiu pessoa como substncia individual de natureza racional
rationalis naturae individua substancia [14]. Depois desta primeira definio de pessoa, vrios
filsofos propuseram outras definies. Estas tm em comum considerarem indispensvel ao
conceito de pessoa a racionalidade, ou seja, a conscincia e a capacidade de pensamento
reflexivo:
Para John Locke (1632-1704), pessoa um ser inteligente pensante, que tem razo e
reflexo, e pode considerar-se a si prprio como si prprio, a mesma coisa pensante, em
diferentes tempos e lugares; o que faz s por essa conscincia que inseparvel do
pensamento e me parece essencial para ele; sendo impossvel para qualquer um perceber
sem perceber que percebe... [15].
Kant (1724-1804) afirma que Os seres cuja existncia depende, no em verdade da nossa
vontade, mas da natureza, tm contudo, se so seres irracionais, apenas um valor relativo
como meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam
pessoas, porque a sua natureza os distingue j como fins em si mesmos, quer dizer como
algo que no pode ser empregado como simples meio... [16].
Para Engelhardt O que distingue as pessoas a sua capacidade de serem auto-
conscientes, racionais e preocupadas com o merecimento da censura e do louvor. [17].
Segundo Peter Singer, pessoa ...um ser com conhecimento da sua prpria existncia ao
longo do tempo, e a capacidade de ter desejos e planos para o futuro. [18].
19
Estes so alguns exemplos de definies de pessoa que tm em comum a
racionalidade. Racionalistas e empiristas, deontologistas e utilitaristas concordam neste ponto.
Sendo assim, no por se pertencer espcie humana que se pode classificar um indivduo
como pessoa e, por outro lado, poder haver indivduos no humanos que se poderiam
classificar como pessoas. Com base nesse conceito de pessoa, alguns filsofos consideram que
membros da espcie humana como os fetos, os recm-nascidos ou os doentes em estado
vegetativo persistente (EVP) no so pessoas [17,18]. Quanto a considerar pessoas indivduos
no humanos, Kant afirma O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como
fim em si mesmo... e como se disse atrs ...ao passo que os seres racionais se chamam
pessoas,... [16], admitindo assim a hiptese de existirem seres racionais, logo pessoas, no
humanos. Engelhardt considera que se contactssemos com extraterrestres inteligentes
deveramos consider-los pessoas, embora no pertencessem espcie humana [17]. E Peter
Singer considera que certos animais como os gorilas, chimpanzs, orangotangos e outros devem
ser considerados pessoas [18].
S as pessoas so agentes morais porque a sua racionalidade os torna livres e capazes
de tomar decises e de assumir a responsabilidade pelos seus actos. Assim, os fetos e os
recm-nascidos no so pessoas. Mas sero eles coisas? Para resolver esta questo foi
introduzida a noo de pessoa potencial. Segundo este conceito, h uma continuidade no ser
humano desde a concepo at adquirir as caractersticas, que provavelmente adquirir, de
pessoa. Os embries, os fetos ou os recm-nascidos no so pessoas, mas tambm no so
coisas, porque fazem parte de um contnuo que em grande parte dos casos se tornaro pessoas
[19]. Esta noo contestada por muitos, como Tristram Engelhardt Jr. para quem dizer que um
feto uma pessoa potencial dizer que no uma pessoa e, por isso, no lhe podem ser
atribudos os direitos das pessoas. Para este autor, o valor que os embries e os fetos tm o
valor que as pessoas lhes atribuem, podendo portanto depender de vrios factores como o de
20
serem desejados, de terem uma trissomia 21, etc. [17]. H quem argumente que o zigoto, o
embrio e o feto tm potencial para se tornarem pessoas, mas tambm tm potencial para se
tornarem abortos espontneos, molas hidatiformes ou indivduos com atrasos mentais
profundos; por isso, os termos pessoas provveis ou possveis seriam mais adequados. As
probabilidades de virem a tornar-se pessoas varivel dependendo, por exemplo, do estado de
desenvolvimento do local onde a me vive; sabemos que h variaes profundas da mortalidade
infantil entre os pases.
Alm do conceito filosfico de pessoa existem outros, como o religioso, o legal e o
social.
Para a religio catlica desde o primeiro momento da sua existncia, devem ser
reconhecidos a todo o ser humano os direitos da pessoa... [20].
A Constituio Portuguesa diz no seu artigo 1 que Portugal uma Repblica soberana,
baseada na dignidade da pessoa humana... e no artigo 24 que A vida humana inviolvel.
Pela conjugao destes dois artigos da Constituio Portuguesa se pode entender que a
legislao pretende proteger a vida humana, logo os elementos da espcie, embora considere a
importncia fundamental da pessoa humana, no esclarecendo qual o conceito de pessoa
adoptado.
O debate sobre que estatuto atribuir aos membros da espcie cujo nvel de conscincia
e de racionalidade no lhes permite serem considerados pessoas, nomeadamente os que ainda
no nasceram, os recm-nascidos, os atrasados mentais profundos ou os indivduos em EVP,
provavelmente nunca levar a uma concluso consensual. Este debate , porm, indispensvel,
mas no o nico elemento a ter em conta. As tradies, a influncia da religio, a evoluo
tecnolgica e outros aspectos so outros elementos (talvez at os mais importantes) que
influenciam o que as sociedades vo decidindo em diferentes momentos e que acaba muitas
vezes por se traduzir na legislao. Como diz Engelhardt, o facto de no considerarmos alguns
21
seres humanos como no sendo pessoas em termos ticos ou filosficos no significa que os
consideremos menos, reflecte apenas os limites do raciocnio (da argumentao) filosfico [17].
1.5 CONCEITOS E CRITRIOS DE MORTE
O termo morte usado em vrios sentidos. Metaforicamente, morte pode significar o fim,
o desaparecimento. Mesmo no seu sentido real, o termo morte frequentemente empregue de
forma ambgua significando umas vezes morrer, outras estar morto e a morte no seu sentido
correcto. Mas morrer o processo que conduz a estar morto e que ocorre em vida, portanto,
pode ser experimentado; quando se diz que a morte de algum foi muito longa, usa-se o termo
morte de modo incorrecto, porque aqui morte usado no sentido de morrer. Estar morto um
estado que ocorre aps a morte e, claramente, no faz parte da vida. A morte est entre o
morrer e o estar morto; est no fim do morrer e no princpio do estar morto [6].
Deve distinguir-se o conceito de morte de critrio(s) de morte. O conceito de morte diz o
que a morte , enquanto que o critrio ou os critrios de morte so as condies que nos
permitem determinar se um indivduo est morto segundo esse conceito. Portanto, os critrios de
morte devem estar relacionados com um conceito de morte. O conceito de morte pode ser
encarado do ponto de vista religioso ou filosfico, contudo, os critrios de morte so indicadores
biolgicos da irreversibilidade de um processo, pelos meios actualmente conhecidos. Por
exemplo, para os cristos a morte o abandono do corpo pela alma no havendo nenhum
critrio que permita determin-lo, mas so aceites os critrios biolgicos de morte estabelecidos.
Os conceitos de morte secularizaram-se sobretudo durante o sculo XX, tendo os conceitos
religiosos perdido influncia. A determinao do momento da morte tem implicaes importantes
dos pontos de vista legal, social e tico.
A morte a nvel celular um processo, no um acontecimento. A capacidade de resistir
anoxia varia com os tecidos. Sabe-se h muito tempo que as unhas e o cabelo podem
22
continuar a crescer depois de o corao parar. A pele pode ser colhida e usada para
transplantao aps 24 horas de assistolia. Tambm se podem fazer enxertos de osso e de
artrias colhidas 48 horas depois do indivduo ter sido declarado morto [21]. A morte como um
evento, isto , a destruio simultnea de todas as clulas do corpo excepcional, podendo
acontecer na carbonizao por uma exploso nuclear [21]. O que interessa, portanto, no
determinar se todas as clulas esto mortas, mas o ponto de no retorno. O que importa
determinar o ponto a partir do qual o processo se tornou irreversvel independentemente dos
meios que se possam empregar para o reverter. Este ponto significa tambm a morte, o fim, do
organismo biolgico como um sistema integrado de tecidos e clulas [22]. O momento em que foi
determinado esse ponto o momento da morte. Os conceitos de morte, porm, no so, como j
foi dito, apenas biolgicos, so tambm filosficos, morais e religiosos, gerando divergncias
profundas entre as pessoas. Alguns desses conceitos de morte e os critrios para a determinar
sero descritos frente.
A determinao da morte como uma actividade mdica, como um diagnstico, pode
produzir resultados falsamente negativos ou positivos que dependem dos conceitos e dos
critrios adoptados.
Uma das consequncias de errar esse diagnstico considerar morto algum que de
facto est vivo (resultado falsamente positivo) e assim enterrar um indivduo vivo. O medo de se
ser enterrado vivo designa-se tafofobia. Esse medo aumentou sobretudo a partir de meados do
sculo XVIII com a noo da morte aparente e foi, em certa medida, da responsabilidade dos
mdicos de ento. Na realidade, sempre se tomaram precaues para evitar que um indivduo
vivo fosse enterrado. Os rituais religiosos e outros relacionados com a morte, como a higiene e
exposio do corpo, deixar o rosto descoberto e o intervalo at inumao so exemplos
dessas precaues. Havia tambm o hbito de chamar em voz alta por trs vezes o nome do
presumido defunto conclamatio [23]. Ainda hoje o papa chamado trs vezes pelo seu nome
23
de baptismo na sua morte [23]. Os mais ricos faziam testamentos em que estipulavam o intervalo
de tempo que desejavam que passasse entre a sua morte e a inumao, incluindo alguns que,
antes do enterramento, fosse feita a escarificao, isto , cortes na planta dos ps [23]. Na
Alemanha, criaram-se instituies, designadas obiturios ou vitae dubiae azilia, onde eram
depositados os corpos sob vigilncia at ao incio da putrefaco [23]. A partir da segunda
metade do sculo XIX este terror de ser enterrado vivo foi-se atenuando. No entanto, ainda hoje
para assegurar que a situao definitiva, a autpsia ou a inumao do corpo no permitida
em muitos pases antes de passarem 24 horas da verificao do bito.
1.5.1 A morte crdio-respiratria
At ao fim do sculo XIX, a determinao da morte baseava-se na paragem respiratria
e, a partir da, com a descoberta da circulao sangunea e da auscultao, passou a basear-se
na paragem cardaca [24]. Ainda hoje, na maioria dos casos pela paragem crdio-respiratria
que se determina se algum est morto. Acontece, porm, que a reanimao crdio-respiratria
e o desenvolvimento das tcnicas e dispositivos de suporte da vida, substituindo as funes dos
pulmes e do corao, criaram situaes em que a determinao da morte mais difcil.
Aps o aparecimento dos ventiladores e das unidades de cuidados intensivos nos anos
50 do sculo XX foi possvel manter artificialmente a funo crdio-respiratria. Disto resultou,
porm, que alguns doentes com a funo respiratria artificialmente mantida tinham perdido
totalmente a funo cerebral. Pela definio crdio-respiratria de morte estes doentes estavam
vivos. No entanto, manter-lhes a funo crdio-respiratria no lhes trazia qualquer benefcio.
1.5.2 A morte do tronco cerebral/morte cerebral global (holocerebral)
A manuteno de indivduos, cuja funo cerebral total ou do tronco cerebral se tinha
perdido definitivamente, ligados a ventiladores at assistolia originou problemas legais, ticos,
24
psicolgicos e econmicos. Ventilar um cadver [21] repercutia-se negativamente nos
profissionais que tratavam este corpo e sobretudo nos familiares que viam o processo arrastar-
se por tempo indeterminado com custos directos para os familiares, nos pases em que estes
cuidados tinham de ser suportados por eles, ou para toda a sociedade quando era o Estado que
suportava o custo. Este problema s poderia ser resolvido se a definio de morte no
continuasse a ser ligada funo crdio-respiratria. Alm disso, o desenvolvimento das
tcnicas de transplantao criou a necessidade de obter rgos viveis, que tm mais
probabilidade de serem obtidos se forem extrados de um corpo funcionante, o que acelerou o
processo de reconsiderao do conceito de morte. De facto, nos anos 50 do sculo XX
comearam a fazer-se os primeiros transplantes renais e no final dos anos 60 do mesmo sculo
fez-se o primeiro transplante cardaco.
Em 1959, Mollaret e Goulon [25] deram o nome de coma ultrapassado (coma dpass)
ao estado dos doentes que tinham perdido as funes cerebrais incluindo as funes
vegetativas. No mesmo ano, Wertheimer e col. consideraram que em certas condies se pode
diagnosticar a morte do sistema nervoso central e puseram a questo de se, nessas
circunstncias, seria adequado prolongar a respirao artificial. Um importante defensor de uma
nova definio de morte baseada em critrios neurolgicos foi a Comisso Ad Hoc da Harvard
Medical School em 1968 [26]. Esta comisso props que fosse declarada a morte de um
indivduo em coma irreversvel, antes de se desligarem os meios de suporte. Aqui a designao
foi de coma irreversvel, em vez de coma ultrapassado, e foi descrito como um estado de no
reactividade, sem movimento, respirao ou reflexos, e um electroencefalograma plano. Na
Inglaterra o critrio de morte cerebral a morte do tronco cerebral, o que no muito diferente
visto que a morte do tronco cerebral implica a cessao da actividade cerebral [24]. Portugal
tambm seguiu este caminho.
25
Com este definio pretendia-se que doentes em morte cerebral, portanto sem hipteses
de sobreviver sem suporte intensivo, no fossem mantidos indefinidamente ligados a um
ventilador, sem que tirassem disso algum benefcio, e facilitar a colheita de rgos para
transplantao.
Os critrios para determinar a morte cerebral evoluram desde os que foram expressos
acima, tornando-se mais precisos para evitar a maior preocupao expressa relativamente a
esta definio de morte que era a de um estado de inconscincia reversvel poder ser
diagnosticado como morte cerebral. No Quadro 1.1 podem ver-se os critrios em vigor em
Portugal [27].
Estes critrios de morte cerebral s necessitam de ser explicitamente determinados
quando as funes respiratrias e circulatrias so artificialmente mantidas, porque nas outras
situaes basta determinar a paragem crdio-respiratria porque a esta se segue fatalmente a
morte cerebral, dentro de poucos minutos.
Na realidade a importncia do crebro para a vida sempre foi considerada, talvez
inconscientemente, como fundamental. Por isso, o enforcamento e a decapitao foram, e
infelizmente ainda so, usados para matar pessoas. Aps uma decapitao o corao pode
continuar a funcionar durante alguns minutos, o que se pode comprovar pelo jorro de sangue
pelas cartidas, no entanto, no provvel que algum considerasse que o decapitado
continuava vivo. Tambm na cultura tradicional japonesa que considerava um ponto do
abdmen, o hara ou tandem, que corresponde ao centro de gravidade, como centro da vida
espiritual, o suicdio fazia-se pelo corte do abdmen, haraquiri ou seppuku, mas imediatamente a
seguir a esse corte um companheiro decapitava o suicida. Estas prticas mostram bem que o
crebro sempre foi considerado indispensvel vida.
26
Quadro 1.1. Critrios de morte cerebral
A certificao de morte cerebral requer a demonstrao da cessao das funes do tronco
cerebral e da sua irreversibilidade.
I - Condies prvias
Para o estabelecimento do diagnstico de morte cerebral necessrio que se verifiquem as
seguintes condies:
1) Conhecimento da causa e irreversibilidade da situao clnica;
2) Estado de coma com ausncia de resposta motora estimulao dolorosa na rea dos pares
cranianos;
3) Ausncia de respirao espontnea;
4) Constatao de estabilidade hemodinmica e da ausncia de hipotermia, alteraes
endcrino-metablicas, agentes depressores do sistema nervoso central e ou de agentes
bloqueadores neuromusculares, que possam ser responsabilizados pela supresso das funes
referidas nos nmeros anteriores.
II - Regras de semiologia
1) O diagnstico de morte cerebral implica a ausncia na totalidade dos seguintes reflexos do
tronco cerebral:
a. Reflexos fotomotores com pupilas de dimetro fixo;
b. Reflexos oculoceflicos;
c. Reflexos oculovestibulares;
d. Reflexos corneopalpebrais;
e. Reflexo farngeo.
2) Realizao da prova de apneia confirmativa da ausncia de respirao espontnea.
III - Metodologia
A verificao da morte cerebral requer:
1) Realizao de, no mnimo, dois conjuntos de provas com intervalo adequado situao
clnica e idade;
2) Realizao de exames complementares de diagnstico, sempre que for considerado
necessrio;
3) A execuo das provas de morte cerebral por dois mdicos especialistas (em neurologia,
neurocirurgia ou com experincia de cuidados intensivos);
4) Nenhum dos mdicos que executa as provas poder pertencer a equipas envolvidas no
transplante de rgos ou tecidos e pelo menos um no dever pertencer unidade ou servio
em que o doente esteja internado.
Hoje este conceito o mais seguido. No entanto, foi rejeitada no Japo por razes
religiosas e filosficas [28], mas devido impossibilidade de fazer transplantes, a legislao foi
alterada em 1997 criando um padro duplo em que a morte cerebral aceite se o indivduo for
um dador de rgos (existe um carto de dador), mas se no for dador de rgos o critrio de
morte o da paragem cardaca [29]. Tambm na Dinamarca o Conselho de tica, rgo
consultivo do governo dinamarqus, produziu um relatrio recomendando que o critrio de morte
27
se deveria manter, ou seja a cessao da actividade cardaca [30]. Segundo este conselho, a
morte uma realidade complexa com aspectos religiosos, morais e humanos e, na experincia
do dia a dia, a identidade de uma pessoa compreende a integridade da conscincia e o corpo,
mas como a identidade no se relaciona menos com o corpo do que com a conscincia, no se
pode dizer que o processo de morte terminou enquanto houver respirao e batimentos
cardacos, o corpo se mantiver quente e a sua cor do for normal, o que pode ser compatvel com
a morte cerebral. A destruio total das funes cerebrais significa, segundo o conselho, que o
processo de morte comeou e que irreversvel mas s termina quando as funes respiratria
e cardaca cessarem [30]. Hoje a Dinamarca j adoptou o critrio de morte cerebral como critrio
de morte, mas foi dos ltimos pases europeus a faz-lo.
O conceito de morte cerebral parece ser compatvel com as crenas catlica,
protestante, ortodoxa, judaica e islmica sobre a natureza da morte [31].
1.5.3 A morte cerebral superior (neocortical)
H doentes com dano cerebral de causas diversas com perda de conscincia mas que
respiram espontaneamente. Se este estado se mantm por mais de um ms diz-se que os
doentes esto em EVP. Estes doentes no tm as funes cerebrais superiores que controlam a
conscincia, a cognio e as emoes, mas mantm funes do tronco cerebral que lhes
permite manter funes corporais, entre as quais a respirao, e ciclos de sono-viglia [32]. O
EVP pode ser reversvel. No entanto, ao fim de alguns meses, dependendo da causa e da idade
do doente, a recuperao torna-se improvvel [32,33]. Apesar de no terem conscincia, estes
doentes no esto includos na definio de morte cerebral global.
Considerar estes doentes mortos, isto , se um doente com perda das funes cerebrais
superiores, ainda que mantenha as funes corporais, est morto, est em debate. Os
defensores do conceito de morte cerebral superior argumentam que o conceito de pessoa
28
implica a existncia de conscincia e a capacidade de tomar decises e dar permisso e no
apenas a capacidade de manter algumas funes orgnicas. Segundo este conceito os doentes
em EVP esto mortos como pessoas, visto que perderam irreversivelmente a conscincia e,
portanto, no devem ser consideradas pessoas. Os defensores do conceito de morte cerebral
superior objectam que no conceito de morte do tronco cerebral ou cerebral global o crebro
considerado um rgo controlador e integrador das funes dos sistemas orgnicos, relegando
para um lugar secundrio, e no essencial, a sua funo como responsvel pela conscincia
[34,35].
A determinao da irreversibilidade da perda da funo cerebral no EVP envolve vrias
dificuldades. Existe o receio de se produzir um nmero inaceitvel de determinaes falsamente
positivas. De facto, h casos de diagnsticos errados de EVP [36]. H, casos raros de
recuperao tardia da conscincia, embora para um estado de grande incapacidade e
dependncia total [37]. pelo que tanto quanto sabido nenhum estado adoptou na sua legislao
a definio de morte cerebral superior. Nos Estados Unidos da Amrica (EUA) os tribunais
geralmente permitem a suspenso dos tratamentos de suporte da vida nos doentes em EVP a
pedido dos familiares, baseando-se no direito recusa de tratamentos de que gozam os doentes
ou os seus representantes legais [38]. No entanto, alguns casos tm sido discutidos nos tribunais
com base na ausncia de evidncia de que o indivduo em EVP desejaria a suspenso do
tratamento se pudesse decidir [39]. Noutros pases comum a suspenso da alimentao
artificial [39]. Resolver o problema deste modo implica, porm, que se considera que esses
doentes esto vivos, pelo que se as famlias quiserem que o tratamento continue e no houver
qualquer indicao de que o doente quisesse outra coisa, no possvel suspender as medidas
de suporte.
Neste conceito h ainda uma questo de intensidade, de que no est completamente
isento o conceito de morte cerebral global. Isto , quanta conscincia necessrio ter para se
29
considerar que a pessoa est viva. Este aspecto tem implicaes importantes, nomeadamente,
quanto aos doentes com demncias, os quais vo perdendo gradualmente a funo cognitiva,
muitas vezes ao longo de anos, at chegarem a uma altura em que perdem a conscincia de si
prprios. Quando se poderiam considerar mortos pela definio de morte cerebral superior no
seria fcil de determinar.
Este conceito de morte envolve ainda problemas de ordem emocional e social
resultantes de, nessas circunstncias, os parentes e amigos do indivduo e a sociedade em
geral, aceitarem que quem respira espontaneamente possa estar morto.
1.5.4 O caso dos recm-nascidos anenceflicos como dadores de rgos
A anencefalia uma anormalidade do desenvolvimento do sistema nervoso central que
resulta na ausncia congnita do crebro, crnio e couro cabeludo [40]. Como estes recm-
nascidos no tm crtex cerebral, no tm nem podem vir a ter qualquer grau de conscincia
reflexiva. A ausncia de crtex cerebral faz com que no haja actividade electroencefalogrfica
mensurvel [41]. No entanto, o seu tronco cerebral funciona total ou parcialmente, por isso
mantm pelo menos algumas funes do corpo como a respirao, a suco, movimentos
espontneos, etc. Menos de metade destes recm-nascidos sobrevive mais do que um dia e
menos de 10% sobrevive mais do que uma semana, embora haja um caso de sobrevivncia de
dois anos e meio com tratamento intensivo [40].
A escassez de rgos para transplante em crianas conduziu a que se considerasse a
possibilidade de colher rgos nos recm-nascidos anenceflicos. Porm, o facto de estes no
poderem ser considerados mortos, condio necessria para se poder fazer a colheita de
rgos, por terem um tronco cerebral funcionante, torna a questo controversa. Esperar a morte
natural dos recm-nascidos com anencefalia para colher os seus rgos permite o sucesso em
apenas um em cada nove transplantes e, por outro lado, usar sistemas de suporte da vida para
30
manter a viabilidade dos rgos manter tambm a actividade do tronco cerebral [41]. Alm
disso, manter a vida destas crianas artificialmente poderia prolongar a angstia dos pais,
poderia causar conflitos entre profissionais da sade, ser alvo da crtica do pblico e levar
eventual perda de confiana nos programas de transplantao.
Esta questo s poderia ser resolvida se [41]:
Os recm-nascidos anenceflicos fossem considerados mortos, dado que no tm
possibilidade de virem a ter conscincia e a sua morte sempre iminente. Esta soluo s
foi adoptada pela Alemanha, onde os recm-nascidos anenceflicos so considerados
legalmente mortos e assim os seus rgos podem ser usados para transplantao.
Fosse adoptada a definio de morte cerebral superior, j discutida atrs.
Os recm-nascidos anenceflicos fossem considerado um grupo especial, sui generis, para
o qual se deveriam aplicar regras e leis especiais.
Nos EUA a discusso tem sido particularmente viva. A discusso chegou aos tribunais
quando em 1992 os pais de uma criana anenceflica pediram permisso ao Supremo Tribunal
da Flrida para doar os rgos do seu filho; o tribunal, de acordo com a lei, negou a pretenso
dos pais [40].
Em 1988, o Council on Ethical and Judicial Affairs da Associao Mdica Americana
(AMA), depois de examinar a questo da doao de rgos de crianas anenceflicas, concluiu
que s era legtima aps a sua morte, quer ela tenha ocorrido por cessao da funo cardaca
ou da funo cerebral [40]. Em 1995, o Council reviu a sua posio, considerando eticamente
aceitvel remover rgos para transplantao de recm-nascidos anenceflicos antes da sua
morte, desde que haja consentimento dos pais e o diagnstico de anencefalia seja confirmado
por dois mdicos, com especial competncia nesta matria e que no pertenam equipa de
transplantao [40]. O Council justificou a sua mudana de opinio com o benefcio resultante da
melhoria da qualidade de vida ou do salvamento da vida de muitas crianas e tambm do
31
benefcio para os pais dos recm-nascidos anenceflicos que aliviariam o seu sofrimento
psicolgico pelo bem que resultaria para outras criana da doao dos rgos do seu filho [40].
Ainda em 1995, o Council suspendeu a sua opinio anterior porque os seus membros ficaram
preocupados com alguns diagnsticos de anencefalia e com a compreenso acerca da
conscincia nesses recm-nascidos. O Council apelou comunidade cientfica para se envolver
no esclarecimento sobre o verdadeiro estado de conscincia para que no futuro se possam
tomar decises com fundamentao mais segura [42].
As mudanas de opinio descritas mostram bem as dificuldades que esta questo
envolve e que tm a ver com questes ticas, mas tambm com os desenvolvimentos cientficos,
com os sentimentos individuais e com a opinio pblica.
Os conceitos de morte aqui expostos representam a resposta ou a adaptao aos
problemas que a evoluo da medicina suscita. O conceito de morte actualmente vigente, a
morte do tronco cerebral ou cerebral global, teve uma aceitao praticamente universal porque
acaba por ser um compromisso entre os conceitos referidos. Mais do que uma justificao tica,
h razes prticas que levaram sua adopo, nomeadamente, a sua aceitabilidade pela
generalidade das pessoas e das religies e a necessidade de obter rgos para transplantao.
O progresso futuro da medicina poder resolver algumas questes e criar outras. Por
exemplo, a possibilidade de congelar pessoas logo aps a sua morte (ou idealmente antes de
morrer actualmente um crime), de modo a possibilitar no futuro a cura da doena que as
levaram morte, o que criar? Em que condio estariam essas pessoas enquanto congeladas?
REFERNCIAS
1. Aris P. A morte invertida. Em: Aris P, ed. O Homem perante a morte II. Mem Martins:
Publicaes Europa-Amrica 1988b;309-358.
32
2. Catecismo da Igreja Catlica. Coimbra: Grfica de Coimbra. 2 ed. 1999:1014.
3. Catecismo da Igreja Catlica. Coimbra: Grfica de Coimbra. 2 ed. 1999:1035.
4. Murphy JG. Rationality and the fear of death. Em: Fischer JM, ed. The metaphysics of death.
Stanford, California: Stanford University Press; 1993:43-58.
5. Espinoza B. Da servido humana ou das foras das afeces: proposio LXVII. Em
Espinoza B. tica. Lisboa: Relgio Dgua Editores, 1992:423-424.
6. Rosenbaum SE. How to be dead and not care: a defence of Epicurus. Em: Fischer JM, ed.
The metaphysics of death. Stanford, California: Stanford University Press; 1993:117-134.
7. Nagel T. Death. Em: Fischer JM, ed. The metaphysics of death. Stanford, California: Stanford
University Press; 1993:61-69.
8. Feldman F. Some Puzzles about the evil of death. Em: Fischer JM, ed. The metaphysics of
death. Stanford, California: Stanford University Press; 1993:307-326.
9. Brueckner AL, Fischer JM. Why is death bad? Em: Fischer JM, ed. The metaphysics of
death. Stanford, California: Stanford University Press; 1993:219-229.
10. Fischer JM. Introduction: death, metaphysics, and morality. Em: Fischer JM, ed. The
metaphysics of death. Stanford, California: Stanford University Press; 1993:3-30.
11. Williams B. The Makropulos case: reflections on the tedium of immortality. Em: Fischer JM,
ed. The metaphysics of death. Stanford, California: Stanford University Press; 1993:73-92.
12. Catecismo da Igreja Catlica. Coimbra: Grfica de Coimbra. 2 ed. 1999:2280.
13. Beauchamp TL, Childress JF. Nonmaleficence. Em: Beauchamp TL, Childress JF. Principles
of biomedical ethics. New York: Oxford University Press. 5 ed. 2001a:113-164.
14. Diaz C. Pessoa. Em: Cortina A ed. Dez palavras chave em tica. Palheira: Grfica de
Coimbra. 281-318.
15. Locke J. Of identity and diversity. Em: An essay concerning human understanding. Book II:
cap XXVII. New York: Prometheus Books; 1995:241-277.
33
16. Kant I. Transio da filosofia moral popular para a metafsica dos costumes. Em:
Fundamentao da metafsica dos costumes. Lisboa: Edies 70;2003:39-91.
17. Engelhardt HT. The context of health care: persons, possessions, and states. Em: The
foundations of bioethics. New York: Oxford University Press, 2 ed; 1996a:135-188.
18. Singer P. Beyond the discontinuous mind. Em: Singer P. Rethinking life and death. New
York, NY: St. Martins Griffin; 1994a:57-80.
19. Keating B. Pessoa potencial. Em: Hottois G, Parizeau MH, eds. Dicionrio de Biotica.
Lisboa: Instituto Piaget; 1998:105-110.
20. Catecismo da Igreja Catlica. Coimbra: Grfica de Coimbra. 2 ed. 1999:2270.
21. Pallis C. Reappraising death. BMJ 1982;285:1409-1412.
22. Gillon R. Death. J Med Ethics 1990;16:3-4.
23. Aris P. O morto-vivo. Em: Aris P, ed. O Homem perante a morte II. Mem Martins:
Publicaes Europa-Amrica 1988a;122-134.
24. Faria R. O diagnstico de morte: morte cerebral. Em: Archer L, Biscaia J, Osswald W, eds.
Biotica. Lisboa: Editorial Verbo; 1996:372-377.
25. Mollaret P. Goulon M. Le coma dpass : mmoire prliminaire. Revue Neurologique
1959 ;101 : 3-15.
26. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of
Brain Death. A definition of irreversible coma. JAMA 196;:205:85-88.
27. Declarao da Ordem dos Mdicos sobre os critrios de morte cerebral (prevista no artigo
12 da Lei n 12/93, de 22 de Abril). Dirio da Repblica I Srie B, n 235, 11.10,1994.
28. Verspieren P. Critrios de morte. Em: Hottois G, Parizeau MH, eds. Dicionrio de Biotica.
Lisboa: Instituto Piaget; 1998:105-110.
29. McConnell JR. The ambiguity about dearh in Japan: an ethical implication for organ
procurement. J Med Ethics 1999;25:322-324.
34
30. Rix BA. Danish ethics council rejects brain death as the criterion of death. J Med Ethics
1990;16:5-7.
31. Lamb D. Death and reductionism: a reply to John F Catherwood. J Med Ethics 1992;18:40-
42.
32. The Multi-Society Task Force on PVS. Medical aspects of the persistent vegetative state. N
Engl J Med 1994;330:1499-1508.
33. Council on Scientific Affairs and Council on Ethical and Judicial Affairs. Persistent vegetative
state and the decision to withdraw or withhold life support. JAMA 1990;263:426-430.
34. Engelhardt HT. The endings and beginnings of persons: death, abortion, and infanticide. Em:
The foundations of bioethics. New York: Oxford University Press, 2 ed; 1996b:239-287.
35. Rich BA. Postmodern personhood: a matter of consciousness. Bioethics 1997;11:206-216.
36. Zeman A. Persistent vegetative state. Lancet 1997;350:795-799.
37. Childs NL, Mercer WN. Brief report: late improvement in consciousness after post-traumatic
vegetative state. N Engl J Med 1996;334:24-25.
38. Schlotzhauer AV, Liang BA. Definitions and implications of death. Hematol Oncol Clin N Am
2002;16:1397-1413.
39. Singer P. Tony Bland and the sanctity of human life. Em: Singer P, ed. Rethinking life and
death. New York, NY: St. Martins Griffin; 1994b:57-80.
40. Council on Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association. The use of
anencephalic neonates as organ donors. JAMA 1995;20:1614-1618.
41. Lafreniere R, McGrath MH. End-of-life issues: anencephalic infants as organs donors. J Am
Coll Surg 1998;187:443-447.
42. Plows CW. Reconsideration of AMA opinion on anencephalic neonates as organ donors.
JAMA 1996;275:443-444.
35
2
ABSTENO OU SUSPENSO DE TRATAMENTOS
A medicina progrediu mais na segunda metade do sculo XX do que tinha progredido
em toda a histria anterior da humanidade. Este progresso baseou-se no desenvolvimento de
medicamentos, tcnicas e dispositivos destinados a curar ou prolongar a vida. Esta evoluo foi,
sem dvida, muito importante para a sade das populaes, mas tambm criou alguns
problemas resultantes do seu uso inadequado, excessivo ou indesejado. Os problemas surgem,
sobretudo, em doentes crticos, terminais, inconscientes ou com alteraes graves e irreversveis
de ordem fsica ou mental.
Neste captulo dedicado absteno ou suspenso de tratamentos, refiro-me aos
tratamentos destinados a prolongar a vida e no aos tratamentos destinados ao controlo de
sintomas e ao bem-estar.
2.1. CUIDAR E TRATAR: OS OBJECTIVOS DA MEDICINA
Com o seu desenvolvimento recente os objectivos da medicina tornaram-se em curar ou
prolongar a vida, como disse acima. No entanto, estes objectivos no esgotam as necessidades
das pessoas. A promoo da qualidade de vida e do conforto so tambm objectivos importantes
e, muitas vezes, os nicos alcanveis.
Usando as doenas oncolgicas como exemplo:
36
O objectivo pode ser a cura, como em alguns casos de leucemia aguda. Para atingir este
objectivo necessrio usar mtodos de tratamento agressivos que podem causar efeitos
txicos intensos com o risco de precipitar a morte do doente. necessrio que os servios
estejam preparados para usar meios de suporte avanado de vida se for necessrio.
Se o objectivo prolongar a vida, como na situao de uma mulher com uma recidiva de um
cancro da mama, em que h uma probabilidade razovel de resposta, os tratamentos
requerem alguma intensidade e podem provocar efeitos txicos por vezes intensos. No
entanto, esses tratamentos so indispensveis para se atingir um objectivo til para o doente
e que tem como resultado lquido um benefcio.
Quando se considera que no h indicao para tratamento especfico da doena porque se
mostrou resistente ou porque o estado fsico do doente o no permite, h que continuar a
tratar a pessoa, agora no com o objectivo de a curar ou prolongar a vida, mas com o
objectivo de obter o melhor bem-estar possvel. Neste caso, necessrio ter em conta que
os tratamentos no devem eles prprios comprometer a qualidade de vida com os seus
efeitos txicos, sob pena de no atingirmos o objectivo proposto.
Finalmente, quando os doentes esto obviamente muito prximos da morte, j nem de
qualidade de vida se pode falar, mas continua a haver um objectivo importante: o conforto.
Ter em mente este objectivo ajuda-nos a tomar decises. De facto, se tivermos dvidas
sobre a execuo de uma determinada aco, podemo-nos perguntar se poder contribuir
para o conforto do doente e a resposta que encontrarmos para essa pergunta nos dir se
devemos executar essa aco.
Nem sempre o objectivo se pode definir com clareza partida. Alm disso, os objectivos so
definidos inicialmente em termos de probabilidade, pelo que se podem revelar inalcanveis
mais tarde. Quando assim, o objectivo tem de ser redefinido e a estratgia reformulada. Dentro
37
desta legtima incerteza, no estdio de desenvolvimento da medicina actual, necessrio muitas
vezes iniciar um tratamento agressivo, mas se o seu fracasso se tornar evidente tambm
necessrio interromp-lo e no persistir obsessivamente no mesmo caminho.
Estes objectivos descritos no so mutuamente exclusivos. Curar e prolongar a vida no
so incompatveis com a promoo da qualidade de vida; ao contrrio, estes objectivos devem
ser conjugados sempre que possvel. Efectivamente, os tratamentos tm com frequncia um
efeito misto: o tratamento de um cancro do esfago com cirurgia, quimioterapia ou radioterapia,
dependendo da situao, destinados a curar ou deter a sua progresso podem ser os mais
eficazes para resolver a disfagia; por outro lado, o controlo da dor pode prolongar a vida por
melhorar a mobilidade e o humor; h ainda outros tratamentos, usados por exemplo em cuidados
paliativos, que tm como finalidade principal prolongar a vida como a alimentao artificial por
meio de sonda nasogstrica, gastrostomia, ou outros, em doentes com disfagia e com um estado
fsico e mental razovel. No entanto, definir o objectivo principal importante para se tomarem
decises. Perder a oportunidade de curar um doente um erro grave, mas tambm o no
reconhecer que o doente no pode ser curado e de que precisa exclusivamente de medidas
destinadas a melhorar o seu bem-estar ou o seu conforto.
2.2. TRATAMENTOS ORDINRIOS E EXTRAORDINRIOS
A distino entre tratamentos ordinrios e extraordinrios tem uma longa tradio na
histria da medicina. Esta distino foi desenvolvida por telogos da Igreja Catlica para lidar
com os problemas da cirurgia, anteriormente ao desenvolvimento da assepsia e da anestesia,
para determinar se a recusa de tratamento de um doente poderia ser classificada como suicdio
[1]. Assim, a recusa de meios ordinrios de tratamento era considerada suicdio, enquanto que a
recusa de meios extraordinrios no o era. Este conceito pode-se estender atitude dos
38
familiares e dos profissionais de sade. Esta terminologia largamente usada nos meios
mdicos e judicirios.
Os termos tratamento ordinrio e extraordinrio tm sido interpretados de vrios modos
atravs do tempo. Uma das mais vulgares a de considerar ordinrio como significando habitual
e extraordinrio como significando no habitual [1]. Outros critrios para distinguir tratamentos
ordinrios de extraordinrios so: simples ou complexo, natural ou artificial, no invasivo ou
invasivo, barato ou caro, de rotina ou herico [1]. Mais recentemente tm-se utilizado as
expresses tratamento proporcionado ou desproporcionado e obrigatrio ou opcional.
Estas designaes so vagas e no permitem tomar decises nas situaes concretas,
embora alguns dos critrios indicados sejam elementos a ter em conta. Isto quer dizer que, se os
benefcios esperados forem equivalentes, se devem preferir os tratamentos simples, no
invasivos e baratos aos complexos, invasivos e caros. No entanto, os elementos fundamentais
da deciso devem ser os benefcios e os inconvenientes para o doente, o balano entre estes,
os desejos do doente e os recursos disponveis. A ponderao dos benefcios e inconvenientes
envolve um grau elevado de impreciso, mas um exerccio indispensvel no processo de
deciso Os benefcios e inconvenientes devem ser avaliados pelos doentes competentes, se
estes assim o desejarem, porque s da sua perspectiva tem sentido essa avaliao. No entanto,
se a probabilidade de benefcio for mnima e os inconvenientes forem muito grandes numa dada
situao concreta, o tratamento no deve ser feito e, neste caso, no deve ser discutido com o
doente [2]. No tem sentido discutir um tratamento com um doente para depois lhe dizer que no
se est disposto a realiz-lo. Por exemplo, no tem sentido discutir com um doente com um
cancro avanado e com uma sobrevivncia previsvel de dias a algumas semanas a
possibilidade de fazer RCP.
39
2.3. ABSTENO E SUSPENSO DE TRATAMENTOS
Tanto profissionais da sade como familiares de doentes tendem a considerar que h
uma diferena importante entre no iniciar (absteno) e interromper (suspenso) um
tratamento. Por exemplo, no iniciar ventilao assistida num doente com uma doena pulmonar
obstrutiva crnica grave, que desenvolveu uma insuficincia respiratria, no considerado, em
geral, igual a interromper esse tratamento, uma vez iniciado, por no haver melhoria da situao
do doente. Isto acontece, provavelmente, porque a suspenso do tratamento associada mais
directamente morte do que a absteno (que se associa mais frequentemente evoluo
natural da doena). A suspenso de um tratamento de suporte da vida pode fazer sentir as
pessoas responsveis e, portanto, culpadas pela morte do doente [1]. , portanto, a diferena
emocional e psicolgica que distingue a absteno da suspenso de tratamentos e no a
distino do ponto de vista tico. Esta diferena est provavelmente ligada impresso negativa
relacionada com a deciso da suspenso do tratamento interpretada como abandono do doente
[3].
Se examinarmos mais detalhadamente a distino entre absteno e suspenso de
tratamentos poderemos chegar a uma concluso diferente. A distino entre no iniciar e
interromper um tratamento por si s no relevante. O importante, mais uma vez, saber se o
tratamento benfico para o doente depois de avaliados os benefcios e os inconvenientes que
esse tratamento pode acarretar. partida no h obrigao de iniciar ou de no interromper um
tratamento depois de iniciado. Acontece muitas vezes que a atitude correcta, isto , a que mais
beneficia o doente, interromper um tratamento que foi iniciado mas que se revelou ineficaz ou
deixou de fazer sentido por as condies se modificarem.
Se pensarmos que aceitvel no iniciar um tratamento de suporte da vida mas no
suspend-lo depois de iniciado, podemos tomar atitudes que no beneficiam os doentes:
40
Manter um tratamento de suporte da vida que se mostrou ineficaz ou deixou de fazer sentido
devido evoluo da doena;
No iniciar um tratamento que poderia beneficiar o doente com o receio de depois no o
poder interromper mais tarde se se revelar ineficaz ou inadequado.
A justificao para iniciar ou continuar um tratamento deve ser a mesma: o benefcio do
doente. A nfase da justificao deve estar em continuar o tratamento e no na sua suspenso,
isto , no devemos perguntar se a suspenso do tratamento beneficia o doente mas sim se o
tratamento em curso o beneficia [3]. Continuar um tratamento que no beneficia o doente no
agir no seu melhor interesse, pelo que eticamente errado.
Em medicina h muitas situaes de incerteza, em que impossvel determinar com
preciso o benefcio que um tratamento pode ter, assim como todos os seus inconvenientes. Em
muitos casos, a melhor atitude a tomar ser iniciar o tratamento mas estar preparado para o
interromper se no atingir os objectivos pretendidos. Assim se evita prejudicar os doentes por
excesso ou por defeito.
2.4. FUTILIDADE
Uma aco ftil se tem muito baixa probabilidade de atingir um objectivo ou como
afirmaram Schneiderman e col. a futilidade refere-se a uma expectativa de sucesso to
improvvel que a sua exacta probabilidade muitas vezes incalculvel [4]. Relatos de um ou
dois casos de sucesso no contrariam a considerao de futilidade em casos semelhantes
porque h uma grande variedade de factores para alm do tratamento que podem influenciar o
resultado final; nestes casos os sucessos no podem ser previsivelmente repetidos pelo que a
sua causalidade duvidosa. Assim, a futilidade de uma aco s se pode discutir com um
objectivo definido. A avaliao da futilidade de uma aco pode ser quantitativa e qualitativa. A
avaliao quantitativa define a probabilidade de atingir o objectivo e a qualitativa define se vale a
41
pena atingir esse objectivo. Ou por outras palavras, a futilidade deve definir-se por dois critrios:
ausncia de eficcia mdica, julgado pelo mdico e ausncia de sobrevivncia com significado,
julgado pelos valores pessoais do doente [5]. Estes dois tipos de avaliao so
interdependentes.
Na prtica, porm, definir quantitativamente e qualitativamente a utilidade de uma aco
pode ser muito difcil. Foram propostas vrias definies, como por exemplo:
Futilidade fisiolgica [4]: se um tratamento no pode atingir o seu objectivo fisiolgico e,
portanto, no beneficia fisiologicamente o doente, o profissional no tem obrigao de o
executar. Por exemplo, o objectivo fisiolgico da RCP manter um dbito cardaco e a
respirao, em caso de insuficincia crdio-respiratria, e s ser ftil quando for impossvel
realizar massagem cardaca eficaz (ruptura cardaca) ou ventilao (obstruo respiratria).
Este conceito de futilidade fisiolgica tem a vantagem de no implicar qualquer interferncia
dos valores dos profissionais no julgamento da situao [6]. Porm, aplica-se a muito
poucas situaes. Para alguns, a futilidade fisiolgica a nica defensvel. No entanto,
manter a actividade fisiolgica no o nico objectivo da medicina, necessrio analisar se
as aces beneficiam ou no os doentes.
Schneiderman e col. [7]: um tratamento ftil se os mdicos concluem que nos ltimos 100
casos semelhantes o tratamento foi intil. Qualitativamente a inutilidade definida como
morte, inconscincia permanente ou dependncia permanente de cuidados intensivos.
Quantitativamente isto significaria que se poderia estar 95% confiante de que no mais do
que 3 sucessos poderiam ocorrer em cada 100 casos comparveis. Embora os nmeros
propostos sejam arbitrrios, esta proposta tenta ser mais precisa do que as que se referem
apenas a probabilidades muito baixas de sucesso.
42
Porm, h crticos desta posio que perguntam quo semelhantes devem ser os casos
para se poder definir o tratamento como ftil. Por exemplo, se para avaliar a eficcia da
ventilao mecnica numa pneumonia basta ver o que aconteceu nos ltimos 100 casos ou se
importante estratificar de acordo com a idade, o agente etiolgico ou doenas coexistentes,
factores que provavelmente tero importncia do ponto de vista clnico [6]. Outra crtica a de
se, ao aceitar que uma percentagem dos doentes podem ter a sua teraputica suspensa
inapropriadamente em nome da futilidade, se aceita que, numa certa percentagem o benefcio
de limitar apropriadamente a teraputica ultrapassa a maleficncia de a limitar
inapropriadamente. Quanto a esta ltima crtica, necessrio notar que no podemos pensar
apenas nos 3%, no mximo, que podem ter sido prejudicados por este critrio de futilidade,
necessrio ter tambm em ateno os 97%, no mnimo, que podem ter um fim de vida penoso
ou degradante por no ter sido considerada a futilidade da aco.
Para Murphy and Finucane [8] a preocupao principal de limitar a RCP a conteno de
custos. Assim, a RCP no deve ser considerada um padro de tratamento para doentes com
patologias cuja probabilidade de sobreviverem para terem alta hospitalar seja inferior a 3%. E
identificaram grupos de doentes, baseados nos dados disponveis, que cumpriam esse
critrio:
Doenas progressivas e letais
Cancro metasttico (doente acamado)
Cirrose classe C de Child
Infeco por VIH (doentes com 2 episdios de pneumonia por Pneumocystis
carinii)
Demncia de longa data
Doenas agudas, quase fatais, sem melhoria aps admisso numa UCI
Coma (traumtico ou no) com > 48 h de durao
43
Falncia de mltiplos rgos sem melhoria aps 3 dias consecutivos numa UCI
RCP sem sucesso fora do hospital
A estes doentes os mdicos no ofereceriam RCP e os familiares no teriam o direito de a
exigir.
Ftil seria ento um tratamento que tem uma probabilidade to baixa de ser bem sucedido
que muitas pessoas - profissionais ou no - o consideraro como no valendo o custo.
Reconhecem, no entanto, que a questo da definio de futilidade encontra o seu obstculo
principal que no estabelecer um consenso sobre o seu limiar, isto , se 3%, 1%, 0,1% ou
qualquer outro valor, porque a prtica da medicina se baseia em probabilidades, mas em
comprometer a autonomia do doente. Por isso, em vez da autoridade dos mdicos, propem um
acordo social em que as comunidades locais determinariam para que estdios de doenas as
teraputicas deveriam ser consideradas fteis atravs de consrcios de representantes que
integrariam profissionais e no profissionais representantes das populaes, representantes dos
governos, etc.
Para Murphy e Finucane o objectivo expresso o controlo dos custos. Portanto, a
questo aqui uma poltica de racionamento e no de futilidade.
Outro mtodo possvel as instituies estabelecerem os seus critrios indicando que
intervenes so consideradas fteis em circunstncias definidas.
O Council on Ethical and Judicial Affairs da Associao Mdica Americana props no uma
definio mas um processo para considerar casos de futilidade [9]. O processo comea por
se tentar um consenso entre o doente, a famlia e o mdico sobre o que ftil e o que cai
dentro de limites aceitveis para todos. Se tal no for possvel so envolvidas outras
pessoas para facilitar a discusso e, eventualmente, a comisso de tica da instituio, ou
outra entidade semelhante. Se no houver acordo apesar dos passos anteriores pode
considerar-se a transferncia dos cuidados dentro da instituio e, se tal no for possvel, a
44
transferncia para outra instituio. Se esta transferncia no for vivel e se o pedido do
doente ou da famlia for inaceitvel para a maioria dos profissionais de sade em termos
ticos ou em termos dos padres profissionais a interveno no tem de se realizar.
Presentemente no h um consenso na definio de futilidade mdica e muitos pensam
que a futilidade mdica no pode ser claramente definida. H quem pense, tambm, que envolve
julgamentos baseados em valores ocultos e que pode afectar o princpio do respeito pela
autonomia do doente. A probabilidade de xito de uma determinada aco mdica na maioria
dos casos difcil de determinar, podendo haver discordncia entre os mdicos. Por outro lado,
pode haver discordncia quanto probabilidade abaixo da qual o tratamento pode ser
considerado ftil. Tambm os doentes podem ter uma opinio diferente quanto probabilidade
abaixo da qual consideram no valer a pena executar uma determinada aco. Quanto aos
critrios qualitativos, se os profissionais projectarem os seus valores e o que eles prprios
consideram como uma vida que vale a pena ser vivida podem tomar decises arbitrrias e
incompatveis com o que os doentes envolvidos pensam.
Outra questo o medo de que a definio de tratamento ftil se expanda e d origem a
aplicaes inadequadas ou a abusos (teoria da rampa deslizante). De facto, um estudo mostrou
que em 32% dos casos julgados fteis por internos, a probabilidade calculada (pelos internos) de
sobrevivncia aps RCP era de 5% ou mais; em 20% a probabilidade calculada era de 10% ou
mais; e a probabilidade de considerar o tratamento ftil foi maior em no brancos [10].
Tenho falado apenas de RCP porque a literatura mdica que aborda a questo da
futilidade predominentemente a refere, mas o conceito de futilidade pode aplicar-se a muitas
outras situaes: ventilao mecnica, hemodilise, insero de pace-makers, quimioterapia,
cirurgia, nutrio artificial, hidratao artificial, transfuses de sangue e outros produtos,
antibiticos, cateteres intravenosos (IV).
45
Numa poca em que a conteno dos custos e o racionamento nos cuidados de sade
um objectivo generalizado, os mdicos e outros profissionais de sade devem ter conscincia
que essa conteno necessria e devem nela colaborar. No entanto, essa necessidade no
deve ser confundida com o conceito de futilidade, no devendo ser invocada a futilidade como
subterfgio para limitar o acesso a recursos escassos e caros. No entanto, invocar a futilidade
politicamente mais correcto do que invocar a necessidade de racionar os meios, mas um
engano inaceitvel.
No aceitvel, tambm, invocar a futilidade de um tratamento para evitar discusses
difceis quando se prev que o doente ou a famlia vo discordar da opinio do mdico.
Alpers e Lo [11] sugerem que o conceito de futilidade no aceitvel porque tendo a
aparncia de ser objectivo, na verdade no o e envolve julgamento sobre valores. A deciso
de a aco ser certa ou errada no interesse do doente deve determinar-se por consenso entre o
mdico, o doente e a famlia e no por um clculo de probabilidade. Nos casos raros de conflito
teria de ser envolvida uma terceira parte - opinio mdica, comisso de tica ou tribunal - para
resolver o conflito. Sugerem mesmo que a presuno de que todos os doentes devem ter RCP, a
no ser que uma ordem de no-ressuscitao tenha sido escrita, deve ser revista e que seria
prefervel que, em servios gerais de internamento, os doentes ou os seus representantes
fossem informados sobre a RCP e que lhes fosse pedida uma ordem escrita para a tentar [11].
Em minha opinio, a futilidade um conceito profissional que permite tomar decises de
absteno ou suspenso de tratamento unilateralmente, portanto, sem atender s preferncias
dos doentes ou dos seus familiares. Creio que importante tentar definir objectivamente as
situaes em que beneficiar um doente com certas actuaes agressivas quase impossvel,
embora o seu alcance seja limitado. As instituies podem definir os seus critrios para
determinar da futilidade de algumas aces em situaes determinadas. No entanto, a variedade
de situaes possveis incompatvel com definies que as englobem todas. Nos casos que
46
no esto bem definidos, a avaliao da futilidade de um determinado tratamento deve ser feita,
sempre que possvel, em equipa e no apenas por um mdico isoladamente. No processo de
deciso, h que em primeiro lugar comunicar e discutir a situao com o doente e,
eventualmente, os seus familiares, sobre as decises que o podem beneficiar, tentando chegar a
um consenso, em que todos compreendam os benefcios e inconvenientes que determinada
aco acarreta. Como sempre, o objectivo beneficiar o doente e no apenas atingir um
objectivo tcnico. O doente tem uma palavra fundamental nesta discusso porque s ele pode
determinar o que para ele aceitvel e com que qualidade de vida ele est disposto a viver. No
entanto, os profissionais no so obrigados a aceitar o que vai contra os seus princpios ticos e
profissionais. Em alguns casos a comisso de tica da instituio pode dar um contributo para a
resoluo de discordncias. E quando a discordncia insanvel deve-se considerar a
transferncia do doente dentro da instituio ou para outra instituio, se tal for exequvel.
2.5. O PROCESSO DE DECISO
2.5.1. Autonomia
A capacidade de fazer escolhas autnomas um aspecto essencial da tica em geral e
da tica mdica em particular, nomeadamente, no que respeita s decises relacionadas com os
problemas do fim de vida. Para uma escolha ser autnoma necessrio que haja compreenso
e liberdade. A compreenso e a liberdade, porm, no so absolutas. Fazemos vrias escolhas
sem termos uma compreenso completa do assunto (ser mesmo difcil saber o que isso seria) e
sob vrias influncias. Por exemplo, quando compramos um carro no fazemos a escolha
conhecendo todos os detalhes tcnicos do carro nem das opes possveis e, por outro lado,
podemos ser influenciados pela publicidade, pelo vendedor ou por outras pessoas e, no entanto,
a deciso final nossa. Os doentes, mesmo na fase final da vida em que so frequentes
47
alteraes cognitivas de intensidade variada e cuja dependncia e fragilidade os torna mais
vulnerveis, podem, ainda assim, exprimir muitas vezes a sua vontade. A autonomia no ,
portanto, uma questo de tudo ou nada, mas representa um contnuo, desde totalmente presente
at totalmente ausente [12]. Se considerarmos a autonomia como uma questo de tudo ou nada,
poucas das nossa aces poderiam ser consideradas autnomas.
Os crticos dos defensores do primado da autonomia na tica mdica referem que estes
esto menos preocupados com o que os doentes querem de facto do que com o que os doentes
deveriam querer [12]. Para os doentes fazerem escolhas e, portanto, exercerem a sua
autonomia, devem ter informao adequada. Acontece, porm, que h doentes que no querem
informao, ou, pelo menos, no querem a informao suficientemente detalhada que seria
necessria para uma deciso, e outros podem no querer participar nessas decises. Este
argumento usado para desvalorizar a relevncia da autonomia como elemento fundamental
das decises mdicas, mas a rejeio da informao ou da participao nas decises so
tambm opes dos doentes que devem ser respeitadas porque, elas prprias so expresso da
sua autonomia. Outro argumento usado contra a relevncia da autonomia o que se baseia em
estudos que mostram que, em algumas culturas, muitos doentes, sobretudo os mais idosos, no
desejam informao nem participar nas decises [13,14], podendo a famlia assumir a
responsabilidade de ouvir as ms notcias sobre o diagnstico e o prognstico dos doentes e
tomar as decises [14]. Estes estudos, porm, representam a opinio de indivduos pertencentes
a essas culturas e no a dos doentes com doenas graves. Quando so os doentes a manifestar
a sua vontade de no querer conhecer o diagnstico ou o prognstico ou no querer tomar
decises, delegando-as noutros, tambm esto a exercer a sua autonomia. Deve dizer-se aqui
que, alm de ser uma opo dos indivduos, no se deve presumir por isso o que um doente
pertencente a uma determinada cultura pretende, devendo ser respeitada a individualidade de
cada doente e dar-lhe oportunidade de manifestar os seus desejos. As questes culturais no
48
devem ser usadas como justificao para atitudes paternalistas em relao participao dos
doentes.
A autonomia dos doentes deve ento ser respeitada, pelo que no legtima qualquer
interveno mdica numa pessoa sem o seu consentimento. Porm, a autonomia no tem um
valor absoluto, antes um valor prima facie j que pode haver outros aspectos a considerar, por
exemplo:
Os desejos do doente vo contra o que os profissionais consideram correcto do ponto de
vista das suas normas profissionais e ticas;
O doente deseja uma interveno para a qual no h recursos;
A deciso do doente pode produzir dano srio e identificvel a outros, como na recusa de
fazer uma teraputica antituberculosa;
O doente tenta deliberadamente causar dano a si prprio;
Quando o tratamento pedido ftil ou contra-indicado.
autonomia atribudo justificadamente um valor particular, sobretudo na Amrica do
Norte e em muitos pases europeus, mas h circunstncias em que os desejos dos doentes no
podem ser atendidos porque colidem com outros princpios a ter em conta.
2.5.2. Competncia
A competncia a capacidade de realizar uma tarefa [12]. Este conceito aplica-se a
qualquer contexto. Quando aplicado tomada de decises, o conceito de competncia liga-se ao
conceito de autonomia. Os indivduos so competentes se tm a capacidade de compreender a
informao que lhes prestada, fazer um julgamento sobre ela e comunicar a sua deciso [12].
Assim, uma pessoa para ser autnoma tem de ser competente.
49
Tal como referi em relao autonomia, a competncia no uma questo de tudo ou
nada. H diferentes graus de competncia que vo desde a competncia mais completa at
inaptido total. Em termos prticos importante estabelecer um limiar abaixo do qual os
indivduos sero considerados incompetentes, independentemente do grau de incompetncia, e
acima do qual todos os indivduos sero considerados competentes, independentemente do seu
grau de competncia.
Os doentes so em princpio considerados competentes. Em alguns doentes as
alteraes cognitivas so to profundas que a sua incompetncia se torna evidente, mas h
casos em que as capacidades no esto to diminudas, tornando necessria uma avaliao
precisa. Neste casos, necessrio estabelecer critrios para avaliar a competncia dos doentes
na tomada de decises considerando a sua capacidade de compreender a informao relevante,
de comunicar as opes, de apreciar a situao e as suas consequncias e de manipular a
informao racionalmente [15]. No entanto, esta tarefa pode no ser fcil dado no haver
nenhum instrumento fivel para avaliar esta capacidade [30]. Um indivduo pode ser
incompetente quando [16]:
incapaz de compreender e reter a informao relevante para a deciso, especialmente as
consequncias provveis do tratamento em questo;
incapaz de usar a informao e avali-la no processo de deciso.
A incompetncia pode ser reversvel, como em alguns casos de delirium ou quando
provocada pela medicao, situaes em que o tratamento adequado pode permitir ao doente a
recuperao da sua capacidade de deciso. O problema mais difcil na avaliao da
competncia a recusa do doente em cooperar [15].
Para alguns autores o nvel de competncia requerido pode diferir com o risco envolvido
na deciso requerida. Segundo James Drane, h trs categorias gerais de situaes mdicas:
tratamentos fceis e eficazes, tratamentos menos certos e tratamentos arriscados [17]. Para os
50
tratamentos fceis e eficazes, que so bvia e objectivamente feitos de acordo com os melhores
interesses dos doentes, o conhecimento da situao e o assentimento s expectativas racionais
de outros seria o padro pelo qual o consentimento seria aceite como vlido. Para os
tratamentos menos certos ou arriscados o padro de competncia ter de ser mais rigoroso [17].
Para outros autores, como Mark Wicclair a competncia tem apenas a ver com as
capacidades internas [18]. Isto , o que est em causa no a escolha que a pessoa realmente
faz, nem os riscos envolvidos na escolha, mas se tem capacidade de tomar decises do tipo em
questo. A competncia neste sentido um atributo da pessoa e determinado apenas na base
das capacidades da pessoa em questo [17]. Portanto, a pessoa tem a capacidade de deciso
ou no tem, independentemente do risco envolvido na deciso. O padro de competncia
relacionado com o risco da deciso envolve outra dificuldade. De facto, implica que a
competncia seja assimtrica, quer dizer, para uma deciso sobre o mesmo assunto a
competncia requerida pode ser diferente dependendo de ser de concordncia ou de recusa.
Como, as recomendaes do mdico so, em geral, consideradas como as mais seguras ou
melhores a competncia requerida para as recusar seria maior do que a requerida para as
aceitar.
No entanto, h uma questo diferente que a de se considerar que h mais fortes
razes para nos assegurarmos que uma pessoa competente quando a deciso envolve um
risco maior ou parece resultar num risco maior para ela. Por exemplo, se uma pessoa rejeita
medidas para lhe prolongar a vida e essa medidas obviamente no lhe oferecem um benefcio
razovel no h razo para explorar aprofundadamente a capacidade de deciso. Mas se essas
medidas beneficiassem o doente com uma probabilidade razovel e a pessoa recusasse, ento
seria essencial certificarmo-nos de que ela tinha capacidade para decidir [18]. Resumindo, a
necessidade de avaliar mais rigorosamente a capacidade de deciso de uma pessoa quando a
51
deciso parece ir contra os seus melhores interesses, no implica que o padro de capacidade
de deciso varie com o risco da deciso.
2.5.3. Consentimento informado
A expresso consentimento informado (informed consent) foi introduzido nos EUA, numa
deciso proferida por um tribunal da Califrnia, em 1957 [19]. A doutrina do consentimento
informado teve assim uma origem no direito.
O consentimento informado ser aqui referido apenas nos seus aspectos relacionados
com os cuidados mdicos. Obter um consentimento informado do doente um modo de actuar
prefervel a ser o mdico a determinar o que deve ou no ser dito, segundo os seus hbitos ou
os hbitos do servio onde trabalha, ou segundo uma referncia a um hipottico indivduo
razovel.
Podem considerar-se vrios elementos no consentimento informado: revelao da
informao, competncia, compreenso, deciso, e voluntariedade [20]. Segundo este modelo a
informao revelada por um mdico a um doente competente que compreende a informao e
voluntariamente decide aceitar ou recusar a proposta do mdico [20].
A revelao da informao a dar uma questo que se tem discutido extensamente e,
frequentemente, o nico aspecto a ser considerado quando o consentimento informado
abordado. De facto, a revelao da informao um passo essencial no processo do
consentimento informado que deve satisfazer as necessidades individuais dos doentes. Os
mdicos devem ajud-los a obter a informao necessria para tomarem decises, visto que os
doentes podem no saber qual a informao importante. No informar intencionalmente, o
privilgio teraputico, pode ser legtimo em algumas situaes como nas emergncias, em
doentes incompetentes ou em caso de renncia [12].
52
Para se chegar a uma deciso racional indispensvel compreender a informao que
se recebe. A compreenso pode no ser completa mas os elementos essenciais deciso
devem ser compreendidos. Porm, a compreenso da informao pode ser influenciada por
muitos factores:
Os conceitos que os mdicos usam, mesmo quando tentam simplificar a linguagem, podem
no corresponder ao que os doentes entendem com os mesmos termos;
Muitos doentes tm dificuldade em compreender conceitos novos, necessitando de um
especial empenhamento da parte dos profissionais para os levar a fazer ideia do que est
em causa;
Demasiada informao pode dificultar a compreenso;
Os doentes podem distorcer a informao;
O modo como a informao fornecida. Por exemplo, na discusso dos riscos de um
procedimento, a deciso dos doentes difere se forem apresentados como um ganho de
oportunidade ou como uma perda de oportunidade [12];
Negao da situao pelo doente;
Falsas crenas [12].
Estes e, eventualmente, outros factores podem influenciar a compreenso da informao
fornecida e, portanto, a capacidade de decidir autonomamente.
A voluntariedade no contexto deste trabalho refere-se actuao ou deciso de um
indivduo sem o controlo de outra pessoa, semelhana do conceito de Beauchamp e Childress
[12]. Pode-se exercer influncia sobre uma pessoa de uma forma positiva, mostrando-lhe
honestamente as vantagens de aderir a um determinado esquema teraputico, mas tambm os
seus riscos. Em alguns casos os doentes podem mesmo desejar a influncia dos profissionais
de sade, sobretudo, dos mdicos, deixando por vezes a cargo destes as decises que
considerarem melhores, por no se sentirem habilitados a tom-las. Em casos de decises
53
irracionais h mesmo a obrigao de tentar persuadir o doente a tomar uma deciso diferente.
No entanto, a coaco ou a manipulao no so legtimas.
Porque a doutrina do consentimento informado teve origem e formulada principalmente
no direito, presta especial ateno revelao da informao racional e compreenso da
informao pelo doente. O conceito do consentimento informado pressupe que os doentes
quando adequadamente informados ponderam os riscos e os benefcios das alternativas
teraputicas que lhe so apresentadas. No entanto, parece que na prtica clnica os aspectos
afectivos tm precedncia sobre os cognitivos [20]. De facto, vrios estudos demonstram que na
sua maioria os doentes tm razes independentes e decidem na base de crenas pessoais
mesmo antes de o mdico os informar [20].
O processo formal do consentimento informado no deve tornar-se num modo de
delegar toda a carga da deciso mdica no doente, isolando-o do suporte da famlia e do seu
mdico, limitando a responsabilidade mdica [21].
2.5.4. Doentes incompetentes
Quando um doente est incompetente as decises devem estar de acordo com os seus
melhores interesses. Actuar-se segundo o melhor interesse de um doente concreto significa
obter o melhor bem-estar possvel, o que s pode ser determinado avaliando os riscos e
benefcios das vrias alternativas de tratamento, tendo em conta a qualidade de vida [12].
Devem, contudo, ser tidas em conta as preferncias expressas pelo doente quando competente,
sempre que possvel.
O julgamento delegado significa que as decises sobre o tratamento de um doente
incompetente so tomadas por outra pessoa, em geral, um familiar, que representa o doente. O
julgamento delegado no deve aplicar-se a situaes em que o doente nunca foi competente,
porque este tipo de julgamento deve limitar-se a ajudar a esclarecer o que o doente quereria nas
54
circunstncias actuais se fosse competente e no o que essa pessoa quereria para o doente e,
nestas circunstncias, no h a possibilidade de o doente ter e expressar qualquer preferncia.
Geralmente o representante o familiar mais prximo. No entanto, este pode no ser o
mais adequado por no ter capacidade para compreender a situao, por no se achar
habilitado a decidir, por no ter proximidade com o doente, por haver conflitos de interesses
financeiros ou emocionais, etc. (pode mesmo no existir qualquer familiar). Nestas
circunstncias pode outro membro da famlia desempenhar esse papel. O ideal seria haver uma
pessoa designada pelo doente quando competente procurador de cuidados de sade. de
notar que as famlias so entidades heterogneas e que os seus membros nem sempre actuam
nos melhores interesses dos outros elementos; sabe-se at que no seio da famlia que se
cometem os maiores crimes. Deve notar-se ainda que o conceito clssico de famlia tem-se
modificado, pelo que no so, com frequncia crescente, os familiares legalmente designados as
pessoas mais prximas e mais interessadas no bem-estar do doente. Seja como for, a pessoa
designada deve actuar como um advogado do doente, a fim de defender o melhor interesse do
doente, e no adoptar uma atitude imparcial ou neutral [1].
As decises dos familiares devem ser consistentes com os melhores interesses do
doente, o que muitas vezes se interpreta como as decises que adultos razoveis tomariam na
mesma situao [22]. Os profissionais de sade, sobretudo os mdicos, tm a obrigao de
ajudar os familiares a tomar decises no melhor interesse do doente e a cumprirem as suas
preferncias quando estas forem conhecidas [1]. Os profissionais de sade devem, no entanto,
recusar decises que no estejam de acordo com os princpios acima indicados ou que se
revelem desajustadas situao.
Em resumo pode dizer-se que a prioridade deve ser respeitar a autonomia dos doentes e
cumprir os seus desejos expressos. Se estes no forem conhecidos o critrio deve ser o dos
seus melhores interesses.
55
Como j foi dito atrs, em certos casos de desacordo entre os familiares e os
profissionais pode recorrer-se comisso de tica da instituio. Noutras ocasies necessrio
recorrer aos tribunais para resolver algumas situaes complexas, como no caso bem conhecido
de filhos menores de testemunhas de Jeov necessitando de transfuses que os pais recusam,
mas tambm noutras situaes. Nos EUA os tribunais tm um papel muito relevante intervindo
com alguma frequncia em casos controversos. As comisses de tica e os tribunais, como
entidades imparciais, podem ter uma viso mais distanciada do problema em causa e, assim,
conseguir gerar uma discusso mais alargada que permita chegar a uma soluo aceitvel.
Deve notar-se, contudo, que as decises no tm um valor absoluto e, no caso dos tribunais, um
recurso pode gerar uma soluo diferente da anterior.
2.5.5. Directivas antecipadas
Uma forma de respeitar os desejos dos doentes incompetentes so as directivas
antecipadas (DA) produzidas quando o doente estava competente. Em Portugal no existe
tradio nem legislao que regule as DA, mas em pases como os EUA uma prtica corrente.
As DA podem ser de dois tipos: o testamento vital (TV), em que ficam escritas instrues sobre
os procedimentos mdicos que o doente aceita ou rejeita em certas circunstncias; e a
procurao (durable power of attorney) que um documento legal que designa uma pessoa para
tomar as decises em nome do doente. Actualmente, o durable power of attorney a opo mais
frequente nos EUA porque muito difcil, seno impossvel, prever todas as situaes possveis
e todas as opes que cada situao pode envolver.
As DA podem proteger a autonomia dos doentes e reduzir as incertezas e a insegurana
dos familiares e dos profissionais quanto s decises a tomar. Sempre que possvel, as DA
devem ser feitas enquanto o doente est relativamente bem e no quando est muito debilitado
ou em risco de vida iminente.
56
As DA s so vlidas quando se aplicam situao em causa. Os profissionais de
sade devem julgar se a recusa de certos tratamentos aplicvel situao em que o doente
est. Se no for aplicvel, pode ainda assim ajudar a esclarecer os desejos e valores do
indivduo e, deste modo, ajudar a tomar uma deciso que esteja de acordo com o que o doente
desejaria [16]. No entanto, os profissionais no esto vinculados a uma DA que no se aplique
situao em causa.
O TV pode ser um elemento valioso nas decises mas pode tambm causar dificuldades
[1,23]:
A linguagem usada pode ser vaga e imprecisa;
As circunstncias em que os desejos do doente se devem aplicar podem no ser claras,
sendo o TV susceptvel de diversas interpretaes que derivam da projeco das atitudes e
sentimentos dos profissionais e assim resultar em conflitos e controvrsia;
O prognstico do doente pode ser incerto em determinada fase de modo que os profissionais
podem ter opinies diferentes sobre o que fazer;
As preferncias dos doentes podem-se ter alterado e no terem mudado a DA;
O doente pode no fazer uma ideia adequada da amplitude de decises que um profissional
ou um representante pode ser chamado a tomar;
Simplesmente, o documento pode ser desconhecido na altura em que seria necessrio.
As decises por procurao tambm no esto isentas de problemas [1]:
O representante designado pode no estar presente;
O representante pode ser incompetente para tomar decises;
O representante pode ter conflitos de interesses com o doente, por perspectiva de herana,
por exemplo;
57
Os representantes podem tomar decises que vo contra a opinio dos mdicos, podendo
mesmo ir contra a sua conscincia.
Apesar dos problemas descritos, as DA podem ser uma forma vlida de pessoas
competentes exercerem a sua autonomia e devem sempre ser tidas em considerao. No
entanto, se numa emergncia no houver informao sobre qualquer DA do doente o tratamento
deve fazer-se e se, mais tarde, houver conhecimento de uma DA vlida que expresse a recusa
do doente desse tratamento, este deve ser interrompido. Para facilitar o acesso informao
neste domnio, a Associao Portuguesa de Biotica sugeriu recentemente que fosse criado um
Registo Nacional de Directivas Antecipadas de Vontade (RENDAV) [34,35]
2.5.6. Ordens de no ressuscitao
Ao contrrio do que sucede com as outras aces mdicas a RCP no necessita da
autorizao do doente para se realizar, por razes bvias. A massagem cardaca a trax fechado
foi descrita pela primeira vez em 1960 [24]. Actualmente, muitas instituies de sade tm
equipas com profissionais treinados para fazer RCP quando ocorre uma paragem
cardiopulmonar. Cerca de um tero dos doentes submetidos a RCP sobrevive e um tero destes
tem alta hospitalar [24]; apenas uma pequena parte destes retoma uma vida independente. O
doente, porm, pode ter manifestado por escrito o desejo de no ser reanimado - ordem de no
ressuscitao - se sofrer uma paragem cardiopulmonar, geralmente aps discusso com o
mdico responsvel pelo seu tratamento. Neste caso, as ordens de no ressuscitao so um
caso particular das DA. Esta prtica , actualmente, invulgar em Portugal. H circunstncias em
que a RCP no est indicada, como nos casos de doentes com doenas terminais, e, portanto,
inici-la seria ftil. Nesta situao as ordens de no ressuscitao podem ser unilateralmente
escritas pelos mdicos. Esta atitude dos mdicos no deve ser substituda, por receio de
58
problemas jurdicos ou de outra ordem, por fazer RCP com pouco empenho (slow codes) [25], o
que eticamente inaceitvel.
2.6. MATAR E DEIXAR MORRER
A distino entre matar e deixar morrer tem sido usada na argumentao sobre decises
no fim de vida. Matar considerado inaceitvel, enquanto que deixar morrer considerado
aceitvel desde que os tratamentos destinados a prolongar a vida sejam fteis ou haja uma
recusa vlida desse tratamento [1]. Porm, se examinarmos mais profundamente esta questo
podemos concluir que a distino pode ser menos clara e, em certos casos, pouco til para
tomar decises.
H situaes em que a distino controversa. Alguns casos dirimidos nos tribunais
americanos tm revelado situaes em que h discordncias profundas entre os mdicos,
familiares e juizes sobre se uma determinada aco, por exemplo, suspender uma alimentao
por sonda nasogstrica, numa situao determinada, deixar morrer ou matar. Pode acontecer
tambm que se pode matar uma pessoa deixando-a morrer, isto , pode matar-se por omisso e
no apenas por aco. Fora das condies indicadas em cima deixar morrer pode ser uma forma
de matar.
Matar no necessariamente um mal. Pode matar-se em legtima defesa, por exemplo.
Tambm na guerra considerado legtimo matar os inimigos, por motivos semelhantes. Diz-se
que um automobilista matou um peo mesmo que no tenha havido negligncia, para usar um
exemplo semelhante ao usado por Beauchamp and Childress [1], pelo que se pode matar sem
inteno.
Rachels, citado por Perret [26], apresentou dois casos imaginrios para ilustrar a
questo de haver ou no diferena entre matar e deixar morrer. Imagine-se um indivduo A que
receberia uma grande herana se o seu primo de seis anos morresse. Ento, um dia introduz-se
59
no quarto de banho quando ele estava a tomar banho e afoga-o. Arranja as coisas para parecer
um acidente e, como ningum descobre, recebe a herana. O outro caso o de um indivduo B
que tambm receberia uma grande herana se o seu primo de seis anos morresse. Tal como o
indivduo A, planeia mat-lo afogando-o durante o banho. Porm, quando entra no quarto de
banho a criana escorrega, bate com a cabea e mergulha na gua de cara para baixo. O
indivduo B nada faz para a salvar e a criana morre. Ningum descobre o que passou e o
indivduo recebe a herana. Nestes dois casos no h nenhuma diferena moral entre matar e
deixar morrer.
Portanto, matar ou deixar morrer no diz nada sobre se um acto certo ou errado, isto ,
so os elementos extrnsecos e no a diferena moral intrnseca que nos permitem classificar os
actos. Para classificar os actos como certos ou errados necessrio saber qual a justificao
desses actos e as circunstncias que os rodeiam. No entanto, pode dizer-se que matar
geralmente errado e deixar morrer geralmente aceitvel, mas essa frequncia no importante
para a avaliao tica.
2.7. ALIMENTAO E HIDRATAO ARTIFICIAIS
A questo da alimentao e da hidratao artificiais (AHA) particularmente
controversa. Mesmo em situaes em que se concorda que tratamentos, como a RCP, a
hemodilise, o uso de tranfuses, iniciar antibiticos ou outros, no esto indicados, discute-se
muitas vezes se a alimentao e/ou a hidratao artificiais se devem iniciar/manter ou no. Tem
havido um importante debate sobre a obrigao, do ponto de vista tico, de administrar
artificialmente nutrientes e lquidos aos doentes agnicos. A discusso sobre este tema
frequentemente tambm se centra na distino entre tratamentos ordinrios e extraordinrios,
que como disse atrs no pacfica e tem algumas dificuldades. Seria mais til discutir a
60
questo da AHA, como sempre, do ponto de vista dos benefcios e dos inconvenientes para o
doente.
O problema da AHA no se pode confundir com a alimentao e hidratao naturais. Desde
que o doente possa e queira comer e beber h a obrigao de lhe fornecer os meios para o
fazer, assistindo-o se necessitar, e isso no constitui tratamento mdico. Mas quando artificiais,
isto quando necessitam de tcnicas que requeiram a interveno dos profissionais de sade,
como as infuses IV ou subcutneas (SC) e as sondas, so tratamentos mdicos e, como tal, h
circunstncias em que legtimo que no se iniciem ou se interrompam [27]. Essas
circunstncias so aquelas em que se conclui que no h benefcio para o doente em continuar
este tipo de interveno.
A nica justificao para iniciar uma alimentao artificial num doente nestas
circunstncias seria a eventualidade de ter fome, o que no acontece nos doentes agnicos.
Neste caso, o desconforto provocado pela fome justificaria a introduo de uma sonda
nasogstrica e a administrao de alimentos lquidos por esta via, se o doente o aceitasse.
Nesta situao, o benefcio da resoluo do desconforto da fome poderia ser superior ao
desconforto da introduo e da manuteno da sonda nasogstrica, mas a avaliao deveria ser
feita pelo doente.
Em relao hidratao a situao semelhante. A desidratao provocada pela no
administrao de lquidos por via IV ou SC pode causar sede, mas esta pode, em muitos casos,
resolver-se com cuidados locais: molhar a boca com frequncia, gelo modo, etc. A desidratao
pode mesmo ser benfica ao reduzir os edemas; as secrees gastrintestinais e
consequentemente os vmitos; as secrees brnquicas e assim a dispneia e a respirao
estertorosa [28]. Pode, contudo, causar outros problemas como delirium, directamente ou pela
acumulao dos metabolitos dos frmacos administrados devido insuficincia renal secundria.
Por outro lado, a hidratao de um doente agnico pode provocar edemas, aumentar as
61
secrees brnquicas com dispneia e respirao estertorosa, sobretudo quando a albumina est
muito baixa, como comum suceder, sem resolver a sede. Por isso, a atitude que mais beneficia
os doentes a de hidratar quando existe um problema que se julga resultar da desidratao e
no hidrat-los por princpio; se no houver benefcio previsvel ou aps se concluir que no se
verificou o benefcio esperado, no h o dever tico de iniciar ou continuar com a hidratao [27].
Por maioria de razo, tambm no h o dever de iniciar a hidratao ou de a continuar se
potencial ou realmente causar desconforto. No caso de haver dvidas quanto utilidade da
hidratao deve fazer-se um ensaio teraputico, desde que isso no v contra os desejos do
doente [29].
Os mtodos de AHA podem causar problemas, por vezes graves, e assim influenciar
negativamente o bem-estar dos doentes e mesmo a sua sobrevivncia. Por exemplo: as sondas
nasogstricas podem causar pneumonias de aspirao, sobretudo nos doentes debilitados; os
catteres centrais podem causar complicaes na sua insero, como pneumotrax,
hemorragias, infeces; e mesmo as infuses em veias perifricas podem causar dor e infeco.
Ento, a questo do efeito da AHA na sobrevivncia secundria porque, embora possam
influenci-la, no geralmente possvel prever em que sentido, isto , se a morte ocorrer mais
cedo ou mais tarde do que aconteceria se se tivesse procedido de outro modo [27].
Provavelmente, num doente com uma sobrevivncia previsvel de dias a nutrio ou a hidratao
artificiais no tm influncia significativa na sobrevivncia. Mesmo que tivessem, o
prolongamento do tempo de sobrevivncia por meios artificiais de um doente agnico significa
apenas o prolongamento do processo da morte, porque o doente deixar de comer e de beber faz
parte desse processo.
No alimentar ou hidratar artificialmente um doente agnico no significa abandon-lo.
Todos os cuidados de que possa beneficiar devem continuar a ser prestados com o objectivo de
manter o seu conforto. Este deve ser o objectivo do tratamento e todas as medidas que no
62
contribuam para este fim devem ser eliminadas. Tudo o que possa prolongar o processo da
morte , em princpio, ilegtimo.
O facto de os doentes comerem e beberem pouco ou nada causa, com frequncia,
perturbao nos familiares. importante esclarecer os familiares neste processo, porque estes
vem muitas vezes a no administrao de alimentos e lquidos como algo que vai precipitar a
morte do doente. Por vezes diz-se que o doente vai morrer fome ou sede. necessrio
dizer-lhes que o doente no vai morrer por no comer ou no beber, mas sim que o doente no
bebe e no come porque est a morrer, e esclarec-los, sempre que possvel em antecipao,
quanto aos riscos, inconvenientes e benefcios de hidratar e de no hidratar, de usar ou no usar
sondas e acessos venosos. De facto, nestas circunstncias a doena subjacente que causa a
morte e no a ausncia de alimentao ou hidratao. No entanto, podem ocorrer divergncias
entre os familiares e entre os familiares e os profissionais, quando o doente no tem capacidade
para decidir, devendo proceder-se como indicado em Doentes incompetentes neste captulo.
Em certos casos, em que os familiares insistem na hidratao e no h uma opinio contrria do
doente conhecida, nem se antev prejuzo significativo para o doente, pode fazer-se uma
hidratao SC com um volume de no mais de um litro por dia para evitar sobrecarga [29],
permitindo assim tranquiliz-los e, talvez dr-lhes tempo para se adaptarem realidade do
doente. Mesmo quando o doente tem competncia para decidir, essas divergncias podem
ocorrer, mas nesta situao a vontade do doente a nica a ter relevncia.
2.7.1. Alimentao e hidratao artificiais no estado vegetativo persistente
Os doentes em EVP no so doentes agnicos, no esto em morte cerebral,
geralmente no tm uma doena que lhes cause inexoravelmente a morte em pouco tempo e
podem ter uma sobrevivncia longa desde que lhes sejam prestados os cuidados adequados.
63
Como estes doentes no tem a possibilidade de se alimentarem pelos seus prprios meios, s
sobrevivero com AHA.
Nesta situao a discusso situa-se tambm, muitas vezes, na distino entre
tratamentos ordinrios e extraordinrios ou entre tratamentos obrigatrios ou facultativos.
Tambm no EVP a avaliao que se deve fazer a de saber se a AHA benfica para o doente
e, portanto, se est de acordo com os seus melhores interesses. Antes de se colocar a questo
da AHA necessrio esperar o tempo requerido para tornar improvvel a possibilidade de
recuperao. Depois, necessrio saber se o doente manifestou quando competente as suas
preferncias, o que deve ter prioridade sobre outras consideraes. Finalmente, necessrio
avaliar o benefcio que a AHA tem para o doente.
Para muitas pessoas a AHA um cuidado bsico no um tratamento, pelo que no
poderia ser retirado em qualquer circunstncia. Pelo contrrio, eu penso que a AHA um
tratamento e, como tal, tem indicaes e contraindicaes, vantagens e inconvenientes. Nos
casos de um doente com EVP devemos perguntar se a AHA lhe traz algum benefcio.
Certamente que h outros factores envolvidos nesta questo, como a vontade da famlia,
questes emocionais, religiosas e filosficas, que devem ser tidas em considerao. Mas,
considerando a AHA como tratamento significa que no se deve ver a sua absteno ou
suspenso justificadas como matar um doente fome como no se v a absteno ou
suspenso justificadas da ventilao assistida como sufoc-lo [30].
Considerar a AHA como um tratamento e, portanto, como podendo interromper-se em
certas circunstncias tambm o ponto de vista da Associao Mdica Britnica [31]. Tambm
no Relatrio Sobre o Estado Vegetativo Persistente de Fevereiro de 2005, produzido no mbito
do Conselho Nacional de tica para as Cincias da Vida, se afirma que a AHA deveria ser
considerada uma teraputica como qualquer outra, entrando no grupo das medidas paliativas,
passvel portanto de recusa ou interrupo [32]. No entanto, o Parecer Sobre o Estado
64
Vegetativo Persistente do mesmo Conselho Nacional de tica para as Cincias da Vida no
acompanha a opinio do relatrio e refere que a pessoa em Estado Vegetativo Persistente tem
direito a cuidados bsicos, que incluem a alimentao e hidratao artificiais [33].
2.8. CONCLUSO
No iniciar ou suspender um tratamento para prolongar a vida so decises eticamente
equivalentes, desde que clinicamente justificadas e respeitem a autonomia dos doentes. Este
um aspecto fundamental e que no deve ser ignorado em nenhuma circunstncia, mesmo
quando os doentes esto incompetentes. No entanto, a autonomia dos doentes no um valor
absoluto, podendo colidir com outros princpios igualmente importantes.
A distino entre tratamentos ordinrios e extraordinrios, matar e deixar morrer e os
conceitos de futilidade e do duplo efeito no so conceitos determinantes para justificar
eticamente as decises. A deciso de no iniciar ou suspender um tratamento deve fazer-se pelo
balano entre os benefcios e os inconvenientes que esse tratamento envolve e pelos desejos do
doente. Isto inclui a AHA, que do meu ponto de vista um tratamento, e, como tal, as decises a
ela relativas devem seguir as regras que se aplicam a qualquer outro tratamento.
, ainda, necessrio acrescentar que no iniciar ou interromper um tratamento intensivo
com o objectivo de prolongar a vida, que no est a resultar, no significa no fazer nada ou
abandonar o doente. necessrio continuar a trat-lo, mas agora com outro objectivo. Com o
objectivo de promover o seu conforto e evitar o seu sofrimento, o que servir o melhor interesse
do doente nessas circunstncias.
REFERNCIAS
1. Beauchamp TL, Childress JF. Nonmaleficence. Em: Beauchamp TL, Childress JF. Principles
of biomedical ethics. New York: Oxford University Press. 5 ed. 2001:113-164.
65
2. Randall F, Downie RS. Clinical treatment decisions. Em: Randall F, Downie RS. Palliative
care ethics. Oxford: Oxford University Press 1996;109-137.
3. British Medical Association. Part 1: Setting the scene for decision making. Em: Withholding
and withdrawing life-prolonging medical treatments. Londres: BMJ Books 1999;1-12.
4. Waisel DB, Troug RD. The cardiopulmonary resuscitation-not-indicated order: futility
revisited. Ann Intern Med 1995;122:304-308.
5. American Thoracic Society. Withholding and withdrawing life-sustaining therapy. Ann Inter
Med 1991;115:478-485.
6. Trugg RD, Brett AS, Frader J. The problem with futulity. N Engl J Med 1992;326:1560-1564.
7. Scheneiderman LJ, Jecker NS, Jonsen AR. Medical futility: responses to critiques. Ann Intern
Med 1996;125:669-674.
8. Murphy DJ, Finucane TE. New do-not-resuscitate policies: a first step in cost control. Arch
Intern Med 1993;153:1641-1648.
9. Report of the Council on Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association. Medical
futility in end-of-life care. JAMA 1999;281:937-941.
10. Curtis JR, Park DR, Krone MR, Pearlman RA. Use of the medical futility rationale in do-not-
attempt-resuscitation orders. JAMA 1995;273:124-128.
11. Alpers A, Lo B. When is CPR futile? JAMA 1995;273:156-158.
12. Beauchamp TL, Childress JF. Respect for autonomy. Em: Beauchamp TL, Childress JF.
Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University Press. 5 ed. 2001:57-112.
13. Carrese JA, Rhodes LA. Western bioethics on the Navajo reservation: benefit or harm?
JAMA 1995;274:826-829.
14. Blackhall LJ, Murphy ST, Frank G, Michel V, Azen S. Ethnicity and attitudes toward patient
autonomy. JAMA 1995;274:820-825.
66
15. Appelbaum PS, Grisso T. Assessing patients capacities to consent to treatment. N Engl J
Med 1988;319:1635-1638.
16. British Medical Association. Part 2: Decisions involving adults who have the capacity to make
and communicate decisions or those who have a valid advanced directive. Em: Withholding
and withdrawing life-prolonging medical treatments. Londres: BMJ Books 1999;13-20.
17. Cale GS. Risk-related standards of competence. Bioethics 1999;13:131-148.
18. Wicclair MR. Patient decision-making capacity and risk. Bioethics 1991;91-104.
19. Rodrigues. JV. Aproximao ao problema da necessidade do consentimento informado e
esclarecido como requisito para a prtica do acto mdico: Em: Rodrigues JV. O
consentimento informado para o acto mdico no ordenamento jurdico portugus (elementos
para o estudo da manifestao da vontade do paciente). Coimbra: Coimbra Editora 2001;23-
48.
20. Meisel A, Roth LH. What we do and do not know about informed consent. JAMA
1981;246:2473-2477.
21. Gostin LO. Informed consent, cultural sensitivity, and respect for persons. JAMA
1995;274:844-845.
22. Angell M. The case of Helga Wanglie: a new kind of right to die case. N Engl J
Med1991;325:511-512.
23. Eisendrath SJ, Jonsen AR. The living will: help or hindrance? JAMA 1983;249:2054-2058.
24. Council of Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association. Guidelines for the
appropriate use of do-not-resuscitate orders. JAMA 1991;265:1868-1871.
25. American College of Physicians. Ethics Manual: fourth edition. Ann Intern Med 1998;128:576-
594.
26. Perret RW. Killing, letting die and the bare difference argument. Bioethics 1996;1 0:131-139.
67
27. Ashby M, Stoffel B. Artificial hydration and alimentation at the end of life: a reply to Craig. J
Med Ethics 1995;21:135-140.
28. Andrews M, Bell ER, Smith SA, Tischler JF, Veglia JM. Dehydration in terminally ill patients:
is it appropriate palliative care? Postgrad Med 1993;93:201-208.
29. Dunlop RJ, Ellershaw JE, Baines MJ, Sykes N, Saunders CM. On withholding nutrition and
hydration in the terminally ill: has palliative medicine gone too far? A reply. J Med Ethics
1995;21:141:143.
30. Meisel A. Palliative care review. Ethics and law: physician-assisted dying. J Palliat Med
2005;8:609-621.
31. British Medical Association. Part 3D: Decisions about withholding or withdrawing artificial
nutrition and hydration. Em: Withholding and withdrawing life-prolonging medical treatments.
Londres: BMJ Books 1999;53-59.
32. Carneiro AV, Antunes JL, Freitas AF. Relatrio sobre o estado vegetativo persistente.
Conselho Nacional de tica para as Cincias da Vida. Fevereiro 2005.
http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/86741D93-F192-4C5C-BA1D-
786F9B66EED9/0/P045RelatorioEVP.pdf.
33. Conselho Nacional de tica para as Cincias da Vida. Parecer sobre o estado vegetativo
persistente. 45/CNECV/2005. http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/2BD8E935-D001-47DA-
8FE7-CDB0445F3044/0/P045ParecerEVPversaoFinal.pdf.
34. Associao Portuguesa de Biotica: Parecer N. P/05/APB/06 Sobre Directivas Antecipadas
de Vontade (Relatores: Helena Melo, Rui Nunes) Aprovado pela Assembleia-Geral em 5 de
Maio de 2006.
35. ASSOCIAO PORTUGUESA DE BIOTICA: PROJECTO DE DIPLOMA N. P/06/APB/06 QUE REGULA O
EXERCCIO DO DIREITO A FORMULAR DIRECTIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE NO MBITO DA
PRESTAO DE CUIDADOS DE SADE E CRIA O CORRESPONDENTE REGISTO NACIONAL
68
(RELATORES: HELENA MELO, RUI NUNES) APROVADO PELA ASSEMBLEIA-GERAL EM 13 DE OUTUBRO
DE 2006.
69
3
SUICDIO
O termo suicdio foi inventado no sculo XVII a partir do latim sui - auto e cidium
assassnio [1]. mile Durkheim foi provavelmente o primeiro a estudar cientificamente o suicdio.
Durkheim definiu suicdio como todo o caso de morte que resulta directa ou indirectamente de
um acto positivo ou negativo praticado pela prpria vtima, acto que a vtima sabia poder produzir
este resultado. [2]. Entende-se ento por suicdio que: h uma morte; esta foi causada por
quem morreu; a morte foi intencional; e houve um agente activo ou passivo, isto , foi a
realizao ou omisso de um acto que causou a morte [3]. O suicdio geralmente individual
mas h suicdios colectivos muitas vezes com motivaes religiosas. Tem-se usado o termo
para-suicdio para designar actos ou comportamentos de auto-agresso que podem
eventualmente causar risco de morte.
Alguns autores consideram vrios tipos de suicdio [1]:
O suicdio egosta resulta de uma sensao pessoal de alienao ou isolamento;
O suicdio altrusta um acto desinteressado ou ideolgico;
O suicdio anmico resulta de uma mudana sbita na posio social;
O suicdio contingente resulta incidentalmente de uma actividade em que o risco alto,
como actividades ou hobbies de alto risco, alcoolismo, etc.
70
3.1. EPIDEMIOLOGIA
O suicdio um problema importante de sade pblica a nvel mundial. As taxas de
suicdio, nos pases sobre os quais h dados, tm-se mantido globalmente estveis nos ltimos
30 anos, embora haja variaes muito grandes entre os pases e tendncias diferentes, com
alguns pases com taxas em crescimento e outros com taxas em queda [4]. A taxa de suicdio
universalmente maior nos homens do que nas mulheres com um coeficiente de 3,5:1 [4].
Em Portugal, aps uma subida progressiva a partir do incio do sculo XX, o nmero de
mortes por suicdio tem vindo a diminuir desde o incio dos anos 90 [5], em paralelo com o que
acontece nos outros pases da Europa Ocidental e nos EUA [3]. No ano 2000 verificaram-se 5,1
suicdios por 100 000 habitantes, nmero que s se tinha registado no incio do sculo XX [4]. A
taxa de suicdios em Portugal a mais baixa da Unio Europeia a seguir Grcia. Os homens
cometem muito mais suicdios do que as mulheres: 8,5 e 2,0 por 100 000 habitantes,
respectivamente, no ano 2000. As taxas de suicdio nos homens aumenta com a idade,
sobretudo acima dos 65 anos e ainda mais nos com 85 ou mais anos. Nas mulheres a taxa de
suicdios tambm maior nas mais idosas, principalmente acima dos 75 anos.
H uma maior mortalidade nos homens e nas mulheres vivos e divorciados. Os
mtodos utilizados para o suicdio tm variado ao longo do tempo, sendo actualmente o
enforcamento o mais usado (nos dois sexos), seguido do envenenamento, das armas de fogo e
do afogamento, o que difere dos EUA onde as armas de fogo so o principal mtodo, seguido do
enforcamento nos homens e do envenenamento nas mulheres [3]. Nos outros pases europeus o
enforcamento tambm o mtodo mais frequentemente usado. A diferena de mtodos entre os
EUA e a Europa resulta provavelmente da facilidade de acesso s armas de fogo nos EUA.
A taxa de suicdio maior nos indivduos sem actividade econmica, mas na populao
activa (empregados e desempregados procura de novo emprego), curiosamente, maior nos
empregados do que nos desempregados, o que tambm acontece noutros pases, mas no em
71
todos [4]. As taxas de suicdio so mais altas nos trabalhadores por conta de outrem, em
especial nas profisses menos qualificadas [5].
H grandes diferenas regionais em Portugal. A sul do Tejo a taxa de mortalidade por
suicdio maior do que a norte, sendo a maior a de Beja. Tambm maior nos distritos do
interior ou mais ruralizados, relativamente aos distritos do litoral ou mais urbanizados [6]. Esta
realidade resulta de factores que denotam apoio social, como densidade populacional, taxa de
natalidade, taxa de casamentos e percentagem da populao com menos de 25 anos. Estes
factores parecem mais importantes do que os puramente econmicos [7]. Assim, nas regies
rurais com baixa densidade populacional, em que os mais jovens migram para os centros
urbanos, na procura de melhores condies de vida, os mais idosos tendem a ficar mais isolados
e com menos suporte. Esta diferena entre o sul e o norte, porm, sempre existiu desde que h
registos, pelo que deve haver outras explicaes alm das referidas. H quem sugira que h um
papel para a herana cultural como o carcter melanclico, uma fraca tradio gregria, famlias
pequenas e uma baixa religiosidade no sul do pas [7].
As tentativas no fatais de suicdio so difceis de contabilizar, havendo dados em
poucos pases. No entanto, calcula-se que h 10 a 25 tentativas no fatais de suicdio por cada
suicdio, subindo para 100 a 200 no caso dos adolescentes [3]. Em Portugal, Saraiva et al. Num
estudo realizado em Coimbra encontraram uma proporo de 20 para 1 [8]. As tentativas de
suicdio so trs vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens, ao contrrio do que
acontece nos suicdios consumados [3].
3.1.1. Factores de risco e factores protectores
O suicdio no geralmente uma reaco a uma crise da vida, mesmo que seja uma
doena terminal, isto , no so acontecimentos isolados que levam ao suicdio. O modo como
as pessoas lidam com os problemas que vo surgindo nas suas vidas indica se a pessoa
72
emocionalmente predisposta para o suicdio [9]. Maris divide os factores de risco do suicdio em
distal/crnico/trao e proximal/agudo/estado [3].
Nos EUA, os homens idosos brancos tm as maiores taxas de suicdio. At 90% dos
adultos que cometem suicdio tm pelo menos um diagnstico psiquitrico, sendo os mais
indicativos a depresso major (as alteraes do sono, em especial a insnia terminal, uma
caracterstica importante dos suicidas), a doena bipolar, a esquizofrenia, o distrbio de
personalidade limite e o distrbio de personalidade psicoptica nos adolescentes e adultos
jovens [3]. Num estudo em doentes psiquitricos em consulta externa, 55% tinha uma histria de
ideao suicida e 25% tinha feito pelo menos uma tentativa de suicdio; cerca de metade destes
tinha feito mltiplas tentativas [10]. A desesperana associa-se depresso e mais preditora
de suicdio do que a depresso.
O abuso de lcool ou de outras substncias so tambm preditores de suicdio. At 50%
das pessoas que cometem suicdio esto intoxicadas na altura da morte. Cerca de 18% dos
alcolicos suicidam-se com a mdia de 47 anos de idade e 25 anos de alcoolismo. A
combinao de humor depressivo e abuso de substncias aumenta muito o risco, de tal modo
que 70 a 80% das pessoas que cometem suicdio a tm. Outro factor de risco a solido; num
estudo, 50% das pessoas que se suicidam no tm amigos ntimos [3]. Esta circunstncia
associa-se tambm s doenas psiquitricas e ao abuso de lcool e drogas.
Havendo tentativas de suicdio anteriores, o risco de suicdio subsequente 30 a 40
vezes maior, sendo isoladamente o factor com maior capacidade preditora de suicdio [11,12].
De facto, 40% dos indivduos que cometem suicdio tinham feito tentativas anteriormente [9]. O
risco de morte por outras causas como causas naturais e acidentes est tambm aumentado
cerca de 60 vezes, o que se deve ao uso de lcool e outras drogas [12].
73
A ideao suicida, isto , ter pensamentos suicidas, tambm um factor de risco
importante. Porm, muitos indivduos com ideao suicida nunca tentam ou cometem suicdio,
em especial os doentes terminais ou com doenas crnicas debilitantes [9].
Existe uma relao entre o acesso a mtodos letais e a taxa de suicdios. O acesso a
armas de fogo, lugares altos e medicamentos prescritos, como os usados para o tratamento de
doenas psiquitricas, parece aumentar o risco de suicdio [13-15]. Poderia pensar-se que a
circunstncia de no haver acesso a alguns mtodos letais poderia fazer aumentar o uso de
outros de acesso mais geral, como o enforcamento, de que resultaria uma taxa de suicdios
semelhante, mas parece no ser assim, a acessibilidade a diversos mtodos de suicdio parece
fazer, por si s, aumentar a sua taxa [14].
Uma histria familiar de suicdio ou de doena mental aumenta significativa e
independentemente o risco de suicdio, sendo a histria de suicdio mais importante do que a de
doena mental [16].
A combinao de factores de risco aumenta significativamente o risco de suicdio. De
facto, os factores de risco interagem e potenciam-se mutuamente. Acontecimentos na vida das
pessoas com factores de risco podem tambm interagir com esses factores predisponentes:
fracassos romnticos; problemas econmicos ou de emprego; problemas legais; situaes que
provocam grande vergonha ou que so percebidas como tal; doenas debilitantes ou terminais
[17]. No entanto, h abundante evidncia de que as dificuldades da vida meramente precipitam o
suicdio, no so a sua causa [18].
No entanto, apesar de se conhecerem os factores de risco, prever o suicdio em doentes
especficos tem-se revelado impraticvel. Num estudo envolvendo 1906 doentes internados por
doenas afectivas, um modelo construdo com os factores de risco identificados no conseguiu
prever um nico suicdio dos 46 que ocorreram aps a alta [19].
74
Os suicidas so impulsivos e tm mais frequentemente um comportamento agressivo ou
violento do que os no suicidas. Os actos suicidas so, assim, muitas vezes impulsivos. Mais de
metade das tentativas de suicdio ocorrem com um perodo de premeditao de menos de 5
minutos. Mesmo quando, como frequente acontecer, h planos detalhados para o suicdio a
deciso final muitas vezes tomada num impulso [20].
O suicdio pode ser desencadeado por imitao. H estudos que mostram que o nmero
de suicdios, sobretudo em adolescentes, aumenta aps a transmisso televisiva de filmes ou
notcias sobre suicdio [21,22], embora haja resultados contraditrios [23]. No estudo de Phillips
e Carstensen verificou-se que no se tratava apenas de antecipar os suicdios, isto , no so
suicdios que se no ocorressem nessa altura ocorreriam um pouco mais tarde, porque se assim
fosse seria de esperar uma descida compensatria a seguir, mas isso no acontece [22]. Os
suicdios por imitao podem no se limitar s transmisses televisivas, podendo as notcias
dramatizadas dos jornais produzir o mesmo efeito [24].
Os factores protectores do suicdio so, em geral, o oposto dos factores de risco. Assim,
os no suicidas tendem a ser jovens, mulheres, com contactos sociais extensos, sem doenas
psiquitricas, bom sono, sem armas em casa, etc. A gravidez tambm um factor protector do
suicdio [25].
3.2. SUICDIO NOS DOENTES COM CANCRO
Os doentes com cancro tm um risco de suicdio maior do que a populao geral. No
entanto, os estudos realizados mostram que poucos doentes cometem suicdio [26]: num estudo
de 1979 realizado na Finlndia, 63 de 28 257 doentes com cancro que morreram cometeram
suicdio [27]; em 1982, nos EUA, calculou-se que 192 de 144 530 mortes por cancro resultaram
de suicdio; e na Sucia, num estudo realizado em 1985, houve 22 suicdios em 19 000 mortes
por cancro. Globalmente o risco de 1,8 vezes o risco da populao normal com uma amplitude
75
de 1,4 a 2,5 [25]. O risco de suicdio maior a seguir ao diagnstico (1 a 5 anos) diminuindo com
o tempo [25]. Os doentes com cancro da cabea e pescoo parecem ter um risco maior, talvez
por estarem muitas vezes associados ao alcoolismo e ao tabagismo e a alteraes do humor
resultantes do desfiguramento e da perda de voz [25]. Por outro lado, os doentes com cancro do
colo do tero, cancro da pele, cancro da prstata e doena de Hodgkin no parecem ter um risco
aumentado de suicdio [25]. Mais de 80% dos suicdios dos doentes com cancro ocorrem nos
doentes com cancro avanado [28]. Em 24 unidades de cuidados paliativos do Reino Unido
houve 21 suicdios e 37 tentativas de suicdio num perodo de 5 anos [29]. Estudos da evoluo
da mortalidade por suicdio em doentes com cancro realizados em Itlia e na Noruega mostram
que esta tem vindo a diminuir [30,31]. Este declnio na mortalidade por suicdio nos doentes com
cancro tem sido explicada pela maior ateno e melhor tratamento da depresso nestes
doentes, melhoria do tratamento incluindo intervenes cirrgicas menos mutilantes, melhoria do
prognstico, do suporte psicossocial e pelo desenvolvimento dos cuidados paliativos [30,31].
Foram identificados vrios factores de risco de suicdio nos doentes com cancro, alguns
dos quais coincidem com os factores de risco identificados na populao geral, como a
depresso e a desesperana, psicopatologia prvia, o abuso de lcool e de outras substncias,
histria de tentativas de suicdio, histria familiar de suicdio, falta de suporte social e isolamento.
Existem, porm, outros factores de risco mais especficos como a dor e outros sintomas, o mau
prognstico associado doena avanada, a perda de controlo, o delirium e a fadiga [28].
A depresso mais frequente nos doentes com cancro do que na populao geral, mas
no mais frequente do que em doentes com outras doenas fsicas. Os estudos sugerem que
20 a 25% dos doentes com cancro tm depresso em qualquer altura da evoluo da sua
doena, mas na doena avanada esta frequncia pode subir para os 77% [26]. Mas, tal como
acontece na populao geral, a desesperana o elemento da depresso mais importante [28].
Contudo, apesar da frequncia com que ocorre, a depresso no diagnosticada em muitos
76
casos. Isto deve-se a vrios factores, entre os quais se destacam a falta de treino dos
profissionais de sade e a dificuldade particular em diagnosticar a depresso nesta populao.
Efectivamente, os critrios fsicos de depresso como a insnia, a anorexia, a astenia podem ser
causados directamente pela doena oncolgica ou pela medicao, o que dificulta o diagnstico.
A dor e provavelmente outros sintomas fsicos aumentam o risco de suicdio. Muitas
vezes, estes sintomas no ocorrem isoladamente, sobretudo no cancro avanado, interagem e
potenciam-se, produzindo, assim, um efeito maior. Os sintomas fsicos associam-se
frequentemente a uma limitao da actividade que pode chegar s actividades de vida diria
mais simples criando assim uma grande dependncia. Parece ser essencial para o aumento do
risco do suicdio a perturbao psicolgica e as alteraes do humor eventualmente
coexistentes. A dor intensa ou a dor crnica podem associar-se a alteraes psicolgicas como a
depresso. Um estudo realizado no Memorial Sloan-Kettering Hospital de Nova Iorque mostrou
que um tero dos doentes suicidas com cancro tinha depresso, 20% tinham delirium e 50%
sofriam de um distrbio de ajustamento [26].
Alm das limitaes causadas pelos sintomas fsicos, outras circunstncias contribuem
para a perda do controlo sobre o seu corpo e as suas vidas, provocadas pela evoluo da
doena e pelo tratamento. Entre estas circunstncias encontram-se as amputaes, a
paraplegia, a perda de controlo dos esfncteres, a disfagia, a disfonia e outras. A importncia que
os doentes atribuem perda do controlo varivel, mas para alguns, mesmo pequenas perdas
causam um grande impacto dando-lhes uma sensao de desesperana e de desamparo.
A sensao de perda de controlo sobre a mente, provocada pelo delirium ou pela
sedao, pode ser muito perturbadora. O delirium frequente no cancro avanado sobretudo
nos ltimos dias de vida. Num estudo realizado na Unidade de Cuidados Continuados do Centro
do Porto do Instituto Portugus de Oncologia [32] sobre as ltimas 48 horas de vida em 300
doentes, verificou-se que 146 deles (49%) tinham delirium. Em alguns estudos, porm, a
77
percentagem dos doentes oncolgicos com delirium pode atingir 90% nos ltimos dias de vida
[33]. Os doentes com delirium tm um risco aumentado de suicdio, mesmo quando este
ligeiro. O delirium pode contribuir para o suicdio impulsivo pela perda do controlo dos impulsos
associados a esta condio [26].
3.2.1. Ideao suicida
A frequncia com que a ideao suicida ocorre nos doentes com cancro avanado
difcil de determinar porque, geralmente, a questo no abordada na prtica clnica e, mesmo
quando o , s aps se ter estabelecido uma relao de confiana que o doente pode revelar
as suas ideias de suicdio. Nos estudos realizados, uma percentagem varivel dos doentes com
cancro avanado tm ideao suicida, sendo rara em fases mais precoces da doena [26]. Num
estudo, que incluiu 248 doentes seguidos em regime ambulatrio ou de assistncia domiciliria
numa unidade de cuidados paliativos inglesa, 30% tinha tido ideao suicida [34]. No estudo de
Coyle et al. em doentes nas ltimas quatro semanas de vida, 18 (20%) tinham ideao suicida;
entretanto, foram includos mais quatro doentes que tinham um plano especfico para o suicdio,
tendo-se verificado que estavam todos clinicamente deprimidos e em tratamento psiquitrico, e
desses, dois com delirium recorrente suicidaram-se [35].
Porm, a frequncia com que ocorre a ideao suicida nos doentes com cancro
avanado est muito longe da frequncia com que tentam ou completam o suicdio. A ideao
suicida significa, na maioria dos casos, a tentativa de manter o controlo sobre a situao, isto ,
a ideia de que se a situao piorar, haver uma forma ao seu alcance de evitar o sofrimento, a
dependncia ou o que for mais importante para o doente individual. No entanto, a concretizao
dessas ideias rara.
O controlo da dor e da depresso e a discusso dos pensamentos acerca do suicdio
com os doentes com cancro avanado podem reduzir a ideao suicida e o risco de suicdio [28].
78
3.3. SUICDIO NOS DOENTES COM SIDA
Os indivduos com SIDA tm um risco muito maior de suicdio do que a populao geral
[36,37]. Num estudo, foi cerca de 36 vezes maior [36], mas a maioria tinha doenas psiquitricas
prvias.
A populao dos doentes com infeco por VIH/SIDA diferente da populao dos
doentes oncolgicos, porque a prevalncia de doenas psiquitricas e o abuso de substncias
particularmente alto. Esta provavelmente a explicao para os dados de um estudo realizado
em indivduos com risco elevado para infeco por VIH, homossexuais masculinos e
toxicodependentes de drogas IV, que mostra que o elevado risco de suicdio no aumentava nos
indivduos em quem a infeco tinha sido diagnosticada relativamente aos indivduos que tinham
testes negativos [26]. Noutro estudo, os indivduos VIH positivos ainda sem SIDA eram mais
suicidas do que os indivduos com SIDA [38].
Os indivduos com SIDA tm sintomas fsicos, nomeadamente, dor, depresso e delirium
que so factores importantes tambm nos doentes com cancro. No entanto, o sofrimento
psicolgico, como sempre, o factor determinante para o suicdio nos doentes com SIDA.
3.4. SUICDIO NOUTRAS DOENAS
Com algumas excepes, quase todos os indivduos com doenas fsicas que cometem
suicdio tm tambm uma doena psiquitrica. E, a maioria das doenas mdicas que se
associam a uma taxa maior de suicdios so as que envolvem doenas mentais ou abuso de
substncias [39]. Alm das j descritas atrs, a epilepsia do lobo temporal, a doena de
Huntington, a esclerose mltipla, a lcera pptica, a hemodilise ou a dilise peritoneal contnua,
a rejeio de transplante renal, o traumatismo medular com paraparsia ou tetraparesia e o
79
lupus eritematoso sistmico so as doenas que se associam a um risco de suicdio elevado
[26]. Outras doenas, como as do foro cardaco e pulmonar, que podem acarretar tambm
grande sofrimento, no parecem estar associadas a uma maior probabilidade de suicdio [11].
3.5. SUICDIO E SOCIEDADE
O suicdio provavelmente s ocorre na nossa espcie, embora certos comportamentos
violentos, incluindo a auto-mutilao ocorram noutra espcies. Nos povos primitivos a atitude
relativa ao suicdio em grande parte desconhecida mas provvel que houvesse variaes
segundo os locais e os povos. A aceitao ou mesmo o encorajamento do suicdio ocorria, pelo
menos em algumas sociedades, e relacionava-se com a escassez de alimentos e a mobilidade
dos nmadas, para que a eliminao dos idosos e dos fisicamente diminudos no afectasse a
sociedade [17].
Na Antiguidade Clssica, Grcia e Roma, havia legislao sobre o suicdio. O suicdio
era proibido e considerado uma injustia para com a comunidade. No entanto, se o indivduo que
se queria suicidar apresentasse um pedido s autoridades competentes (o Senado), explicando
as suas razes, e se o pedido fosse deferido, o suicdio era considerado legtimo [40].
Nas sociedades crists, o suicdio foi proibido. No conclio de Arles, em 452, o suicdio
foi proclamado crime; no conclio de Braga, em 561, decidiu-se que no funeral de um suicida no
haveria rituais religiosos; e no conclio de Toledo, em 693, determinou-se que at os que
tentavam o suicdio eram excomungados [1,40,41]. A legislao civil seguiu as normas
religiosas, acrescentado-lhe penas materiais. Havia variaes regionais, mas em geral os bens
do suicida eram confiscados, no sendo herdados pelos descendentes. Se o suicida era um
nobre, perdia o ttulo e era declarado plebeu, perdendo as suas terras e o seu castelo. O corpo
do suicida podia ser arrastado pelas ruas e depois podia ser pendurado pelo pescoo e
eventualmente atirado para uma estrumeira [40]. A loucura era geralmente considerada uma
80
desculpa, mas nem sempre. Em Frana, a Revoluo aboliu a legislao anterior e o suicdio
deixou de ser considerado um crime. No Reino Unido a situao era semelhante do resto da
Europa, mas s em 1961 o suicdio e as tentativas de suicdio foram descriminadas pelo Suicide
Act.
Nos EUA o suicdio era considerado um crime, mas no havia punio por se considerar
que no havia modo adequado de punir um indivduo morto e que a confiscao dos seus bens
s punia os familiares. No entanto, as tentativas de suicdio eram punidas. O Estado de Nova
Iorque descriminou as tentativas de suicdio em 1919, embora tenha mantido a classificao do
suicdio como um grave erro pblico at 1965. Hoje, nem o suicdio nem as tentativas de
suicdio so crimes em qualquer estado americano. No entanto, o suicdio no considerado um
direito quer na lei geral quer na Constituio [42].
Em Portugal com o Cdigo Penal de 1886 o suicdio deixou de ser penalizado, embora o
fosse o auxlio ou ajuda ao suicdio [41]. Anteriormente, as Ordenaes puniam o suicdio, no
de um modo geral, mas apenas em circunstncias em que havia um confisco de bens eminente
[41]. O Cdigo Penal actual pune o incitamento ou ajuda ao suicdio (artigo 135) e a
propaganda ao suicdio (artigo 139).
As sanes religiosas e legais contra o suicdio foram diminuindo medida que se foi
compreendendo que o suicdio era sobretudo causado por alteraes mentais e no por ser uma
fraqueza ou um pecado [17].
3.6. CONSIDERAES FILOSFICAS
Para Plato (427-347 a.C.) o suicdio um acto de desafio aos deuses e ordem moral
visto que a alma tem origem nos deuses e os indivduos tm obrigao de a aperfeioar. O
suicdio um acto de desero, de fuga s responsabilidades. Porm, o suicdio de Scrates
no se pode considerar uma fuga mas antes resultante da sua integridade moral. Por isso,
81
Plato distingue o suicdio egosta do suicdio altrusta com origem num acto desinteressado de
virtude moral [1]. O pensamento de Plato sobre o suicdio pode resumir-se nas frases do Fdon
em que Scrates afirma ...muito embora considerem a morte um bem superior vida, seja aos
seus olhos interdito obterem-no por suas mos, obrigando-se, em vez disso, a esperar que o
benefcio lhes venha de outrem. e ..no devemos pr termo vida sem que o deus de algum
modo nos constranja, como presentemente o meu caso [43].
J para Aristteles (384-322 a.C.)o suicdio era condenvel porque era um acto contra
os deuses, mas sobretudo porque era um acto contra as leis da polis. Alm disso, o suicdio
implica a perda de um membro valioso da sociedade. Portanto, para Aristteles o indivduo deve
ter em conta as suas obrigaes para com a sociedade quando toma decises morais e no
actuar como se estivesse isolado: Na verdade, quem se suicida atenta de algum modo contra a
prpria honra, porque comete uma injustia contra o Estado [44].
A escola estica, fundada na Grcia por Zeno cerca do ano 400 a.C., teve uma grande
expanso sobretudo no imprio romano, debruou-se sobre esta temtica. O mais importante
para o esticos era viver em harmonia com a natureza e de acordo com a razo [45]. Por isso,
sempre que os meios de viver uma vida naturalmente boa deixassem de existir o suicdio podia
justificar-se [46]. Por exemplo, se o estado de sade no permitir uma vida feliz o homem
sensato pode considerar o suicdio, e lev-lo a cabo no aumenta nem diminui a sua virtude
moral [46].
O suicdio foi defendido pelos esticos tambm em situaes em que este serve outros,
por exemplo a ptria; quando o suicdio impede o ser-se forado a cometer um acto ilegal ou
moralmente repreensvel; e para manter a honra [45]. O modo como o suicdio era realizado era
tambm importante para os esticos. Por exemplo, o imperador romano Marco Aurlio
sublinhava que um suicdio deve ser praticado discretamente sem atitudes teatrais [45].
82
Tambm o cristianismo abordou a problemtica do suicdio. Nos primeiros tempos da era
crist o suicdio altrusta e o martrio eram enaltecidos, como bem conhecido. A Bblia no
apresenta ensinamentos especficos sobre o suicdio e por isso os filsofos cristos
desenvolveram o seu pensamento a partir dos filsofos gregos que tinham uma grande influncia
na poca.
A partir de Santo Agostinho (354-430) passou a considerar-se o suicdio como uma
usurpao da autoridade de Deus e da Igreja [1]. Santo Agostinho baseia a sua argumentao
contra o suicdio no preceito da lei: no matars (xodo 20:13). Geralmente, este preceito
interpretado como sendo dirigido aos outros, mas Santo Agostinho afirma que no se limita a
estes porque no acrescenta o teu prximo como acontece noutros como no dars falso
testemunho contra o teu prximo (xodo 20:16) [47]. Para Santo Agostinho o suicdio era um
pecado mortal e o suicdio de Judas foi usado como exemplo de uma atitude ignbil praticado
por uma pessoa desprezvel [48]. No entanto, acaba por admitir o martrio em alguns casos
como o de Sanso, que ao derrubar o templo com a sua fora morreu matando tambm os
filisteus, inimigos dos judeus (Juzes 16:23-31) Jeov, deus dos judeus, venceu Dagon, deus
dos filisteus. Este acto de Sanso foi realizado em obedincia a Deus (ao Esprito Santo) e no
um acto com outras motivaes, da ser aceitvel [49]. Assim, o pensamento de Santo Agostinho
quanto ao suicdio aproxima-se do pensamento de Plato.
So Toms de Aquino (1225-1274) considerava que o suicdio no era legtimo por trs
razes: o suicdio contrrio inclinao da natureza e caridade pela qual todo o homem deve
amar-se a si prprio, por isso o suicdio sempre um pecado mortal por ser contrrio lei natural
e caridade; como todas as partes pertencem a um todo, todo o homem parte da comunidade,
e como tal pertence-lhe, pelo que matando-se injuria a comunidade; porque a vida uma ddiva
de Deus ao homem e est sujeita ao Seu poder, que mata e faz viver e, ento, quem tira a sua
prpria vida peca contra Deus [50]. Ento, o suicdio, alm de ser um acto incorrecto para com
83
Deus, tambm um acto contra a sociedade como um todo. Portanto, So Toms de Aquino
sublinhava, tal como Aristteles, a responsabilidade dos indivduos perante a sociedade.
Mais recentemente, David Hume (1711-1776) considera que os indivduos tm o direito a
suicidarem-se. Para Hume, o suicdio no constitua uma ofensa a Deus ou sociedade. Deus
no aparece imediatamente em qualquer aco, mas criou as leis gerais e imutveis que
governam todas as coisas desde o comeo do tempo, no havendo acontecimento que escape a
essas leis. Assim, num certo sentido, todos os acontecimentos podem ser considerados como a
aco de Deus porque resultam dos poderes com que dotou as suas criaturas. Seguindo esta
linha de raciocnio, Hume conclui que a morte ainda que auto-inflingida tambm tem de seguir
essas leis, portanto, o suicdio no constitui uma ofensa a Deus [51].
Quanto ofensa sociedade, Hume argumenta que quando uma pessoa se suicida
apenas deixa de a beneficiar e, se isto uma injria, uma injria menor. Todas as obrigaes
que temos para com a sociedade implicam uma reciprocidade; recebemos os benefcios da
sociedade e temos obrigao de promover os seus interesses. Mas no somos obrigados a fazer
um pequeno bem sociedade custa de um grande sacrifcio pessoal; porqu prolongar uma
existncia miservel devido a uma pequena vantagem que o pblico possa receber? No caso de
um indivduo no estar em condies de produzir qualquer benefcio para a sociedade e ser,
antes, um fardo, o seu suicdio seria til para a sociedade. Deste modo David Hume refuta o
argumento de que o suicdio uma injria sociedade [51].
Por seu turno, Schopenhauer (1788-1860) afirmou quer ningum, excepto os devotos
das religies monotestas, a que chamava religies judaicas, considerava o suicdio como um
crime, ainda que nem no Antigo nem no Novo Testamento haja qualquer proibio ou
desaprovao do suicdio. Schopenhauer criticou fortemente a atitude vigente no seu tempo,
sobretudo em Inglaterra, de considerar o suicdio um crime com as consequncias descritas
atrs [52].
84
Para Schopenhauer o suicdio no um crime. O suicdio ocorre quando o sofrimento
atinge um ponto que faz desaparecer o natural terror pela morte. No entanto, Schopenhauer
considerava que existia uma razo vlida contra o suicdio que era impedir o atingimento do
objectivo moral mais alto: a liberdade moral. Esta liberdade moral s se poderia alcanar pela
negao da vontade de viver e o suicdio longe de ser uma negao uma afirmao dessa
vontade. A negao da vontade de viver consiste na fuga dos prazeres, no do sofrimento da
vida. Apesar destes argumentos, para Schopenhauer o suicdio poderia considerar-se um erro
mas nunca como um crime [52].
Immanuel Kant (1724-1804), defensor da santidade da vida, tem uma posio contrria
destes ltimos filsofos quanto legitimidade do suicdio. A posio de Kant relativamente ao
suicdio deriva do imperativo categrico age apenas segundo uma mxima tal que possas ao
mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. [53], afirmando que Uma pessoa, por uma
srie de desgraas, chegou ao desespero e sente tdio da vida, mas est ainda em posse de
razo para poder perguntar a si mesmo se no ser talvez contrrio ao dever para consigo
mesmo atentar contra a prpria vida. A sua mxima, porm, a seguinte: Por amor de mim
mesmo, admito como princpio que, se a vida, prolongando-se, me ameaa mais com desgraas
do que promete alegrias, devo encurt-la [53]. Segundo Kant, esta mxima no se pode tornar
em lei universal da natureza porque contraria absolutamente o princpio supremo que o da
conservao da vida.
Para o existencialismo, de que Jean-Paul Sartre (1905-1980) provavelmente o
representante mais notvel, temos uma caracterstica nica que nos distingue dos outros seres
vivos que a liberdade. Existimos por ns prprios, enquanto que os outros seres existem em si,
isto , seguem imutavelmente a sua natureza. Para Sartre no existe natureza humana e
exercendo a nossa liberdade no temos de nos submeter a quaisquer princpios morais, nem a
qualquer outra autoridade. No existe tambm um deus perante quem tenhamos quaisquer
85
deveres. O nico critrio para julgar as aces seria o de saber se se realizam em nome da
liberdade, por isso, para Sartre, o suicdio ao acabar com a liberdade seria errado. Porm, o
suicdio altrusta como no tem a morte como objectivo primrio no condenvel, podendo ser
mesmo uma expresso de liberdade [1].
Para Albert Camus (1913-1960) S h um problema filosfico verdadeiramente srio:
o suicdio. Julgar se a vida merece ou no ser vivida, responder a uma questo fundamental da
filosofia. [54]. Ssifo tinha sido condenado pelos deuses a empurrar um rochedo at ao cume de
uma montanha de onde, aps uma curta pausa, rolava pela encosta abaixo at ao sop,
voltando o processo ao princpio vezes sem fim. Camus usa o mito de Ssifo como paradigma do
homem absurdo, da ausncia de sentido da vida. Para os existencialistas a ausncia de um deus
torna a vida sem sentido. Mas a concluso que tira do absurdo da vida humana no o leva a
concluir que o suicdio seria a resposta adequada. Esta falta de sentido da vida s se torna
trgica quando se toma conscincia dela. No entanto, preciso saber se a vida deveria ter um
sentido para ser vivida: a resposta de Camus a de que: pelo contrrio, a vida ser vivida at
melhor por no ter sentido [55]. A conscincia do absurdo origina a revolta permanente: Esta
revolta no passa da certeza de um destino esmagador, mas sem a resignao que deveria
acompanh-la [55]. E Camus continua: Pode-se crer que o suicdio segue a revolta. Mas
erradamente. Porque ele no representa a sua lgica concluso. at exactamente o seu
contrrio, pelo consentimento que supe. O suicdio , como o mergulho, o extremo limite da
aceitao....Ele avista o seu futuro e nele se precipita, no seu nico e terrivel futuro....O contrrio
do suicida , precisamente, o condenado morte.[55].
3.7. O SUICDIO E AS RELIGIES
Todas as religies abordam, mais ou menos pormenorizadamente, o fenmeno do
suicdio. Para o budismo o valor a vida no a morte. Por isso, o suicdio contrrio aos valores
86
do budismo, sendo incoerente com os seus ensinamentos e, portanto, um acto irracional [56].
A morte mencionada na Primeira Verdade Nobre como um dos aspectos mais bsicos do
sofrimento, mas uma pessoa que opte pela morte acreditando que a soluo para o sofrimento
est fundamentalmente equivocada quanto ao significado da Primeira Verdade Nobre [56]. No
entanto, o suicdio tem sido praticado pelos japoneses sob a forma do hara-kiri ou seppuku que
considerado como uma morte honrosa, havendo mesmo quem sugira que o seppuku no
suicdio porque o samurai no procura terminar a sua vida mas apenas cumprir o seu dever [56].
O suicdio tem tambm sido utilizado como forma de protesto, por exemplo, pelos monges
tibetanos contra a ocupao chinesa.
Para a Igreja Catlica o suicdio um pecado grave que a partir de certa altura passou a
ser motivo de excomunho, sendo negados ao suicida os ritos funerrios, como j foi referido.
Actualmente, porm, a Igreja Catlica, embora mantenha a ilicitude do suicdio, tem uma atitude
diferente relativamente aos suicidas, como est expresso no Catecismo da Igreja Catlica: No
se deve desesperar da salvao eterna das pessoas que se suicidam. Deus pode, por caminhos
que s Ele conhece, oferecer-lhes a ocasio de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas
pessoas que atentaram contra a prpria vida. [57].
Tambm para o hindusmo o suicdio um erro grave. O suicdio apenas acelera a
intensidade do karma, trazendo uma srie de nascimentos menores requerendo vrias vidas
para a alma retornar ao ponto evolucionrio em que se estava antes [58]. Admitem-se
excepes, mas no suficiente estar infeliz, desapontado ou angustiado pela perda de pessoas
queridas, dano fsico ou perda pessoal [58]. A quem for jovem e saudvel o suicdio no
permitido.
O suicdio aceitvel em casos de doena terminal ou de grande incapacidade. No
entanto, a pessoa que tomou essa deciso tem de a anunciar publicamente, o que permite o
acompanhamento comunitrio e evita o suicdio privado num estado de angstia e
87
desesperana. O suicdio faz-se pelo jejum - prayopavesa no sendo assim um facto abrupto e
impulsivo, mas dando tempo para resolver problemas, ponderar a vida e aproximar-se de Deus
[58]. Esta prtica permite ainda reflectir sobre a deciso e, eventualmente, reconsiderar. Para
esta prtica h trs condies que se devem verificar: 1) incapacidade para realizar a purificao
normal do corpo; 2) a morte parece iminente ou a situao to m que os prazeres da vida so
nulos; 3) a aco deve ser feita sob a regulao da comunidade. At h algum tempo as vivas
suicidavam-se imolando-se na pira funerria do marido, prtica actualmente banida.
A religio islmica probe o suicdio. S Al pode dar e tirar a vida, por isso as pessoas
devem resignar-se ao seu destino. O suicdio um acto de insubordinao, pelo que uma falta
grave. No Alcoro pode ler-se No vos mateis. Deus misericordioso para convosco (Alcoro
:4:29) e A quem praticar o suicdio com injustia e iniquidade f-lo-emos consumir no fogo. Isso
fcil para Deus (Alcoro :4:30).
Alguns muulmanos pensam que as aces realizadas no decurso da guerra santa
(jihad), em que a morte do prprio ocorre, no se devem considerar suicdio, mas sim uma forma
de martrio. O acto praticado contra os opressores no havendo outra opo.
Por seu turno, Para o judasmo o suicdio homicdio e cai, portanto, na proibio geral
do homicdio. Uma pessoa que intencionalmente toma a sua prpria vida pode no enfrentar um
tribunal terreno, mas no escapa ao julgamento. (Resposta do Rabi Eliahua Levenson a uma
pergunta por mim feita atravs do stio JewishAnswers.org). O suicdio proibido pelas Sete
Leis Universais[59]. As afirmaes ilustram bem a posio do judasmo de condenao do
suicdio.
3.8. CONCLUSO
O suicdio, nas sociedades ocidentais, foi, em geral, condenado e visto como uma
traio aos deuses e prpria sociedade. O suicdio foi alvo de censura e de pesadas sanes
88
judiciais e religiosas. O suicdio altrusta geralmente considerado uma excepo e o martrio foi
mesmo enaltecido pelas religies, em certas pocas. Vrios filsofos se pronunciaram sobre a
questo do suicdio. No entanto, a discusso filosfica sobre o suicdio e a sua legitimidade
pressupe uma deciso racional. Na realidade, porm, a maioria dos suicdios resulta de estados
psicopatolgicos, de que se destaca a depresso, e do sofrimento que causam. Mesmo quando
so planeados, a deciso de os levar a cabo , geralmente, impulsiva e tomada em poucos
minutos. Assim, a deciso no , na maioria dos casos, racional. A compreenso desta realidade
fez com que a censura social e as sanes judiciais se fossem atenuando, tendo estas, em
geral, desaparecido h vrios anos. Apesar de no ser penalizado, o suicdio no , geralmente,
considerado um direito.
REFERNCIAS
1. Wilcockson M. Suicide and autonomy. Em: Wilcockson M, ed. Issues of life and death.
London: Hodder & Stoughton 1999;16-31.
2. Durkheim E. Introduo. Em: O suicdio - estudo sociolgico. Lisboa: Editorial Presena, 7
ed. 2001:19-32.
3. Maris RW. Suicide. Lancet 2002;360:319-326.
4. OMS. Relatrio mundial da sade. Sade mental: nova concepo, nova esperana.
Direco Geral da Sade, 2002:80-83. Em:
http://www.who.int/whr/2001/main/portuguese.pdf.
5. Campos MA, Leite S. O suicdio em Portugal nos anos 90.Revista de Estudos Demogrficos
2002 (32):81:106.
6. Carvalho ML, Natrio IC. O suicdio em Portugal: uma anlise espao-temporal. Revista de
Estatstica 1998:51-72.
89
7. Veiga FA, Saraiva CB. O suicdio em Portugal. Sociedade Portuguesa de Suicidologia, 2002.
http://www.spsuicidologia.pt/biblioteca/artigos_dt.php?artigoID=2.
8. Saraiva CB, Veiga FA, Primavera R et al. Epidemiologia do para-suicdio no concelho de
Coimbra. Psiquiatria Clnica 1996 ;17 :291-296.
9. The New York State Task Force on Life and the Law. The epidemiology of suicide. Em:
When death is sought: assisted suicide and euthanasia in the medical context. New York, 2
ed; 2000:9-22.
10. Asnis GM, Friedman TA, Sanderson WC, Kaplan ML, van Praag HM, Harkavy-Friedman JM.
Suicide behaviours in adult psychiatric outpatients, I: description and prevalence. Am J
Psychiatry 1993;150:108-112.
11. Jamison KR. The burden of despair: psychopathology of suicide. Em: Jamison KR. Night falls
fast. New York: Vintage Books; 1999a:98-129.
12. Morgan G. Long term risks after attempted suicide. BMJ 1993;306:1626-1627.
13. Kellermann AL, Rivara FP, Somes G e col. Suicide in the home in relation to gun ownership.
N Eng J Med 1992;327:467-472.
14. Marzuk PM, Leon AC, Tardiff K, Morgan EB, Stagic M, Mann JJ. The effect of access to
lethal methods of injury on suicide rates. Arch Gen Psychiatry 1992;49:451-458.
15. Winokur G, Black DW. Suicide what can be done? N Eng J Med 1992;327:490-491.
16. Qin P, Agerbo E, Mortensen PB. Suicide risk in relation to family of completed suicide and
psychiatric disorders: a nested case-control study based on longitudinal registers. Lancet
2002;360:1126-1130.
17. Jamison KR. Death lies near at hand: history and overview. Em: Jamison KR. Night falls fast.
New York: Vintage Books; 1999:11-25.
18. Jamison KR. Take off the amber, put out the lamp. Em: Jamison KR. Night falls fast. New
York: Vintage Books; 1999:73-97
90
19. Goldstein RB, Black DW, Nasrallah A, Winokur G. The prediction of suicide: sensitivity,
specificity, and predictive value of a multivariate model applied to suicide among 1906
patients with affective disorders. Arch Gen Psychiatry 1991;48:418-422.
20. Jamison KR. Death-blood: neurobiology and neuropathology. Em: Jamison KR. Night falls
fast. New York: Vintage Books; 1999:182-212.
21. Gould MS, Shaffer D The impact of suicide in television movies: evidence of imitation. N Engl
J Med 1986;315:690-694.
22. Phillips DP, Carstensen LL. Clustering of teenage suicides after television news stories about
suicide. N Engl J Med 1986;315:685-689.
23. Phillips DP, Paight DJ. The impact of televised movies about suicide: a replicative study. N
Engl J Med 1987;317:809-811.
24. Etzersdorfer E, Sonneck G, Nagel-Kues S. Newspaper reports and suicide. N Engl J Med
1992;327:502-503.
25. Harris EC, Barraclough BM. Suicide as an outcome for medical disorders. Medicine
1994;73:281-296.
26. The New York State Task Force on Life and the Law. Suicide and special patient populations.
Em: When death is sought: assisted suicide and euthanasia in the medical context. New
York, 2 ed; 2000:23-33.
27. Louhivuori KA, Hakama M. Risk of suicide among cancer patients. Am J Epidemiol
1979;109:59-65.
28. Breitbart W, Chochinov HM, Passik SD. Psychiatric symptoms in palliative medicine. Em:
Doyle D, Hanks G, Cherny N, Calman K, eds, 3 ed. Oxford: Oxford University Press.
2004:746-771.
29. Grzybowska P, Finlay I. The incidence of suicide in palliative care patients. Palliat Med
1997;11:313:316.
91
30. Hem E, Loge JH, Haldorsen T, Ekberg . Suicide risk in cancer patients from 1960 to 1999. J
Clin Oncol 2004;22:4209-4216.
31. Miccinesi G, Crocetti E, Benvenuti A, Paci E. Suicide mortality is decreasing among cancer
patients in Central Italy. Eur J Cancer 2004;40:1053-1057.
32. Ferraz Gonalves J, Alvarenga M, Silva A. The last forty-eight hours of life in a Portuguese
palliative care unit: does it differ from elsewhere? J Palliat Med 2003;6:895-900.
33. Lawlor PG, Bruera ED. Delirium in patients with advanced cancer. Hematl Oncol Clin N Am
2002;16:701-714.
34. Lloyd-Williams M. How common are thoughts of self-harm in a palliative care population?
Support Care Cancer 2002;10:422-424.
35. Coyle N, Adelhardt J, Foley KM, Portenoy RK. Character of terminal illness in the advanced
cancer patient : pain and other symptoms during the last four weeks of life. J Pain Symptom
Manage 1990 ;5 :83-93.
36. Marzuk PM, Tierney H, Tardiff K, et al. Increased risk of suicide in persons with AIDS. JAMA
1988;259:1333-1337.
37. Cot T, Biggar RJ, Dannenberg AL. Risk of suicide among persons with AIDS: a national
assessment. JAMA 1992;268:2066-2068.
38. McKegney FP, ODowd MA. Suicidality and HIV status. Am J Psychiatry 1992;149:396-398.
39. McHugh PR. Suicide and medical afflictions. Medicine 1994;73:297-298.
40. Durkheim E. Relaes do suicdio com os outros fenmenos sociais. Em: O suicdio - estudo
sociolgico. Lisboa: Editorial Presena, 7 ed. 2001:348-386.
41. Saraiva C. Para-suicdio : contributo para uma compreenso clnica dos comportamentos
suicidrios recorrentes. Tese de doutoramento. Coimbra 1997.
92
42. The New York State Task Force on Life and the Law. Decisions at lifes end: existing law.
Em: When death is sought: assisted suicide and euthanasia in the medical context. New
York, 2 ed; 2000:49-75.
43. Plato. Fdon. Coimbra: Minerva; 2001:62a-c.
44. Aristteles. tica a Nicmaco. Lisboa: Quetzal Editores; 2004:1138a4.
45. Retterstl N. Suicide in a cultural history perspective, part 1. University of Oslo: The suicide
research and prevention unit.
http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/engelsk/menuculture/Retterstol.htm.
46. Cholbi M. Suicide. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
http://plato.stanford.edu/entries/suicide/.
47. Santo Agostinho. No h autoridade que permita aos cristos, seja por que razo for, que
voluntariamente acabem com a prpria vida. Em: Santo Agostinho. A Cidade de Deus.
Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian 2 ed.; 1996 (Livro I-XX):157-159.
48. Santo Agostinho. A morte voluntria por medo dor ou desonra. Em: Santo Agostinho. A
Cidade de Deus. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian 2 ed.; 1996 (Livro I-XVII):149.
49. Santo Agostinho. Casos em que a execuo do homem no constitui o crime de homicdio.
Em: Santo Agostinho. A Cidade de Deus. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian 2 ed.;
1996 (Livro I-XXI):161-162.
50. S. Toms de Aquino. Summa Theologica 2-2, Qu. 64, Art.6.
http://www.newadvent.org/summa/306405.htm.
51. Hume D. Essay on suicide. Em: Hume D. Four dissertations and essays on suicide and the
immortality of the soul. South Bend, Indiana: St Augustine Press 2000.
52. Plato. Fdon. Coimbra: Minerva; 2001:62a-c.
53. Kant I. Transio da filosofia moral popular para a metafsica dos costumes. Em:
Fundamentao da metafsica dos costumes. Lisboa: Edies 70;2003:39-91.
93
54. Camus A. O absurdo e o suicdio. Em Camus A. O mito de Ssifo : ensaio sobre o absurdo.
Lisboa : Editora Livros do Brasil. 2002:13-19.
55. Camus A. A liberdade absurda. Em Camus A. O mito de Ssifo : ensaio sobre o absurdo.
Lisboa : Editora Livros do Brasil. 2002:55.67.
56. Keown D. Buddhism and suicide: the case of Channa. J Buddhist Ethics 1996;3:8-31.
57. Catecismo da Igreja Catlica. Coimbra: Grfica de Coimbra. 2 ed. 1999:2283.
58. Subramuniyaswami S. Lets talk about suicide. Hinduism Today.
http://www.hinduismtoday.com/archives/1992/12/1992-12-05.shtml.
59. Clorfene C, Rogalsky Y. Murder. http://www.moshiach.com/action/morality/murder.php#.
94
4
CESSAO VOLUNTRIA DA ALIMENTAO E DA
HIDRATAO
Com a expresso cessao voluntria da alimentao e da hidratao (CVAH) refiro-me
atitude de doentes competentes com doenas crnicas avanadas que querendo morrer
decidem interromper a alimentao e a hidratao artificiais ou deixam de comer e de beber.
Esta definio no inclui a cessao da alimentao por outros motivos, como a perda do apetite
ou a incapacidade de comer ou beber devido doena. A discusso desta prtica na literatura
mdica relativamente recente, embora se saiba que foi descrita como uma via antiga, usada
pelo menos desde a Grcia antiga, para a boa morte [1].
4.1. AUTONOMIA
Os doentes competentes tm o direito de recusar tratamentos mesmo que isso possa
pr em risco a sua sobrevivncia. A AHA se forem consideradas formas de tratamento, como
tenho vindo a afirmar, podem ser legitimamente recusadas pelos doentes, no sendo, em geral,
um direito contestado. Comer e beber no so, obviamente, tratamentos, mas h quem
considere que a recusa voluntria de comer e beber uma extenso desse direito [2]. Pode
tambm considerar-se um suicdio e, assim, ser considerado ilegtimo. No entanto, mesmo a
considerar-se que no legtimo que o doente deixe voluntariamente de comer e beber, no h
qualquer direito de coagir o doente a actuar de outro modo ou mesmo a impor-lhe uma
alimentao e uma hidratao artificiais.
95
Por outro lado, como a CVAH no necessita da participao de terceiros,
nomeadamente de mdicos, protege a privacidade e a independncia do doente [2].
A morte por CVAH demora vrios dias ou semanas e, inicialmente, pode aumentar o
sofrimento por provocar fome e sede, embora em doentes em fase terminal isso habitualmente
no acontea. A anorexia que acompanha os doentes nesta fase pode mesmo facilitar o
cumprimento da deciso e a xerostomia que acompanha a desidratao pode ser resolvida com
o humedecimento da boca; de facto, a CVAH parece no envolver desconforto significativo [3-5].
O jejum leva libertao de endorfinas que contribuem para o conforto do doente. No entanto, a
CVAH requer persistncia na deciso, no sendo, assim, um acto impulsivo, como acontece
frequentemente nos suicidas. O tempo que necessrio para morrer d oportunidade para que o
doente, eventualmente, mude de ideia e resolva voltar a comer e a beber.
Como foi referido anteriormente os actos suicidas realizam-se na maioria dos casos num
contexto psicopatolgico em que predomina a depresso. Se o desejo de morrer que levasse um
doente CVAH tiver como base a depresso, a deciso dificilmente se poder considerar
autnoma. No entanto, actualmente, no h dados sobre a depresso nos doentes que tomam a
deciso de CVAH [6].
Acontece tambm que quando os doentes esto perto da morte desenvolvem
frequentemente problemas cognitivos [7], o que pode colocar a questo de a aco continuar a
ser voluntria [3]. Do mesmo modo, se houver sintomas refractrios e a necessidade de sedar o
doente com o seu consentimento, o mesmo problema se pode pr. Isto , pode haver um
perodo a partir do qual o doente dificilmente poder decidir ou manifestar mudar de ideias
quanto a manter-se sem comer e beber.
96
4.2. IMPLICAES PARA TERCEIROS
A CVAH no implica a participao de outros na aco, ao contrrio do que acontece
com o suicdio assistido e a eutansia. A profisso mdica no afectada na sua integridade
pela CVAH, porque os mdicos no so responsveis por providenciar os meios para a morte
dos doentes. Os mdicos podem tentar persuadir o doente a mudar de ideias, mas no devem
exercer qualquer coaco sobre o doente que toma essa deciso. Se o doente mantiver a sua
determinao de cessar a alimentao e a hidratao, o mdico tem a obrigao de continuar a
acompanh-lo e a prestar-lhe cuidados paliativos controlando-lhe os sintomas que tiver e de
avaliar se h uma depresso tratvel. A morte por CVAH pode levar em alguns casos trs a
quatro semanas e, se o doente beber minimamente em resposta sua sede ou aos apelos dos
familiares ou amigos, pode prolongar-se ainda mais [3]. Este intervalo de tempo relativamente
longo, necessrio para o doente morrer por este mtodo, pode causar grande perturbao nas
pessoas mais prximas. No entanto, num estudo da Ganzini et al. [4], a grande maioria dos
familiares aceitou a deciso e verificou-se que estes estavam mais preparados para a morte do
doente do que os familiares de outros doentes em cuidados paliativos. No entanto, os familiares,
os amigos e os profissionais de sade podem ver a morte por desidratao e inanio como
degradante e moralmente condenvel.
Se for oferecida regularmente a oportunidade de comer e beber pode-se enfraquecer a
determinao do doente e lev-lo a voltar a faz-lo, mas, por outro lado, no o fazer pode ser, ou
ser interpretado como, coaco subtil sobre o doente impelindo-o para morte [2].
Em termos sociais a CVAH, no implicando a colaborao de terceiros, tem o potencial
de ser mais aceitvel do que a eutansia ou o suicdio assistido. Por outro lado, a determinao
que exige da parte do doente torna improvvel o seu uso extenso. Sucede ainda que a CVAH
no ilegal e, portanto, no exige qualquer alterao da legislao.
97
Como disse no captulo sobre o suicdio, para o hindusmo esta prtica aceitvel -
prayopavesa. , alis, a nica forma de suicdio que consensualmente admite, na condio de a
pessoa ter uma doena terminal ou grande incapacidade. Tem ainda por condio o anncio
pblico da sua inteno o que permite o acompanhamento comunitrio evitando o suicdio
privado num estado de angstia e desespero.
4.2. RESULTADOS DE UM ESTUDO EMPRICO SOBRE A CVAH
Um estudo sobre as experincias de CVAH envolvendo enfermeiras norte-americanas,
mostrou que 85% dos doentes morre dentro de 15 dias aps pararem de comer e beber. As
razes mais importantes para os doentes optarem pela CVAH: foram estarem prontos para
morrer, verem a sua existncia sem objectivo, considerarem a sua qualidade de vida muito m,
quererem morrer em casa e desejarem controlar as circunstncias da morte [4]. As razes
menos importantes foram: dispneia, confuso mental, nuseas, depresso e outras perturbaes
psiquitricas, preocupao em serem uma sobrecarga financeira, a experincia de terem
observado ms mortes e falta de suporte social.
As enfermeiras envolvidas neste estudo classificaram as mortes dos doentes que
optaram pela CVAH numa escala de 0 (morte muito m) a 9 (morte muito boa) e a mediana da
pontuao foi 8. Consideraram as duas ltimas semanas de vida destes doentes como pacficas
e com nveis baixos de dor e sofrimento.
Este estudo foi realizado no Estado do Oregon nos EUA, onde o suicdio assistido
legal. Foram comparados casos de suicdio assistido com os casos de CVAH, tendo-se
constatado que estes doentes eram mais velhos, tinham menos probabilidade de terem cancro e
mais probabilidade de terem doenas neurolgicas terminais. De acordo com as enfermeiras,
comparativamente aos doentes que escolheram o suicdio assistido, os doentes que escolheram
a CVAH tinham menos probabilidade de querer controlar as circunstncias da sua morte, menos
98
probabilidade de temer a perda de dignidade, estavam mais preparados para morrer e tinham
mais probabilidade de no terem suporte social [4]. Em comparao com os doentes que
optaram pelo suicdio assistido estes doentes tinham menos sofrimento e estavam mais em paz
nas ltimas duas semanas de vida. Os doentes que optaram pela CVAH foram menos
frequentemente avaliados por um profissional de sade mental.
4.4 IMPLICAES TICAS DA CVAH
A CVAH tem sido perspectivada de vrios modos diferentes. Para uns, tem uma base
moral mais forte do que o suicdio assistido [3] ou a eutansia. Tem sido vista como uma
extenso do direito de recusa de tratamentos, nomeadamente, da AHA. H quem no concorde
com isto e pense que a CVAH diferente da recusa de tratamentos, sendo um acto de suicdio e
no diferente do suicdio, por exemplo, por arma de fogo [6]. Considerada como suicdio,
pouco diferente do suicdio assistido, diferindo apenas porque no necessita da assistncia do
mdico. Outros ainda, crem que a colaborao com um doente que tenciona antecipar a morte
moralmente impermissvel.
H ainda quem acredite que a CVAH constitui uma ponte entre as posies antagnicas
entre os movimentos pr-eutansia e os movimentos pr-vida porque poderia satisfazer os que
defendem o direito a morrer e ao mesmo tempo os que consideram que a morte pode ser
considerada natural [1].
Outros ainda consideram que os doentes crnicos e terminais deveriam ser informados
da possibilidade da CVAH o que lhes permitiria controlar a sua vida sem necessitarem da ajuda
dos mdicos para o fazerem atravs da eutansia ou do suicdio assistido [9]. Mesmo opositores
da eutansia e do suicdio assistido pensam que a CVAH uma alternativa desejvel porque
no tem os inconvenientes mdicos, morais e legais daquelas prticas, entre as quais o
potencial para abuso e as presses e expectativas sociais que podero criar um dever de
99
morrer [9]. Por sua vez, os mdicos no se veriam confrontados com as questes da eutansia
e do suicdio assistido, podendo dedicar-se sua verdadeira funo que , para com os doentes
com doenas crnicas avanadas, a prestao de cuidados paliativos e de conforto.
Assim, esta prtica eticamente controversa, embora parea mais aceitvel do que
outras. No entanto, se um doente tomar a deciso de CVAH, podemos tentar demov-lo dessa
deciso com persuaso mas no com coaco e, se no final, ele mantiver a sua deciso e se
tiver a determinao necessria para a levar a cabo, os profissionais de sade no podem
abandon-lo por no concordarem com ela. Devem, ao contrrio, continuar a acompanhar o
doente efectuando os tratamentos de que necessitar, apoiando-o sempre.
4.5. CONCLUSO
A CVAH uma prtica que s h relativamente pouco tempo se debate com
profundidade. No entanto, parece haver por parte de alguns mdicos e eticistas uma maior
aceitao da CVAH do que a de outras como a eutansia e o suicdio assistido. Pode considerar-
se uma extenso do direito dos doentes a recusar tratamentos, embora tenha sido tambm
considerada uma forma de suicdio equivalente a dar um tiro na cabea. Parece no ser
desconfortvel, podendo mesmo contribuir para o bem-estar dos doentes. No implica a
participao de terceiros para ser levada a cabo e por demorar dias a semanas a conduzir
morte necessita de grande determinao da parte do doente e, por outro lado, permite que
eventualmente reconsidere e volte a alimentar-se e a beber. O mdico que assiste um doente
que tome uma deciso de morrer por CVAH, ainda que no concorde com ela, pode tentar
demover o doente do seu intento mas no pode exercer qualquer coaco sobre ele nem deve
abandon-lo. Deve, pelo contrrio, prestar-lhe toda a ssistncia de que necessite para minorar o
seu sofrimento.
100
REFERNCIAS
1. Pool R. Youre not going to dehydrate mom, are you?: euthanasia, versterving, and good
death in the Netherlands. Soc Science Med 2004;58:955-966.
2. Quill TE, Lo B, Brock DW. Palliative options of last resort: a comparison of voluntary stopping
eating and drinking, terminal sedation, physician-assisted suicide, and voluntary active
euthanasia. JAMA 1997;278:2099-2104.
3. Miller FG, Meier DE. Voluntary death: a comparison of terminal dehydration and physician-
assisted suicide. Ann Intern Med 1998;128:559-562.
4. Ganzini L, Goy ER, Miller LL, Harvath TA, Jackson A, Delorit MA. Nurses experiences with
hospice patients who refused food and fluid to hasten death. N Engl J Med 2003;349:359-
365.
5. Eddy DM. A conversation with my mother. JAMA 1994;272:179-181.
6. Werth JL. The relationships among clinical depression, suicide, and other actions that may
hasten death. Behav Sci Law 2004;22:627-649.
7. Ferraz Gonalves J, Alvarenga M, Silva A. The last forty-eight hours of life in a Portuguese
palliative care unit: does it differ from elsewhere? J Palliat Med 2003;895-900.
8. Miller DP. Terminal dehydration as an alternative to physician-assisted suicide. Ann Intern
Med 1998;129:1080.
9. Bernat JL, Gert B, Mogielnicki RP. Patient refusal of hydration and nutrition: an alternative to
physician-assisted suicide or voluntary active euthanasia. Arch Intern Med 1993;153:2723-
2728.
101
5
A MORTE ASSISTIDA
Usarei o termo morte assistida para designar a eutansia e o suicdio assistido em
conjunto, visto que as duas formas requerem a assistncia de terceiros, geralmente mdicos,
para serem levadas a cabo. A eutansia e o suicdio assistido tm muitos pontos em comum,
pelo que discut-las separadamente obrigaria a repeties, nomeadamente, no que se refere aos
argumentos a favor e contra estas prticas. Por isso, sero discutidos em conjunto neste
captulo.
O debate sobre a morte assistida tem conhecido altos e baixos ao longo da histria da
humanidade. Na Grcia e Roma antigas a eutansia era largamente aceite [1], excepto pelos
mdicos da escola hipocrtica. De facto, no Juramento de Hipcrates afirma-se: Defender-me-ei
das splicas e dos agrados de quem quer que seja para lhes (aos doentes) ceder venenos que
possam causar a morte, nem tomarei a iniciativa de tal sugesto [2]. O cristianismo continuou a
oposio morte assistida na tradio hipocrtica. No Sculo XVI, Toms Morus defendeu a
eutansia, escrevendo na sua obra mais conhecida A Utopia: Os desgraados que sofrem de
males incurveis so objecto de todo o consolo, assiduidade e cuidados morais e fsicos
capazes de lhes tornar a vida suportvel. Mas quando a esses males incurveis se acrescentam
atrozes sofrimentos que nada capaz de suspender ou remediar, os sacerdotes e os
magistrados apresentam-se ao doente para lhe trazerem a exortao suprema ... Os que se
deixam persuadir acabam os seus dias pela abstinncia voluntria, ou ento adormecem-nos
102
com um narctico mortal e morrem sem se aperceberem disso [3]. No sculo XVIII, David
Hume, j referido no captulo sobre o suicdio, considerava que o suicdio podia ser consistente
com o interesse e o nosso dever para com ns prprios quando as circunstncias da vida, como
a doena, tornem a vida um fardo pior do que a aniquilio [4]. Na parte final do sculo XIX e
incio do sculo XX houve nos EUA e no Reino Unido um recrudescimento do interesse na
eutansia que se inseriu no ambiente de lutas sociais, na volatilidade dos mercados e na
incorporao do darwinismo no pensamento ocidental e do seu conceito da sobrevivncia dos
mais aptos [1]. Aps 1906, quando o individualismo e o darwinismo social se atenuaram, dando
lugar ideia de que o governo devia promover o bem-estar social, o interesse na eutansia
diminuiu. Mais tarde, durante os anos 30 do sculo XX, de novo o interesse na eutansia se
reavivou tendo havido movimentos para a sua legalizao, primeiro em Inglaterra, onde em 1935
se criou a Voluntary Euthanasia Legislation Society e depois nos EUA em 1938 com a
Euthanasia Society of America [5]. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta dos
campos de concentrao nazis e do papel dos mdicos no genocdio, o interesse na eutansia
diminuiu consideravelmente. A partir dos anos 70 do sculo XX, o debate sobre a questo da
morte assistida voltou a avivar-se. Em 1974 os Prmio Nobel George Thompson, Linus Pauling e
Jacques Monod assinaram uma declarao a favor da eutansia [5]. O processo tem vindo a
evoluir at hoje com a legalizao da eutansia e do suicdio assistido em alguns pases, de que
falarei adiante.
Nos pases latinos o debate sobre a morte assistida comeou mais tarde do que nos
pases anglo-saxnicos e nos pases em desenvolvimento praticamente desconhecido [5].
O debate mais recente sobre a morte assistida desenvolveu-se em paralelo com a
grande evoluo tecnolgica da medicina, a qual permitiu um grande progresso na capacidade
de interveno na histria natural das doenas. No entanto, ao concentrar-se nos aspectos
biolgicos da vida humana criou situaes em que esta se torna penosa e contraria a vontade e
103
mesmo os melhores interesses dos doentes. Criam-se situaes em que a morte desejada
pelos doentes como a soluo para o seu sofrimento artificialmente mantido por intervenes
mdicas inapropriadas.
A vida no um bem absoluto, nem a morte um mal absoluto, ambas fazem parte de um
mesmo processo e, se a morte pode em muitos casos ser apropriadamente evitada, noutros a
morte o fim mais apropriado e que melhor serve os interesses das pessoas. Mas se o
prologamento mdico da vida muitas vezes inapropriado, ser que a morte medicamente
assistida poder ser apropriada?
5.1. DEFINIES
O termo eutansia parece ter sido introduzido por Francis Bacon no sculo XVII. Este
considerava que o papel da medicina no deveria ser apenas curar, mas tambm mitigar o
sofrimento mesmo quando no havia possibilidade de recuperao, de modo a produzir uma
morte suave [1]. No claro se Bacon queria referir-se ao que hoje chamamos eutansia ou ao
emprego de meios teraputicos para suavizar o sofrimento, como seja o emprego de
analgsicos.
O termo eutansia significa etimologicamente boa morte (eu boa; thanatus morte) e,
neste sentido no constitui nenhum problema tico. Todos, certamente, desejamos uma boa
morte. Mas no neste sentido que o termo usado.
A definio de eutansia no consensual. Neste trabalho definirei eutansia como a
terminao deliberada e indolor da vida de uma pessoa com uma doena incurvel, avanada e
progressiva que levar inexoravelmente morte, a seu pedido explcito, repetido, informado e
bem reflectido, pela administrao de um ou mais frmacos em doses letais.
Foram propostas outras definies, como por exemplo: um mdico matar
intencionalmente uma pessoa que est a sofrer insuportavelmente e sem esperana, a pedido
104
voluntrio, explcito, repetido, bem reflectido e informado desta [6]. Esta definio no se limita a
incluir apenas doentes com doenas incurveis, avanadas e progressivas mas contempla
tambm situaes de pessoas sem uma doena terminal ou doena somtica, englobando
doentes crnicos, doentes mentais, pessoas cansadas de viver por idade avanada,
deteriorao fsica, solido ou dependncia [6]. Essa definio no fala de doenas mas de
pessoas, porque algumas das situaes que incluiu no tm a ver com doena. Aparentemente
esta definio seria mais inclusiva e mais liberal. No entanto, a inteno que se pode inferir do
texto a de colocar a questo de uma forma, digamos, menos neutra. Efectivamente, ao usar a
palavra matar em vez de terminar a vida, e sublinhando isso no texto, e ao explicitar que a
definio no se limita a doentes terminais, nem sequer a doentes, pretende ser mais chocante.
Penso porm que sem as explicaes adicionais essas diferenas subtis poderiam passar
despercebidas e o efeito perder-se. Os mesmos autores aplicaram o mesmo princpio definio
de suicdio assistido.
A definio holandesa de eutansia : tirar intencionalmente a vida de outra pessoa a
seu pedido explcito [7]. H um consenso quase completo e geral na Holanda que excluiu
desta definio as seguintes situaes: a absteno ou suspenso de tratamentos a pedido do
doente; a absteno ou interrupo de tratamentos considerados fteis ou inteis; o tratamento
da dor ou de outros sintomas com o possvel encurtamento da vida como efeito lateral [7].
A Igreja Catlica define eutansia como: uma aco ou uma omisso que, de per si ou
na inteno, cause a morte com o fim de suprimir o sofrimento [8]. Esta definio mais lata do
que as anteriores e sem os esclarecimentos adicionais contidos noutras passagens do
Catecismo da Igreja Catlica, s por si, poderia ser interpretada como abrangendo a absteno e
suspenso de tratamentos, quaisquer que eles fossem, e a administrao de frmacos
destinados a aliviar o sofrimento se como consequncia ocorresse a morte.
105
O termo eutansia tem sido tambm aplicado a situaes em que o doente no pode
consentir por estar cognitivamente incompetente eutansia no-voluntria e em doentes
cognitivamente competentes sem que tenha sido conhecida a sua vontade eutansia
involuntria. Ora nestas situaes falta o requisito fundamental para a definio de eutansia
que o pedido expresso, repetido e informado do doente, portanto no se podem classificar
estes actos como eutansia, sendo por muitos classificados como homicdio [9]. No caso da
eutansia involuntria h mesmo uma violao bvia da autonomia do doente. O termo
eutansia deve reservar-se para a eutansia voluntria, isto , a que realizada a pedido de
uma pessoa competente.
Existe tambm a distino entre eutansia activa e eutansia passiva. A eutansia
passiva tambm conhecida por eutansia indirecta ou eutansia por omisso. Numa tica
consequencialista a eutansia activa e a eutansia passiva so termos usados para significar
que moralmente equivalente suspender ou no iniciar um tratamento destinado a prolongar a
vida ou matar o doente, visto que a consequncia destes dois actos a mesma [10]. Por
exemplo, segundo filsofos como Peter Singer, no administrar um antibitico a um doente
terminal que desenvolveu uma pneumonia eticamente equivalente a mat-lo porque o
resultado esperado o mesmo [10]. Porm, a noo de eutansia passiva no til porque leva
a confuso. Este termo aplica-se absteno ou interrupo de tratamentos destinados a
prolongar a vida. Ora, h situaes em que no benfico para o doente que se lhe prolongue a
vida porque o mais que se consegue arrastar o processo de morte e, sendo assim, no iniciar
ou interromper um tratamento no eutansia. Iniciar ou manter um tratamento, mesmo que
este se destine a prolongar a vida, exige uma ponderao dos seus benefcios e dos seus
inconvenientes e, se possvel, o conhecimento da vontade do doente, como j foi discutido no
captulo sobre absteno e suspenso de tratamentos. claro tambm que no iniciar ou
suspender um tratamento pode ser inapropriado, mas neste caso estamos perante um caso que
106
podemos designar por erro ou mesmo homicdio, dependendo da situao, mas no de
eutansia. Portanto, o termo eutansia deve aplicar-se apenas ao que se chama eutansia
activa.
Pode definir-se suicdio assistido como a ajuda ao suicdio de uma pessoa com uma
doena incurvel e progressiva que levar inexoravelmente morte, a seu pedido explcito,
repetido, informado e bem reflectido, prescrevendo os frmacos e dando-lhe as instrues
necessrias para o seu uso. O suicdio assistido , assim, um acto que tem muitos pontos em
comum com a eutansia, na medida em que h uma colaborao de uma pessoa, geralmente do
mdico, com o doente para lhe terminar a vida. Existe tambm uma diferena, que para muitos
fundamental, e que o facto de, na eutansia, ser o mdico que pratica o acto que conduz
morte, enquanto que no suicdio assistido o prprio doente que o faz.
5.2. FACTOS SOBRE A MORTE ASSISTIDA
Muitos dos dados sobre a morte assistida provem de estudos realizados na Holanda,
visto ser o pas onde h mais tempo se pratica. Num desses estudos, concluiu-se que em 1995
foram tomadas decises mdicas relativas ao fim de vida mais de 42% das mortes [11]. Em
cerca de 20% de todas as mortes houve decises de suspenso de tratamentos; em cerca de
19% foram usados opiides em grandes doses; em 0.7% a vida foi terminada sem o pedido
explcito do doente; 0.2% foram casos de suicdio assistido; e 2.4% foram casos de eutansia
[11]. A percentagem de decises variou com a doena, atingindo 61% dos doentes com cancro
em comparao com 20% de doentes com doenas cardiovasculares. Os doentes que
receberam uma forma de morte assistida tendiam a ser mais novos, eram mais frequentemente
mulheres e 79 % tinha cancro [11].
Na Holanda foi constituda uma comisso para examinar o que realmente se passava
em relao prtica da eutansia. Esta ficou conhecida como a Comisso Remmelink e
107
apresentou o seu relatrio final em 10 de Setembro de 1991 [12]. No relatrio afirmava-se que
havia cerca de 9000 pedidos de eutansia por ano e que em 2300 destes ela era de facto
executada, o que constitua 1,8% de todas as mortes anuais. Ocorriam ainda 400 casos de
suicdio assistido por ano. Um dos factos mais salientes do relatrio foi a dos 1000 casos
calculados de mortes sem o pedido explcito dos doentes na altura em que a eutansia foi
executada; estes dados foram extrapolados de 47 casos reais de morte sem pedido dos doentes
na altura em que a morte ocorreu, incluindo dois recm-nascidos. Cerca de um quarto destes
doentes tinham feito um pedido prvio de eutansia, 86% estavam incompetentes e, portanto,
incapazes de comunicar os seus desejos actuais e de participar no processo de deciso. A
maioria dos casos envolvia homens com cancro. O mdico que executou a eutansia consultou
um colega em 84% dos casos e a famlia em 94% dos casos [12].
Num estudo no estado do Oregon realizado depois da legalizao do suicdio assistido,
foi referido pelos mdicos o que aconteceu a 165 doentes que fizeram o pedido de suicdio
assistido. Ento, 29 (18%) receberam as prescries de medicao letal e 17 morreram por a
tomarem [13]. Os pedidos de suicdio assistido tinham menos probabilidades de serem atendidos
se o mdico percebia que o doente estava deprimido ou se se considerava uma sobrecarga para
outros e tinham mais probabilidade de serem atendidos se o doente estava num programa de
cuidados paliativos. Cento e trinta e seis doentes no receberam a prescrio por vrios motivos,
entre os quais terem morrido antes, o mdico se recusar ou terem mudado de opinio. Os dados
deste estudo indicam que foi atendido um pedido dos doentes em cada seis e que um em cada
10 resultou em suicdio.
Noutro estudo realizado no estado de Washington [14], dos 38 doentes que receberam
uma prescrio para se suicidarem, 15 (39%) no a usaram. Por outro lado, dos 114 a quem foi
recusada a prescrio, nove suicidaram-se (intoxicao por monxido de carbono, overdose de
108
medicao ou por arma de fogo), dois morreram por eutansia e um por suicdio assistido com
uma prescrio de outro mdico.
Dos quatro doentes que sofreram eutansia sob a Lei dos Direitos dos Terminalmente
Doentes do Territrio do Norte na Austrlia (ver adiante, neste captulo), dois tinham sintomas de
depresso e num destes dois no houve consenso sobre a natureza terminal da doena. Em trs
dos quatro doentes havia isolamento social. Todos os doentes foram mortos pelo mesmo
mdico; num dos casos o doente manteve contacto com o mdico apenas por uma semana [15].
5.3. MOTIVAO DOS DOENTES
Chochinov et al. concluram que o desejo de viver dos doentes terminais altamente
instvel, aps a admisso para uma unidade de cuidados paliativos [16]. Os factores que
contribuem para essa variabilidade parecem mudar medida que a morte se aproxima.
Inicialmente, a ansiedade parece ser o factor mais significativo e provavelmente representa a
fase de transio em que o doente se adapta ao internamento na unidade. Mais tarde, a
depresso substitui a ansiedade e, mais tarde ainda, os factores determinantes so os sintomas
fsicos, sobretudo a dispneia [16].
Perante um doente que faz um pedido de morte assistida o mdico deve procurar
compreender as razes do pedido e o que causa sofrimento. Num estudo realizado em 1991 nos
EUA, a nvel nacional, por entrevista telefnica a 1004 pessoas, 52% responderam que poderiam
considerar uma alternativa morte natural para terminar as suas vidas; as razes mais
frequentemente invocadas foram: no querer ser uma sobrecarga para as suas famlias, no
querer viver com dores e dependente de mquinas [17]. Segundo Quill, um pedido de suicdio
assistido pode ser motivado por alvio inadequado de sintomas fsicos, problemas psico-sociais,
depresso, problemas nas relaes pessoais ou questes espirituais [18]. Outros factores que
109
tambm podem contribuir para o desejo de morrer so sintomas psicolgicos no tratados, como
ansiedade, tristeza e problemas de sono [19].
H vrios estudos que abordam as motivaes dos doentes para os pedidos de morte
assistida. Alguns deles foram realizados em mdicos com experincia em morte assistida. Na
Holanda, segundo os mdicos, as razes mais frequentes para os pedidos de morte assistida
foram a perda de dignidade, a dependncia de outros e estar cansado da vida; a dor foi a
motivao de uma pequena percentagem dos doentes [20].
No Oregon, antes da legalizao do suicdio assistido, os mdicos consideraram que os
pedidos se deviam ao medo de ser uma sobrecarga para os outros ou podiam resultar de
presses financeiras sobre o doente [21]. Depois da legalizao, 144 mdicos (5% dos elegveis
para o estudo) afirmaram que tinham recebido um total de 221 pedidos de suicdio assistido e as
razes mais importantes, segundo os mdicos, para os pedidos foram os sintomas fsicos (dor,
fadiga e dispneia), a perda de independncia, m qualidade de vida, o estar preparado para a
morte e o desejo de controlar as circunstncias da morte; razes raras foram a percepo de ser
uma sobrecarga financeira e a falta de apoio social [13]. Quarenta e seis por cento dos doentes
mudaram de opinio. Nestes foram realizadas intervenes importantes, incluindo controlo de
sintomas, referenciao para cuidados paliativos, consulta de sade mental, de um assistente
social ou de um capelo [13]. No entanto, 81% dos doentes que morreram por suicdio assistido
estavam num programa de cuidados paliativos.
No estado de Washington onde 218 mdicos (26% dos que responderam) receberam
pelo menos um pedido de suicdio assistido ou eutansia e 99 (12%) dos quais receberam pelo
menos um pedido de suicdio assistido no ltimo ano, os mdicos referiram que as principais
razes para os pedidos de suicdio assistido so o medo da perda futura do controlo, ser uma
sobrecarga, ser dependente de outros e a perda de dignidade [14]. Por razes que no so
claras, os doentes com doenas cardacas que tinham uma sobrevivncia esperada inferior a
110
seis meses fizeram pedidos de suicdio assistido ou eutansia menos frequentemente do que os
doentes com cancro ou SIDA com o mesmo prognstico.
Num estudo de Emanuel et al., 27% dos doentes consideraram seriamente o suicdio
assistido ou a eutansia, mas s 1,9% o discutiram com o seu mdico [22]; entre estes
predominavam os que estavam deprimidos, os que no eram religiosos, os que estavam mais
dependentes fisicamente e os mais favorecidos economicamente. Noutro estudo realizado no
Canad em 100 doentes em cuidados paliativos, concluiu-se que os factores que se associaram
de forma estatisticamente significativa ao apoio a uma forma de morte assistida foram fracas
crenas religiosas e a percepo de que os doentes com cancro so uma sobrecarga pesada
para os familiares [23]. No mesmo estudo, observou-se uma associao entre a ideao suicida
e o mal-estar, a depresso, a ansiedade e a dispneia. Concluiu-se, portanto, que a intensidade
dos sintomas fsicos no determinante para as atitudes em relao morte assistida, sendo
mais importantes os traos psico-sociais e as crenas dos doentes [23].
Num estudo qualitativo recente conduzido na Noruega [24], nenhum dos 18 doentes
estudados tinha na altura o desejo de uma forma de morte assistida, embora considerassem
com frequncia essa possibilidade no futuro, referindo em alguns casos que esse desejo era
flutuante e ambivalente. Os factores que influenciavam o desejo eram o medo de dor no futuro e
de uma morte dolorosa, experincias prvias ou presentes de dor, preocupaes com a falta de
qualidade de vida e preocupaes com a desesperana [24]. Parece que medida que o
prognstico piora por haver doena disseminada ou se passa para um tratamento no curativo
ou paliativo os doentes tendem a rejeitar as prticas de morte assistida [25].
Em Frana tambm foi realizado recentemente um estudo prospectivo de doentes
assistidos em sete unidades de cuidados paliativos [26]. Dos 611 doentes estudados, num
perodo de seis meses, houve 13 pedidos de eutansia. Destes, seis foram feitos s pelos
doentes, trs s por familiares e quatro em conjunto pela famlia e pelos doentes. Os pedidos
111
feitos s pelos familiares no podem, em rigor, considerar-se casos de pedidos de eutansia,
porque estes pressupem o pedido pelo doente. As razes para os pedidos eram mltiplas,
sendo as mais frequentes as alteraes fsicas, a perda do papel social, sofrimento existencial,
dor, sintomas intensos e exausto da famlia. Dos 13 pedidos apenas quatro foram mantidos at
morte: dos trs pedidos feitos s por familiares nenhum foi mantido; dos seis pedidos feitos s
pelos doentes, um foi mantido; dos quatros pedidos em conjunto trs foram mantidos. Estes
dados sugerem que os familiares tm um papel relevante na sustentao dos pedidos.
Tomando estes estudos em conjunto, pode dizer-se que as razes mais importantes
para os pedidos de morte assistida so os problemas ligados dignidade, ao controlo e
independncia, mais do que o controlo da dor ou de outros sintomas. As referncias dos doentes
morte assistida podem apenas significar a tentativa de manter o controlo sobre a situao,
como uma possibilidade reservada para o futuro em que a situao poder ser pior, no se
chegando geralmente a concretizar. Acontece ainda que os pedidos frequentemente no so
consistentes ao longo do tempo, revelando a ambivalncia dos doentes. Por tudo isto, se pode
concluir que os pedidos de morte assistida devem ser explorados numa tentativa de determinar o
seu verdadeiro significado, que muitas vezes difere do seu significado literal.
5.4. O ESTADO MENTAL DOS DOENTES
O delirium e a demncia, frequentes nos doentes com doenas crnicas avanadas,
podem comprometer seriamente a capacidade de tomar decises informadas. No entanto, pode
ser difcil determinar quando um doente demente deixa de ter capacidade para tomar decises e
o delirium reversvel em muitos casos.
A depresso pode tambm influenciar as decises ao diminuir a capacidade de apreciar
os benefcios da vida e ampliar os seus inconvenientes [19]. No entanto, a depresso no altera
necessariamente a capacidade de tomar decises ou resulta em decises que antecipem a
112
morte [19,27]. A investigao relacionada com pessoas que morreram como resultado de
suicdio assistido envolveu primariamente fontes secundrias, como profissionais de sade, o
que no est isento de problemas, mas os estudos mostraram consistentemente que a
depresso major no parece ser uma razo significativa para pedir ou tomar medicao com a
finalidade de morrer [27]. No entanto, a investigao em pessoas que consideraram o suicdio
assistido demonstraram que a depresso clnica e a desesperana esto significativamente
relacionados com o interesse nesta prtica, mas no contribui para toda a variao [27]. Os
doentes terminais podem exprimir tristeza mas, geralmente, no querem morrer prematuramente
[28]. A depresso associa-se a perda de auto-estima e sentimentos de inutilidade.
A depresso , porm, difcil de diagnosticar nos doentes terminais, porque os sintomas
somticos que podem ser causados pela depresso (e que so critrios para o diagnstico de
depresso), como a anorexia, a astenia, a insnia, so tambm frequentes nesses doentes e
resultam da doena somtica, como j foi referido no captulo sobre o suicdio. Por outro lado,
muitos mdicos erradamente acreditam que a depresso um componente normal do processo
de morte [28]. A investigao da depresso nos doentes terminais limitada. De facto, estes so
geralmente excludos dos estudos sobre a depresso [19]. No entanto, sugeriu-se que a
resposta teraputica da depresso nestes doentes muito menos pronunciada do que a das
pessoas fisicamente saudveis [19].
A interveno psicoteraputica pode ser til mesmo que no haja depresso e a
capacidade de decidir no esteja diminuda. Os doentes podem requerer o suicdio assistido
porque se sentem isolados ou culpados ou, ainda, pela baixa auto-estima resultante de ser uma
sobrecarga para outros. A doena, as emoes a ela associadas, a exausto e a personalidade
do doente podem lev-lo a no considerar outras alternativas, tal como intervenes paliativas
[19]. Ento, os pedidos para assistncia na morte no so, muitas vezes, racionais, mas antes
um protesto contra a necessidade de adaptao a viver em termos diferentes dos definidos pelo
113
prprio ou um apelo por ajuda [28]. Por estas razes pode ser til que o doente seja consultado
por um profissional de sade mental.
5.5 PROBLEMAS CLNICOS RELACIONADOS COM A REALIZAO DA
EUTANSIA E DO SUICDIO ASSISTIDO
No faz parte da formao dos mdicos o ensino dos frmacos a prescrever para o
suicdio assistido. No h tambm investigao sobre esta questo. Provavelmente no haver
uma uniformidade nos frmacos nem nas doses que possa ser aplicada universalmente, dada a
variabilidade na tolerncia s drogas que se verifica entre os doentes. Assim, os vrios estudos
sobre o suicdio assistido detectaram vrios problemas.
O processo de execuo da eutansia consiste, na maioria dos casos, na administrao
de um barbitrico para induzir o coma, seguindo-se um relaxante muscular. Com menos
frequncia usa-se apenas o barbitrico, um opiide, cloreto de potssio ou outros [29].
Segundo um estudo realizado por Groenewoud et al. [29], em 71% dos casos de suicdio
assistido os barbitricos usados isoladamente so o mtodo mais utilizado. Em algumas
situaes usou-se um relaxante muscular a seguir ao barbitrico e noutras usou-se um opiide.
Em 85 casos (75%) o doente tomou o frmaco ou frmacos sem ajuda, em 5 casos o mdico ou
um parente ajudou o doente; em 19 casos, o mdico administrou um segundo ou terceiro
frmaco parenteralmente devido a complicaes ou falta de efeito do primeiro frmaco [29].
O suicdio assistido associa-se a mais problemas clnicos do que eutansia. No mesmo
estudo [29], a medicao oral e rectal associou-se a mais problemas tcnicos e a mais
problemas em atingir a sua finalidade do que a medicao parentrica. Os problemas tcnicos
totalizaram 5% dos casos, sendo os mais frequentes (incluindo os casos de eutansia) a
dificuldade em encontrar uma veia para injectar o frmaco e a dificuldade em administrar a
medicao oral. Ocorreram complicaes em 4% e as mais frequentes foram espasmos ou
114
mioclonias, nuseas e vmitos. Houve problemas em atingir a finalidade em 7%, sendo os mais
mencionados um intervalo entre a administrao dos frmacos e a morte maior do que o
esperado e a incapacidade de induzir coma.
Ainda no estudo de Groenewoud [29], em alguns casos (21 de 114) em que a inteno
era o suicdio assistido, o mdico administrou o frmaco letal, na maioria das vezes porque o
doente estava a levar mais tempo a morrer do que o esperado, no foi possvel induzir o coma
ou o doente acordou do coma e o mdico sentiu-se compelido a intervir; noutros casos o doente
teve dificuldade em engolir os frmacos, vomitou aps engolir ou entrou em coma antes de
engolir a totalidade. Nestas circunstncias, praticou-se eutansia e no suicdio assistido.
Num estudo realizado no Oregon, em 10 dos 17 doentes que morreram por suicdio
assistido o tempo que demoraram a morrer foi registado. Verificou-se em trs uma demora de
mais de cinco horas aps a ingesto da medicao e um doente ainda estava consciente 30
minutos aps a ingesto da medicao, pelo que tomou mais medicao do que a prevista [13].
H ainda casos descritos em que a medicao oral no foi eficaz e a pessoa que assistiu
ao suicdio teve de dar outros passos para assegurar a morte do doente, como asfixi-lo com um
saco de plstico [30].
5.6. RELAO ENTRE A EUTANSIA E O SUICDIO ASSISTIDO
A eutansia e o suicdio assistido tm sido considerados em termos morais como
equivalentes ou como distintas, quer por apoiantes quer por opositores destas prticas. Os que
as consideram equivalentes fazem-no porque ambas tm o mesmo objectivo e necessitam da
participao dos mdicos, diferindo apenas no agente executor. Os que consideram que o
suicdio assistido e a eutansia so actos intrinsecamente distintos baseiam-se no facto de que
no suicdio assistido o doente que toma o frmaco letal e f-lo quando assim o entender. O
mdico tem uma participao indirecta, apenas como prescritor e instrutor do doente, podendo
115
estar ou no presente quando o doente decide tomar os frmacos letais. Pode acontecer at que
o doente, dado o controlo que tem sobre a situao, possa vir a mudar de ideias e decidir no
usar a medicao para se suicidar. O suicdio assistido considerado por muitos como menos
susceptvel de abuso do que a eutansia porque necessita da participao activa dos doentes
que tm de tomar eles prprios a medicao. No entanto, as presses subtis sobre os doentes
so sempre possveis por parte de vrios membros da sociedade, incluindo a famlia e os
amigos, mas tambm de mdicos e outros elementos.
Como j vimos atrs a propsito dos problemas clnicos com a realizao da eutansia e
do suicdio assistido, por vezes os mdicos tm de intervir em casos em que estava planeado
um suicdio assistido, transformando-os em casos de eutansia. Esta situao pe, tambm,
problemas de legalidade em pases em que o suicdio assistido legal e a eutansia ilegal.
A legislao de alguns pases ou estados, incluindo a portuguesa (embora esta no se
lhes refira directamente), distinguem estes dois actos. Em alguns pases ou estados o suicdio
assistido legal e a eutansia ilegal. Argumentam alguns que isto constitui uma discriminao
injusta dos doentes que tendo um sofrimento que no susceptvel de alvio e decidem morrer
no tm capacidade fsica para se suicidar [31].
Num estudo realizado na Holanda, em 75% dos casos a eutansia foi preferida em
relao ao suicdio assistido [32]. A razo mais frequentemente invocada pelos mdicos para
optarem em certos casos pelo suicdio assistido em vez da eutansia foi o desejo de, tanto
quanto possvel, deixar o doente tomar a responsabilidade. A razo principal para optarem pela
eutansia em vez do suicdio assistido foi a condio fsica do doente (dificuldade em engolir,
nuseas, paralisia); outra razo foi o desejo dos doentes; outra, ainda, foi a noo de que
terminar a vida do doente uma responsabilidade do mdico. Os mdicos referiram que os
doentes que escolheram o suicdio assistido em vez da eutansia queriam tomar a
responsabilidade pela aco e queriam determinar o tempo exacto para morrer. As razes que
116
os mdicos consideram para os doentes preferirem a eutansia foram a incapacidade fsica para
o suicdio assistido e o facto de que a eutansia significava uma morte rpida. Segundo os
mdicos a sobrevivncia esperada dos doentes a quem foi administrada eutansia era em mdia
de 30 dias enquanto que a mdia dos que fizeram suicdio assistido era de 1 ano (diferena
estatisticamente significativa). Embora a avaliao da sobrevivncia seja um exerccio falvel, a
diferena observada traduz com grande probabilidade uma diferena real embora de magnitude
indeterminada.
No estudo de Back et al. [14] sobre o suicdio assistido e a eutansia realizado no estado
de Washington e publicado em 1996, a julgar pela resposta dos mdicos, os doentes que
pediram eutansia quando comparados com os que pediram suicdio assistido tinham
significativamente mais vezes dor intensa, desconforto intenso que no dor, sofrimento intenso,
dependncia dos outros e confinamento cama.
A legalizao do suicdio assistido e no da eutansia poder causar uma discriminao
das pessoas que se querem suicidar mas no tm capacidade para o fazer. H mesmo a opinio
de que matar um doente terminal a seu pedido quando esteja incapacitado de o fazer uma
forma de suicdio assistido, indistinguvel da auto-administrao de frmacos [33]. Outro
argumento contra a distino legal dos dois actos o facto de, em geral, as pessoas que querem
optar pelo suicdio assistido pretenderem viver o mais tempo possvel, enquanto puderem estar
activas, e s querem morrer mais tarde quando estiverem dependentes. No entanto, se no
houver a opo da eutansia essas pessoas podem optar por uma morte prematura, quando
pensam que no seria ainda a altura certa, mas se o no fizerem podem perder a oportunidade.
Criar-se-ia um incentivo morte prematura com essa limitao [34].
117
5.7. ARGUMENTOS A FAVOR E CONTRA A MORTE ASSISTIDA
No debate que h largos anos se vem fazendo sobre a morte assistida, em particular
sobre a eutansia, o essencial dos argumentos a favor e contra pouco tm variado.
5.7.1. Respeito pela autonomia
Segundo o argumento do respeito pela autonomia, a morte assistida permitiria que os
doentes tivessem controlo sobre o fim das suas vidas nomeadamente no que diz respeito ao
momento e s circunstncias em que a morte ocorreria. Deste modo a morte assistida respeitaria
o direito das pessoas a viverem segundo os seus prprios valores e nas condies que
considerassem aceitveis. Para Peter Singer [10], a justificao da eutansia voluntria reside
na autonomia das pessoas que, perante uma situao de sofrimento inelutvel, podem decidir
que a melhor soluo a morte.
Argumenta-se, por outro lado, que o valor da vida humana no confere a ningum o
direito a matar, mesmo que seja a pedido, nem a assistir no suicdio uma pessoa ainda que se
tivesse a inteno de a beneficiar, no se podendo, assim, invocar o respeito pela autonomia
para justificar esses actos. Outro argumento contra o de que a morte destri a autonomia,
contradizendo assim o respeito por esta como justificao para a morte assistida.
Outros, ainda que possam admitir que o respeito pela autonomia possa incluir a morte
assistida, rejeitam-no como argumento a favor baseando-se no que se passa na prtica. Por
exemplo, na Holanda h doentes que so mortos sem que o tenham pedido (eutansia
involuntria e eutansia no voluntria, como foi definido antes) e doentes que pedem a morte
assistida e que vem o seu pedido rejeitado. De facto, 25% dos casos de eutansia ocorrem
sem o pedido expresso dos doentes e inclui crianas, adultos que nunca foram competentes e
doentes comatosos cujos desejos nunca foram conhecidos [30]. Portanto, em ltima anlise no
o doente que decide mas o mdico [35].
118
David Velleman argumenta que o facto de o direito eutansia estar institudo no
aumenta necessariamente a autonomia dos doentes [36]. O facto de se reconhecer um direito a
morrer pode prejudicar alguns doentes pelo simples facto de essa opo existir. Efectivamente, a
possibilidade de poderem optar pela eutansia nega-lhes a possibilidade de poderem ficar vivos
sem terem de fazer opes. Ficar vivo poderia deixar de ser o que natural, o que no necessita
de justificao. Desde que seja oferecida a uma pessoa a escolha entre a vida e a morte, ela
ser entendida como agente da sua prpria sobrevivncia [36]. Quando se v uma pessoa numa
situao que foi escolhida por ela, pode-se-lhe pedir para que se justifique. Que justifique que
uma vida de passividade e dependncia no razo suficiente para morrer. E as pessoas a
quem se teria de justificar seriam as que sofrem emocional e financeiramente pelo
prolongamento da sua vida [36]. Os doentes poderiam ser subtilmente pressionados pelas
pessoas de quem dependem. Mesmo que os familiares e os amigos no desejem a morte do
doente, este pode assumir que as pessoas esperam que ele opte pela eutansia, que existe
precisamente como uma opo oferecida pela sociedade para as pessoas no seu estado. Ainda
que o doente considere que a sua vida vale a pena ser vivida, pode optar pela eutansia por se
sentir a isso obrigado. Para Velleman, oferecer a opo de morrer pode ser dar s pessoas
novas razes para morrer [36].
H, assim, o risco de os pedidos no serem de facto uma manifestao da autonomia
das pessoas, mas terem outras motivaes. A depresso ou outras doenas psiquitricas
tratveis podem levar as pessoas a querer morrer e a suicidarem-se, como foi referido no
captulo Suicdio, desta dissertao. conhecida, como tambm j foi dito, a dificuldade em
diagnosticar a depresso, sobretudo nos doentes com doenas crnicas avanadas. Esta
dificuldade aumenta quando se trata de distinguir, num doente deprimido, os pedidos de morte
assistida motivados pela depresso dos pedidos de doentes deprimidos cujo pedido no
distorcido pela depresso [34]. A falta de cuidados mdicos adequados ou de suporte social
119
pode levar pessoas em sofrimento fsico ou dependncia a optarem pela morte assistida quando
outras solues seriam mais adequadas para responder s suas necessidades.
As presses subtis na morte assistida poderiam exercer-se particularmente em certos
grupos sociais mais vulnerveis, como minorias tnicas, os mais pobres, os idosos e as
mulheres. Estas vivem, em mdia, mais tempo do que os homens e, por isso, atingem muitas
vezes uma situao em que enviuvam, ficando isoladas, sem suporte familiar e empobrecidas,
condies que provavelmente favoreceram a opo por morrer. Este risco acrescido das
mulheres ilustrado pelo facto de as oito primeiras pessoas a serem assistidas na sua morte
pelo Dr. Kevorkian terem sido mulheres [30]. Essas presses so, no entanto, difceis de
detectar, podendo escapar a qualquer controlo que se pretendesse exercer sobre os pedidos de
morte assistida.
5.7.2. Alvio do sofrimento
H quem considere que no o respeito pela autonomia do doente a principal
justificao para a morte assistida, mas sim a beneficncia. O debate em torno do argumento do
alvio do sofrimento resulta de diferentes perspectivas quanto ao modo como a sociedade deve
responder a este problema.
Em algumas situaes difcil controlar sintomas fsicos em particular alguns, como a
dispneia [37]. Noutros casos o sofrimento sobretudo psicolgico, causado pela deteriorao
fsica e mental, pela dependncia ou por alteraes da imagem corporal, que so problemas
para os quais as respostas so mais limitadas. Mesmo quando h cuidados paliativos
disponveis no se consegue aliviar sempre o sofrimento de modo aceitvel para o doente.
Acontece ainda que o acesso a cuidados paliativos eficazes limitado em muitos locais (entre
os quais se inclui Portugal) pelo que a morte assistida seria uma resposta eficaz para o
sofrimento no controlado dos doentes. Alm disso, h doentes que procuram a morte assistida
120
por razes que no cabem no mbito dos cuidados paliativos, como o caso do espanhol
Ramn Sanpedro que esteve tetraplgico durante anos. Segundo os proponentes da morte
assistida s os prprios doentes podem determinar quando o sofrimento se torna intolervel.
Outros argumentam a favor da morte assistida referindo que esta seria provavelmente
utilizada apenas por uma minoria de doentes, mas a possibilidade de a ela recorrerem
tranquilizaria muitos doentes quanto sua perspectivao do futuro. Assim, saber que, se o seu
sofrimento se tornasse intolervel, poderiam dispor de um meio fcil para lhe escapar, tornaria
os doentes mais seguros quanto ao seu futuro. Tambm a sociedade em geral ficaria mais
segura se dispusesse da morte assistida como meio de acabar com um eventual sofrimento
intolervel [38].
Alguns oponentes da morte assistida concordam que esta poderia ser benfica para os
doentes em casos raros, mas que, esse benefcio seria largamente ultrapassado pelos
potenciais danos causados a muitos outros doentes cujo sofrimento poderia ser aliviado de
outros modos. Os cuidados paliativos constituem para muitos doentes uma resposta eficaz no
controlo do sofrimento fsico mas tambm no controlo do sofrimento psicolgico. Nos casos mais
dfceis, um recurso melhor do que a morte assistida, que est includo no mbito dos cuidados
paliativos, a sedao.
O suicdio causado na maioria dos casos por um grande sofrimento psicolgico e, no
entanto, no geralmente considerado como uma soluo aceitvel. Do mesmo modo a morte
assistida no deveria ser aceite como a soluo para o sofrimento dos doentes com doenas
crnicas avanadas. Para muitos uma contradio dizer que se beneficia um doente matando-
o intencionalmente .
121
5.7.3. Consequncias sociais
Embora o debate sobre a morte assistida, sobretudo a eutansia, j se faa h muito
tempo, ainda que com relevo varivel, s muito recentemente houve experincias de legalizao.
Isto reflecte que os valores e a tradio das sociedades, o ponto de vista das vrias religies e o
entendimento dos dirigentes no vo, em geral, no sentido de dar um passo de consequncias
sociais imprevisveis.
Um dos argumentos contra a legalizao da morte assistida o do seu potencial abuso.
Pode ocorrer que ao disponibilizar-se a morte assistida se crie na sociedade uma aceitao fcil
das decises das pessoas em pr um fim sua vida, sem que haja uma tentativa de as
persuadir a no o fazerem. E, numa poca de dificuldades econmicas e de grande crescimento
das despesas com a sade, em que os estados tm problemas com o financiamento do seu
sistema de sade, pode haver presses subtis sobre os doentes que conduzam morte
assistida. Mais ainda, quando se assiste a uma inverso da pirmide demogrfica com um
crescimento exponencial das pessoas idosas. Tambm, a ideia frequente entre os doentes com
doenas avanadas em situao de dependncia de que so um peso econmico e um estorvo
para a sociedade e, em particular, para os seus familiares, e o sentimento de que a sua vida j
no tem sentido, pode fazer com que, estando legalizada a morte assistida, muitos se sintam
obrigados a optar por ela. A morte assistida no seria s um direito, mas poderia ser visto por
muitos doentes como uma obrigao, j que a mensagem que lhes est a ser transmitida a de
que uma vez que se est a sentir um estorvo e a sua vida no tem qualquer sentido, ento a
soluo fcil e de facto mais vale morrer. Estas preocupaes so apoiadas pelo estudo de
Sulmasy et al. que mostra que os mdicos mais preocupados com a poupana de recursos na
sua prtica mdica tinham uma probabilidade seis vezes maior de participar no suicdio assistido
do que os outros [39]. H mesmo quem considere duvidoso que um doente terminal que ingere
122
intencionalmente drogas letais no esteja a cometer suicdio mas a apressar uma morte
inevitvel [34].
H quem pense que seria desejvel regular a morte assistida. A alegada necessidade da
regulao baseia-se na circunstncia de que nos pases em que a morte assistida probida,
como os EUA e Portugal, no h casos de mdicos condenados por ajudarem um doente a
morrer a seu pedido. Por outro lado, o suicdio assistido e a eutansia podem ocorrer em
segredo sem que haja qualquer controlo independente podendo, portanto, ocorrer abusos.
Sendo assim, o actual estado das coisas no serviria os interesses dos doentes e
comprometeria a integridade profissional dos mdicos [40]. A maioria dos defensores da morte
assistida considera que a legalizao com a especificao das condies em que se poderia
realizar, seria a melhor maneira de regular a sua prtica e que s assim as pessoas estariam
salvaguardadas contra eventuais abusos. No entanto, como se ver a diante, a morte assistida
s est legalizada em poucos pases. Adiante darei exemplos das regras requeridas por lei para
essa prtica nos pases em que est legalizada.
Na ausncia da descriminalizao, porm, foram desenvolvidas directivas especficas
[41,42]. Em geral, as directivas requerem que os doentes dem o seu consentimento informado,
a maioria por escrito e com testemunhas, e exigem ainda um perodo de espera para assegurar
a consistncia do pedido [41]. As directivas, geralmente, recomendam tambm que haja uma
boa relao mdico-doente e que outro mdico d uma segunda opinio para evitar erros ou
dolo. Outras requerem a reviso por especialistas em cuidados paliativos, e que os cuidados
paliativos sejam oferecidos como alternativa, e a observao por especialistas de sade mental,
psiquiatras ou psiclogos [42].
Darei dois exemplos de directivas. Quill et al. foram provavelmente os primeiros a
produzir directivas para o suicdio assistido, considerando que este um tratamento
extraordinrio e irreversvel, pelo que necessrio que haja critrios que sejam claramente
123
seguidos [43]. Apoiavam a legalizao do suicdio assistido mas no da eutansia. Os critrios
clnicos que propuseram foram os seguintes:
O doente deve compreender a sua condio, o prognstico, e os tipos de cuidados de
conforto alternativos;
O mdico deve assegurar-se que o sofrimento e o pedido do doente no resultam de
cuidados inadequados;
O doente deve clara e repetidamente, por sua livre iniciativa, pedir para morrer em vez de
continuar a sofrer, no devendo ser atendidos os pedidos resultantes de uma directiva
antecipada ou os efectuados por um representante;
O mdico deve ter a certeza de que o julgamento do doente no est distorcido,
nomeadamente por depresso, e no caso de dvidas ou inexperincia do mdico deve ser
pedida uma avaliao psiquitrica;
O pedido deve ser feito somente no contexto de uma relao mdico-doente significativa;
necessria uma consulta com outro mdico experiente para assegurar que o pedido do
doente voluntrio e racional, e o diagnstico e o prognstico correctos, e que foram
exploradas as alternativas de cuidados de conforto;
Deve existir documentao clara para suportar a deciso.
Outro exemplo o das directivas produzidas por Miller et al. Estes consideram a morte
assitida como uma prtica mdica no padro, reservada para circunstncias extraordinrias
[40]. Por isso, os pedidos dos doentes devem ser avaliados cuidadosamente e exploradas
alternativas para se conseguir o seu conforto. O mtodo proposto por Miller et al. limita as
situaes de pedido de morte assistida aos adultos com capacidade de deciso, depois de
obtido um consentimento escrito ou oral desde que testemunhado, no sendo nenhum mdico
obrigado a participar. Os mdicos assistentes teriam de comunicar a morte assistida s
autoridades competentes. A superviso das decises em cada caso seria feita por mdicos
124
certificados em cuidados paliativos, sendo proibido a qualquer mdico praticar uma forma de
morte assistida sem a avaliao por um consultor de cuidados paliativos independente. Nos
casos dficeis e naqueles em que no fosse alcanado um acordo, uma comisso de cuidados
paliativos avaliaria prospectivamente a situao. Os mdicos que no cumprissem as normas
seriam sujeitos a sanes profissionais e criminais. Outros propem que haja em todos os
casos uma avaliao e aconselhamento psicolgico [38].
A regulao da morte assistida tem, porm, muitas inconsistncias. Os pedidos de morte
assistida resultam sobretudo do sofrimento psicolgico, pelo que limitar a prtica aos doentes
com doenas fsicas terminais uma arbitrariedade. Porque no acolher, tambm, os pedidos de
outras pessoas, como doentes mentais, pessoas cansadas de viver por idade avanada,
deteriorao fsica, solido ou dependncia como propem Mastertvedt et al. [6]. Se o desejo de
morrer resulta, na sua maioria esmagadora, do sofrimento psicolgico e no do sofrimento fsico,
ento, porque no considerar o sofrimento destas pessoas e o seu desejo de morrer, focando
apenas a questo da morte assistida aos doentes com doenas fsicas avanadas. Na realidade,
esta questo j foi ultrapassada quando num caso de um homem de 86 anos, sem doena fsica
ou mental, mas cansado de viver, de tal modo que a vida se tornou num sofrimento insuportvel,
um tribunal holands decidiu que se justificava a eutansia [35]. E porque no incluir, tambm,
outras pessoas com doenas crnicas de evoluo arrastada que no estando em fase terminal
envolvem dependncia e sofrimento, tal como o SIDA, a esclerose mltipla, o enfisema
avanado e outras. Pelo facto de estas pessoas no irem morrer a curto prazo e poderem ter
anos de sofrimento pela frente, deveria ser, segundo algumas opinies, uma razo a favor de
obterem mais suporte da parte da sociedade para a morte assistida e no menos [34].
Acontece, porm, que as associaes de deficientes se opem legalizao da morte
assistida. De facto, a viso que pelo menos uma parte das pessoas tm sobre os deficientes,
como indivduos com uma vida de sofrimento, de menor valor, merecedores de compaixo, f-los
125
temer que, no caso da legalizao de formas de morte assistida, se abrisse um caminho que
fossem pressionados a percorrer. Estas pessoas podem ter perodos de baixa auto-estima por
vezes com a durao de anos, que as podem levar a considerar a morte assistida se esta estiver
disponvel [44]. No entanto, com suporte adequado podem voltar a reencontrar um sentimento do
seu valor e dignidade [44]. Por isso, os curtos intervalos exigidos pela lei ou pelas directivas no
permitem excluir casos como estes.
As regras que se estabelecem para limitar o acesso morte assistida incluem muitas
vezes a condio de as pessoas estarem num sofrimento insuportvel que no pode ser aliviado
de forma aceitvel de outro modo. No entanto, o sofrimento uma experincia individual e pouco
objectivvel pelo que no se pode medir. Assim, qualquer doente que requeira a morte assistida
poder declarar que tem um sofrimento insuportvel, o que no se pode contestar.
A legislao no capaz de distinguir os casos em que se poderia justificar a assistncia
ao suicdio e outros em que tal no se justificaria [30]. Mesmo os apoiantes da morte assistida
concordam que nem todos os pedidos devem ser aceites. Ainda que se possa admitir que em
alguns casos a morte assistida seja a melhor soluo para responder ao sofrimento, seria difcil
que uma legislao pudesse prever todas as circunstncias em que uma situao excepcional
pudesse ser aceitvel.
A legislao ou a regulao da morte assistida, sobretudo da eutansia, no eliminaria
certamente os abusos. Alm dos casos de manipulao e do sentimento de desvalorizao do
sentido da vida j citados, constituiriam abusos a morte de doentes que nunca consentiram a
eutansia ou que no podem consentir ou se o pedido resulta de estados psicolgicos que
podem ser transitrios, como a depresso. A realidade j mostrou que esses abusos acontecem,
como se pode ver nos casos ocorridos na Holanda e na Austrlia.
126
5.7.4. O papel do mdico e a posio da medicina
H quem acredite que a morte assistida faz parte das responsabilidades dos mdicos.
Os defensores desta posio afirmam que as responsabilidades dos mdicos para com a
promoo do bem-estar dos seus doentes devem ser consideradas em sentido lato. Assim, pode
ser apropriado o mdico assistir o seu doente na morte se este o quiser e se isso constituir um
benefcio para ele [38]. H ainda a circunstncia de os mdicos conhecerem e terem acesso aos
frmacos utilizados na morte assistida, estando assim na melhor posio para a praticarem de
um modo rpido e indolor. Defende-se mesmo que os mdicos deveriam ser os nicos
autorizados a praticar a morte assistida porque poderiam discutir o estado do doente, procurar
alternativas para aliviar a dor e outras causas de sofrimento e determinar se h perturbaes de
foro psiquitrico que interfiram com o julgamento ou a motivao dos doentes e que possam ser
corrigidas [38].
Tradicionalmente, o papel dos mdicos no inclui a morte assistida, como se pode ver
pelos excertos do Juramento de Hipcrates no incio deste captulo. No entanto, os meios
mdicos seriam, provavelmente, os mais eficazes para a morte assistida, mas o facto descrito de
a morte ter, ocasionalmente, de ser atingida com recurso asfixia por um saco de plstico, por
ineficcia da medicao, no certamente um meio mdico, nem consistente com a finalidade
da medicina.
Argumenta-se, por outro lado, que a morte assistida no uma funo dos mdicos [45]
e est para alm da sua rea de competncia, embora se possa realizar com meios mdicos. De
facto, as razes que levam as pessoas a quererem morrer so de ordem existencial e reflectem
os valores culturais, filosficos, religiosos e morais das pessoas [30]. A deciso reflecte o que o
doente considera suportvel e se a sua vida vale ou no a pena ser vivida, o que difere muito de
pessoa para pessoa. A deciso de morrer no , portanto, uma questo mdica.
127
A participao dos mdicos na morte assistida afectaria a relao mdico-doente. E,
portanto, a imagem da medicina enquanto instituio social. importante que o papel dos
mdicos seja claro e que os doentes e suas familias o conheam sem margem para dvida de
modo a poderem confiar nas suas aces. Poder haver doentes que no confiem nos mdicos
se estes tiverem poder de causar a morte. Os mdicos podem no ser neutros em relao
questo do desejo de morrer que os doentes possam ter [30]. A morte na nossa sociedade em
que os mdicos so treinados para curar e prolongar a vida, a sua incapacidade para deter as
doenas pode ser vista como frustrante e um fracasso ou uma atitude nihilista em relao a
doenas como o cancro ou o SIDA podem lev-los a aceitar ou mesmo a sugerir a morte
assistida [30]. A maioria dos mdicos no tem treino em comunicao que lhes permita explorar
a origem e o significado dos pedidos de morte assistida que poderiam ajudar os doentes a
ajustar-se e a lidar com a situao [46]. Por tudo isso, seria melhor que a morte assistida
continue afastada do mbito das competncias dos mdicos e da medicina. Se no for claro para
os doentes que o papel dos mdicos no inclui a morte assistida, como podero ser encaradas,
por um doente com uma doena grave e irreversvel, perguntas sobre os seus pensamentos de
morte e de suicdio que podem ser feitas para avaliar se o doente est deprimido?
A assistncia ao suicdio poder desviar a ateno dos mdicos dos cuidados que de
facto so da sua rea de competncia, como sejam o controlo da dor e de outras formas de
sofrimento fsico e dos problemas psicolgicos que frequentemente esto associados ao desejo
de morrer, como a depresso [30]. bem conhecido que os mdicos so muitas vezes
ineficazes na deteco e tratamento da dor e da depresso e seria melhor que os esforos se
dirigissem a estes problemas do que passar por cima disso e pensar no suicdio assistido ou na
eutansia. necessrio que os mdicos tenham treino no tratamento e acompanhamento dos
doentes com doenas avanadas de modo a que possam reconhecer as suas necessidades e
lhes possam dar uma resposta positiva.
128
Mesmo que os membros da sociedade decidissem democraticamente legalizar a morte
assistida, por exemplo por meio de um referendo, isso no significava que passasse a ser um
papel dos mdicos. De facto, a participao dos mdicos indispensvel, mas no em todo o
processo. A participao dos mdicos indispensvel na avaliao inicial de um pedido de
morte assistida. Os mdicos tm um papel na informao sobre o diagnstico, o prognstico e as
opes teraputicas, assim como na avaliao de factores que influenciem a deciso como a
depresso ou a competncia dos doentes [47]. No entanto, tal como acontece quando os
mdicos so nomeados peritos por um tribunal, para a avaliao da competncia de um
indivduo, ou pela assistncia social para avaliar a incapacidade para o trabalho, a deciso no
sua, compete a outros [47]. Na realidade, outras pessoas poderiam assumir os outros papeis
necessrios execuo da morte assistida, tal como acontece com a pena de morte por injeco
letal que no realizada por mdicos.
5.7.5. Matar e deixar morrer
No captulo Absteno e Suspenso de Tratamentos j foi abordada esta questo,
tendo-se concludo que no havia nenhuma diferena moral intrnseca entre matar e deixar
morrer, mas que so as condies em que os actos se praticam que os tornam aceitveis ou
no.
Os defensores da eutansia no vm distino entre a suspenso de tratamentos
destinados a prolongar a vida, a que chamam eutansia passiva, e a eutansia activa. Assim, do
mesmo modo que as pessoas podem recusar tecnologia mdica destinada a prolongar a vida e,
assim, antecipar a sua morte, pessoas no dependentes dessa tecnologia tambm deveriam ser
capazes de terminar a sua vida quando continuar a viver se tornar demasiado penoso [30].
Argumenta-se, ainda, que quando uma pessoa decide no aceitar ou interromper um tratamento
129
por considerar que a sua vida j no aceitvel e deseja morrer, seria prefervel uma forma de
morte assistida porque terminaria a vida de uma forma mais rpida e eficaz [38].
Pelo contrrio, a distino entre a absteno e suspenso de tratamentos e a morte
assistida pode ver-se como importante. A absteno e a suspenso de tratamentos deixa a
doena seguir o seu percurso natural e nem sempre resulta na morte imediata; o doente pode
continuar a viver, por vezes por muito tempo ainda, sobretudo se tiver havido um erro de
avaliao. Os tratamentos institudos tm indicaes e contraindicaes, situaes em que so
adequados e situaes em que so inadequados, isto , situaes em que beneficiam e
situaes em que no beneficiam os doentes. Alm disso, mesmo que os profissionais de sade
entendam que o tratamento pode ser benfico, o doente pode recusar-se a inici-lo ou a
prossegu-lo. Portanto, no iniciar ou suspender um tratamento quando est contraindicado ou
inadequado no o mesmo que usar uma forma de morte assistida. Nestas circunstncias
aceita-se que o doente provavelmente morrer mas no se lhe causa a morte directamente. Esta
provocada pela doena subjacente. necessrio, contudo, acompanhar o doente neste
processo, evitando que sofra. No entanto, a absteno ou suspenso de tratamentos no por
si s um acto aceitvel, porque se for aplicada de modo inapropriado a doentes que teriam
indicao para os iniciar ou prosseguir uma prtica errada. Mas, prosseguir no uso de meios
inadequados no prolongar a vida mas arrastar o processo irreversvel da morte. Concluiu-se,
ento, que a absteno e a suspenso de tratamentos, quando adequada situao do doente,
no equivalente morte assistida, mesmo que a morte ocorra igualmente na sequncia dessas
decises.
Dito isto, pode-se admitir que em circunstncias verdadeiramente excepcionais, em que
h um problema irresolvel e em que todos os envolvidos chegam a um consenso, aceitvel
para todos, de a nica soluo razovel ser uma forma de morte assistida, esta seja moralmente
aceitvel (no entanto, a sedao pode ser uma alternativa melhor e deve ser considerada). Estas
130
circunstncias, excepcionais como so, no so legislveis ou generalizveis. Passam-se na
intimidade e num contexto muito particular em que se concluiu que no havia outra soluo
aceitvel e todos se puseram de acordo, certamente com a concordncia do doente. Mas isto
no um servio que se disponibiliza para os doentes em geral.
Concluiu-se novamente que no na distino entre matar e deixar morrer que est a
diferena moral, mas nas circunstncias concretas que uma determinada deciso envolve.
5.8. O QUE SE PASSA EM ALGUNS PASES
5.8.1. Holanda
Em 1971, a mdica Geertruda Postma comunicou publicamente que tinha morto a sua
me internada num lar com uma dose alta de morfina [12]. Muitos outros mdicos vieram depois
apoiar a Dr Postma confessando que tinham praticado actos semelhantes. A mdica foi
condenada por homicdio por compaixo e em 1973 o tribunal condenou-a a uma semana de
priso com uma pena suspensa de um ano [12]. Esta condenao leve com uma pena suspensa
revelou que o tribunal considerou o acto justificado. A partir da, nesse pas, a eutansia tem sido
objecto de debate pblico e reavivou tambm o debate internacional que continua em curso.
At 2001 a eutansia era ilegal, mas as aces judiciais eram raras desde que os
mdicos seguissem rigorosamente certas directivas [20]. A punio mxima para a eutansia era
de 12 anos de priso e de 3 anos para o suicdio assistido [48]. Em 1984 a Associao Real
Mdica Holandesa publicou os requisitos que devem ser preenchidos para que um mdico possa
praticar eutansia ou assistncia ao suicdio e os tribunais aceitaram-nos nas suas decises [46].
Estes requisitos so cumulativos:
Pedido voluntrio, competente, explcito e persistente;
Informao completa;
Sofrimento intolervel e sem esperana;
131
Ausncia de alternativas aceitveis;
Consulta de outro mdico independente.
At 1985 os mdicos geralmente no declaravam eutansia mas morte natural nas
certides de bito. A partir de 1986 o nmero de casos de eutansia declarados aumentou [48].
Os requisitos mencionados implicam que a eutansia e o suicdio assistido no podem ser
considerados em doentes com alteraes cognitivas, como doentes dementes ou em coma.
Em 10 de Abril de 2001 o parlamento holands legalizou a morte medicamente assistida.
Os casos de morte assistida tm de ser reportados como casos de morte no natural. Os casos
so revistos por uma comisso constituda por um jurista, um eticista e um mdico. Os requisitos
da lei diferem dos anteriormente publicados pela Real Associao Mdica Holandesa ao incluir
doentes incompetentes e admitir directivas antecipadas em doentes incompetentes como
doentes de Alzheimer [49]. Esta evoluo vista por muitos como uma demonstrao do plano
inclinado que a abertura morte assistida acarretar.
5.8.2. Blgica
Em 28 de Maio de 2002 a morte assistida foi legalizada na Blgica em termos
semelhantes aos da Holanda [50].
5.8.3 Sua
Na Sua o suicdio assistido no punvel por lei, desde que no haja nenhum motivo
egosta implicado artigo 115 do Cdigo Penal Suo [51]. No entanto, no definido como acto
mdico pela Academia Sua de Cincias Mdicas [51]. A eutansia proibida e punvel pelos
artigos 111, 113 e 114 do Cdigo Penal Suo [51].
Existem na Sua vrias organizaes que oferecem o suicdio assistido, como a EXIT, a
maior de todas, e a Dignitas com sede em Zurich. Esta tem sido notcia por receber estrangeiros
132
com doenas terminais que se deslocam Sua exclusivamente para se suicidarem. Neste
processo, um doente estrangeiro recebido em Zurich por elementos da Dignitas que confirmam
que tem uma doena terminal, que est em sofrimento e que mentalmente competente para
tomar decises. depois conduzido juntamente com quem o acompanhar a um apartamento
onde o suicdio ocorrer. Este processo decorre, geralmente, em poucas horas [52]. A EXIT
recusa este turismo do suicdio, temendo que a repercusso negativa dessa prtica venha a
alterar a lei que permite o suicdio assistido [52].
5.8.4. EUA
Em 1996, um tribunal superior americano (Ninth Circuit Court of Appeals) concluiu que
as leis estaduais que probem o suicdio assistido eram inconstitucionais quando aplicadas a
mdicos e aos seus doentes terminais porque violariam o direito fundamental das pessoas a
determinar o tempo e o modo da sua morte [53]. No mesmo ano, outro tribunal superior (Second
Circuit Court of Appeals) considerou que leis contra o suicdio assistido eram inconstitucionais
quando aplicadas a mdicos que tratam doentes terminais que no esto ligados a sistemas de
suporte da vida, porque essas leis no protegem os doentes de igual forma. O tribunal
argumentou que os doentes ligados a sistemas de suporte de vida podem recusar continuar
ligados e desse modo apressar a sua morte, enquanto que os doentes no ligados a esses
sistemas no podem exercer igualmente o mesmo direito [53]. Pouco tempo depois, as
concluses destes dois tribunais foram contrariadas pelo Supremo Tribunal dos EUA, que
concluiu por unanimidade que no h um direito constitucional ao suicdio assistido [54]. Este
tribunal requereu que todos os estados americanos se assegurassem que as suas leis no
impedem a prtica adequada de cuidados paliativos e concluiu que a sedao para o alvio de
sintomas no uma forma de morte assistida [54].
133
Entre 1991 e 2000 foram realizados referendos sobre a legalizao do suicdio assistido
na Califrnia, em Washington, no Michigan e no Maine. Todos foram derrotados, em geral, por
diferenas pequenas na votao [55]. Porm, no Oregon a legalizao do suicdio assistido foi
aprovada em 1994 por 51% dos votos, designando-se Death and Dignity Act. S entrou em
vigor em Novembro de 1997 devido a tentativas legais de anular essa lei [56]. Mesmo depois da
sua entrada em vigor, a lei continua a ser alvo de tentativas de a anular.
A lei que legaliza o suicdio assistido no Oregon exige que o doente [56]:
Seja adulto (18 anos ou mais),
Resida no Oregon,
Seja capaz de tomar e comunicar decises,
Tenha uma doena terminal que leve morte em seis meses.
Um doente nestas condies pode receber uma prescrio para medicao letal de um
mdico com licena para praticar medicina no Oregon se [56]:
Fizer dois pedidos orais ao seu mdico, separados por, pelo menos 15 dias,
Fizer um pedido por escrito ao seu mdico, assinado na presena de duas testemunhas,
O mdico prescritor e um mdico consultor confirmarem o diagnstico e o prognstico,
O mdico prescritor e o consultor determinarem que o doente competente,
Outras condies so [56]:
Se qualquer dos mdicos considerar que a capacidade de julgamento do doente est
alterada por uma perturbao psicolgica, o doente deve ser referenciado para um exame
psicolgico,
O mdico prescritor deve informar o doente das alternativas possveis ao suicdio assistido,
incluindo cuidados de conforto, cuidados paliativos e controlo da dor,
O mdico prescritor deve pedir, mas no exigir, que o doente informe um familiar do pedido
da prescrio.
134
O mdico deve informar o Department of Human Services de todas as prescries de
medicao letal.
Nestas condies estas aces no constituem suicdio, morte por compaixo ou
homicdio perante a lei [56].
5.8.5. Austrlia
Em 25 de Maio de 1995 o Parlamento do Territrio do Norte da Austrlia votou
favoravelmente com 15 contra 10 votos a Lei dos Direitos dos Terminalmente Doentes do
Territrio do Norte (Northern Territory Rights of the Terminally Ill Act), lei que permitia a
eutansia e o suicdio assistido [57] e que se tornou efectiva em 1 de Julho de 1996. Esta lei
especificava as condies relativas ao doente, ao mdico e ao processo em que aquelas
prticas se podiam realizar. O Territrio do Norte australiano tornou-se assim na primeira regio
do mundo a legalizar a eutansia. A eutansia e o suicdio assistido permaneceram ilegais em
todo o restante territrio australiano [58]. O Parlamento Federal da Austrlia viria a anular essa
lei a partir de 25 de Maro de 1997. Durante o perodo em que a lei esteve em vigor morreram
quatro pessoas ao seu abrigo [15].
5.8.6. Portugal
A lei portuguesa no se refere explicitamente eutansia nem ao suicdio assistido. No
entanto, h artigos do cdigo penal que se podem aplicar a esta situao. Assim, relacionado
com a eutansia, no artigo 133 intitulado Homicdio privilegiado pode ler-se Quem matar outra
pessoa dominado por compreensvel emoo violenta, compaixo, desespero ou motivo de
relevante valor social ou moral, que diminuam sensivelmente a sua culpa, punido com pena de
priso de 1 a 5 anos; o artigo 134 intitulado Homicdio a pedido da vtima diz no seu n 1:
Quem matar outra pessoa determinado por pedido srio, instante e expresso que ela lhe tenha
135
feito punido com pena de priso at 3 anos. Apesar de punir a eutansia a legislao
portuguesa no pune este tipo de homicdio como pune o homicdio qualificado em que o
agente punido com uma pena de priso de 12 a 25 anos (artigo 132) [59].
J o artigo 135, intitulado Incitamento ou ajuda ao suicdio diz no n 1: Quem incitar
outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para esse fim, punido com pena de priso at
3 anos, se o suicdio vier efectivamente a ser tentado ou a consumar-se [59]. Este artigo pode
aplicar-se aos casos de suicdio assistido.
Assim, a eutansia e o suicdio assistido so proibidos em Portugal. No h registo de
qualquer julgamento por alegada violao dos referidos artigos do cdigo penal [60].
5.9. PERSPECTIVA DA RELIGIO
Devido sua crena na reincarnao, os budistas acreditam que a morte uma
experincia que cada um ter muitas vezes. A compaixo, que muitas vezes invocada como
justificao para a morte assistida, um valor moral importante para o budismo. No entanto,
considerado imoral qualquer aco destinada a destruir a vida humana, independentemente do
motivo [61]. Por outro lado, a vida no deve ser preservada a todo o custo, pelo que a suspenso
de tratamentos destinados a prolongar a vida se justifica quando se revelam inteis ou
demasiado agressivos em face do prognstico do doente. O controlo do sofrimento o caminho
a ser seguido e, assim, os cuidados paliativos so vistos como o mtodo desejvel para abordar
o problema dos pedidos de morte assistida
J para a Igreja Catlica a vida sagrada porque somos criados imagem e
semelhana de Deus. As pessoas so administradores e no proprietrios das sua vidas e,
portanto, so responsveis perante Deus pela vida que lhes foi dada. No entanto, a vida no
um bem absoluto que deva ser preservado a todo o custo [62]. A Igreja Catlica aceita o alvio do
136
sofrimento usando as tcnicas mdicas adequadas, ainda que se ponha em risco a vida dos
doentes desde que no seja essa a inteno, segundo o princpio do duplo efeito.
Para a Igreja Catlica, porm, a eutansia moralmente inaceitvel [8]. No Catecismo
da Igreja Catlica afirma-se: quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutansia directa
consiste em por fim vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. Assim, uma aco
ou uma omisso que, de per si ou na inteno, cause a morte com o fim de suprimir o
sofrimento, contitui um assassnio gravemente contrrio dignidade da pessoa humana e ao
respeito do Deus vivo, seu Criador. O erro de juzo, em que se pode ter cado de boa f, no
muda a natureza do acto homicida, o qual deve sempre ser condenado e posto de parte [8].
Por seu turno, uma boa morte, para os hindus, a que ocorre em idade avanada, no
tempo e lugar certos, com todos os assuntos prticos relativos aos familiares e amigos
resolvidos, assim como os aspectos materiais. A boa morte deve ainda ocorrer consciente e
voluntariamente, e pode ser reconhecida por uma expresso serena. Uma m morte ao
contrrio a que ocorre prematuramente, a que violenta ou que ocorre com vmitos, fezes, urina
e uma expresso desagradvel [63].
A posio do hindusmo relativamente morte assistida no uniforme. De facto, o
hindusmo no tem uma estrutura institucional nem exige adeso a uma doutrina particular [63].
No entanto, em geral, a morte assistida no aceite, porque s Deus pode tirar a vida. Se os
seres humanos tirarem a vida a algum isso tem um efeito crmico na vida seguinte de todos os
envolvidos. O sofrimento visto como purificador. H, porm, excepes j referidas no captulo
Suicdio. Alguns defendem a eutansia nos casos de pessoas com doenas terminais em
grande sofrimento porque lhes permite uma morte sem a conscincia obnubilada por drogas [63].
O sofrimento pode interferir com a tranquilidade to desejada para os ltimos momentos,
impedindo assim uma boa morte.
137
A religio islmica probe a morte assistida, quer a eutansia quer o suicdio assistido
[64]. Para os muulmanos a vida sagrada porque Deus a sua origem e o seu destino. No
Alcoro pode ler-se: Deus faz viver e morrer (Alcoro 3:156) e Ningum morre a no ser com a
permisso de Deus. um contrato a prazo fixo (Alcoro 3:145). Aos mdicos muulmanos
compete essencialmente tratar o doente e aliviar o sofrimento. As decises sobre terminar a vida
de um doente terminal a seu pedido no fazem parte das obrigaes dos mdicos [64].
No entanto, a vida no tem de ser mantida a todo o custo. Os tratamentos destinados a
prolongar a vida podem ser interrompidos quando se torna claro que no so benficos para o
doente, sendo necessrio envolver o doente na deciso, se possvel, mas tambm a famlia e
outros interessados. tambm aceite o controlo da dor ainda que no processo se possa encurtar
a vida, desde que no seja essa a inteno [64].
Finalmente, para os judeus o corpo pertence a Deus. Por isso, um doente no tem o
direito de cometer suicdio ou de requerer a ajuda de outros. Do mesmo modo quem ajudar
outros a cumprir esse plano comete homicdio [65]. , assim proibida a prtica da eutansia. No
h, no entanto, a obrigao de manter a vida a todo o custo, sendo a absteno ou a suspenso
de tratamentos destinados a prolongar a vida indicados quando apenas impedem a partida da
alma [66].
O princpio do duplo efeito no aceite pelos judeus. Assim, um analgsico como a
morfina no deve ser usado numa quantidade em que se preveja que a morte pode ocorrer como
consequncia, no havendo, porm, qualquer restrio ao seu uso nas quantidades necessrias
desde que a possibilidade da morte a elas devida no seja prevista [66].
5.10. CONCLUSO
A morte assistida tem sido debatida com maior ou menor intensidade ao longo da
histria da humanidade. Actualmente, estamos numa poca em que o debate particularmente
138
vivo, nas sociedades ocidentais, devido sua legalizao recente em diversas sociedades. Num
perodo da evoluo destas sociedades em que o prazer, a juventude, a sade e o sucesso so
os valores vigentes, o sofrimento, a doena e a morte so naturalmente indesejados. Uma morte
rpida o que a maioria das pessoas deseja e, algumas, desejam tambm controlar as
circunstncias em que ela ocorre. Embora o sofrimento fsico seja uma causa dos pedidos de
morte assistida, so mais importantes as questes relacionadas com o sofrimento psicolgico.
Muitos argumentos tm sido aduzidos na discusso da morte assistida. Tanto os
apoiantes como os oponentes tm argumentos fortes a apoiar as suas posies e no ser a
discusso que resolver a questo. A meu ver, porm, mesmo que uma sociedade democrtica,
como a nossa, possa vir a legalizar tais prticas, no decorre da que os mdicos tenham de
desempenhar o papel de seus executores. De facto, o papel actual dos mdicos deve ser
preservado, devendo ser claro para os doentes. Deste modo preserva-se tambm a moralidade
interna da medicina enquanto instituio de grande relevo social.
S recentemente alguns pases deram o passo de legalizar formas de morte assistida.
Ser preciso que decorram vrios anos para se verificar se o efeito do plano inclinado, de facto
ocorre. Portanto, s ser visvel mais tarde toda a extenso das consequncias da legalizao
sobre a morte assistida.
REFERNCIAS
1. Emanuel EJ. The history of euthanasia debates in the United States and Britain. Ann Intern
med 1994;121:793-802.
2. http://diariodadeusa.com.sapo.pt/hipocrates.htm.
3. Toms Morus. Dos escravos. Em: Toms Morus. A Utopia. Lisboa: Guimares Editores.120-
133.
139
4. Hume D. Essay on suicide. Em: Hume D. Four dissertations and essays on suicide and the
immortality of the soul. South Bend, Indiana: St Augustine Press 2000.
5. Kenis Y. Eutansia. Em Em: Hottois G, Parizeau MH, eds. Dicionrio de Biotica. Lisboa:
Instituto Piaget; 1998:225-232.
6. Masterstvedt LJ, Kaasa S. Euthanasia and physician-assisted suicide in Scandinavia with a
conceptual suggestion regarding international research in relation to the phenomena. Palliat
Med 2002;16:17-32.
7. The Dutch definition of euthanasia. Em Asking to die: inside the Dutch debate about
euthanasia. Thomasma DC, Kimbrough-Kushner T, Kimsma GK, Ciesielski-Carlucci C, eds.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 1998:3.
8. Catecismo da Igreja Catlica. Coimbra: Grfica de Coimbra. 2 ed. 1999:2277.
9. Materstvedt LJ, Clark D, Ellershaw, et al. Euthanasia and physician-assisted suicide: a view
from an EAPC ethics task force. Palliat Med 2003;17:97-101.
10. Singer P. Tirar a vida: os seres humanos. Em: Singer P. tica prtica. So Paulo. Livraria
Martins Fontes Editora Lda. 1993:185-227.
11. van der Maas PJ, van der Wal G, Haverkate I, et al. Euthanasia, physician-assisted suicide,
and other medical practices involving the end of life in the Netherlands, 1990-1995. N Engl J
Med 1996;335:1699-1705.
12. Introduction: re-examining Thou shalt not kill. Em Asking to die: inside the Dutch debate
about euthanasia. Thomasma DC, Kimbrough-Kushner T, Kimsma GK, Ciesielski-Carlucci C,
eds. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 1998:7-16.
13. Ganzini L, Nelson HD, Schmidt TA, Kreamer DF, Delorit MA, Lee MA. Phisicians experience
with the Oregon Death with Dignity Act. N Engl J Med 2000;324:557-563.
14. Back AL, Wallace JI, Starks HE, Pearlman RA. Physician-assisted suicide and euthanasia in
Washington state: patient requests and physician responses. JAMA 1996;275:919-925.
140
15. Kissane DW, Street A, Nitschke P. Seven deaths in Darwin: case studies under the Rights of
the Terminally Ill Act, Northern Territory, Australia. Lancet 1998;352:1097-1102.
16. Chochinov HM, Tataryn D, Clinch JJ, Dudgeon D. Will to live in the terminally ill. Lancet
354:816-819.
17. Blendon RJ, Szalay US, Knox RA. Should physicians aid their patients in dying? The public
perspective. JAMA 1992;267:2658-2662.
18. Quikk TE. Doctor, I want to die. Will you help me? JAMA 1993;270:870-873.
19. Drickamer MA, Melinda AL, Ganzini L. Practical issues in physician-assisted suicide. Ann
Intern Med 1997;126:146-151.
20. van der Maas PJ, Van Delden JJM, Pijnenborg L, Looman CWN. Euthanasia and other
medical decisions concerning the end of life. Lancet 1991;338:669-674.
21. Lee MA, Nelson HD, Tilden VP, Ganzini L, Schmidt TA, Tolle SW. Legalizing assisted suicide
views of physicians in Oregon. N Engl J Med 1996;334:310-315.
22. Emanuel EJ, Fairclough DL, Daniels ER, Clarridge BR. Euthanasia and physician-assisted
suicide: attitudes and experiences of oncology patients, oncologists, and the public. Lancet
1996;374:1805-1810.
23. Suarez-Almazor ME, Newman C, Hanson J, Bruera E. Attitudes of terminally ill cancer
patients about euthanasia and assisted suicide: predominance of psychosocial determinants
and beliefs over symptom distress and subsequent survival. J Clin Oncol 2002;20:2134-2141.
24. Johansen S, Holen JC, Kaasa S, Kaasa S, Loge JH, Masterstvedt LJ. Attitudes towards, and
wishes for, euthanasia in advanced cancer patients at a palliative medicine unit. Palliat Med
2005;19:454-460.
25. Owen C, Tennant C, Levi J, Jones M. Suicide and euthanasia: patients attitudes in the
context of cancer. Psycho-Oncol 1992;1:79-88.
141
26. Comby MC, Filbert M. The demand for euthanasia in palliative care units: a prospective study
in seven units of the Rhne-Alpes region. Palliat Med 2005;19:587-593.
27. Werth JL. The relationships among clinical depression, suicide, and other actions that may
hasten death. Behav Sci Law 2004;22:627-649.
28. Baile WF, DiMaggio JR, Schapira DV, Janofsky. The request for assistance in dying: the
need for psychiatric consultation. Cancer 1993;72:2786-2791.
29. Groenewoud JH, van der Heide A, Onwuteaka-philipsen BD, Willems DL, van der Maas PJ,
van der Wal G. Clinical problems with the performance of euthanasia and physician-assisted
suicide in the Netherlands. N Engl J Med 2000;342:551-556.
30. Faber-Langendoen K. Death by request: assisted suicide and the oncologist. Cancer
1998;82:35-41.
31. Emanuel EJ, Fairclough D, Clarridge BC, et al. Attitudes and practices of U.S. oncologists
regarding euthanasia and physician-assisted suicide. Ann Intern Med 2000;133:527-532.
32. Onwuteaka-Philipsen BD, Muller MT, van der Wal G, van Eijk JTM, Ribbe MW. Active
voluntary euthanasia or physician-assisted suicide? J Am Geriatr Soc 1997;45:1208-1213.
33. Lowey EH. Healing and killing, harming and not harming: physician participation in
euthanasia and capital punishment. J Clin Ethics 1992; 3:29-34.
34. Coleman CH, Fleischman AR. Guidelines for physician-assisted suicide: can the challenge
be met? J Law Med Ethics 1996;24:217-224.
35. ten Have HAMJ. Eutansia: paradoxos morais. Em: Tempo de vida e tempo de morte.
Coleco Biotica VII. Conselho Nacional de tica para as Cincias da Vida. 2001:77-91.
36. Velleman JD. Against the right to die. J med Philosophy 1992;17:665-681.
37. Higginson I, MacCarthy M. Measuring symptoms in terminal cancer: are pain and dyspnoea
controlled? J Royal Soc Med 1989;82:264-267.
142
38. The New York State Task Force on Life and the Law. The ethical debate. Em: When death is
sought: assisted suicide and euthanasia in the medical context. New York, 2 ed; 2000:77-
113.
39. Sulmany DP, Linas BP, Gold KF, Schulman KA. Physician resource use and willingness to
participate in assisted suicide. Arch Intern Med 1998;158:974-978.
40. Miller FG, Quill TE, Brody H, Fletcher JC, Gostin LO, Meier DE. Regulating physician-
assisted death. N Engl J Med 1884;331:119-123.
41. Heilig S, Brody R, Marcus FS, Shavelson L, Sussman PC. Physician-hastened death:
advisory guidelines for the San Francisco Bay area from the Bay area Network of Ethics
Committees. West J Med 1997;166:370-378.
42. Caplan AL, Snyder L, Faber-Langendoen K. The role of guidelines in the practice of
physician-assisted suicide. Ann Inter Med 2000;132:476-481.
43. Quill TE, Cassel CK, Meier DE. Care of the hopelessly ill: proposed clinical criteria for
physician-assisted suicide. N Engl J med 1992;327;1380-1384.
44. Davis A. Patients need medical help to live with dignity until they die naturally. BMJ
2006;324:847.
45. Gaylin W, Kass LK, Pellegrino ED, Siegler M. Doctors must not kill. JAMA 1988;259:2139-
2140.
46. Roy DJ. Euthanasia and withholding treatment. Em: Doyle D, Hanks J, Cherny N, Calman K
eds. Oxford Textbook of Palliative Medicine. 3 ed.Oxford. Oxford University Press. 2004:84-
97.
47. Faber-Langendoen K, Karlwish JHT. Should assisted suicide be only physician assisted?
Ann Intern Med 2000;132:482-487.
48. van der Wal G, Dillmann RJM. Euthanasia in the Netherlands. BMJ 1994;308:1346-1349.
143
49. Kimsma G, van Leeuwen E. The new Dutch law on legalizing physician-assisted death.
Cambridge Quarterly Healthcare Ethics 2001;10:445-450.
50. Englert Y. Belgium evolution of the debate. Em: Euthanasia. Volume II. National and
European perspectives. Strasbourg. Council of Europe Publishing. 2004:13-24.
51. Bittel N, Neuenschwander H, Stiefel F. "Euthanasia": a survey by the Swiss Association for
Palliative Care. Support Care Cancer 2002;10:265-271.
52. Kaap C. Swiss financial capital attracts suicide tourists. Lancet 2003;361:846.
53. Annas GJ. The bell tolls for a constitutional right to physician-assisted suicide. N Engl J Med
1997; 337:10981103.
54. Burt RA. The Supreme Court speaks: not assisted suicide but a constitutional right to
palliative care. N Engl J Med 1997;337:1234-1236.
55. Meisel A. Palliative care review. Ethics and law: physician-assisted dying. J Palliat Med
2005;8:609-621.
56. Oregon Department of Human Services. Eight annual report of Oregons Death with Dignity
Act. http://oregon.gov/DHS/ph/pas/docs/year8.pdf.
57. Schwartz RL. Rights of the Terminally Ill Act of the Australian Northern Territory. Cambridge
Quarterly Healthcare Ethics 1996;5:157-166.
58. Ryan CJ, Kaye M. Euthanasia in Australia the Northern Territory Rights of the Terminally Ill
Act. N Engl J Med 1996;334:326-328.
59. http://www.giea.net/legislacao.net/codigos/codigo_penal/dos_crimes_contra_as_pessoas.ht
m.
60. Serro D. Portugal euthanasia: not ethically permissible. Em: Euthanasia. Volume II.
National and European perspectives. Strasbourg. Council of Europe Publishing. 2004:75-83.
61. Keown D. End of life: the Buddhist view. Lancet 2005;366:962-955.
62. Markwell H. End-of-life: a Catholic view. Lancet 2005;366:1132-1135.
144
63. Firth S. End-of-life: a Hindu view. Lancet 2005;366:682-686.
64. Sachedina A. End-of-life: the Islamic view. Lancet 2006;366:774-779.
65. Dorff EN. End-of-life: Jewish perspectives. Lancet 2005;366:862-865.
66. Guigui A. Judaism. Em: Euthanasia. Volume I ethical and human aspects. Council of
Europe Publishing. 2033:145-147.
145
6
SEDAO
Nos doentes com cancro avanado e outras doenas crnicas os cuidados paliativos so
o padro dos cuidados de sade. H de facto um largo consenso de que o controlo de sintomas
e a ateno aos problemas psicolgicos, espirituais e sociais so objectivos essenciais da
medicina. Particularmente, o controlo de sintomas deve ser atingido mesmo quando o ndice
teraputico estreito. Isto significa que perante um doente que est nos seus ltimos dias de
vida, pode ser necessrio, para o libertar do seu sofrimento, usar medidas que acarretam um
grande risco de lhe encurtar a vida. Como sempre, h que ponderar os benefcios e os
inconvenientes e ter em conta a vontade do doente quando competente.
6.1. USO DA SEDAO EM MEDICINA
Sedao o acto de sedar, palavra que provem do latim sedare que significa acalmar.
Este efeito de acalmao obtido pela administrao de um frmaco.
Em medicina a sedao usada com fins teraputicos em vrias situaes, de modo
rotineiro e incontroverso:
Para fazer certos procedimentos que so dolorosos ou desconfortveis, como cardioverso
ou colonoscopia;
Como complemento da anestesia;
146
Nas unidades de cuidados intensivos para controlar a agitao e a ansiedade ou para
facilitar a adaptao ao ventilador;
Para controlar a ansiedade provocada pela eminncia de uma interveno;
Em psiquiatria em vrias situaes.
Em cuidados paliativos tambm se usa a sedao, nomeadamente em situaes
semelhantes s descritas acima. Existem, porm, outras circunstncias que so especficas dos
doentes com doenas crnicas avanadas. relativamente frequente tambm que alguns
doentes tenham um nvel de conscincia diminudo, no como objectivo teraputico, mas como
efeito secundrio da medicao.
Os doentes com doenas crnicas em fase terminal apresentam ocasionalmente
sintomas de controlo difcil ou impossvel num espao de tempo adequado (sintomas
refractrios), requerendo sedao para controlar o sofrimento por eles induzido. A frequncia
com que isso acontece , de acordo com a literatura, muito varivel. Para isso podem contribuir
mltiplos factores:
Definio de sedao;
Definio de sintoma refractrio;
Diferentes culturas em que os estudos so feitos;
Impreciso dos dados provocada pelo facto de a maioria dos estudos serem retrospectivos;
Contexto em que os cuidados so prestados, por exemplo, se so prestados no domiclio ou
em unidades de cuidados paliativos.
6.2. SINTOMAS REFRACTRIOS
Geralmente, possvel um controlo adequado do sofrimento dos doentes sem afectar
significativamente o seu estado de conscincia. O objectivo dos cuidados paliativos esse:
147
permitir que os doentes vivam a sua vida to activamente quanto possvel at que a morte
ocorra. Mas h, sobretudo, nos ltimos dias de vida, sintomas que no so susceptveis de
controlo pelos meios habituais. Estes so os sintomas refractrios.
Sintoma refractrio o que no pode ser controlado adequadamente apesar de esforos
agressivos para identificar uma teraputica tolervel que no comprometa a conscincia [1].
Deve considerar-se que intervenes invasivas e no invasivas so [1]:
Incapazes de fornecer alvio adequado;
Associadas a morbilidade excessiva ou intolervel, aguda ou crnica;
Improvavelmente fornecero alvio num intervalo de tempo tolervel. O sintoma deve ser
considerado refractrio por pelo menos 2 mdicos.
Um sintoma pode ser de difcil controlo e, no entanto, no ser refractrio. Um sintoma de
difcil controlo um sintoma que pode ser potencialmente tratado, dentro de um perodo de
tempo razovel, com mtodos que produzam um alvio adequado sem alterar significativamente
o estado de conscincia e sem produzirem efeitos laterais intolerveis. Esta distino tem
implicaes clnicas e ticas muito importantes, na medida em que um sintoma refractrio
implica uma resposta que altera o estado de conscincia do doente e assim a sua capacidade de
interagir com as pessoas que lhe so significativas e restringe completamente a sua actividade.
A distino entre sintomas refractrios e sintomas de difcil controlo implica competncia
dos profissionais de sade que tratam estes doentes. A classificao de um sintoma como
refractrio no pode servir para encobrir a incompetncia no tratamento dos doentes e resolver o
problema sedando-os injustificadamente. Por isso, mesmo as pessoas treinadas em cuidados
paliativos deveriam pedir outra opinio, incluindo, eventualmente, mdicos de outras
especialidades, e envolver a equipa que integram na deciso de sedar os doentes por terem
sintomas refractrios. Alm disso deve-se reavaliar repetidamente a situao. O treino
148
insuficiente da maioria dos profissionais de sade no tratamento dos doentes com doenas
crnicas avanadas coloca um problema adicional de legitimidade na deciso de sedar os
doentes, assim como em muitas outras decises relacionadas com os problemas de fim de vida.
Um estudo realizado no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center mostrou que na consulta de
dor foram identificadas etiologias no anteriormente diagnosticadas em 64% dos doentes,
nomeadamente infeces, o que levou a que uma parte significativa dos doentes viesse a fazer
radioterapia, cirurgia ou quimioterapia com base nessas etiologias [2]. O problema pode ser mais
difcil quando se trata de sintomas psicolgicos ou de questes existenciais.
Uma das razes para sedar a incapacidade de aliviar o sintoma num intervalo de
tempo aceitvel. Isto depende da sobrevivncia esperada do doente; por exemplo, o controlo de
um sintoma possvel mas requer exames para esclarecer a sua causa ou o emprego de meios
que necessitam de algum tempo para serem executados ou para produzirem efeito, mas a
sobrevivncia previsvel to curta que no adequado tent-lo. Portanto, a situao do doente
pode ser um factor importante a ter em conta. Como se referiu no captulo Absteno e
suspenso de tratamentos os objectivos e tratamento so diversos e devem ser to claramente
definidos quanto possvel. Assim, quando o doente est muito debilitado e prximo da morte
pode no haver tempo para pr em prtica tratamentos que exijam um certo perodo para
produzirem efeito. Nesta situao, pode ser necessrio usar meios mais rpidos sob pena de
no se obter o objectivo fundamental de controlar o sofrimento do doente.
6.3. DEFINIES DE SEDAO
Desde o artigo de Ventafridda et al. de 1990 [3] a sedao tem sido estudada no mbito
dos cuidados paliativos. No entanto, tem havido alguma inconsistncia resultante de vrias
razes, entre as quais: o conceito de sedao estar ou no claramente definido, da definio de
149
sedao, do grau e da durao da sedao, dos medicamentos usados e da caracterizao dos
sintomas e dos doentes [4].
Tm sido propostas vrias definies de sedao. Chiu et al. definiram sedao como o
uso de agentes para aliviar sintomas refractrios causadores de sofrimento intolervel, os quais
no foi possvel aliviar adequadamente de outro modo num perodo de tempo aceitvel [5].
Chater et al. propuseram como definio de sedao terminal a inteno de
deliberadamente induzir e manter um sono profundo mas no causar deliberadamente a morte,
em circunstncias muito especficas: para o alvio de um ou mais sintomas intratveis quando
todas as outras intervenes possveis falharam e o doente considerado como estando perto
da morte; para o alvio de angstia profunda que no tratvel por intervenes espirituais,
psicolgicas ou outras e o doente considerado como estando perto da morte [6]. Esta definio
foi proposta num estudo sobre as atitudes de especialistas em cuidados paliativos e s 40%
destes concordaram completamente com ela. Segundo esta definio a sedao sempre
definida como profunda. No entanto, o que se pretende com a sedao controlar os sintomas e
no atingir um nvel de sedao particular, devendo ser este o suficiente para aliviar o
sofrimento, embora em alguns casos isto s se atinja com a sedao profunda.
Morita et al. [4] estudaram as definies existentes e identificaram os dois factores
centrais da definio de sedao que so: 1) a presena de sofrimento refractrio ao tratamento
paliativo padro e 2) o uso de medicao sedativa com o objectivo primrio de o aliviar reduzindo
a conscincia. Da partiram para a sua definio: o uso de medicao sedativa para aliviar o
sofrimento intolervel e refractrio reduzindo a conscincia do doente.
O nvel da sedao pode dividir-se em ligeira quando possvel um certo grau de
comunicao com o doente e profunda quando o doente fica inconsciente e no pode interagir
[4]; a sedao ligeira tambm tem sido designada como sedao consciente e sedao
proporcional, e a sedao profunda como abrupta, sedao total ou sedao pesada. Quanto
150
durao pode dividir-se em intermitente, tambm referida como controlada, temporria, nocturna
ou de repouso, quando h perodos em que o doente est alerta e contnua quando o nvel de
conscincia mantido permanentemente baixo [4]. A sedao pode ser ainda primria ou
secundria: primria quando usado um sedativo com o objectivo de reduzir o estado de
conscincia; secundria quando usada medicao destinada ao controlo de sintomas cuja
dose necessria seda o doente como efeito lateral.
6.4. CAUSAS E FREQUNCIA DA SEDAO
A frequncia e as causas de sedao variam acentuadamente entre os estudos. No
primeiro estudo, que descreveu a sedao nos doentes com cancro avanado, 52,5% dos
doentes tinham sido sedados, sendo as causas mais frequentes a dispneia e a dor e, numa
percentagem mais baixa, o delirium e os vmitos [3].
Fainsinger et al. num estudo de 100 doentes verificaram que 16% dos doentes tinham
sido sedados por necessidade de aumentar a dose dos frmacos, sendo os sintomas em causa
a dor e o delirium [7]. Num estudo posterior, Fainsinger et al. detectaram 23 (30%) doentes
sedados: 20 doentes por delirium, dois com delirium e dispneia e um s com dispneia; nenhum
doente foi sedado por dor, naseas ou sofrimento psicolgico [8].
Ainda Fainsinger et al., num estudo multicntrico comparando a sedao na ltima
semana de vida entre programas de cuidados paliativos em Israel, frica do Sul e Espanha,
verificou que a inteno de sedar variou entre 15% e 36% [9]. A razo mais frequente para sedar
foi o delirium; outras razes foram a dor, nuseas e vmitos, dispneia, hemorragia e sofrimento
familiar; este ltimo s se verificou em Espanha [9].
Num estudo multicntrico de cuidados paliativos domicilirios na semana final de vida,
realizado em Itlia, a mediana da percentagem de doentes sedados foi de 36%, tendo variado
entre os centros de 0% e 60%, o que segundo os autores implica uma ausncia de critrios
151
definidos, traduzindo possivelmente o comportamento dos profissionais ou a poltica dos servios
e no as preferncias ou as necessidades dos doentes [10].
No estudo de Chiu et al. foram sedados 28% dos doentes; os sintomas mais frequentes
foram o delirium com agitao (57%) e a dispneia (23%) [5]. Em Portugal, Ferraz Gonalves et
al., num estudo de 300 doentes nas ltimas 48 horas de vida realizado na Unidade Continuados
do Instituto Portugus de Oncologia do Porto, observaram que 10% de doentes tinham sido
sedados, mais frequentemente por delirium (52%), seguindo-se as hemorragias (21%) e a
dispneia (17%) [11].
H assim um pequeno nmero de problemas fsicos que causam a maioria dos casos de
sedao. Embora em algumas sries a dor tenha sido um motivo importante de sedao, no o
globalmente. A dispneia um sintoma frequente e por vezes muito difcil ou impossvel de
controlar sem alterar a conscincia, tendo atingido no National Hospice Study 70% dos doentes
durante as ltimas seis semanas de vida [12]; uma causa importante de sofrimento,
encontrando-se muitos doentes inadequadamente controlados [13], pelo que no
surpreendente que seja um motivo de sedao relativamente frequente. O delirium muito
frequente nos ltimos dias de vida, chegando a atingir em alguns estudos cerca de 90% dos
doentes [7]; , em termos globais, provavelmente o motivo mais frequente de sedao. Nos
ltimos dias de vida, o delirium resulta sobretudo da falncia orgnica generalizada e, por isso,
geralmente irreversvel. No estudo portugus referido acima [11], as hemorragias foram uma
causa importante de sedao, superior ao verificado em outros centros, porque havia mais casos
de cancro da cabea e pescoo em relao a outros centros. Nas hemorragias, a finalidade da
sedao evitar a ansiedade associada viso do sangue e faz-se como uma actuao de
emergncia, pelo que muitas vezes intermitente. Outra situao que exige sedao de
emergncia a sufocao, em que as vias aras se estreitam abruptamente, causando dispneia
intensa e geralmente irreversvel.
152
6.5. SINTOMAS PSICOLGICOS E EXISTENCIAIS
Os sintomas fsicos como a dor, a dispneia e outros so facilmente caracterizveis, ao
contrrio do sofrimento psicolgico ou do sofrimento existencial que so mais difceis de
caracterizar. Talvez por isso a frequncia com que o sofrimento existencial aparece nos
diferentes estudos muito diversa. Em pases como a Espanha parece ser uma razo
razoavelmente frequente para sedar [9], mas noutros pases, entre os quais Portugal [11], parece
inteiramente ausente [14]. Poder haver designaes como angstia mental ou inquietao
usadas em alguns estudos que podem at certo ponto sobrepor-se designao de sofrimento
existencial [14]. Algumas diferenas podem ser culturais, com comportamentos idnticos a
serem interpretados de maneira diferente [14]. Por outro lado, as diferenas podem ser
genunas, embora possa ser surpreendente que as diferenas entre Portugal e Espanha sejam
to grandes, j que se pressupe que so culturalmente prximos. Mas talvez essa proximidade
no seja to grande, afinal, visto que h outras diferenas entre os dois pases, por exemplo,
entre o desejo de informao dos doentes com cancro avanado que parece ser muito maior nos
portugueses do que nos espanhis [15].
mais difcil determinar a natureza refractria do sofrimento psicolgico ou existencial. A
intensidade desses sintomas pode ser muito dinmica e idiossincrtica [16]. Acresce que a
presena desses sintomas no indica necessariamente um estado de deteriorao fsica
avanada. Alm disso, o sofrimento psicolgico pode ser muito varivel e a adaptao
psicolgica comum [16] A sedao nestes doentes tambm considerada mais problemtica
em termos ticos e de aceitabilidade, quer pelos familiares quer pelos profissionais de sade
porque pode haver condies fsicas razoveis, a funo cognitiva pode estar intacta e a
interaco social pode ser boa.
153
Um pedido de sedao por um doente com sofrimento psicolgico ou existencial exige
uma avaliao psiquitrica, porque particularmente nestas situaes, um pedido de sedao
pode esconder uma inteno de morrer.
6.5.1. A sedao como teraputica
Por outro lado, a sedao pode ser teraputica nos casos de sofrimento psicolgico ou
existencial porque pode quebrar o ciclo de ansiedade e sofrimento. Nathan Cherny afirmou que a
sua equipa tem constatado que a sedao temporria pode, ao quebrar esse ciclo, evitar em
alguns casos, que o doente requeira sedao definitiva [16]. Quando se decide inici-la, deve-se
ao mesmo tempo planear diminu-la aps um perodo pr-estabelecido, de modo a determinar o
seu efeito nos sintomas [16].
6.6. EFEITO DA SEDAO NA SOBREVIVNCIA
O uso de sedativos muito frequente na ltima semana de vida e as doses so muitas
vezes aumentadas nas ltimas horas. Portanto, o seu uso tem-se limitado, excepto em casos de
sofrimento psicolgico ou existencial, aos doentes que esto muito prximos da morte. No
estudo de Ferraz Gonalves et al., o intervalo entre o incio da sedao e a morte foi em mdia
de 20,5 horas (mediana de 9 horas), variando entre 5 minutos e 72,5 horas [11]. Sales et al.
verificaram que a mdia foi de 3,2 dias (mediana de 2 dias), variando entre 0,1 e 4,8 dias [17].
Num estudo de Fainsinger et al. os doentes estiveram sedados em mdia 2,5 dias antes da
morte [8].
Parece que a sedao no se associa a um encurtamento significativo da vida [3,18].
Pode mesmo suceder que alguns doentes que recebem sedativos tenham uma sobrevivncia
significativamente maior [18]. Chiu et al. no detectaram uma diferena significativa na
sobrevivncia entre os doentes sedados e os no sedados [5]. No entanto, no se pode ignorar
154
que a sedao tem tambm o potencial para encurtar a sobrevivncia, embora tal parea no
acontecer na maior parte dos casos.
6.7. EFICCIA DA SEDAO
Num estudo prospectivo e multicntrico recente que pretendia determinar, entre outras
coisas, a eficcia da sedao concluiu-se que em 83% dos casos os sintomas foram eficazmente
aliviados [19].
No estudo portugus sobre as ltimas 48 horas de vida numa unidade de cuidados
paliativos, em oito dos 29 doentes sedados (28%) a morte foi percebida pelos profissionais que
assistiram como no sendo tranquila; estes oito doentes foram sedados por hemorragias
(quatro), por delirium (trs) e por uma combinao de dispneia e dor (um) [11]. Tambm num
estudo realizado em Espanha, 15 de 112 doentes sedados (13%) aconteceu o mesmo [17].
Neste ltimo estudo as razes foram que o doente apesar de adormecido parecia permanecer
com mal-estar e tambm pela angstia dos familiares.
Por estes dados podemos concluir que na maioria dos casos a sedao eficaz. No
entanto, h casos que so percebidos como problemticos pelos profissionais. No caso
portugus possivel que o tipo de sintomas, sobretudo as hemorragias, tenham ocorrido muito
prximo da morte, com um perodo de sedao muito curto, sendo assim o desconforto
associado morte. Pode acontecer tambm que o nvel de sedao em alguns doentes no
tenha sido suficientemente profundo. Pode ainda acontecer que, em alguns casos, a percepo
do desconforto do doente seja a projeco do sofrimento dos profissionais.
155
6.8. CONSIDERAES TICAS
6.8.1. O processo de deciso
No processo de deciso o doente deve ser envolvido sempre que possvel. Na verdade,
a deciso de sedar deve ser legitimada pelo doente, que compreendendo a sua situao e a
impossibilidade de aliviar o seu sofrimento de outro modo, pede ou aceita ser sedado. Os
familiares devem ser envolvidos na deciso sobretudo se o doente no estiver competente,
embora neste caso a avaliao dos benefcios e dos inconvenientes para o doente deva
prevalecer sobre outras consideraes. Pode considerar-se como excepo as situaes de
emergncia como as hemorragias, a sufocao ou uma crise de agitao psicomotora, em que
no h tempo para discutir a situao; aqui o privilgio teraputico plenamente justificado.
Num estudo recente verificou-se que, de facto, o processo de informao e
consentimento foi seguido correctamente, visto que os doentes, sempre que cognitivamente
competentes, participaram na deciso e, nos outros, os familiares foram envolvidos na deciso
[20]. No entanto, na prtica as coisas nem sempre se passam assim. No estudo de Chater et al.
[6], s 50% dos doentes e 69% dos familiares tiveram um envolvimento importante. Num estudo
espanhol [17], 46% dos doentes e 85% dos familiares foram total ou parcialmente implicados na
deciso. Estes dados, porm, dizem pouco sobre o que realmente se passou. Por exemplo,
difcil perceber o que significa estar parcialmente implicado na deciso; a percentagem dos
doentes envolvidos na deciso correspondia aos doentes competentes, isto , os que tinham
capacidade de deciso, ou houve doentes competentes sedados sem o seu envolvimento; os
familiares envolvidos foram-no em conjunto com os doentes e/ou em sua substituio; foram
tomadas decises com os familiares sem o envolvimento de doentes competentes. Estes dados
no so teis para esclarecer sobre o que realmente se passou nos casos individuais, por isso
pouco podemos inferir sobre a dimenso tica do processo de deciso.
156
Um estudo recente realizado no Japo mostra que os mdicos menos confiantes nos
cuidados psicolgicos e com nveis mais altos de exausto emocional tinham mais
probabilidades de escolher a sedao para os doentes com sofrimento refractrio de ordem
fsica ou psicolgica [40].
6.8.2. A eutansia lenta
Em 1996 Billings e Block publicaram um artigo intitulado Slow Euthanasia em que
definiam esta expresso como a prtica clnica de tratar um doente terminal de modo a
asseguradamente conduzir a uma morte confortvel, mas no demasiadamente depressa [21].
A administrao de um sedativo, segundo eles, conduziria fatalmente morte, mas no to
directamente ou imediatamente como se uma dose letal de uma medicao fosse administrada.
A lentido do processo amorteceria a sensao do envolvimento do mdico na morte do doente
[21]. Segundo Billings, uma questo importante relativa a esta forma de eutansia lenta seria o
consentimento informado, porque nesta situao raramente se levantaria a questo e, assim, as
salvaguardas propostas para a morte assistida no so sistematicamente institudas. Por isso,
alguns casos de eutansia lenta por sedao poderiam ser vistos como eutansia involuntria
[21]. Estaramos a descer uma rampa escorregadia na direco de terminar a vida sem o
consentimento dos doentes.
Billings e Block perguntam se h diferenas significativas entre a eutansia lenta e a
eutansia rpida, isto , se h diferena entre a morte ocorrer imediatamente ou dentro de
alguns dias, para concluirem que a eutansia lenta mais aceitvel para alguns doentes,
familiares e profissionais, mas que isso no as torna eticamente diferentes [21].
A posio de Billings e Block teve o desacordo imediato de vrias pessoas ligadas aos
cuidados paliativos [22,23], que a criticaram severamente argumentando sobretudo a partir do
princpio do duplo efeito.
157
De facto, os profissionais de sade que trabalham em cuidados paliativos no vem a
sedao como eutansia, mas sim como uma obrigao, desde que se cumpram os
pressupostos indicados atrs, da competncia dos profissionais, de no haver outro modo de
aliviar o sofrimento e de haver assentimento do doente quando competente. J atrs foi referido
que a sedao no tem um efeito significativo na sobrevivncia, se que tem algum, pelo que
difere da eutansia, embora se possa dizer que poder haver casos em que a sedao influencie
a sobrevivncia, o que poder, de facto, acontecer. A sedao difere, ainda, da eutansia porque
reversvel e pode ter um efeito na resoluo de sintomas, como no sofrimento espiritual, como
foi referido, enquanto que a eutansia um acto definitivo que no permite reavalio. Como
todos os mdicos sabem, calcular a sobrevivncia de um doente uma tarefa sujeita a muitos
erros, por vezes muito grandes [24], por isso a possibilidade de seguir a situao e reavali-la
repetidamente muito importante. Por tudo isto se pode concluir que a sedao no
comparvel eutansia, pelo que a designao de eutansia lenta inapropriada.
A questo da AHA nos doentes sedados tem provocado um debate particularmente
intenso em cuidados paliativos. Craig levantou a questo da hidratao nos doentes sedados
argumentando que nesta situao no a evoluo da doena que faz com que os doentes no
bebam, mas a sedao que os torna incapazes de beber [25]. Deste modo, os doentes
morreriam no da doena mas da desidratao. Esta questo pode ter relevncia em alguns
casos, mas no na maioria, visto que como disse acima a sedao geralmente no influencia a
sobrevivncia. No entanto, alguns doentes, sobretudo os que so sedados por sofrimento
psicolgico ou existencial, tm muitas vezes uma sobrevivncia previsvel maior e, por isso, sem
hidratao podem ter a sua vida significativamente encurtada. Alm disso, nestes doentes a
sedao pode ter um efeito teraputico, pelo que a hidratao importante nestas
circunstncias.
158
O problema do potencial para abuso ou da rampa escorregadia (slippery slope) tem sido
levantado em relao, no s sedao, como em relao absteno e suspenso de
tratamentos, eutansia e ao suicdio assistido.
O argumento refere-se possibilidade de estas prticas, eventualmente justificadas em
algumas situaes, poderem, com o tempo, vir a alargar-se a outras situaes constituindo isto
um abuso. Por exemplo, a sedao poderia passar a ser usada por profissionais incompetentes,
como a forma mais usada para o controlo de sintomas, que poderiam ser controlados de outra
forma, em instituies de pouca qualidade, evitando o recurso aos cuidados paliativos; a
sedao poderia ser usada tambm com a inteno de causar a morte dos doentes; a absteno
e a suspenso de tratamentos ou a eutansia poderiam ser usadas com a finalidade de conter
os custos com os cuidados de sade de crianas deficientes, de idosos ou de doentes
necessitados de tratamentos dispendiosos; etc.
Os detractores deste argumento referem que ele especulativo e que no h provas de
que esses abusos se verifiquem. De facto, no h evidncia que suporte qualquer das posies
[26]. No entanto, o potencial para abuso deve ser tomado seriamente, devendo considerar-se
cautelosamente a possibilidade de estas prticas se virem a aplicar indevidamente. Aqui, a
sedao e a suspenso de tratamentos diferem da eutansia e do suicdio assistido, na medida
que as primeiras so hoje consideradas, em geral, prticas legtimas, enquanto que as segundas
so mais controversas. No entanto, o potencial para abuso existe em todas, mas se a sedao e
a absteno ou suspenso de tratamentos em circunstncias justificadas no fossem permitidas
criar-se-ia um problema maior, com muitos doentes a sofrerem injustificadamente ou a serem
sujeitos a intervenes indesejadas ou inaceitveis luz da tica e do bom senso. A nica
soluo seguir regras claras como as indicadas atrs que passam pela competncia, dilogo
com outros profissionais, envolvimento da equipa, documentao do processo de deciso e
reavaliao frequente.
159
6.9. PRINCPIO DO DUPLO EFEITO
O princpio do duplo efeito geralmente atribudo a So Toms de Aquino, expresso na
Summa Theologica a propsito da legtima defesa: Nada impede um acto de ter dois efeitos, um
que intencional, enquanto que o outro est para alm da inteno. Agora os actos morais
classificam-se de acordo com a inteno e no de acordo com o que est para alm da inteno,
visto que acidental... De acordo com isto o acto de auto-defesa pode ter dois efeitos, um a
salvao da prpria vida, o outro a morte do agressor. Por isso, este acto, visto que a inteno
salvar a prpria vida, no ilegal, visto que natural a tudo manter o seu ser, tanto quanto
possvel. E, no entanto, embora resultante de uma boa inteno, um acto pode tornar-se ilegal,
se for desproporcionado em relao ao fim. [33]. Portanto, para salvarmos a nossa vida
podemos matar outra pessoa, desde que isso seja estritamente necessrio, porque a nossa
inteno salvar a nossa vida e no matar a outra pessoa. Ainda hoje essa a doutrina da
Igreja Catlica [27].
Para um acto ser justificado pelo princpio do duplo efeito necessrio que sejam
satisfeitas quatro condies [28,29]:
1. O acto em si deve ser moralmente bom ou pelo menos indiferente (ou neutro).
2. O agente tem a inteno de alcanar apenas o bom efeito. O mau efeito pode ser antevisto,
tolerado ou permitido, mas no desejado.
3. O mau efeito no deve ser um meio para o bom efeito. Isto quer dizer que o bom efeito deve
ser produzido directamente pela aco, no atravs do mau efeito. De outro modo o agente
estaria a usar o mau efeito para alcanar o bom efeito, o que seria errado.
4. O bom efeito deve ser mais importante do que o mau efeito. Isto , o mau efeito s
permissvel se for proporcionado relativamente ao bom efeito.
160
Poderia dar muitos exemplos de casos em que se poderia aplicar o princpio do duplo
efeito. Restringindo os exemplos aos aspectos mdicos darei dois:
Um doente com um cancro avanado tem dispneia intensa irreversvel. -lhe administrada
morfina para diminuir a sua sensao de dispneia, sabendo que poderia provocar depresso
respiratria e eventualmente a morte (devo dizer que este exemplo, ou outros semelhantes
habitualmente dados para ilustrar o princpio do duplo efeito, tm pouca correspondncia
com a realidade, visto que quem exerce cuidados paliativos sabe que a depresso
respiratria uma ocorrncia rara). Mesmo que o doente morresse aps a administrao de
morfina, a aco continuaria a ser lcita porque a inteno era aliviar o sofrimento do doente.
O efeito de aliviar o sofrimento do doente no implica a sua morte, embora esta possa
ocorrer como efeito secundrio. Esta aco muito diferente de administrar cloreto de
potssio IV, porque esta aco para aliviar o sofrimento do doente tem de o matar, o que
viola a terceira condio que estipula que o mau efeito no deve ser um meio para o bom
efeito.
Outro exemplo poder ser o de uma grvida a quem diagnosticado um cancro do colo do
tero que necessita de ser removido cirurgicamente. Neste caso a remoo do tero tem
como consequncia a morte do filho. Tambm aqui a morte do filho seria aceitvel, porque a
inteno salvar a vida da me.
O princpio do duplo efeito aceitvel quando prescreve que um efeito mau s
aceitvel quando provavelmente traz um bem proporcionadamente grande. No entanto, a
proporcionalidade entre os benefcios e os riscos indispensvel na avaliao das aces
mdicas no necessita de se basear no princpio do duplo efeito.
O princpio do duplo efeito tem sido utilizado como um modo de evitar conflitos ticos
irresolveis numa Deontologia Absolutista, limitando o mbito das proibies absolutas s
161
intencionais, por oposio s meramente previstas [30]. Porm, este princpio envolve vrios
problemas. difcil argumentar no caso da grvida que a morte do filho resultante da
histerectomia no intencional quando ela decorre fatalmente do acto de salvar a me, embora
pelo princpio do duplo efeito esse efeito esteja previsto mas no seja desejado. Nesta situao,
difcil manter que o efeito no intencional, porque se sabe que o filho vai morrer
inevitavelmente, mas no seria tolervel a alternativa de deixar morrer a me e provavelmente
tambm o filho. Portanto, no seria possvel eliminar o mau efeito sem desistir do bom efeito.
Seria, ento, prefervel que se raciocinasse em termos dos benefcios e inconvenientes que a
aco encerra.
Outro problema do princpio do duplo efeito o da questo da intencionalidade. De facto,
as intenes so subjectivas, ambguas e muitas vezes contraditrias [31]. Mesmo Kant, para
quem a intencionalidade das aces fundamental, considerava: Gostamos de lisonjear-nos
ento com um mbil mais nobre que falsamente nos arrogamos; mas em realidade, mesmo pelo
exame mais esforado, nunca poderemos penetrar completamente at aos mbiles secretos dos
nossos actos, porque quando se fala de valor moral, no das aces visveis que se trata, mas
dos seus princpios ntimos que se no vem." [32]. extremamente difcil, se no impossvel,
provar objectivamente quais so as nossas intenes.
Se um mdico perante um doente como o do primeiro exemplo no administrar a
medicao necessria para diminuir o sofrimento do doente devido ao risco letal que envolve
est a prejudic-lo [31], no est a cumprir o seu dever para com o doente. A considerao tica
crucial aqui no o princpio do duplo efeito mas a intensidade do sofrimento do doente que
dever do mdico aliviar e a ausncia de alternativas menos arriscadas, tendo em considerao a
autonomia do doente e, portanto, o seu consentimento.
A sedao tem sido tradicionalmente justificada pela doutrina do duplo efeito. No
entanto, Nigel Sykes sustenta que no necessrio recorrer a esta doutrina para justificar a
162
sedao visto que no h evidncia de que o uso de sedativos tenha influncia significativa na
sobrevivncia, pelo menos na maioria dos casos [14,18]. Mesmo o uso de opiides para o
controlo de sintomas parece no influenciar a sobrevivncia dos doentes com doenas crnicas
avanadas [14,18].
Segundo Billings e Block o apelo ao princpio do duplo efeito no caso da sedao uma
racionalizao para a eutansia lenta [21], porque no se pode negar a responsabilidade por um
acto praticado conscientemente com total conhecimento das suas consequncias;
independentemente da inteno imediata, a medicao seria usada de modo a conduzir
inevitavelmente morte [21].
O princpio do duplo efeito envolve alguns problemas do ponto de vista tico como j se
salientou. E mesmo que se admita que a morte antecipada em alguns casos de sedao, como
certamente acontece, esta doutrina no necessita de ser invocada porque a principal obrigao
dos profissionais de sade, relativamente aos doentes com doenas crnicas progressivas e
avanadas, a preservao da qualidade de vida e do conforto e, no havendo outro meio de o
fazer, a sedao justificada, desde que haja o consentimento do doente competente.
Efectivamente, o consentimento informado do doente que torna a sedao permissvel e no a
inteno do mdico [33].
6.10. CONCLUSO
Os cuidados paliativos so o padro a seguir nos cuidados nas doenas crnicas
avanadas. Em geral, possvel controlar o sofrimento fsico dos doentes sem comprometer
significativamente o seu estado de conscincia, permitindo-lhes contactar com as pessoas que
para eles so importantes. No entanto, h situaes em que tal no possvel, sendo necessrio
sedar os doentes de modo a controlar o seu sofrimento. A sedao legtima quando feita por
pessoas competentes em cuidados paliativos, depois de todos os esforos para se conseguir um
163
bem-estar razovel sem comprometer a conscincia, num tempo aceitvel, e desde que o
doente consinta. Em geral, a sedao no influencia significativamente a sobrevivncia. Tem-se
justificado a sedao do ponto de vista tico invocando o princpio do duplo efeito, mas a
obrigao que impende sobre os profissionais de sade de aliviar o sofrimento dos doentes, o
seu desejo esclarecido e a ausncia de uma alternativa melhor so justificaes suficientes.
REFERNCIAS
1. Cherny NI, Portenoy RK. Sedation in the management of refractory symptoms: guidelines for
evaluation and treatment. J Palliat Care 1994;10:31-38.
2. Gonzales GR, Elliot KJ, Portenoy RK, Foley KM. The impact of a comprehensive evaluation
in the management of cancer pain. Pain 1991;47:141-144.
3. Ventafridda V, Ripamonti C, De Conno F, Tamburini M, Cassileth BR. Symptom prevalence
and control during cancer patients last days of life. J Palliat Care 1990;6:7-11.
4. Morita T, Tsuneto S, Shima Y. Definition of sedation for symptom relief: a systematic
literature review and a proposal of operational criteria. J Pain Symptom Manage
2002;24:447-453.
5. Chiu TY, Hu WH, Lue BH, Cheng SY, Chen CY. Sedation for refractory symptoms of terminal
cancer patients in Taiwan. J Pain Symptom Manage 2001;21:467-472.
6. Chater S, Viola R, Paterson J, Jarvis V. Sedation for intractable distress in the dying a
survey of experts. Palliat Med 1998;12:255-269.
7. Fainsinger R, Miller MJ, Bruera E, Hanson J, Maceachern T. Symptom control during the last
week of life on a palliative care unit. J Palliat Care 1991;7:5-11.
8. Fainsinger RL, Landman W, Hoskings M, Bruera E. Sedation for uncontrolled symptoms in a
South African hospice. J Pain Symptom Manage 1998;16:145-152.
164
9. Fainsinger RL, Waller A, Bercovici M, et al. A multicentre international study of sedation for
uncontrolled symptoms in terminally ill patients. Palliat Med 2000;14:257-265.
10. Peruselli C, Di Giulio P, Toscani F, et al. Home palliative care for terminal cancer patients: a
survey on the final week of life. Palliat Med 1999;13:233-241.
11. Ferraz Gonalves J, Alvarenga M, Silva A. The last forty-eight hours of life in a Portuguese
palliative care unit: does it differ from elsewhere? J. Palliat Med 2003;6:895-900.
12. Reuben DB. Mor V. Dyspnea in terminally ill cancer patients. Chest 1986;89:234-236.
13. Higginson I, McCarthy M. Measuring symptoms in terminal cancer: are pain and dyspnoea
controlled? J Royal Soc Med 19892:264-267.
14. Sykes N, Thorns A. The use of opioids and sedatives at the end of life. Lancet Oncol
2003;4:312-318.
15. Ferraz Gonalves, Marques A, Rocha S, Leito P, Mesquita T, Moutinho S. Breaking bad
news: experiences and preferences of advanced cancer patients at a Portuguese oncology
centre. Palliat Med. 2005;19:526-531.
16. Cherny NI. Commentary: sedation in response to refractory existential distress: walking the
fine line. J Pain Symptom Manage 1998;16:404-406.
17. Sales JP, Bor EY, Gil AE, et al. Estudio multicntrico catalano-balear sobre la sedacin
terminal en cuidados paliativos. Med Pal 199;6:153-158.
18. Sykes N, Thorns A. Sedative use in the last week of life and the implications for end-of-life
decision making. Arch Intern Med 2003;163:341-344.
19. Morita T, Chinone Y, Ikenaga M, et al. Efficacy and safety of palliative sedation therapy; a
multicenter, prospective, observational study conducted on specialized palliative units in
Japan. J Pain Symptom Manage 2005;30:320-328.
165
20. Morita T, Chinone Y, Ikenaga M, et al. Ethical validity of palliative sedation therapy: a
multicenter, prospective, observational study conducted in a specialized palliative care unit in
Japan. J Pain Symptom Manage 2005;30:308-318.
21. Billings JA, Block SD. Slow euthanasia. J Palliat Med 1996;12:21-30.
22. Mount B. Morphine drips, terminal sedation, and slow euthanasia: definitions and facts, not
anecdotes. J Palliat Med 1996;12:31-37.
23. Portenoy RK. Morphine infusions at the end of life: the pitfalls in reasoning from anecdote. J
Palliat Care 1996;12:44-46.
24. Ferraz Gonalves, Costa I, Monteiro C. Development of a prognostic index in cancer patients
with low performance status. Support Care Cancer 2005 Support Care Cancer. 2005;13:752-
756.
25. Craig GM. On withholding artificial hydration and nutrition from terminally ill sedated patients.
The debate continues. J Med Ethics 1996;22:147-153.
26. Beauchamp TL, Childress JF. Nonmaleficence. Em: Beauchamp TL, Childress JF. Principles
of biomedical ethics. New York: Oxford University Press. 5 ed. 2001:113-164.
27. Catecismo da Igreja Catlica. Coimbra: Grfica de Coimbra. 2 ed. 1999:2263-2264.
28. Beauchamp TL, Childress JF. Nonmaleficence. Em: Beauchamp TL, Childress JF. Principles
of biomedical ethics. New York: Oxford University Press. 5 ed. 2001:113-164.
29. McIntyre A. Doctrine of double effect. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
http://plato.stanford.edu/entries/double-effect/.
30. Botros S. An error about the doctrine of double effect. Philosophy 1999;74:71-83.
31. Quill TE, Dresser R, Brock DW. The rule of double effect a critique of its role in end-of-life
decision making. N Engl J Med 1997;337:1768-1771.
32. Kant I. Transio da filosofia moral popular para a metafsica dos costumes. Em:
Fundamentao da metafsica dos costumes. Lisboa: Edies 70;2003:39-91.
166
33. Quill TE, Lo B, Brock DW. Palliative options of last resort: a comparison of voluntary stopping
eating and drinking, terminal sedation, physician-assisted suicide, and voluntary active
euthanasia. JAMA 1997;278:2099-2104.
167
7
CUIDADOS PALIATIVOS
Em Portugal morrem cerca de 100 000 pessoas por ano. A maioria delas morre de
doenas crnicas e passa por uma fase em que os tratamentos que tm como finalidade curar ou
prolongar a vida no so adequados para responder aos seus problemas. Existem tambm
doenas agudas que deixam sequelas profundas e que em alguns casos deixam os doentes
dependentes de tratamentos intensivos e invasivos. sobretudo nestas circunstncias que se
colocam os problemas descritos em captulo anterior relativos absteno ou suspenso de
tratamentos. Mas a referncia absteno ou suspenso de tratamentos no significa o
abandono, significa apenas que os tratamentos destinados a prolongar a vida no devem ser
iniciados ou devem ser interrompidos por serem inadequados ou no desejados pelo doente. No
entanto, necessrio continuar a dar uma resposta aos problemas dos doentes que so mltiplos
e variados, como veremos adiante. Entre o abandono, o no h nada a fazer, e a obstinao
teraputica, uma alternativa surgiu: os cuidados paliativos.
Os cuidados paliativos constituem hoje o padro de referncia dos cuidados para os
doentes com doenas crnicas avanadas e para as suas famlias. No entanto, em Portugal a
cobertura do territrio por equipas de cuidados paliativos muito deficiente.
168
7.1. CONCEITOS ACTUAIS SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS
O que originou o surgimento dos cuidados paliativos foi a situao atrs descrita do
abandono ou da obstinao teraputica que, tendo sido reconhecida h j muitos anos, deu
origem ao chamado movimento dos hospcios - Cecily Saunders fundou o St. Christopher's
Hospice em Londres em 1967. Considerava-se que, apesar de no haver possibilidade de deter a
doena, a medicina possua recursos que, se usados adequadamente, podiam responder aos
problemas destes doentes. Balfour Mount abriu o seu Servio de Cuidados Paliativos em 1975 no
Royal Victoria Hospital de Montreal, empregando pela primeira vez a designao cuidados
paliativos, que a partir da se generalizou.
Em 1990 a Organizao Mundial da Sade (OMS) reconheceu a importncia dos
cuidados paliativos e considerou o tratamento da dor e de outros sintomas como uma das suas
prioridades na luta contra o cancro, a par da preveno primria, do diagnstico precoce e do
tratamento curativo [1]. Nesse documento da OMS, afirma-se que durante muito tempo ainda os
cuidados paliativos sero a nica soluo, ao mesmo tempo humana e realista, para numerosos
doentes, e que nada mais importante, para a qualidade de vida desses doentes, do que a
difuso e a aplicao dos conhecimentos j disponveis sobre o tratamento da dor e dos outros
sintomas. Tudo isto continua a ser verdade, aps todos estes anos.
Cuidados paliativos so ento, segundo a definio original da OMS [1]:
So cuidados activos e globais prestados aos doentes cuja afeco no responde ao
tratamento curativo;
A sua finalidade obter a melhor qualidade de vida possvel para os doentes e as suas
famlias;
Afirmam a vida e consideram a morte como um processo normal;
No aceleram nem retardam a morte;
Procuram aliviar a dor e outros sintomas;
169
Integram os aspectos psicolgicos e espirituais nos cuidados aos doentes;
Oferecem um sistema de apoio para ajudar os doentes a viver to activamente quanto
possvel at morte;
Oferecem um sistema de apoio famlia durante a doena do enfermo e no prprio luto;
Muitos dos elementos dos cuidados paliativos so igualmente aplicveis no incio da evoluo
da doena, em associao com o tratamento antineoplsico.
Assim, os cuidados paliativos devem ser activos, empregando os meios mdicos
necessrios para controlar os problemas fsicos dos doentes, procurando melhorar a sua
qualidade de vida tanto quanto possvel. Tentar resolver os problemas apenas com simpatia,
apoio psicolgico e religioso, sem um contributo da medicina de elevada competncia, no
suficiente, ao contrrio do que muitas vezes se pensa. Por outro lado, os aspectos psicolgicos,
sociais e espirituais so muito importantes, e no os considerar, tentando resolver a situao
apenas com intervenes dirigidas aos problemas fsicos, tambm no responder s
necessidades dos doentes nesta fase da vida, nem permitir, em muitos casos, controlar
eficazmente os sintomas fsicos, visto que estes resultam da interaco de mltiplos factores,
como ser referido adiante.
Os cuidados paliativos afirmam a vida e tentam oferecer um apoio que permita aos
doentes viver to activamente quanto possvel at morte, enfatizando a vida e os aspectos
positivos que apesar das dificuldades h que favorecer. A morte um processo natural e
inevitvel em certas circunstncias e, no reconhecer quando se deve deixar de lutar contra ela
to grave e prejudicial para os doentes como no reconhecer as situaes em que possvel e
til actuar para curar ou prolongar a vida. A durao da vida no uma preocupao bsica dos
cuidados paliativos: no a tentam prolongar nem abreviar. A eutansia no , pois, um mtodo
dos cuidados paliativos. Embora, prolongar a vida no seja uma preocupao bsica dos
170
cuidados paliativos, provavelmente, em muitos casos, isso acontece porque, ao libertar os
doentes do seu sofrimento, fazendo com que fiquem mais confortveis, com maior mobilidade,
durmam melhor, estejam menos deprimidos, consegue-se reavivar a sua vontade de viver.
A situao dos doentes indissocivel da situao da sua famlia, considerando-se esta
em sentido lato, incluindo todas as pessoas importantes para eles e no apenas o ncleo restrito
que com ele coabita ou a famlia no sentido formal. A famlia deve ser envolvida nos cuidados
paliativos e as suas necessidades tidas em conta. A assistncia famlia pode mesmo prolongar-
se para alm da morte do seu elemento doente, isto , durante o luto. Contudo, embora a famlia
seja importante, o doente tem sempre prioridade.
Considera-se o doente na sua globalidade, com a sua multiplicidade de problemas e que,
para melhor os resolver, desejvel que a abordagem seja multidisciplinar, com mdicos e
enfermeiros e em que intervenham quando necessrio assistentes sociais, fisioterapeutas,
psiclogos/psiquiatras, voluntrios, religiosos e outros. No entanto, a inexistncia destes
elementos no deve servir de alibi para no prestar cuidados paliativos, porque o mais importante
tratar os doentes segundo os princpios desses mesmos cuidados. A meu ver, os mdicos tm
uma maior responsabilidade nesta rea, porque, mesmo isoladamente, podem aliviar muito do
sofrimento desnecessrio que estes doentes experimentam.
Actualmente, os cuidados paliativos reservam-se para a altura em que os tratamentos,
ditos curativos, j no actuam ou o estado do doente no permite o seu uso (figura 7.1). No
entanto, aproveitar-se-iam melhor as potencialidades dos cuidados paliativos se fossem aplicados
em conjunto com os cuidados curativos (figura 7.2). Durante a evoluo das doenas crnicas h
em todas as fases problemas a que os cuidados paliativos poderiam dar uma resposta
satisfatria. Este modelo ficaria completo se lhe juntarmos a assistncia no luto, sempre que a
situao o requeira (figura 7.3).
171
Tratamento curativo
Tratamento paliativo
Diagnstico Morte
Luto
Figura 7.3. Situao ideal [1]
Tratamento curativo Tratamento
paliativo
Diagnstico Morte
Figura 7.1. Modelo mais comum
[1]
Tratamento curativo
Tratamento paliativo
Diagnstico Morte
Figura 7.2. Integrao de modalidades de tratamento [1]
172
7.2. OS PROBLEMAS DOS DOENTES
As pessoas com cancro avanado, ou outra doena crnica, confrontam-se com
problemas de natureza variada que interagem e se potenciam provocando o que se designa por
sofrimento e a que Cecily Saunders chamou dor total. Assim, dor e aos outros sintomas fsicos
juntam-se factores de ordem psicolgica, social, existencial ou espiritual e tambm as dificuldades
provocadas pelos servios de sade (figura 7.4).
Figura 7.4. Dor total
A dor crnica quando no convenientemente tratada, como muitas vezes acontece,
interfere com o sono, com o apetite, provoca irritabilidade, dificuldade de concentrao,
dificuldade em resolver assuntos pendentes, etc. Ocorrem com frequncia muitos outros sintomas
fsicos de que se podem destacar: astenia, anorexia, xerostomia, nuseas, vmitos, obstipao,
tosse, dispneia, prurido, soluos, tonturas, problemas urinrios, edemas.
Os factores psicolgicos como depresso, ansiedade, alteraes do sono, irritabilidade,
dificuldade de concentrao, pesadelos, delirium, so, por sua vez, influenciados pela presena
Dor
total
Sintomas fsicos
Problemas
sociais
Problemas
psicolgicos
Problemas existenciais
173
de doena avanada, sintomas fsicos (especialmente a dor), incapacidade, sentimentos de
frustrao e desespero, problemas econmicos, falta de suporte familiar e outros [2].
As questes existenciais ou espirituais relacionadas com o passado, o presente ou o
futuro so muito importantes nesta fase. Relacionam-se com a alterao da integridade pessoal,
sentimentos de culpa em relao ao passado, objectivos no atingidos, desvalorizao de
objectivos atingidos, sentimentos de desespero e futilidade quanto ao futuro, preocupao com a
morte [2]. As questes religiosas preocupam tambm, frequentemente, os doentes nesta fase da
vida.
H alteraes profundas a vrios nveis como alteraes da imagem corporal, das
funes do corpo, das capacidades intelectuais, da funo social, profissional e familiar.
Os doentes percebem muitas vezes a angstia dos familiares, amigos ou mesmo dos
profissionais de sade, o que amplifica a sua prpria angstia e refora a ideia de que a sua vida
no tem sentido e que apenas um peso para si e para os outros [2].
Os prprios servios de sade, por no estarem preparados para atender este tipo de
doentes, pela sua falta de disponibilidade e interesse, pela dificuldade em deles obter
assistncia, pela espera interminvel nas consultas, so tambm causadores de sofrimento.
Todos estes problemas so importantes e devem ser abordados para se conseguir a
mxima eficcia nos cuidados. No entanto, o controlo dos sintomas fsicos, nomeadamente a
dor, prioritrio e uma condio sem a qual dificilmente os outros problemas se resolvero.
7.3. BARREIRAS AO DESENVOLVIMENTO DOS CUIDADOS PALIATIVOS
Vivemos numa sociedade que reala a juventude, a riqueza, o sucesso, e onde a velhice,
a pobreza, o fracasso, a doena e sobretudo a morte so naturalmente afastadas como
realidades inconvenientes, em que no se deve pensar e que se deve mesmo evitar ver nos
outros. Como j se referiu anteriormente, a atitude perante a morte mudou muito desde a Idade
174
Mdia. O progresso tecnolgico permitiu uma interveno na histria natural das doenas nunca
vista anteriormente. Porm, esse progresso conferiu medicina a aura de omnipotncia que tudo
poderia resolver.
O progresso tecnolgico da medicina tornou-a cara. Este facto, aliado maior procura
dos cuidados mdicos e s crises econmicas cclicas ocorridas desde os anos 70 do sculo XX,
tornaram necessria a rentabilizao das instalaes, com internamentos curtos e consultas
rpidas. A assistncia fragmentada por vrias especialidades perdendo-se a noo da
globalidade. Na formao dos mdicos realam-se os aspectos tcnicos, enquanto que os
aspectos ticos e a comunicao no so valorizados. Curar ou prolongar a vida so os
objectivos da medicina moderna e a morte passou a ser vista como um fracasso. Disto tudo
resulta que, quando no possvel atingir esses objectivos, os servios de sade ficam
desarmados e, por isso, tendem a ignorar a situao continuando a tratar obstinadamente os
doentes com os mesmos mtodos, como se fosse possvel ainda impedir a progresso da
doena, ou, se reconhecem a situao, tendem a desligar-se com a justificao de que nada mais
se pode fazer pelo doente. Deve notar-se, porm, que estes doentes nunca estiveram to
doentes, nunca a doena os fez sofrer tanto, e precisamente nessa altura em que mais
precisam de ajuda que os servios de sade se mostram inadequados para responder s suas
necessidades.
Devido ao relevo dado aos aspectos tecnolgicos e medicina dita curativa a formao
dos mdicos no contempla a comunicao, nem o controlo da dor e de outros sintomas. Daqui
resulta, que h m comunicao com os doentes, no se discutem as alternativas teraputicas
realistas e no h o reconhecimento da importncia do tratamento dos sintomas e do apoio
psicolgico e espiritual. Esta atitude passa tambm para o pblico que v a abordagem
tecnolgica das doenas como a melhor possibilidade de tratamento em todas as circunstncias e
175
tem dificuldade em aceitar a abordagem dos cuidados paliativos quando estes seriam a melhor
opo.
Uma nova formao dos mdicos um meio indispensvel para mudar esta atitude. As
faculdades de medicina devem comear a ensinar cuidados paliativos no ensino pr-graduado.
S assim se puder mudar o panorama actual, dando a todos os mdicos uma formao bsica
que lhes mostre que a morte existe e que quando no h possibilidade de curar ou prolongar a
vida h ainda um mundo de possibilidades de actuao que podem fazer uma diferena decisiva
no modo como se vive essa fase da vida e como se morre. O ensino ps-graduado tambm
importante para fornecer os meios para tratar eficazmente esses doentes e para fornecer
conhecimentos avanados em cuidados paliativos.
O receio do aumento dos custos com os cuidados de sade , provavelmente um dos
maiores obstculos ao desenvolvimento dos cuidados paliativos. Esta questo ser discutida com
maior profundidade na seco seguinte.
7.4. OS CUIDADOS PALIATIVOS E AS PRIORIDADES NA SADE
Actualmente, os sistemas de sade, mesmo nas economias mais desenvolvidas,
debatem-se com dificuldades, no conseguindo com os seus recursos limitados satisfazer todas
as solicitaes. Em Portugal, essa questo ainda mais evidente. Sendo assim, necessrio
escolher cuidadosamente o modo mais eficiente de usar os recursos existentes [3]. Tomando
como exemplo a oncologia, verifica-se que num doente com cancro, cerca de 75% dos custos
totais dos cuidados de sade de uma vida inteira so referentes aos ltimos 12 meses de vida
[4], devendo-se muitos destes custos a tratamentos ineficazes. Os custos tm vindo a aumentar
com a introduo de tecnologia e medicamentos cada vez mais caros, mas que muitas vezes
no fazem qualquer diferena significativa na melhoria da sobrevivncia ou da qualidade de vida;
por vezes, so utilizados antes de provarem a sua eficcia em ensaios clnicos conclusivos ou
176
em situaes diferentes daquelas em que provaram ser teis. A introduo dos cuidados
paliativos pode constituir um passo significativo no sentido de racionalizar os recursos, ao
oferecer uma alternativa a esses mtodos, contribuindo para que passem a ser utilizados nos
casos com probabilidades razoveis de produzir benefcio. Quando no fosse esse o caso, o
tratamento paliativo sintomtico deveria ser utilizado o mais cedo possvel para que pudesse
produzir um maior efeito na qualidade de vida e limitasse o uso indevido de outras teraputicas e
meios de diagnstico. O tratamento de grande parte dos doentes nas suas residncias
contribuiria tambm, em grande medida, para diminuir os custos, como sugerem os dados de
estudos efectuados noutros pases [5]. Vrios estudos mostram que o uso dos cuidados
paliativos permite uma poupana significativa nos gastos com a sade, principalmente no ltimo
ms de vida em que pode atingir 25 a 40% [6,7]. Estes dados contrariam o receio do aumento
dos custos do desenvolvimento dos cuidados paliativos. Esse receio provavelmente o maior
obstculo a esse desenvolvimento.
De facto, os cuidados paliativos no vo introduzir doentes no sistema de sade. Eles j
esto dentro do sistema. J so internados noutros servios, vo s consultas e aos servios de
urgncia, que so servios mais caros do que os cuidados paliativos. Com a desvantagem de
no estarem preparados para tratar estes doentes. Quer dizer, so custos mais elevados para
servios de menor qualidade. Os cuidados paliativos poderiam tambm beneficiar os outros
servios ao retirar-lhes estes doentes que no tm vocao para tratar, libertando-os para se
dedicarem funo para que foram criados e para a qual so eficazes. Portanto, haveria um
benefcio para todo o sistema de sade, o que quer dizer um benefcio para todos os doentes.
Os cuidados paliativos com o seu vasto campo de aco potencial, constituem
possivelmente o modo mais eficiente de melhorar a qualidade do sistema de sade. Em
Portugal, onde a necessidade de melhorar a qualidade assistencial particularmente evidente e
h carncias em muitos sectores requerendo investimento pblico, os cuidados paliativos devem
177
ser considerados uma prioridade. A escassez de recursos dever constituir um incentivo e no
um obstculo ao seu desenvolvimento.
O estado social vigente na maioria dos pases europeus est em dificuldades para
suportar os custos que a proteco da sade dos cidados envolve, como atrs referido. Alm
disso, a distribuio de recursos para a sade compete com outras obrigaes do estado como a
educao, a segurana, a defesa, a proteco do ambiente, etc. [8].
Estas dificuldades iro certamente levar a reconsiderar o acesso dos cidados aos
servios de sade. Em Portugal, porm, o Servio Nacional de Sade ainda no cobre
adequadamente as necessidades, nomeadamente, as dos doentes com doenas crnicas
avanadas. Nesta situao de escassez de recursos ser que as necessidades destes doentes
devem continuar a ser ignoradas?
Os seres humanos so animais sociais. S em sociedade o Homem sobrevive e pode
cumprir a sua condio de humano. Em todos os tempos e em todas as regies os humanos
viveram em grupo. Aristteles dizia que o Homem um animal social, um animal poltico, que
no auto-suficiente, pelo que depende da comunidade, da polis: ...a cidade..., sendo
organizada no somente para conservar a existncia, mas tambm para procurar o bem-estar;
Tambm o homem um animal poltico, mais social do que as abelhas e outros animais que
vivem em comunidade; O mesmo se passa com os membros da cidade, nenhum se pode
bastar a si prprio [9]. A sociedade marca indelevelmente os seus membros com a sua lngua,
os seus hbitos, as suas tradies, as suas instituies, as suas leis, o seu sistema poltico, etc.
Os elementos da sociedade so diferentes entre si em muitos aspectos: nas suas capacidades
fsicas e intelectuais, na sua instruo, na sua riqueza, no seu estatuto social, etc. Muitos destes
aspectos so dinmicos, isto , as capacidades fsicas e intelectuais, por exemplo, no so
iguais durante toda a vida. Doenas, acidentes ou outras circunstncias podem alterar
radicalmente a situao e transformar uma pessoa com um presente ou um futuro brilhante
178
numa pessoa dependente. O envelhecimento pode naturalmente tornar as pessoas dependentes
durante muito tempo. Assim, todos somos potencialmente dependentes da ajuda de outros
elementos da sociedade e, efectivamente, grande parte das pessoas torna-se dependente mais
tarde ou mais cedo, j para no falar da infncia em que todos somos dependentes. , portanto,
natural que a comunidade proteja os seus membros fragilizados.
Segundo a corrente utilitarista, so as consequncias das aces que determinam se
elas so boas ou ms. O acto certo o que produz o melhor resultado global. o bem-estar que
permite determinar se as aces so boas ou no. A nvel social o maior bem-estar para o maior
nmero de pessoas o paradigma que deve nortear as decises. No propriamente a justia
social no sentido de equidade - a motivao primria. De facto, os utilitaristas no atribuem um
peso independente justia. As implicaes para a sade desta corrente sero ento os
melhores cuidados para o maior nmero de pessoas [10], o que pode ser interpretado de vrios
modos. Pode ser interpretada como promover aces que beneficiem toda a populao,
limitando aces dispendiosas e de alcance limitado. Pode interpretar-se como distribuir os
recursos de acordo com as necessidades de cada um. Mas pode tambm interpretar-se como o
favorecimento das maiorias com eventual excluso de certos grupos. Seja qual for a
interpretao que dermos, os doentes com doenas crnicas avanadas no exigem em geral
tratamentos dispendiosos e no so uma minoria, visto que todas as pessoas so potenciais
utentes.
Para John Rawls a justia social visa, essencialmente, minimizar os resultados da
lotaria natural que produz uma distribuio de condies sobre as quais o indivduo no tem
controlo, como o sexo, a raa, a classe social e os talentos naturais, protegendo os menos
favorecidos.
John Rawls formulou dois princpios da justia [11]:
179
1. Cada pessoa tem igual direito a um esquema plenamente adequado de iguais direitos e
liberdades bsicos, sendo cada esquema compatvel com o mesmo esquema para todos; e,
neste esquema, as liberdades polticas, e apenas essas, devem ter um valor justo
garantido.
2. As desigualdades econmicas e sociais devem satisfazer duas condies: primeiro, tm de
estar ligadas a posies e cargos aos quais todas as pessoas tm acesso de acordo com a
igualdade equitativa de oportunidades; e, segundo, tm de ser para o maior benefcio
possvel dos membros menos favorecidos da sociedade.
Estes princpios estabelecem que todos tm direito s liberdades e a direitos iguais e
que as desigualdades econmicas e sociais so legtimas desde que haja igualdade de
oportunidades, exceptuando os menos favorecidos que devem ser beneficiados [12].
Rawls fundamenta estes princpios partindo de uma posio hipottica original: o vu de
ignorncia. Isto significa que se, hipoteticamente, as pessoas fossem colocadas numa situao
em que ignorassem a sua situao na sociedade e as suas capacidades, mas que conhecessem
tudo o necessrio sobre a organizao social, economia, etc., que lhes permitisse uma escolha
correcta, escolheriam racionalmente um sistema que permitisse que as potencialidades de cada
uma delas se desenvolvessem e que da tirassem os benefcios respectivos mas que, ao mesmo
tempo, protegesse os menos favorecidos. Esta seria a base do contrato social.
John Rawls na sua teoria da justia no se refere s questes da sade. Alis, a teoria
diz respeito apenas a indivduos plenamente funcionais e na plena posse das suas faculdades
mentais. Outros procuraram aplicar ou estender a teoria s questes da sade, dos quais se
destaca Norman Daniels. Assim, as situaes que limitassem as oportunidades dos indivduos,
como a doena ou a incapacidade, seriam injustas, pelo que o acesso aos cuidados de sade
seria um direito sem o qual a igualdade de oportunidades no se poderia concretizar [10]. Mas
180
mesmo Daniels considera que a teoria no permite chegar a respostas claras e especficas
sobre como distribuir os recursos de modo a incluir os cuidados aos doentes em situao de
dependncia [13] e, consequentemente, os doentes que necessitam de cuidados paliativos,
numa situao de escassez de recursos. No entanto, sob o vu de ignorncia em que ningum
conhecesse a sua posio, e muito menos a sua posio futura, pessoas racionais no
acordariam num sistema que os protegesse se viessem a necessitar de ajuda, como altamente
provvel que acontea, na fase final da sua vida?
Assim, de toda a evidncia, os cuidados paliativos devem ser considerados uma
prioridade na sade, luz de uma viso consensual da dignidade da pessoa doente e dos seus
direitos fundamentais. De facto, no prembulo da Declarao Universal dos Direitos Humanos
pode ler-se: Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da
famlia humana e dos seus direitos iguais e inalienveis constitui o fundamento da liberdade, da
justia e da paz no mundo [14]. Reconhece-se que a dignidade inerente ao facto de se
pertencer espcie humana, no dependendo de mais nenhum atributo. No depende da idade,
do sexo, da raa, do estatuto social, da riqueza, da produtividade, da instruo, da sade, da
religio, da opo poltica, nem de qualquer outra circunstncia.
Este reconhecimento da dignidade de todos os seres humanos constitui um progresso
da humanidade. De facto nem sempre foi assim, como se pode demonstrar com o exemplo da
escravatura que s foi abolida h relativamente pouco tempo (infelizmente, esta evoluo no se
deu igualmente em todo o mundo). No passado a escravatura era considerada normal e estava
institucionalizada. Era normal considerar-se que havia seres humanos inferiores que deviam
servir outros seres humanos considerados superiores. O mesmo se pode dizer do racismo
institucionalizado at h muito pouco em pases como os EUA ou a frica do Sul. Nestes pases
havia separao entre brancos e negros nos transportes pblicos, restaurantes, escolas, igrejas,
etc. Hoje, apesar de continuar a haver racismo, este no legal, nem admitido nas regras
181
sociais. Actualmente, realidades naturalmente aceites no passado e consideradas como a norma
das sociedades no tm lugar em sociedades evoludas, como a desigualdade das pessoas
perante a lei, um estatuto inferior para as mulheres, a tortura, etc. H assim um progresso da
humanidade ao longo do tempo no sentido de ir reconhecendo mais direitos sociais e direitos
iguais para todas as pessoas. Os cuidados paliativos tiveram incio em 1967 e tm vindo a ser
reconhecidos como um direito das pessoas. O Conselho da Europa prope que os cuidados
paliativos devem basear-se nos seguintes valores: direitos humanos, direitos dos doentes,
dignidade humana, coeso social, democracia, equidade, solidariedade, igual oportunidade de
gnero, participao e liberdade de escolha [15]. O progresso da civilizao exige a proteco
dos elementos da sociedade humana quando fragilizados e em sofrimento.
neste contexto axiolgico que devemos perspectivar a expanso dos cuidados
paliativos no nosso sistema de sade. A assistncia mdica foi durante milnios uma relao
privada. A assistncia aos pobres fazia-se com base na caridade e em instituies que foram
aparecendo, como as misericrdias. Na segunda metade do sculo XIX comearam a aparecer
as associaes de socorros mtuos [16] em que os custos de sade so divididos pelos
membros do grupo. Estas associaes tiveram um papel relevante na prestao de servios
mdicos e no fornecimento de medicamentos. Nos anos 40 do sculo XX foram publicados o
Estatuto da Assistncia Social e a Organizao da Assistncia Social [16], mantendo o estado
um papel supletivo na prestao de cuidados de sade, deixando o papel mais importante
iniciativa privada.
O papel do Estado na proteco sade como um direito universal s comeou a existir
em Portugal aps a criao do Servio Nacional de Sade pela Constituio de 1976 [16].
O artigo 64. da Constituio portuguesa diz, entre outras coisas, o seguinte:
1. Todos tm direito proteco da sade e o dever de a defender e promover.
2. O direito proteco da sade realizado:
182
a) Atravs de um servio nacional de sade universal e geral e, tendo em conta as
condies econmicas e sociais dos cidados, tendencialmente gratuito;
3. Para assegurar o direito proteco da sade, incumbe prioritariamente ao Estado:
a) Garantir o acesso de todos os cidados, independentemente da sua condio
econmica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitao;
b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o pas em recursos humanos e
unidades de sade;
c) Orientar a sua aco para a socializao dos custos dos cuidados mdicos e
medicamentosos;
Evoluo semelhante ocorreu noutros pases. Verifica-se, ento, que tambm a
proteco da sade sofreu uma evoluo ao longo do tempo, podendo considerar-se, tambm,
uma conquista da civilizao. H ento um direito constitucional proteco da sade.
Proteco da sade significa, entre outras coisas, assistncia mdica na doena. A lei do
Servio Nacional de Sade expressa que este tem a seu cargo os cuidados mdicos de clnica
geral e de especialidade, os cuidados de enfermagem, o internamento hospitalar ... [16].
Portanto, segundo estas normas no h razo para pensar que os cuidados paliativos devam ser
excludos das responsabilidades do estado.
7.5. OS CUIDADOS PALIATIVOS E OS PRINCPIOS DA TICA MDICA
Abordando os cuidados paliativos na perspectiva da biotica, concluir-se- que os
princpios fundamentais da tica mdica - autonomia, beneficncia, no-maleficncia e justia
[17] - a observar em todas as decises mdicas, no podem ser efectivamente cumpridos, em
muitos casos, sem que os cuidados paliativos sejam integrados na prtica corrente da medicina.
183
O respeito pelos desejos, preferncias e convices dos doentes insere-se nos
fundamentos dos cuidados paliativos - princpio do respeito pela autonomia. Todas as decises
so, na medida do possvel, estabelecidas de acordo com o doente. A atitude paternalista
tradicional da medicina no uma prtica dos cuidados paliativos, assim como j o no ,
sobretudo noutros pases, noutras reas da medicina. Mesmo quando os doentes esto
internados, procura-se, dentro do possvel, respeitar os seus horrios e hbitos. Contudo, de
considerar que a autonomia um direito de todos os intervenientes. Portanto, a relao entre os
profissionais e os doentes deve ser a de seres autnomos que se respeitam mutuamente. No
entanto, um doente em sofrimento dificilmente poder exercer a sua autonomia, porque a sua
mente no se consegue concentrar em mais nada. Por isso, os cuidados paliativos ajudaro os
doentes a exercer a sua autonomia fazendo o que querem e podem realmente ainda fazer e
evitando que tomem decises motivadas pelo desespero.
O princpio da beneficncia, segundo o qual as aces mdicas devem ter como
inteno beneficiar o doente, sem dvida inerente aos cuidados paliativos. A sua origem,
mencionada atrs, teve como inteno beneficiar um grupo de pessoas que estava claramente
desprotegido. Outros movimentos reivindicam tambm o benefcio para estes doentes, como o
que defende a eutansia. Contudo, este movimento levanta grandes problemas ticos e, mesmo
que no levantasse, no vai de encontro ao desejo da esmagadora maioria dos doentes que, na
realidade, no quer morrer. Muito pelo contrrio, agarram-se vida, que sabem ser limitada e
com limitaes, mas que lhes pode permitir ainda um contacto gratificador com as pessoas que
para eles so significativas e, eventualmente, resolver questes importantes, para si e para os
outros. Isto assim, desde que a sua conscincia no esteja dominada pela dor ou por outro
problema causador de sofrimento. Os cuidados paliativos tm meios que em muito podem
contribuir para resolver esses problemas.
184
A integrao dos cuidados paliativos no sistema de sade permitiria, alm de tratar
doentes que hoje em dia so frequentemente submetidos a tratamentos inadequados,
racionalizar os recursos: evitando o uso de meios fteis de tratamento por falta de alternativa;
reduzindo as despesas, uma vez que so cuidados mais baratos, principalmente se
administrados no domiclio; evitando que os doentes recorram inapropriadamente aos servios
de urgncia; libertando camas e tempos de consultas de servios mais vocacionados para tratar
outro tipo de doentes. Teriam, assim, um alcance muito mais vasto do que o definido nos seus
objectivos, pelo que acrescentariam eficcia e equidade a todo o sistema de sade e, portanto,
mais justia.
"Primum non nocere". O princpio da no-maleficncia muitas vezes associado ao
anterior. No entanto, a expresso latina separa-o e d-lhe um lugar de destaque: acima de tudo
no fazer mal. Isto importante porque, em medicina, com a inteno de fazer o bem pode-se
causar grandes males. As armas que se empregam so muitas vezes altamente agressivas,
pelo que necessrio que se usem em situaes em que a probabilidade de xito seja razovel.
Exemplos de xitos pontuais no podem servir para justificar o seu emprego, porque por detrs
desses xitos raros pode estar um grande sofrimento dos muitos que no beneficiaram do
procedimento. Os cuidados paliativos procuram evitar os exames e os tratamentos que no
tenham em vista alcanar o seu objectivo: o bem-estar dos enfermos. Os exames e os
tratamentos tm objectivos definidos e realistas, aceitando-se sempre a perspectiva de
sobrevivncia curta.
Os quatro princpios referidos aplicam-se s relaes entre os profissionais e os
doentes, mas devem tambm aplicar-se s do sistema de sade com os utentes. Relativamente
a estas ltimas, difcil que sejam observados sem desenvolver os cuidados paliativos e integr-
los no sistema. Se no for assim, uma parte significativa dos doentes continuar, na prtica,
excluda do sistema (justia), no ter os seus problemas resolvidos (beneficncia), continuar a
185
ser tratada com mtodos inadequados, que muitas vezes s acrescentam sofrimento ao induzido
pela prpria doena (no-maleficncia) e com um sofrimento, por vezes, insuportvel a sua
autodeterminao estar comprometida (autonomia).
7.6. CONCLUSO
Os cuidados paliativos constituem o padro dos cuidados de sade aos doentes com
doenas crnicas avanadas e progressivas. As dificuldades que os estados tm em suportar os
custos com os cuidados mdicos resultam de muitos factores, nomeadamente, dos avanos
tecnolgicos, como os meios de diagnstico e teraputica, e os preos dos medicamentos. As
dificuldades econmicas dos estados vo levar a racionar os cuidados de sade. Nesse
racionamento necessrio pensar o que cortar ou no desenvolver. Quais devem ser os
critrios? Sero prioritrios os cuidados que exigem grandes recursos tecnolgicos
independentemente da sua eficincia, deixando de lado cuidados de grande alcance mas que
so ainda hoje vistos por muitos como secundrios? O aumento contnuo dos custos da
tecnologia no poder levar, segundo esta lgica, a cada vez mais cuidados para cada vez
menos pessoas? No constituir isto um retrocesso? Provavelmente esta lgica favorecer os
movimentos que apoiam a legalizao da eutansia, medida sem dvida menos dispendiosa.
Muitos direitos de que hoje usufrumos tm origem na evoluo das sociedades, no
existiram sempre. So conquistas da civilizao. O direito aos cuidados de sade uma
conquista relativamente recente e tornou-se, certamente, num direito que os cidados no
estaro dispostos a perder, embora possam admitir-se alguns ajustamentos necessrios.
Se os cuidados paliativos devem ou no ser includos nos cuidados que o Estado deve
prestar aos cidados pode ser encarado como uma questo de justia. Do ponto de vista
comunitrio, na comunidade que os indivduos se realizam e a comunidade que protege os
seus membros. Considera-se que uma sociedade inclusiva deve cuidar dos seus membros
186
sobretudo dos mais fragilizados, caso contrrio a coeso social pode ser afectada. Do ponto de
vista utilitarista, do maior bem para o maior nmero, tambm se poder considerar que a
dimenso do problema tem de levar ao desenvolvimento da prestao dos cuidados paliativos.
Na linha do pensamento de John Rawls, a proteco dos mais desfavorecidos indispensvel
justia social. Embora no se referindo questo da sade, podemos, como outros fizeram,
aplicar a esta o conceito geral. No estaro os doentes que necessitam de cuidados paliativos
numa posio de fragilidade tal, em todos os aspectos, no s de sade, mas tambm familiar e
social, que seria justo que fossem protegidos e eventualmente at discriminados positivamente?
Os cuidados paliativos devem ser vistos como um direito dos cidados, quer do ponto de
vista legal, quer do ponto de vista da justia social, de acordo com as principais correntes do
pensamento contemporneo, tendo em conta o conceito de dignidade humana. mesmo
possvel que os cuidados paliativos no representem um acrscimo significativo dos custos de
sade, ao mesmo tempo que acrescentam eficincia aos cuidados de sade.
Em nome da civilizao, de uma sociedade solidria, necessrio desenvolver os
cuidados paliativos. Sob o vu de ignorncia que cobre o futuro de todos ns, no seria racional
escolhermos um sistema que nos protegesse nos nossos perodos de deteriorao fsica e/ou
psquica?
REFERNCIAS
1. Organisation Mondiale de la Sant. Traitement de la douleur cancreuse et soins palliatifs.
Genve 1990.
2. Cherny NI, Coyle N, Foley KM. Suffering in the advanced cancer patient: a definition and
taxonomy. J Palliat Care 1994; 10:57-70.
3. Nunes R, Rego G, Nunes C (coordenadores). Afectao de Recursos para a Sade, Grfica
de Coimbra, Coimbra, 2003.
187
4. Wodinsky HB. The costs of caring for cancer patients. J Palliat Care 1992; 8:24-27.
5. Mitchell A, Hunter D, Blackhurst D, Stroud C, Lee B. Hospice care: The cheaper alternative.
JAMA 1994; 271:1576-7.
6. Emanuel EJ. Cost Savings at the end of life: what do the data show? JAMA 1996;275:1907-
1914.
7. Emanuel EJ, Emanuel LL. The economics of dying: the illusion of cost savings at the end of
life. N Engl J Med 1994;330:540-544.
8. Nunes R. Regulao na Sade, Vida Econmica, Porto, 2005.
9. Da origem do estado. Em: Aristteles. Tratado de Poltica. Mem Martins. Livros de Bolso
Europa-Amrica. 1977:5-9.
10. Em Prioridades na Sade. Nunes R, Rego G eds. Lisboa. McGraw-Hill 2002;3-16.
11. Rawls J. Resposta a duas questes fundamentais. Em: Rawls J. O liberalismo poltico.
Lisboa, Editorial Presena, 1997:34-39.
12. Rego G, Brando C, Melo H, Nunes R. Distributive justice and the introduction of generic
medicines. Health Care Analysis 2002;10:221-229.
13. Daniels N. Justice and long-term care: need we to abandon social contract theory? A reply to
Nussbaum. Em Ethical choices in long-term care: what does justice require? World Health
Organization 2002:67-75.
14. http://www.un.org/Overview/rights.html.
15. Council of Europe. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member
states on the organization of palliative care. 11-23.
16. Carreira HM. O estado e a sade. Cadernos do Pblico. 1996.
17. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University
Press. 5 ed.
188
8
ESTUDO SOBRE AS DECISES EM SITUAES DE
FIM DE VIDA TOMADAS PELOS ONCOLOGISTAS
PORTUGUESES NA PRTICA CLNICA
Nos captulos anteriores foram apresentadas teoricamente situaes como a absteno
e a suspenso de tratamentos, a eutansia, o suicdio assistido, as decises sobre os doentes
incompetentes, a sedao, os cuidados paliativos e a administrao de frmacos destinados a
controlar o sofrimento mas que tm o potencial de acelerar a morte, em que so tomadas
decises importantes sobre as condies em que a morte e o morrer ocorrem. Na maioria destas
situaes o contributo dos mdicos fundamental. Os clnicos so, assim, com alguma
frequncia chamados a tomar decises que podem influenciar a sobrevivncia e o bem-estar dos
doentes.
Tm sido realizados estudos em diversos pases sobre as opinies e a prtica dos
mdicos em relao s decises em situaes de fim da vida [1-11]. Na sociedade portuguesa,
porm, a discusso destes temas no tem tido grande expresso, embora haja alguns perodos
em que se verifica um certo interesse, coincidindo com a modificao da legislao ou com
notcias da discusso pblica que ocorre noutros pases. No entanto, previsvel que o assunto
venha a merecer uma maior participao social no futuro prximo.
O testemunho e a opinio dos mdicos portugueses sobre as decises em situaes de
fim de vida no so conhecidos, mas so indispensveis para o debate que, embora ainda
latente na sociedade portuguesa, possivelmente se intensificar, influenciado pelo que se passa
noutros pases. Hoje, no h qualquer ideia sobre o que os mdicos portugueses pensam sobre
189
estes assuntos, o que leva a falsas pressuposies. Por exemplo, ouve-se por vezes dizer que a
eutansia se pratica em Portugal com alguma frequncia, ideia que contrariada por outros com
base na sua prtica e no seu contacto com os colegas. Dada esta incerteza e o interesse do
tema, este trabalho exploratrio tem por objectivo principal conhecer as opinies dos mdicos
que acompanham doentes terminais. A populao alvo deste estudo foram os mdicos, de vrias
especialidades, que trabalham em oncologia. A oncologia foi escolhida porque a necessidade de
se tomarem decises em questes de fim de vida particularmente frequente.
8.1. MTODOS
Para alcanar os objectivos propostos efectuou-se um questionrio no qual se coloca um
conjunto de sobre esta temtica. Os questionrios foram enviados pelo correio a todos os
mdicos inscritos na Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) e que constavam de uma lista
fornecida pela direco da referida sociedade que inclua 408 mdicos. Os questionrios eram
acompanhados por uma carta em que se explicavam as razes do estudo e a sua importncia e
em que se garantia o anonimato das respostas. Aps trs semanas, foi enviada uma nova carta
pedindo a quem ainda no tinha respondido que o fizesse. Tendo constatado que havia muitos
oncologistas que no estavam inscritos na SPO, contactei pessoalmente 42 desses oncologistas
de vrias instituies no inscritos na SPO, cuja posio sobre o tema em estudo no era
publicamente conhecida. Aps cerca de trs semanas voltaram a ser contactados, sendo-lhe
pedido que respondessem se ainda o no tivessem feito. As respostas faziam-se por meio do
envio dos questionrios em sobrescritos pr-pagos. Dado o tema do questionrio, impunha-se
manter a anonimato, pelo que no havia nenhum cdigo ou outro processo que permitisse
identificar quem enviou o questionrio.
190
O questionrio foi desenvolvido aps a anlise de alguns questionrios usados noutros
pases que me foram amavelmente enviados pelos autores, a meu pedido. Os questionrios
referidos foram enviados por:
Helga Kuhse. Foi utilizado num estudo realizado na Austrlia [5]. Este questionrio uma
verso inglesa do questionrio usado na Holanda por van der Maas et all [12]. Um dos
objectivos deste estudo era comparar os dados australianos com os holandeses.
Frederich Stiefel. Este questionrio foi utilizado num estudo realizado na Suia e promovido
pela Associao Suia de Cuidados Paliativos [13].
David Doukas. Este questionrio foi utilizado num estudo em oncologistas do Michigan,
patrocinado pela Universidade do Michigan, Ann Arbor, e pela Sociedade Americana do
Cancro [14].
Porm, o questionrio usado neste estudo, embora influenciado pelos questionrios
estudados, tem uma formulao prpria.
O questionrio inclui perguntas sobre dados demogrficos, a eutansia, o suicdio
assistido, doentes incompetentes, suspenso de tratamentos, controlo de sintomas, cuidados
paliativos e a extenso do conceito de eutansia e suicdio assistido (Anexo 1). As perguntas,
relativas extenso dos conceitos referidos, resultaram da definio sugerida por Masterstvedt e
Kaasa [15], j referida no captulo A Morte Assistida.
Aps a construo do questionrio, este foi submetido a uma validao facial feita por 15
mdicos, a maioria dos quais eram oncologistas. Foi-lhes pedido que preenchessem o
questionrio e que comentassem quanto relevncia e coerncia das perguntas e que,
eventualmente, sugerissem alteraes. De acordo com as sugestes feitas, foram feitas
pequenas alteraes que se revelaram pertinentes.
191
Eutansia foi definida como: terminao deliberada e indolor da vida de uma pessoa,
com uma doena incurvel, avanada e progressiva que levar inexoravelmente morte, a seu
pedido explcito, repetido, informado e bem reflectido, pela administrao de um ou mais
frmacos em doses letais.
Suicdio assistido foi definido como: ajuda ao suicdio de uma pessoa com uma doena
incurvel, avanada e progressiva que levar inexoravelmente morte, a seu pedido explcito,
repetido, informado e bem reflectido, prescrevendo os frmacos e dando-lhe as instrues
necessrias para o seu uso.
Para o tratamento estatstico dos dados procedeu-se a uma anlise inicial para
identificao de erros de codificao, inconsistncias e a presena de categorias ausentes ou
em pequenos nmeros, fazendo correces quando necessrio. Foi realizada uma anlise
exploratria dos dados para descrio da amostra. As variveis foram analisadas atravs de
mtodos grficos, propores e mdias. Para avaliar a existncia ou no de associao entre
variveis categricas foi utilizado o teste Qui-Quadrado. Considerou-se um nvel de significncia
de 0,05. Para a anlise dos dados utilizou-se o software estatstico SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) verso 14.0.
8.2. RESULTADOS
Dos 450 questionrios enviados, 12 foram devolvidos porque os mdicos tinham
mudado de casa ou tinham falecido. Foram recebidos 143 questionrios preenchidos (33%). No
Quadro 8.1 podem ver-se os dados demogrficos dos mdicos que responderam. Os
questionrios foram preenchidos de modo cuidado e consistente. Houve poucos dados omitidos,
tendo-se verificado que a varivel com menos respostas foi a religio.
192
8.2.1. Eutansia
Dos mdicos que responderam s questes sobre eutansia, 78% no a praticariam em
nenhuma circunstncia, no quadro legislativo actual de proibio, enquanto que cerca de 13% o
faria (Quadro 8.2). Se a legislao o permitisse, a percentagem dos que o fariam subiu para 24%
e a percentagem dos que no tm opinio formada sobre o assunto tambm subiu de cerca de
8% para cerca de 13% (Quadro 8.2). Vinte e nove mdicos (21%) receberam pedidos de
eutansia em nmero varivel (Quadro 8.3). Dos mdicos que receberam pedidos, 6 (21%, 4%
do total) receberam pedidos no ltimo ano. S 1 mdico (0,7%) praticou eutansia; este mdico
tinha tido trs pedidos, mas nenhum no ltimo ano.
Quanto a se a eutansia deveria ser permitida na ordem jurdica portuguesa, 55 mdicos
(39%) pensam que sim, mas h 19% que no tm opinio formada. Uma percentagem um pouco
maior (23%) no tem opinio formada sobre se optaria pela eutansia se tivesse uma doena
incurvel e progressiva que levasse inexoravelmente morte, enquanto que 36% optariam pela
eutansia (Quadro 8.2).
No se verificou nenhuma relao com significado estatstico entre a eutansia e a
idade, o sexo, o estado civil, a especialidade, o local de trabalho e a regio onde os mdicos
praticavam a sua especialidade. O factor mais consistentemente relacionado com a
aceitabilidade da eutansia foi a religio, tendo-se verificado diferenas estatisticamente
significativas entre os catlicos praticantes e os no praticantes, com estes ltimos a aceitarem-
na mais frequentemente, embora o nmero dos que no a aceitavam seja maior nos dois grupos.
Um factor que tambm foi estatisticamente relevante na pergunta sobre se praticariam eutansia
se a legislao o permitisse, foi o nmero de doentes com doenas incurveis e progressivas
observado por ano, com os mdicos que observavam mais de 30 destes doentes a responderem
menos vezes afirmativamente, mas tambm a responderem mais que no tinham opinio
formada. Verificou-se uma tendncia para os maiores de 65 anos responderem negativamente
193
s perguntas sobre a eutansia, embora a relao no fosse estatisticamente significativa. Este
grupo etrio era o que menos dvidas tinha sobre a prtica da eutansia. (Quadros A.1 a A.4).
Quadro 8.1. Dados demogrficos
Dados demogrficos
Total n
%
Idade (anos)
31 45
46 65
> 65
142
50
69
23
35,2
48,6
16,2
Sexo
Feminino
Masculino
142
51
91
35,9
64,1
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
124
18
87,3
12,7
Religio
Catlicos
Agnsticos
Ateus
132
126
4
2
95,5
3,0
1,5
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
66
55
54,5
45,5
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
59
54
20
10
41,3
37,8
14,0
7,0
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
142
82
37
23
57,7
26,1
16,2
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
123
18
87,2
12,8
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
32
54
55
22,7
38,3
39,0
194
Quadro 8.2. Eutansia
Pergunta Total Sim
n (%)
No
n (%)
No tenho opinio
formada
n (%)
A legislao portuguesa no permite a prtica da eutansia. Mesmo assim,
h circunstncias em que a praticaria?
143
19 (13,3)
112 (78,3)
12 (8,4)
Se a legislao permitisse a prtica da eutansia f-lo-ia?
143
34 (23,8)
91 (63,6)
18 (12,6)
Pensa que a eutansia devia ser permitida na ordem jurdica portuguesa?
142
55 (38,7)
60 (42,3)
27 (19,0)
Se tivesse uma doena incurvel e progressiva que levasse
inexoravelmente morte, gostaria de optar pela eutansia?
143
51 (35,7)
59 (41,3)
33 (23,1)
195
Quadro 8.3. Nmero de pedidos de eutansia recebidos
Nmero de
pedidos
Nmero de
mdicos
%
0
1
2
3
4 a 6
Mais de 6
110
4
9
6
5
5
79,1
2,9
6,5
4,3
3,6
3,6
139 100
8.2.2. Suicdio assistido
No que respeita s perguntas sobre se praticariam suicdio assistido, nas condies
actuais de proibio e no caso de vir a ser legalizado, as respostas so semelhantes s dadas
relativamente eutansia. No entanto, menos mdicos pensam que o suicdio assistido deveria
ser permitido na ordem jurdica portuguesa e, tambm, menos optariam pelo suicdio assistido
em caso de doena incurvel e progressiva. Nesta ltima pergunta nota-se tambm que h um
maior nmero de indecisos, tal como aconteceu em relao eutansia (Quadro 8.4).
Apenas cinco mdicos (3,5%) tinham recebido pedidos de suicdio assistido: dois
receberam 1 pedido; um 4 e um 6. Um destes pedidos tinha ocorrido no ltimo ano. Nenhum
mdico praticou suicdio assistido.
Tambm em relao ao suicdio assistido a diferena estatisticamente mais significativa
em relao sua aceitabilidade foi a de se o mdico era ou no catlico praticante, com os no
praticantes a aceitarem com mais frequncia o suicdio assistido, mas tambm manifestando
mais vezes que no tinham uma opinio formada. Outra associao estatisticamente significativa
foi a que ocorreu entre a idade e a legalizao do suicdio assistido, em que os maiores de 65
anos se opunham mais frequentemente (p = 0,027), sem que nenhum deles respondesse que
no tinha opinio formada. Tambm houve uma relao no mesmo sentido entre a idade e a
possibilidade de os mdicos optarem pelo suicdio assistido se tivessem uma doena terminal (p
196
= 0,029), mas aqui j alguns mdicos no tinham opinio formada. Verificou-se que nas outras
perguntas sobre o suicdio assistido os maiores de 65 anos tendiam a opor-se mais, embora a
relao no fosse estatisticamente significativa. Este grupo etrio era o que menos dvidas tinha
sobre as questes relativas ao suicdio assistido. No se verificou nenhuma relao
estatisticamente significativa entre o suicdio assistido e o sexo, o estado civil, o local de
trabalho, a regio onde os mdicos praticavam a sua especialidade ou o nmero de situaes de
doentes com doena incurvel e progressiva que os mdicos observavam por ano. (Quadros
A.5 a A.8).
8.2.3. Doentes incompetentes
Apenas 11 mdicos (7,7%) administraria doses letais de um ou mais frmacos a uma
pessoa com uma doena incurvel, avanada e progressiva, incapaz de tomar decises a pedido
de familiares ou de outra pessoa prxima. No entanto, 30 mdicos (21,3%) gostariam que, no
casos de eles prprios estarem nessa situao, os frmacos lhe fossem administrados a pedido
(Quadro 8.5); mas havia tambm mais mdicos sem opinio formada. Doze mdicos (12,4%)
receberam pedidos deste tipo e quatro deles tinham recebido pedidos no ltimo ano; estes
variaram entre 1 e 3. Nenhum mdico tinha praticado um acto deste tipo. Quanto a determinar se
estes actos deveriam ser permitidos pela legislao 24 (17,3%) responderam afirmativamente.
Tambm quanto questo semelhante da administrao de frmacos letais mas pela
iniciativa do mdico, houve mais respostas positivas quando se tratava da hiptese de ser o
prprio a estar nessas circunstncias. Mas, tambm nestes casos, havia mais sem opinio
formada (Quadro 8.4). No entanto, o nmero de respostas positivas foi menor do que no caso da
administrao a pedido. Tambm nenhum mdico tinha praticado um acto deste tipo. Dezanove
mdicos (13,5%) era da opinio que estes actos deveriam ser permitidos pela legislao.
197
Nestas questes, verificaram-se diferenas estatisticamente significativas entre mdicos
em diferentes locais de trabalho com os mdicos dos institutos de oncologia a serem menos
favorveis administrao de frmacos a pedido de um familiar (p = 0,035) e os cirurgies a
serem mais vezes a favor da sua permisso pela legislao (p = 0,030). Os catlicos no
praticantes eram mais vezes a favor dessa prtica se estivessem na posio do doente nessas
condies e o pedido fosse feito por um familiar, mas tambm havia mais indecisos entre eles (p
= 0,016). No se verificou nenhuma relao entre administrao de frmacos letais a doentes
incompetentes e a idade, o sexo, o estado civil, a regio onde os mdicos praticam, a sua
especialidade e quantas situaes de pessoas com doena incurvel e progressiva o mdico se
tinha confrontado no ltimo ano. (Quadros A.9 a A.14).
8.2.4. Suspenso de tratamentos
Cerca de 70% dos mdicos suspenderiam medidas de suporte de vida a pedido de um
doente com uma doena incurvel avanada e progressiva e mais 14% f-lo-iam em certas
circunstncias, mas s 41% suspenderiam medidas como a alimentao e a hidratao. Menos
mdicos suspenderiam as medidas de suporte de vida, nomeadamente alimentao e
hidratao, a pedido de um familiar ou por iniciativa prpria. Os nmeros referentes suspenso
das medidas por iniciativa do mdico ou da equipa de sade so idnticos ou muito semelhantes
aos que se referem aos pedidos dos familiares (Quadro 8.6).
Em relao suspenso das medidas de suporte de vida a pedido do doente verificam-
se diferenas estatisticamente significativas entre os catlicos praticantes e os no praticantes (p
=0,039), com aqueles a fazerem-no menos vezes e condicionando a suspenso mais vezes s
circunstncias. Verificou-se tambm uma diferena significativa (p = 0,033) entre os mdicos
relativamente ao nmero de vezes em que se confrontavam com situaes de doena incurvel,
como os que mais frequentemente o fazem a aceitar mais a suspenso. A suspenso da
198
Quadro 8.4. Suicdio assistido
Perguntas Total Sim
n (%)
No
n (%)
No tenho opinio
formada
n (%)
A legislao portuguesa no permite a prtica do suicdio assistido. Mesmo
assim, h circunstncias em que o praticaria?
142
21 (14,8)
105 (73,9)
16 (11,3)
Se a legislao permitisse a prtica do suicdio assistido f-lo-ia?
143
36 (25,4)
89 (62,7)
17 (12,0)
Pensa que o suicdio assistido devia ser permitido na ordem jurdica
portuguesa?
142
45 (31,9)
73 (51,8)
23 (16,3)
Se tivesse uma doena incurvel e progressiva que levasse
inexoravelmente morte, gostaria de optar pelo suicdio assistido?
143
34 (23,8)
72 (50,3)
37 (25,9)
199
Quadro 8.5. Doentes cognitivamente incompetentes
Perguntas Total Sim
n (%)
No
n (%)
No tenho opinio
formada
n (%)
Administraria um ou mais frmacos em doses letais a uma pessoa, com uma doena
incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente morte e incapaz de
tomar decises por alteraes da conscincia, a pedido de um familiar ou de outra pessoa
prxima?
143
11 (7,7)
121 (85,2)
3 (2,1)
Pensa que este tipo de actos deviam ser permitidos pela legislao? (referindo-se
questo anterior)
139
24 (17,3)
92 (66,2)
23 (16,5)
Se tivesse uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente
morte e estivesse incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia, gostaria que
um mdico lhe administrasse um ou mais frmacos em doses letais, se tal lhe fosse
pedido por um seu familiar ou outra pessoa prxima?
141
30 (21,3)
80 (56,7)
31 (22,0)
Administraria um ou mais frmacos em doses letais a uma pessoa, com uma doena
incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente morte e incapaz de
tomar decises por alteraes da conscincia, por sua prpria iniciativa (sem que lhe
tenha sido pedido)?
139
6 (4,3)
124 (89,2)
9 (6,5)
Pensa que os actos deste tipo deviam ser permitidos pela legislao? (referindo-se
questo anterior)
141
19 (13,5)
101 (71,6)
21 (14,9)
Se tivesse uma doena incurvel, avanada que levasse inexoravelmente morte e
estivesse incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia, gostaria que um
mdico lhe administrasse um ou mais frmacos em doses letais, baseado apenas no seu
julgamento?
139
14 (10,1)
100 (71,9)
25 (18,0)
200
Quadro 8.6. Suspenso de tratamentos
Questo Total Sim
n (%)
No
n (%)
Em certas
ciscunstncias
n (%)
Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que
levasse inexoravelmente morte, legtimo suspender medidas de suporte da vida a seu
pedido explcito, repetido informado e bem reflectido?
142
95 (66,9)
27 (19,0)
20 (14,1)
Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao? (referindo-se questo anterior)
142
58 (40,8)
84 (59,2)
Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que
levasse inexoravelmente morte e incapaz de tomar decises por alteraes da
conscincia, legtimo suspender medidas de suporte da vida a pedido de um familiar ou
de outra pessoa prxima?
142
52 (36,6)
66 (46,5)
24 (16,9)
Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao? (referindo-se questo anterior)
141
44 (31,2)
97 (68,8)
Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que
levasse inexoravelmente morte e incapaz de tomar decises por alteraes da
conscincia, legtimo suspender medidas de suporte da vida a pedido por deciso
unilateral do mdico ou da equipa de sade?
143
52 (36,6)
66 (46,2)
25 (17,5)
Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao? (referindo-se questo anterior)
136
39 (28,7)
97 (71,3)
201
hidratao e da alimentao variou significativamente com a especialidade (p <0,001), com 100% dos
radioterapeutas a no a aceitarem (Quadros A.15 e A.16). Tambm o local de trabalho se associou a
uma diferena estatisticamente significativa (p = 0,027) com os mdicos dos institutos de oncologia a
serem mais frequentemente contra a suspenso da alimentao e da hidratao do que os mdicos de
outros hospitais, sendo ainda menos favorveis os mdicos com outros locais de trabalho. No se
verificou nenhuma relao entre suspenso de tratamentos, nomeadamente a alimentao e a
hidratao e a idade, o sexo, o estado civil e a regio onde os mdicos praticam a sua especialidade.
(Quadros A.15 a A.20).
A suspenso de medidas de suporte de vida a pedido de um familiar ou de outra pessoa
prxima associa-se a uma diferena marginalmente significativa (p = 0,040) entre as especialidades,
com 75% dos radioterapeutas a no concordarem com a suspenso nestas circunstncias. Essa
diferena maior (p = 0,003) quando se trata de suspender a alimentao e a hidratao, com 100%
dos radioterapeutas a responderem no (Quadros A.17 e A.18). Na suspenso das medidas de suporte
de vida por deciso do mdico ou da equipa de sade no h diferenas significativas, excepto no que
respeita alimentao e hidratao em que os catlicos praticantes so mais vezes frequentemente
contra a suspenso (p = 0,009) e novamente 100% dos radioterapeutas a serem contra (p = 0,013)
(Quadros .A19 e A.20).
8.2.5. Controlo de sintomas e cuidados paliativos
Sobre a questo da administrao de frmacos para controlar sintomas ainda que se pudesse
admitir que encurte a vida 138 (96,5%) concordam com essa administrao, 4 admitem-no em certas
circunstncias, 1 no tinha opinio formada e nenhum respondeu no. J quando era o prprio mdico
que se encontrava na situao de sofrimento, 100% gostaria que lhe administrassem um frmaco para
lhes aliviar o sofrimento ainda que isso pudesse encurtar-lhes a vida.
202
A maioria dos mdicos acredita que os cuidados paliativos poderiam evitar pedidos de
eutansia e de suicdio assistido: 12 (8,4%) todos os casos; 102 (71,3%) muitos casos; 19 (13,3%)
alguns; 4 (2,8%) no; e 6 (4,2%) no tinha opinio formada.
8.2.6. Alargamento dos conceitos
Cerca de 82% dos mdicos discorda que o conceito de eutansia seja alargado a situaes de
pessoas sem doenas terminais ou doena somtica, englobando doentes crnicos, doentes mentais,
pessoas cansadas de viver por idade avanada, deteriorao fsica, solido ou dependncia. Cerca de
12% era a favor desse alargamento dos conceitos, enquanto que os restantes no tinha opinio
formada.
Quanto ao alargamento do conceito de suicdio assistido os resultados so semelhantes com
79,7% contra, 12,6% a favor e 7,7% sem opinio formada.
Nenhuma varivel demogrfica se associou ao alargamento dos conceitos (Quadros A.21 e
A.22)
8.3. DISCUSSO DOS RESULTADOS
Um facto saliente deste estudo a baixa percentagem de respostas dos mdicos relativamente
ao que aconteceu em estudos realizados noutros pases [1,2,5,16,17], embora num estudo belga a
percentagem de respostas dos especialistas tenha sido de 40% [6]. O significado deste facto incerto,
podendo mostrar um desinteresse geral da populao portuguesa e/ou dos mdicos em responder a
inquritos, ou seja, falta de cultura cvica e de sentido de responsabilidade social. Pode, tambm,
significar que este tema particularmente desinteressante, embora isto seja pouco provvel. A
delicadeza do tema poder ter levado alguns a recear serem identificados e assim tornarem pblicas as
suas opinies ou prticas, apesar de lhes ter sido garantido o anonimato na carta que acompanhava o
inqurito. possvel que uma combinao dos factores indicados, ou ainda de outros, explique o baixo
203
nmero de respostas. Alguns desses factores foram identificados como podendo baixar a taxa de
respostas, embora no sejam inteiramente consistentes, como a populao ser constituda por
mdicos, o inqurito ser annimo ou a natureza do questionrio ser sensvel [18,19].
No entanto, desde que haja casos suficientes para a anlise estatstica, a no resposta um
problema apenas na medida em que os que no respondem difiram significativamente dos que
respondem. Portanto, embora uma baixa taxa de respostas aumente a probabilidade de enviesamento,
no h necessariamente um relao entre a taxa de respostas e enviesamento [19]. Daqui resulta que,
se no houver nenhuma razo que faa suspeitar que os que no responderam diferiam
significativamente dos que responderam, a amostra representativa da populao a estudar. De facto,
no so evidentes razes que faam suspeitar de uma diferena significativa entre os dois grupos,
embora as razes de enviesamento dos estudos sejam tipicamente difceis de detectar. Difceis de
explicar so tambm as razes para que a religio seja o dado demogrfico a que os mdicos menos
responderam.
8.3.1. Eutansia e suicdio assistido
Neste estudo, os oncologistas portugueses rejeitam maioritariamente a eutansia e o suicdio
assistido na sua prtica, sobretudo nas condies actuais em que a legislao portuguesa os probe.
No entanto, cerca de um quarto dos mdicos estaria disposto a praticar uma destas formas de morte
assistida, em certas circunstncias, se a legislao o permitisse. Vinte e um por cento dos mdicos
receberam pedidos de eutansia e 3,5% receberam pedidos de suicdio assistido. Quanto a aceder aos
pedidos, apenas um mdico praticou eutansia e nenhum suicdio assistido. Os resultados deste
estudo diferem, em geral, dos obtidos em estudos realizados noutros pases, em diferentes
continentes, embora os resultados sejam heterogneos [1,3,5,7,10-12,19,20]. Por exemplo:
Num estudo realizado na Holanda [12], 53% dos mdicos entrevistados praticaram uma forma de
morte assistida, 35% nunca o fizeram mas poderiam imaginar uma situao em que o fariam e os
204
restantes 12% no conseguiam imaginar uma situao em que o fizessem, mas a maioria referiria
para um colega um doente que fizesse um pedido de morte assistida.
Num estudo realizado no estado americano do Oregon e publicado em 1996, antes da legalizao
do suicdio assistido, 67% dos mdicos referiram que o suicdio assistido seria tico em alguns
casos, 60% que deveria ser legal em alguns casos e cerca de um tero referiram que o suicdio
assistido imoral, violaria a tica profissional e as crenas religiosas pessoais [1]. No mesmo
estudo, 46% dos mdicos responderam que em alguns casos prescreveriam uma dose letal de
medicao se tal fosse legal, enquanto que 52% responderam que no, por objeces morais ou
de outra natureza.
Num grande estudo realizado em oncologistas americanos os nmeros foram muito mais baixos:
22,5% apoiavam o suicdio assistido e 6,5% apoiavam a eutansia, sendo os cirurgies os que
mais frequentemente apoiavam estas prticas [3]. Dos oncologistas 63% receberam pedidos de
suicdio assistido e eutansia e 31% receberam-nos no ltimo ano, mas recusaram a maioria dos
pedidos, tendo 11% praticado suicdio assistido e 4% eutansia.
Howard et al. verificaram que 43% dos oncologistas votariam pela legalizao do suicdio assistido
e 35% pela legalizao da eutansia se houvesse um referendo [20]. No entanto, 63% considerava
que essas prticas so eticamente aceitveis, o que mostra uma preocupao com a legalizao e
os potenciais abusos que poderiam ocorrer e/ou com a deteriorao da relao mdico-doente
[20].
O nmero de pedidos de eutansia e de suicdio assistido ocorreram com 23% e 5% dos
mdicos, respectivamente. Estes resultados so tambm inferiores aos obtidos noutros locais, como j
se observou atrs noutros estudos. Podem dar-se outros exemplos:
Num estudo realizado na Holanda, 88% dos mdicos disseram que tinham recebido pelo menos
um pedido de eutansia [12].
205
Tambm, no estudo, j referido, realizado no estado americano do Oregon publicado em 1996,
antes da legalizao do suicdio assistido, 21% dos mdicos disse que os doentes lhes tinham j
pedido uma prescrio para cometerem suicdio [1].
Parece ento que os oncologistas portugueses so menos receptivos a estas prticas do que
os mdicos de outros pases onde se fizeram estudos sobre a morte assistida. Parece tambm haver
um menor nmero de pedidos de morte assistida por parte dos doentes. Estas diferenas podem
reflectir factores culturais, nomeadamente religiosos, ou a falta de reflexo e debate sobre estes
assuntos em Portugal. O facto dos mdicos serem oncologistas pode tambm ter influenciado os
resultados, porque, embora estando mais expostos a doentes terminais e em sofrimento, tendem a
opor-se mais s prticas de morte assistida [16]. No se pode excluir a possibilidade de enviesamento
resultante da baixa percentagem de respostas obtidas.
O presente estudo no foi desenhado para conhecer o que motivou a recusa dos mdicos dos
pedidos de morte assistida, nem a aco que desenvolveram, se que desenvolveram alguma, na
sequncia dos pedidos, mas esse assunto foi estudado por outros. Assim, num estudo tambm
realizado no estado de Washington, as respostas iniciais mais frequentes dos mdicos aos pedidos dos
doentes foi a discusso, intervenes para o controlo da dor e de outros sintomas e a administrao de
medicao para a depresso e a ansiedade [2]. Menos frequentemente, os doentes foram
referenciados para psiquiatras ou psiclogos ou para organizaes como a Hemlock Society [21] ou a
Compassion on Dying [22] que defendem, entre outras coisas, a qualidade nos cuidados de fim de vida
incluindo a ajuda na morte para os doentes terminais. Raramente, referenciaram os doentes para uma
segunda opinio. Os mdicos recusaram prescrever a medicao em 73% dos doentes (114 de 156)
que fizeram um pedido de suicdio assistido por uma variedade de razes relacionadas com o doente:
os sintomas eram potencialmente tratveis, o doente estava deprimido, a sobrevivncia previsvel do
doente era superior a 6 meses, o grau de sofrimento do doente no justificava o pedido, o mdico no
206
conhecia o doente suficientemente bem. Outros mdicos recusaram por outro tipo de razes: os
mdicos no devem participar no suicdio assistido ou estavam preocupados com as consequncias
legais. No mesmo estudo [2] os mdicos recusaram a eutansia em 67% dos doentes (39 de 58), a
maioria por considerarem que os mdicos no devem praticar eutansia e outros porque os sintomas
eram potencialmente tratveis, a sobrevivncia previsvel do doente era superior a seis meses, o
doente estava deprimido, o grau de sofrimento do doente no justificava o pedido ou por estarem
preocupados com as consequncias legais.
Verificou-se, no presente estudo, que os mdicos que so a favor da legalizao da eutansia
e do suicdio assistido so mais do que os que os praticariam se fossem legalizados. Estes dados so
anlogos aos encontrados no estudo de Cohen et al. [16], realizado no estado de Washington sobre as
atitudes dos mdicos em relao ao suicdio assistido e eutansia, em que 54% pensavam que a
eutansia devia ser legal em algumas situao, mas s 33% quereriam realiz-la. Quanto ao suicdio
assistido, 53% pensavam que deveria ser legalizado em algumas situaes, mas s 40% quereriam
realiz-lo. Estes dados podem interpretar-se como um reconhecimento, por alguns mdicos, do direito
dos doentes a formas de morte assistida, mantendo, porm, o mdico o direito de os recusar. Estas
posies so, volto a lembrar, minoritrias em Portugal.
Mais mdicos optariam pela eutansia se tivessem uma doena avanada e progressiva do
que os que estariam dispostos a pratic-la. Porm, o estudo no foi desenhado para explorar as razes
desta diferena. Mas, no estudo de Howard et al. [20], em que se verificou uma diferena no mesmo
sentido, embora menor, essa questo foi explorada. Dos mdicos que responderam deste modo
aparentemente contraditrio, metade respondeu que a eutansia e o suicdio assistido no faziam parte
do seu papel e que no era tico pratic-los, enquanto que a outra metade referenciaria o doente para
outro mdico que estivesse disposto a faz-lo; a maioria dos mdicos deste ltimo grupo referiu que
no se opunha absolutamente ideia, mas pensavam que no deveria estar sob a autoridade de um
207
nico mdico. Verifica-se que metade dos mdicos tinham uma razo vlida mas outra metade no
apresentaram uma razo coerente para as suas opinies.
A relao mais consistente entre a opinio a favor ou contra sobre as vrias questes relativas
eutansia e ao suicdio assistido e os factores demogrficos, isto , que apareceu sistematicamente
de modo muito significativo, ocorreu dentro dos catlicos. De facto, houve diferenas muito
significativas entre os praticantes e os no praticantes. Os no catlicos eram em nmero muito
pequeno pelo que no foram includos na anlise. De facto, os catlicos praticantes opuseram-se mais
vezes prtica ou incluso da morte assistida na legislao e tambm foram os que menos optariam
por uma dessas prticas se estivessem numa situao de doena avanada e incurvel. Isto pode
resultar de, em Portugal, a maioria das pessoas ter tido baptismo e educao catlica e por isso se
considerarem catlicos. Isto , inserem-se na cultura e tradio catlicas, mas no demonstram grande
firmeza nas suas convices, da no se considerarem catlicos praticantes. Provavelmente, da
resulta tomarem mais vezes posies que vo contra o que habitualmente aceite pelos catlicos
convictos (que tendero mais a ser praticantes), nomeadamente a doutrina moral da Igreja. A influncia
da religio foi verificada noutros estudos. Assim, no Oregon as variveis associadas vontade de
participar no suicdio assistido incluram a afiliao judaica, ausncia de afiliao religiosa e outras
afiliaes no crists [1]. As variveis associadas ausncia de vontade de participar no suicdio
assistido foram a afiliao catlica ou outra afiliao crist [1]. Tambm em Washington, as razes
invocadas para a discordncia com o suicdio assistido e a eutansia foram as crenas religiosas [16].
Noutro estudo ainda, os catlicos e os muito religiosos tinham menos probabilidade de quererem
uma forma de morte assistida para si prprios [20].
Observou-se tambm que os maiores de 65 anos se opunham ou tendiam a opor-se mais
eutansia e ao suicdio assistido. Talvez esta relao se deva formao dos mdicos de uma poca
em que o princpio tico que se sobrepunha a todos os outros era indiscutivelmente o da beneficncia e
em que a atitude dos mdicos era sobretudo paternalista. O primado do respeito pela autonomia mais
208
recente, em que por extenso pode haver uma tendncia a considerar-se que h um direito a escolher
o modo como se morre.
Verificou-se que em geral as respostas que revelaram mais indeciso foram as relativas a se o
mdico optaria pela eutansia ou pelo suicdio assistido se tivesse ele prprio uma doena avanada,
sugerindo que mais difcil decidir em causa prpria do que quando se trata dos outros.
Parece haver uma considerao maior sobre as questes relacionadas com a eutansia
relativamente ao suicdio assistido, tanto entre os mdicos como entre os doentes a julgar pelo nmero
de pedidos referidos pelos mdicos. Talvez isto resulte de uma maior visibilidade que a eutansia
parece ter. De facto, quando se discutem, em Portugal, as questes da morte assistida, a discusso
confina-se geralmente eutansia.
Os oncologistas portugueses so maioritariamente (80%) contrrios ao alargamento dos
conceitos de eutansia e de suicdio assistido a pessoas sem doenas terminais, contrariando assim a
sugesto de Masterstvedt e Kaasa [15].
8.3.2. Doentes incompetentes
Parece haver um amplo consenso entre os mdicos portugueses quanto s questes
envolvidas neste estudo sobre os doentes incompetentes. Muito poucos mdicos de mostraram
dispostos a administrar um ou mais frmacos em doses letais a um doente incompetente a pedido de
um familiar e menos ainda a administr-los por iniciativa prpria. Embora alguns tivessem recebido
pedidos nesse sentido, nenhum o fez. Um pouco mais, mas ainda assim poucos, se manifestaram a
favor da legalizao deste tipo de actos.
Noutros pases verificaram-se casos da administrao de frmacos em doses letais sem o
pedido explcito do doente. Por exemplo, na Holanda, este facto de morte de doentes incompetentes foi
tambm estudado, tendo os resultados sido muito diferentes dos do presente estudo. Num estudo
patrocinado pelo governo holands [23], sobre actos que terminam a vida sem o pedido explcito do
209
doente verificou-se que estes ocorreram em 0,8% de todas as mortes (o estudo referia-se apenas
administrao de frmacos e no a outros actos como suspenso de respirao artificial).
Posteriormente, foi feita uma anlise mais profunda sobre as circunstncias de tais casos. Por
entrevista, 27% dos mdicos responderam que realizaram um acto destes pelo menos uma vez e 32%
nunca o tinham feito mas imaginavam uma situao em que o poderiam fazer. Em 59% dos casos o
mdico tinha informao acerca dos desejos do doente. Em 70% dos casos a deciso foi discutida com
um colega e em 83% com um familiar. Em 2% o mdico tomou a deciso sem a discutir com ningum.
O mdico conhecia o seu doente, em mdia, h 2,4 anos se fosse especialista ou h 7,2 anos se fosse
um clnico geral, embora, 2,3% dos clnicos gerais e 31,3% dos especialistas conhecessem o doente
h menos de um ms. Na opinio dos mdicos a vida dos doentes foi encurtada de algumas horas a
uma semana no mximo em pelo menos 86% dos casos. Segundo os mdicos, em quase todos os
casos o doente estava a sofrer insuportavelmente, no havia possibilidade de melhoria e as
possibilidades paliativas estavam esgotadas. Esta aco pode ser vista como homicdio de um doente
e um exemplo a confirmar um plano inclinado se a eutansia for aceite. Por outro lado, os autores
deste estudo sustentam que tambm pode ser vista como uma resposta situao de injustia de um
doente incapaz de fazer um pedido explcito ter de sofrer at ao fim, quando o seu mdico, que pode
ter sido responsvel por esse doente por muito tempo, e os seus familiares forem a favor de terminar a
sua vida, num pas onde habitualmente a eutansia no penalizada. Argumentam ainda que o tempo
de vida encurtado por esta prtica , em geral, menor do que o relacionado com a eutansia.
Num estudo realizado na Austrlia, 6,4% dos mdicos declararam ter terminado a vida de
doentes sem o seu pedido explcito [5]. Neste estudo, no referido em quantos casos a aco foi
realizada a pedido de familiares ou por iniciativa do mdico ou da equipa de sade. Alm disso,
aparentemente, nem todos os doentes estariam incompetentes, visto que alguns mdicos declaram
que a discusso com o doente teria feito mais dano do que bem. Estas declaraes so
210
surpreendentes porque revelam que se considera que discutir a situao com o doente pode causar
mais dano do que mat-lo.
Como em relao eutansia e ao suicdio assistido, verificou-se que as questes relacionadas
com o que quereria o mdico se ele prprio estivesse na posio do doente so as que suscitam mais
respostas no tenho opinio formada. Acontece, por outro lado, que bastantes mais mdicos
quereriam que lhes administrassem um frmaco letal a pedido de um familiar do que os que estariam
dispostos a praticar um acto deste tipo, o que sugere que h mdicos que quereriam para si que outros
tomassem uma deciso cuja responsabilidade eles prprios no estariam dispostos a assumir para
com os seus doentes. Tambm se verifica que h uma percentagem muito menor que quereria que a
deciso fosse tomada unilateralmente por um mdico. Parece assim que a maioria prefere que seja
uma pessoa prxima a tomar a deciso do que um mdico. Este facto deve-se provavelmente ao receio
de eventuais abusos.
Uma pequena minoria concorda que a administrao de frmacos em doses letais a doentes
incompetentes com uma doena incurvel e avanada deveria ser legalizada. Estes actos so j legais
sob a lei holandesa [24], o que tem sido considerado como a demonstrao do plano inclinado que
visto por muitos como o principal risco da legalizao da morte assistida.
Mais uma vez a religio o factor que mais consistentemente influencia as respostas com os
catlicos praticantes a oporem-se mais vezes a estas prticas do que os no praticantes.
8.3.3. Suspenso de tratamentos
A maioria dos oncologistas (70%) concorda com a suspenso de medidas de suporte da vida a
pedido do doente nas circunstncias definidas no questionrio, embora s 41% suspendesse medidas
como a alimentao e a hidratao. Curiosamente, quanto suspenso de medidas de suporte de vida
a pedido de familiares ou por iniciativa do prprio mdico, o nmero de respostas foi idntico e mais
baixo (cerca de metade) do que quando feito a pedido do doente. Isto sugere que h, efectivamente,
211
entre os mdicos respeito pela autonomia dos doentes e que possvel que a maioria pense que
outros, nomeadamente os prprios mdicos, no tm legitimidade para tomar essas decises.
No estudo australiano [5], 36% dos mdicos referiram j ter tomado uma deciso de no tratar,
81% dos quais com a inteno explcita de precipitar a morte. Quando se suspendem medidas de
suporte da vida previsvel que a morte ocorra mais cedo do que ocorreria se essas medidas no
fossem suspensas. Portanto, a questo da inteno equvoca, como j referi em captulos anteriores.
A questo deve centrar-se na adequao dos meios empregues, depois de avaliados os
inconvenientes e os benefcios, e na vontade do doente. Englobar todos os procedimentos no mesmo
conceito, considerando que no h qualquer diferena entre suspender medidas desapropriadas e
administrar um frmaco em doses letais, um argumento frequentemente utilizado pelos defensores da
eutansia, como j foi discutido na captulo A Morte Assistida.
Aqui verificou-se mais uma vez a influncia da religio, com os catlicos no praticantes a
aceitarem a suspenso num nmero significativamente maior, excepto quando se trata dos pedidos de
familiares.
Curiosa foi a diferena entre as especilidades, sobretudo no que diz respeito radioterapia. Os
mdicos desta especialidade so os que mais frequentemente so contra a suspenso de medidas de
suporte de vida a pedido dos familiares ou por iniciativa do mdico. sobretudo de realar que 100%
destes mdicos so contra a suspenso da alimentao e da hidratao nestes doentes. As razes
desta particularidade no so claras, mas poder especular-se que os mdicos desta especialidade
provavelmente seguem menos vezes os doentes na fase mais prxima da morte, no tendo de se
confrontar com os seus problemas. Esta hiptese parece poder ser suportada pela verificao de que
os mdicos que se confrontam mais vezes com essa situao so mais vezes a favor da suspenso
das medidas de suporte da vida.
A suspenso da alimentao e da hidratao foi menos frequentemente aceite do que a
suspenso de outras medidas de suporte de vida. Provavelmente, a maioria considera que a
212
alimentao e a hidratao artificiais no so tratamentos. Este assunto j foi amplamente discutido em
captulos anteriores.
8.3.4. Controlo de sintomas e cuidados paliativos
Quase todos os mdicos administrariam um frmaco para aliviar sintomas, mesmo que
pudessem admitir que esse acto pudesse encurtar a vida, e todos se se tratasse deles prprios.
Quando a este tema no houve dvidas. No estudo de Kuhse et al. [5] cerca de 54% dos mdicos
referiram aliviar a dor dos doentes com doses altas de opiides, 23% dos quais com uma inteno
parcial de precipitar a morte. Num estudo realizado em seis pases [25] verificou-se que no alvio da
dor e de outros sintomas houve inteno parcial de precipitar a morte de 0,4% a 2,9% dependendo dos
pases. No entanto, as doses de opiides usadas e o nmero elevado de doentes que j faziam
opiides anteriormente, levou os autores a duvidarem se os mdicos estavam correctos ao atriburem
um efeito acelerador da morte s suas prticas. Efectivamente, num doente em que a morte iminente,
esta pode acontecer em qualquer momento, podendo ocorrer pouco tempo depois da administrao de
um frmaco, o que no significa que seja causada por ele. Nestes dois estudos est em causa mais
uma vez o problema da inteno. Por este motivo seria melhor manter a questo ao nvel das
obrigaes do mdico para com o sofrimento dos seus doentes, como j referi. O mdico tem a
obrigao de aliviar o sofrimento do seu doente mesmo que isso acarrete riscos desde que o doente os
aceite correr. Mas, como vimos talvez o risco no seja to elevado como muitos pensam.
A grande maioria tambm concorda que os cuidados paliativos poderiam evitar muitos casos
de pedidos de morte assistida. H, no entanto, dados de alguns estudos que mostram que mesmo
quando existem cuidados paliativos h casos de morte assistida. Por exemplo, num estudo
neozelands [7], 39 mortes (5,6%) foram atribudas a morte assistida e em 34 destas (87%) havia
servios de cuidados paliativos disponveis. Porm, em 17 dos 39 casos no houve discusso com o
doente, o que faz com que no sejam verdadeiros casos de morte assistida e mostra que, em pelo
213
menos alguns casos, houve uma utilizao deficiente desses servios. Tambm na avaliao da
experincia do primeiro ano da legalizao do suicdio assistido no Oregon se verificou que 71% dos
doentes que receberam uma prescrio de frmacos para se suicidarem estavam num programa de
cuidados paliativos, percentagem semelhante (74%) dos doentes que no receberam uma prescrio
[26]. No entanto, nestes estudos no se aborda a questo da preveno da morte assistida pelos
cuidados paliativos. Parece, contudo, plausvel que o controlo da dor e de outros sintomas fsicos, da
depresso e da ateno aos problemas sociais e espirituais resulte na diminuio dos pedidos de
morte assistida. Alm disso, certamente mais desejvel no plano tico tentar responder aos
problemas dos doentes do que oferecer meramente a morte assistida como soluo [27].
8.4. CONCLUSO
Parece assim haver um largo consenso entre os oncologistas portugueses sobre o potencial
dos cuidados paliativos. No h tambm confuses entre o controlo de sintomas e as prticas de morte
assistida.
As principais concluses deste trabalho so:
O pouco apoio dos mdicos portugueses s formas de morte assistida, sobretudo, o suicdio
assistido;
Paralelamente, parece haver um nmero reduzido de pedidos por parte dos doentes, sobretudo no
que se refere ao suicdio assistido,;
O ainda menor apoio dos mdicos administrao de frmacos em doses letais sem o pedido
explcito dos doentes;
A concordncia com a suspenso de medidas de suporte da vida, quando apropriado, a pedido dos
doentes;
A concordncia muito menor com a suspenso dos tratamentos a pedido de outros ou por iniciativa
do prprio mdico;
214
O pequeno apoio relativo suspenso da alimentao e da hidratao;
A concordncia quase por unanimidade com a administrao de frmacos destinados a aliviar o
sofrimento, mesmo que se corra o risco de precipitar a morte;
A opinio de que os cuidados paliativos poderiam evitar um grande nmero de pedidos de morte
assistida;
A influncia de factores religiosos em muitas das atitudes dos oncologistas portugueses em relao
s decises de fim de vida;.
Porm, a reduzida percentagem de respostas obtidas (que podem enviesar os resultados) e a
limitao do inqurito aos oncologistas resulta na dificuldade de generalizar os dados obtidos a todos
os mdicos portugueses. Novos estudos, so ento necessrios para confirmar os resultados
apresentados.
Em sntese, a atitude dos oncologistas portugueses nega a ideia de que a eutansia
praticada clandestinamente com frequncia pelos mdicos portugueses, presumivelmente nos
hospitais. O respeito pela autonomia dos doentes e o alvio do sofrimento parecem ser, tambm,
preocupaes importantes dos oncologistas portugueses, que vem nos cuidados paliativos uma via
eficaz para responder s necessidades dos doentes com doenas incurveis, avanadas e
progressivas que levaro inexoravelmente morte.
REFERNCIAS
1. Lee MA, Nelson HD, Tilden VP, Ganzini L, Schmidt TA, Tolle SW. Legalizing assisted suicide
views of physicians in Oregon. N Engl J Med 1996;334:310-315.
2. Back AL, Wallace JI, Starks HE, Pearlman RA. Physician-assisted suicide and euthanasia in
Washington state: patient requests and physician responses. JAMA 1996;275:919-925.
215
3. Emanuel EJ, Fairclough D, Clarridge BC, et al. Attitudes and practices of U.S. oncologists regarding
euthanasia and physician-assisted suicide. Ann Intern Med 2000;133:527-532.
4. van der Maas PJ, Van Delden JJM, Pijnenborg L, Looman CWN. Euthanasia and other medical
decisions concerning the end of life. Lancet 1991;338:669-674.
5. Kuhse H, Singer P, Baume P, Clark M, Rickard. End-of-life decisions in Australian medical practice.
MJA 1997;166:191-196.
6. Deliens L, Mortier F, Bilsen J, Cosyns M, Stichele RV, Vanoverloop J, Ingels K. End-of-life decisions
in medical practice in Flanders, Belgium: a nationwide survey. Lancet 2000;356:1806-1811.
7. Mitchell K, Owens G. National survey of medical decisions at end of life made by New Zealand
general practitioners. BMJ 2003;327:202-203.
8. Comby MC, Filbert M. The demand for euthanasia in palliative care units: a prospective study in
seven units of the Rhne-Alpes region. Palliat Med 2005;19:587-593.
9. Frde R, Aasland OG; Falkum E. The ethics of euthanasia attitudes and practice among
Norwegian physicians. Soc Sci Med 1997;45:887-892.
10. van der Heide A, Deliens L, Faisst K, Nilstun T, Norup M, Paci E van der Wal G, van der Maas PJ.
End-of-life decision-making in six European countries: descriptive study. Lancet 2003;362:345-350.
11. Seale C. National survey of end-of-life decisions made by UK medical practitioners. Palliat Med
2006;20:3-10.
12. van der Maas PJ, van der Wal G, Haverkate I, et al. Euthanasia, physician-assisted suicide, and
other medical practices involving the end of life in the Netherlands, 1990-1995. N Engl J Med
1996;335:1699-1705.
13. Bittel N, Neuenschwander H, Stiefel F. "Euthanasia": a survey by the Swiss Association for
Palliative Care. Support Care Cancer 2002;10:265-271.
14. Doukas DJ, Waterhouse D, Gorenflo DW, Seid J. Attitudes and behaviours on physician-assisted
death: a study of Michigan oncologists. J Clin Oncol 1995;13:1055-1061.
216
15. Masterstvedt LJ, Kaasa S. Euthanasia and physician-assisted suicide in Scandinavia with a
conceptual suggestion regarding international research in relation to the phenomena. Palliat Med
2002;16:17-32.
16. Cohen JS, Fihn SD, Boyko EJ, Jonsen AR, Wood RW. Attitudes toward assisted suicide and
euthanasia among physicians in Washington state. N Engl J Med 1994;331.89-94.
17. Ganzini L, Nelson HD, Schmidt TA, Kreamer DF, Delorit MA, Lee MA. Phisicians experience with
the Oregon Death with Dignity Act. N Engl J Med 200;324:557-563.
18. Edwards P, Roberts I, Clarke M, DiGuiseppi C, Pratap S, Wentz R, kwan I. Increasing response
rates to postal questionnaires: systematic review. BMJ 2002;324:1183-1185.
19. Asch DA, Jedrziewski K, Christakis NA. Response rates to mail surveys published in medical
journals. J Clin Epidemiol 1997;50:1129-1136.
20. Howard OM, Fairclough DL, Daniels R, Emanuel EJ. Physician desire for euthanasia and assisted
suicide: would physicians practice what they preach? J Clin Oncol 1997;15:428-432.
21. http://www.normemma.com/arhemloc.htm.
22. http://www.compassionindying.org/info.php.
23. Pijnenborg L, van der Maas PJ, van Delden JJ, Looman CWN. Life-terminating acts without explicit
request of patients. Lancet 1993;341:1196-1199.
24. Englert Y. Belgium evolution of the debate. Em: Euthanasia. Volume II. National and European
perspectives. Strasbourg. Council of Europe Publishing. 2004:13-24.
25. Bilsen J, Norup M, Delians L et al. Drugs to alleviate symptoms with life shortening as a possible
side effect: end-of-life care in six European countries. J Pain Symptom Manage 2006;31:111-121.
26. Chin AE, Hedberg K, Higginson GK, Fleming DW. Legalized physician-assisted suicide in Oregon
the first years experience. N Engl J Med 1999;340:577-583.
27. Gordijn B, Janssens R. The prevention of euthanasia through palliative care: new developments in
The Netherlands. Patient Education Counseling 2000;41:35-46.
217
9
CONCLUSO
O que uma boa morte? No h, provavelmente, uma resposta universal a esta pergunta. No
entanto, haver alguns elementos que constituem uma boa morte com que a maioria das pessoas
concordar. Por exemplo, estar livre de dores significativas ou de outra causa de sofrimento fsico, mas
tambm sem sofrimento do ponto de vista psicolgico e espiritual e com eventuais problemas sociais
resolvidos.
J se referiu na introduo em alteraes que ao longo do tempo se verificaram no modo como
a morte encarada. Essas alteraes tm uma relao com a evoluo cientfica e tecnolgica e do
seu impacto na medicina, que se traduziram em alteraes profundas no modo de encarar a vida e,
consequentemente, a morte. Numa poca em que a medicina no tinha capacidade de interveno na
evoluo das doenas, nem podia responder eficazmente ao sofrimento fsico, eram as religies que
procuravam dar um significado ao sofrimento e transform-lo em algo de positivo. Assim, uma boa
morte era a que ocorria quando o doente estava rodeado da famlia e dos amigos e espiritualmente
preparado, isto , em paz com Deus e com a comunidade, este era o desejo da maioria. Da que a
morte sbita no era desejada.
Mais tarde, quando comeou a haver uma maior capacidade de interveno na evoluo das
doenas e se comeou a admitir que era possvel tentar reverter os processos patolgicos, a morte
comeou a ocorrer cada vez mais em instituies onde essas intervenes se podiam fazer. Comeou
a pensar-se sobretudo em evitar a morte e em lutar contra ela. Muitas vezes a morte passou a ser vista
218
como um fracasso e em alguns casos talvez o resultado de um erro. Sofrer deixou, para muitos, de ter
uma finalidade redentora. Por isso, a boa morte passou a ser a que ocorria rapidamente, de preferncia
sem se dar por isso, durante o sono. A maioria das pessoas, actualmente, preferiria morrer assim.
No entanto, mais recentemente, parece que a situao est a mudar, embora a rtmos
diferentes nos diversos pases. Aceita-se a morte, mas no de um modo passivo. Pode-se, em grande
parte, controlar as condies em que a morte ocorre. Uma boa morte a que ocorre nos termos que a
pessoa aceita.
Tambm a deontologia dos profissionais de sade evoluiu ao longo do tempo. Os cdigos de
tica mdica, nomeadamente o Juramento de Hipcrates, reflectiam uma atitude paternalista na
relao mdico-doente, em que aquele agiria tendo como objectivo o bem do doente ou o que ele
entende como o bem do doente. Este, em princpio, acatava as decises do mdico. S depois da
segunda guerra mundial e da constatao dos crimes cometidos pelos mdicos nazis em nome da
cincia, comearam a aparecer cdigos de tica com normas que reflectiam a preocupao com os
direitos individuais. Os cdigos de tica posteriores incluam os direitos dos doentes, abandonando
parcialmente o primado da beneficncia.
O reconhecimento da autonomia dos doentes como um valor fundamental alterou
profundamente a relao mdico-doente. Reconhece-se que o doente tem o direito a ser esclarecido
sobre as opes de tratamento para a sua situao e a aceitar ou recusar as propostas que lhe so
feitas. O doente pode ainda decidir interromper um tratamento que tinha iniciado. As excepes que se
admitem so as que envolvem doentes que no tm capacidade de deciso, como pode acontecer, por
exemplo, em casos de paragem crdio-respiratria. Mas mesmo nestas situaes, a vontade do doente
pode manifestar-se atravs de documentos escritos ou da nomeao de um representante que tome
decises pelo doente. Estes processos de os doentes veicularem a sua vontade esto explicitamente
reconhecidas na Conveno sobre Direitos Humanos e Biomedicina, aprovada pelo Conselho da
219
Europa em 1996 e rectificada pela Assembleia da Repblica em 2001. Falta, porm, regulamentar
juridicamente a sua prtica em Portugal.
O direito a morrer seria uma extenso da autonomia das pessoas, numa situao em que a
vida deixou de ser aceitvel do seu ponto de vista. No entanto, a morte assistida tem sido associada
aos doentes terminais. Mas, na verdade o desejo de morrer no exclusivo dos doentes terminais.
Muitas pessoas sem qualquer doena fsica, por vezes jovens e com carreiras profissionais brilhantes
ou com vidas que, pelo menos vistas distncia, muita gente poderia invejar, desejam tambm morrer.
O mesmo pode acontecer com pessoas sem doenas fsicas mas idosas, solitrias e cansadas de
viver. O que estas pessoas tm em comum o que podemos chamar sofrimento, que pode ter origens
diversas, mas que acaba por ser essencialmente um fenmeno mental. Sendo assim, a aceitar-se a
morte assistida, porqu diferenciar as pessoas de acordo com as vrias formas de sofrimento, quando
este se revela intratvel? Porqu distinguir um doente terminal que sofre devido sua situao, de uma
outra pessoa que, estando ou no fisicamente doente, no est em estado terminal, se a sua condio
no se conseguir resolver? De facto, as pessoas que no esto em situao de doena terminal iro
previsivelmente sofrer mais tempo.
Em sntese, a morte com dignidade significa, em geral, uma morte sem sofrimento significativo
e na posse de um razovel controlo sobre as funes fsicas e mentais. A expresso morte com
dignidade tem sido associada s prticas da morte assistida. Assim, vrias organizaes que apoiam a
legalizao da morte assistida incluem a palavra dignidade no seu nome. D-se assim a impresso de
que esta a nica opo para se ter uma morte digna e de que a morte por esta via sempre digna.
Os cuidados paliativos so, porm, uma opo mais aceitvel e mais humana, portanto, mais
digna. Ser tambm uma opo que est mais de acordo com os desejos dos doentes, os quais na sua
maioria no querem morrer. O estudo mostra que a maioria dos mdicos pensa que os cuidados
paliativos poderiam evitar a maior parte dos pedidos de morte assistida. No entanto, haver sempre
quem pense que a melhor soluo morrer, apesar de poder dispor de cuidados paliativos eficazes.
220
No entanto, os cuidados paliativos podero sempre evitar os pedidos causados pelo desespero de as
pessoas se verem com um sofrimento intolervel mas que poderia ser controlado, como acontece na
maior parte dos casos. Quem trabalha em cuidados paliativos tem a experincia de ter tido alguns
pedidos de morte assistida mas, uma vez controlada a causa ou as causas que motivaram o pedido, a
perspectiva do doente muda e o desejo de morrer desaparece.
neste contexto que os oncologistas portugueses se opem maioritariamente s prticas da
morte assistida, embora uma percentagem relativamente elevada, cerca de 40%, seja a favor da sua
legalizao. Tm recusado os pedidos relativamente infrequentes que lhes tm sido dirigidos. Tambm
no so favorveis, na sua maioria, administrao de frmacos letais a doentes com doenas
incurveis, avanadas e progressivas que levassem inexoravelmente morte. Por outro lado, so
favorveis maioritariamente suspenso de tratamentos nos casos apropriados a pedido do prprio
doente e em menor grau a pedido de outros ou por sua prpria iniciativa. Tambm so, na sua
esmagadora maioria, favorveis administrao de frmacos destinados a minimizar o sofrimento
ainda que se possa admitir que pudessem encurtar a vida. Consideram tambm que os cuidados
paliativos poderiam evitar muitos pedidos de morte assistida.
Claro que no h posies unnimes. E a diversidade de opinies reflecte de algum modo a
posio da populao portuguesa em geral. No sabemos, porm, o que pensam sobre a morte
assistida os doentes que esto nas condies definidas no questionrio. O que pensa quem no est
nessa situao pode no coincidir com a opinio dos doentes. Talvez um olhar sobre a pessoa que
sofre faa pensar aos outros que o melhor era estar morto e que aquela vida j no tem sentido. Mas
ser isso o que eles pensam? Como foi referido no captulo sobre a morte assistida, o desejo de morrer
muito instvel e pode diminuir com a aproximao da morte.
A ideia dos oncologistas portugueses de que os cuidados paliativos poderiam ser a resposta
apropriada para os problemas dos doentes na parte final da sua vida reflecte um grande consenso e
uma das mais importantes concluses do estudo. necessrio, portanto, desenvolver os cuidados
221
paliativos para responder ao sofrimento intil que pode gerar o desejo de morrer. necessrio
introduzir o ensino da medicina paliativa nos currculos dos cursos de medicina das faculdades
portuguesas. A medicina paliativa deve ainda fazer parte da formao de especialistas de vrias reas
clnicas. Deve haver finalmente, uma formao avanada para especialistas de medicina paliativa. Em
suma, deve ser considerada uma prioridade social.
De facto, os cuidados paliativos so indispensveis para que a maioria de ns possa ter uma
boa morte.
222
ANEXOS
223
224
Anexo 1 Questionrio
Estudo sobre as decises em situaes de fim de vida tomadas pelos
oncologistas portugueses na prtica clnica
A. Dados demogrficos
1. Idade: anos
2. Sexo: Masculino Feminino
3. Estado civil
a. Casado(a)/unio de facto
b. Solteiro(a) vivendo s
c. Divorciado(a)/separado(a)
d. Vivo(a) vivendo s
4. Religio __________________________ praticante? sim no
5. Especialidade principal
a. Cirurgia
b. Oncologia Mdica
c. Radioterapia
d. Outra
Qual _______________________
6. Local de trabalho indique apenas o principal (se j no estiver no activo indique-o em Outro)
a. Instituto de oncologia
b. Hospital central
c. Hospital distrital
d. Clnica privada
e. Centro de sade
f. Outro
Qual ___________________________
225
7. Tipo de regio onde pratica a sua especialidade
a. Cidade grande Cidade pequena Zona rural
8. No ltimo ano, com quantas situaes de pessoas, com uma doena incurvel e progressiva
que levasse inexoravelmente morte e em sofrimento, se viu confrontado, na sua prtica
clnica? 0 1 a 5 mais de 5
mais de 15 mais de 30
B. Eutansia
Definio: Terminao deliberada e indolor da vida de uma pessoa, com uma doena incurvel
avanada e progressiva que levar inexoravelmente morte, a seu pedido explcito, repetido,
informado e bem reflectido, pela administrao de um ou mais frmacos em doses letais.
Tendo em conta esta definio de eutansia, responda s seguintes perguntas:
1. A legislao portuguesa no permite a prtica da eutansia. Mesmo assim, h circunstncias
em que a praticaria?
Sim No No tenho opinio formada
2. Se a legislao permitisse a prtica da eutansia f-lo-a?
Sim No No tenho opinio formada
3. J alguma vez recebeu um pedido de eutansia?
Sim No
Aproximadamente quantos?
4. Recebeu algum pedido de eutansia no ltimo ano?
Sim No
Quantos?
5. J praticou eutansia no sentido da definio acima expressa?
Sim No
Quantas vezes?
6. Pensa que a eutansia devia ser permitida na ordem jurdica portuguesa?
Sim No No tenho opinio formada
7. Se tivesse uma doena incurvel e progressiva que levasse inexoravelmente morte,
gostaria de poder optar pela eutansia?
Sim No No tenho opinio
formada
226
C. Suicdio assistido
Definio:
Ajuda ao suicdio de uma pessoa com uma doena incurvel, avanada e progressiva que levar
inexoravelmente morte, a seu pedido explcito, repetido, informado e bem reflectido,
prescrevendo os frmacos e dando-lhe as instrues necessrias para o seu uso.
Tendo em conta esta definio de suicdio assistido, responda s seguintes perguntas:
1. A legislao portuguesa no permite a prtica do suicdio assistido. Mesmo assim, h
circunstncias em que o praticaria?
Sim No No tenho opinio formada
2. Se a legislao permitisse a prtica do suicdio assistido f-lo-a?
Sim No No tenho opinio formada
3. J alguma vez recebeu um pedido de suicdio assistido?
Sim No
Aproximadamente quantos?
4. Recebeu algum pedido de suicdio assistido no ltimo ano?
Sim No
Quantos?
5. J praticou suicdio assistido no sentido da definio acima expressa?
Sim No
Quantas vezes?
6. Pensa que o suicdio assistido devia ser permitido na ordem jurdica portuguesa?
Sim No No tenho opinio formada
7. Se tivesse uma doena incurvel e progressiva que levasse inexoravelmente morte,
gostaria de poder optar pelo suicdio assistido?
Sim No No tenho opinio
formada
D. Doentes cognitivamente incompetentes
1. Administraria um ou mais frmacos em doses letais a uma pessoa, com uma doena
incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente morte e incapaz de tomar
decises por alteraes da conscincia, a pedido de um familiar ou de outra pessoa
227
prxima? Sim No No
tenho opinio formada
2. J alguma vez recebeu um pedido deste tipo?
Sim No
Aproximadamente quantos?
3. Recebeu algum pedido no ltimo ano?
Sim No
Quantos?
4. J praticou um acto deste tipo?
Sim No
Quantas vezes?
5. Pensa que este tipo de actos deviam ser permitidos pela legislao?
Sim No No tenho opinio formada
6. Se tivesse uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente
morte e estivesse incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia, gostaria que um
mdico lhe administrasse um ou mais frmacos em doses letais, se tal lhe fosse pedido por
um seu familiar ou outra pessoa prxima?
Sim No No tenho opinio
formada
7. Administraria um ou mais frmacos em doses letais a uma pessoa, com uma doena
incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente morte e incapaz de tomar
decises por alteraes da conscincia, por sua prpria iniciativa (sem que lhe tenha sido
pedido)? Sim No No tenho
opinio formada
8. J praticou um acto deste tipo?
Sim No
Quantas vezes?
9. Pensa que os actos deste tipo deviam ser permitidos pela legislao?
Sim No No tenho opinio formada
10. Se tivesse uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente
morte e estivesse incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia, gostaria que um
mdico lhe administrasse um ou mais frmacos em doses letais, baseado apenas no seu
julgamento? Sim No
No tenho opinio formada
E. Suspenso de tratamentos
1. Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse
inexoravelmente morte, legtimo suspender medidas de suporte da vida a seu pedido
explcito, repetido, informado e bem reflectido?
228
Sim No
Em certas circunstncias especifique
________________________________________
__________________________________________________________________________
_____
a. Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao?
Sim No
2. Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse
inexoravelmente morte e incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia,
legtimo suspender medidas de suporte da vida a pedido de um familiar ou de outra pessoa
prxima? Sim No
Em certas circunstncias especifique
________________________________________
__________________________________________________________________________
_____
a. Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao?
Sim No
3. Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse
inexoravelmente morte e incapaz de tomar decises, legtimo suspender medidas de
suporte da vida por deciso unilateral do mdico ou da equipa de sade?
Sim No
Em certas circunstncias especifique
________________________________________
__________________________________________________________________________
_____
a. Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao?
Sim No
F. Controlo de sintomas
1. Em pessoas em grande sofrimento com doenas incurveis, avanadas e progressivas que
levaro inexoravelmente morte, administra os frmacos necessrios (ex. morfina) para
controlar esse sofrimento ainda que possa admitir que possa encurtar a sua vida (sem que
seja essa a sua inteno)?
No Sempre que seja necessrio
Em certas circunstncias Especifique
________________________________________
__________________________________________________________________________
_____ No tenho opinio formada
2. Se tivesse uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente
morte e estivesse em sofrimento, gostaria que um mdico lhe administrasse os frmacos
necessrios (ex. morfina) para controlar o seu sofrimento ainda que isso lhe pudesse
encurtar a vida (sem que seja essa a inteno)?
229
Sim No No
tenho opinio formada
G. Cuidados paliativos
1. Considera que os cuidados paliativos podem evitar pedidos de eutansia e de suicdio
assistido? Todos Muitos Alguns No
No tenho opinio formada
H. Outros casos
1. No seu entender, o conceito de eutansia (com todas as suas implicaes ticas, legais,
sociais ou outras) deve ser alargado a situaes de pessoas sem uma doena terminal ou
doena somtica, englobando doentes crnicos, doentes mentais, pessoas cansadas de
viver por idade avanada, deteriorao fsica, solido ou dependncia?
Sim No No tenho
opinio formada
2. No seu entender, o conceito de suicdio assistido (com todas as suas implicaes ticas,
legais, sociais ou outras) deve ser alargado a situaes de pessoas sem uma doena
terminal ou doena somtica, englobando doentes crnicos, doentes mentais, pessoas
cansadas de viver por idade avanada, deteriorao fsica, solido ou dependncia?
Sim No No
tenho opinio formada
H. Observaes
Se quiser comentar qualquer aspecto deste questionrio, use por favor o espao abaixo.
Obrigado pela sua cooperao
230
Anexo 2 Quadros
Quadro A.1. A legislao portuguesa no permite a prtica da eutansia. Mesmo assim, h
circunstncias em que a praticaria?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
142
38 (76,0)
53 (76,8)
20 (87,0)
5 (10,0)
12 (17,4)
2 (8,7)
7 (14,0)
4 (5,8)
1 (4,3)
0,393
Sexo
Feminino
Masculino
142
39 (76,5)
72 (79,1)
5 (9,8)
14 (15,4)
7 (13,7)
5 (5,5)
0,173
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
96 (77,4)
15 (83,3)
18 (14,5)
1 (5,6)
10 (8,1)
2 (11,1)
0,583
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
46 (69,7)
51 (92,7)
13 (19,7)
2 (3,6)
7 (10,6)
2 (3,6)
0,005
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
44 (74,6)
44 (81,5)
15 (75,0)
9 (90,0)
11 (18,6)
7 (13,0)
0 (0,0)
1 (10,0)
4 (6,8)
3 (5,6)
5 (25,0)
0 (0,0)
0,084
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
142
65 (79,3)
29 (78,4)
17 (73,9)
9 (11,0)
7 (18,9)
3 (3,0)
8 (9,8)
1 (2,7)
3 (13,0)
0,450
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
95 (77,2)
15 (83,3)
16 (13,0)
3 (16,7)
12 (9,8)
0 (0,0)
0,434
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
25 (78,1)
43 (79,6)
43 (78,2)
5 (15,6)
7 (13,0)
6 (10,9)
2 (6,3)
4 (7,4)
6 (10,9)
0,921
231
Quadro A.2. Se a legislao permitisse a prtica de eutansia f-lo-ia?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
P
Idade
31 45
46 65
> 65
142
33 (66,0)
39 (56,5)
18 (78,3)
10 (20,0)
20 (29,0)
4 (17,4)
7 (14,0)
10 (14,5)
1 (4,3)
0,369
Sexo
Feminino
Masculino
142
30 (58,8)
60 (65,9)
10 (19,6)
24 (26,4)
11 (21,6)
7 (7,7)
0,059
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
79 (63,7)
11 (61,1)
32 (25,8)
2 (11,1)
13 (10,5)
5 (27,8)
0,151
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
36 (55,4)
45 (81,8)
20 (30,8)
5 (9,1)
9 (13,8)
5 (9,1)
0,004
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
36 (61,0)
33 (61,1)
15 (75,0)
7 (70,0)
16 (27,1)
14 (25,9)
1 (5,0)
3 (30,0)
7 (11,9)
7 (13,0)
4 (20,0)
0 (0,0)
0,346
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
142
54 (65,9)
23 (62,2)
13 (56,5)
15 (18,3)
11 (29,7)
8 (34,8)
13 (15,9)
3 (8,1)
2 (8,7)
0,353
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
77 (62,6)
12 (66,7)
29 (23,6)
5 (27,8)
17 (13,8)
1 (5,6)
0,758
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
23 (71,9)
32 (59,3)
35 (63,6)
8 (25,0)
17 (31,5)
8 (14,5)
1 (3,1)
5 (9,3)
12 (21,8)
0,035
232
Quadro A.3. Pensa que a eutansia devia ser permitida na ordem jurdica portuguesa?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
141
18 (36,0)
25 (36,8)
16 (69,6)
21 (42,0)
28 (41,2)
6 (26,1)
11 (22,0)
15 (22,1)
1 (4,3)
0,051
Sexo
Feminino
Masculino
141
17 (33,3)
42 (46,7)
19 (37,3)
36 (40,0)
11 (21,6)
7 (7,7)
0,053
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
141
52 (42,3)
7 (38,9)
51 (41,5)
4 (22,2)
13 (10,5)
5 (27,8)
0,056
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
21 (32,3)
35 (63,6)
31 (47,7)
9 (16,4)
13 (20,0)
11 (20,0)
<0,001
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
29 (49,2)
22 (41,5)
5 (25,0)
4 (40,0)
24 (40,7)
21 (39,6)
6 (30,0)
4 (40,0)
6 (10,2)
10 (18,9)
9 (45,0)
2 (20,0)
0,083
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
34 (41,5)
16 (44,4)
9 (39,1)
30 (36,6)
14 (38,9)
11 (47,8)
18 (22,0)
6 (16,7)
3 (13,0)
0,816
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
140
51 (41,5)
7 (41,2)
47 (38,2)
8 (47,1)
25 (20,3)
2 (11,8)
0,668
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
14 (43,8)
21 (39,6)
25 (45,5)
11 (34,4)
22 (41,5)
20 (36,4)
7 (21,9)
10 (18,9)
10 (18,2)
0,957
233
Quadro A.4. Se tivesse uma doena incurvel e progressiva que levasse inexoravelmente
morte, gostaria de poder optar pela eutansia?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
P
Idade
31 45
46 65
> 65
142
19 (38,0)
24 (34,8)
15 (65,2)
20 (40,0)
27 (39,1)
4 (17,4)
11 (22,0)
18 (26,1)
4 (17,4)
0,122
Sexo
Feminino
Masculino
142
17 (33,3)
41 (45,1)
19 (37,3)
32 (35,2)
15 (29,4)
18 (19,8)
0,308
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
52 (41,9)
6 (33,3)
45 (36,3)
6 (33,3)
27 (21,8)
6 (33,3)
0,582
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
19 (28,8)
35 (63,6)
30 (45,5)
7 (12,7)
17 (25,8)
13 (23,6)
<0,001
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
25 (42,4)
24 (44,4)
6 (30,0)
4 (40,0)
22 (37,2)
18 (33,3)
7 (35,0)
4 (40,0)
12 (20,3)
12 (22,2)
7 (35,0)
2 (20,0)
0,882
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
35 (42,7)
16 (43,2
8 (34,8)
30 (36,6)
11 (29,7)
9 (39,1)
17 (20,7)
10 (27,0)
6 (26,1)
0,867
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
49 (39,8)
8 (44,4)
45 (36,6)
6 (33,3)
29 (23,6)
4 (22,2)
0,949
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
14 (43,8)
21 (38,9)
24 (43,6)
10 (31,3)
21 (38,9)
18 (32,7)
8 (25,0)
12 (22,2)
13 (23,6)
0,956
234
Quadro A.5. A legislao portuguesa no permite a prtica de suicdio assistido. Mesmo assim,
h circunstncias em que o praticaria?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
141
41(82,0)
43 (63,2)
20 (87,0)
5 (10,0)
14 (20,6)
2 (8,7)
4 (8,0)
11 (16,2)
1 (4,3)
0,128
Sexo
Feminino
Masculino
141
36 (70,6)
68 (75,6)
7 (13,7)
14 (15,6)
8 (15,7)
8 (8,9)
0,484
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
141
90 (73,2)
14 (77,8)
45 (36,3)
6 (33,3)
27 (21,8)
6 (33,3)
0,443
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
41 (63,1)
50 (90,9)
13 (20,0)
2 (3,6)
11 (16,9)
3 (5,5)
0,001
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
142
41 (69,5)
42 (79,2)
14 (70,0)
8 (80,0)
22 (37,2)
18 (33,3)
7 (35,0)
2 (20,0)
12 (20,3)
12 (22,2)
7 (35,0)
0 (0,0)
0,632
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
62 (75,6)
25 (69,4)
17 (73,9)
10 (12,2)
8 (22,2)
3 (13,0)
10 (12,2)
3 (8,3)
3 (13,0)
0,683
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
91 (74,0)
12 (70,6)
18 (14,6)
3 (17,6)
14 (11,4)
2 (11,8)
0,913
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
23 (71,9)
41 (77,4)
40 (72,7)
4 (12,5)
8 (15,1)
8 (14,5)
5 (15,6)
4 (7,5)
7 (12,7)
0,823
235
Quadro A.6. Se a legislao permitisse a prtica de suicdio assistido f-lo-ia?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
141
34 (68,0)
35 (51,5)
19 (82,6)
12 (10,0)
21 (30,9)
3 (13,0)
4 (8,0)
12 (17,6)
1 (4,3)
0,064
Sexo
Feminino
Masculino
141
30 (58,8)
58 (54,4)
12 (23,5)
24 (26,7)
9 (17,6)
8 (8,9)
0,328
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
141
74 (60,2)
14 (77,8)
35 (28,5)
6 (33,3)
14 (11,4)
3 (16,7)
0,089
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
36 (55,4)
45 (81,8)
20 (30,8)
5 (9,1)
9 (13,8)
5 (9,1)
0,005
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
142
36 (61,0)
33 (62,3)
14 (70,0)
6 (60,0)
14 (23,7)
16 (30,2)
2 (10,0)
4 (40,0)
12 (20,3)
12 (22,2)
7 (35,0)
0 (0,0)
0,312
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
53 (64,6)
19 (52,8)
16 (69,6)
19 (23,2)
12 (33,3)
5 (21,7)
10 (12,2)
5 (13,9)
2 (8,7)
0,707
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
78 (63,4)
9 (52,9)
30 (24,4)
6 (35,3)
15 (12,2)
2 (11,8)
0,597
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
22 (68,8)
32 (60,4)
34 (61,8)
6 (18,8)
17 (32,1)
12 (21,8)
4 (12,5)
4 (7,5)
9 (16,4)
0,455
236
Quadro A.7. Pensa que o suicdio assistido devia ser permitido na ordem jurdica portuguesa?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
140
24 (49,0)
30 (43,5)
18 (81,8)
16 (32,7)
25 (36,2)
4 (18,2)
9 (18,4)
14 (20,3)
0 (0,0)
0,027
Sexo
Feminino
Masculino
140
22 (44,9)
50 (54,9)
18 (36,7)
27 (29,7)
9 (18,4)
14 (15,4)
0,535
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
140
61 (50,0)
11 (61,1)
42 (34,4)
3 (16,7)
19 (15,6)
4 (22,2)
0,319
Religio catlica
No praticante
Praticante
119
29 (43,9)
38 (71,7)
26 (39,4)
5 (9,4)
11 (16,7)
10 (18,9)
0,001
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
141
31 (53,4)
29 (53,7)
7 (36,8)
6 (60,0)
19 (32,8)
17 (31,5)
6 (31,6)
3 (30,0)
8 (13,8)
8 (14,8)
6 (31,6)
1 (10,0)
0,695
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
39 (48,1)
18 (50,0)
15 (65,2)
28 (34,6)
11 (30,6)
6 (26,1)
14 (17,3)
7 (19,4)
2 (8,7)
0,642
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
139
62 (51,2)
9 (50,0)
38 (31,4)
7 (38,9)
21 (17,4)
2 (11,1)
0,706
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
19 (59,4)
26 (49,1)
28 (51,9)
8 (25,0)
17 (32,1)
18 (33,3)
5 (15,6)
10 (18,9)
8 (14,8)
0,884
237
Quadro A.8. Se tivesse uma doena incurvel e progressiva que levasse inexoravelmente
morte, gostaria de poder optar pelo suicdio assistido?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
Opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
142
25 (50,0)
28 (40,6)
18 (78,3)
12 (24,0)
21 (30,4)
1 (4,3)
13 (26,0)
20 (29,0)
4 (17,4)
0,029
Sexo
Feminino
Masculino
142
24 (47,1)
47 (51,6)
11 (21,6)
23 (25,3)
16 (31,4)
21 (23,1)
0,564
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
63 (50,8)
8 (44,4)
30 (24,2)
4 (22,2)
31 (25,0)
6 (33,3)
0,757
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
28 (42,4)
39 (70,9)
16 (24,2)
5 (9,1)
22 (33,3)
11 (20,0)
0,005
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
32 (54,2)
26 (48,1)
9 (45,0)
5 (50,0)
12 (20,3)
14 (25,9)
6 (30,0)
2 (20,0)
15 (25,4)
14 (25,9)
5 (25,0)
3 (30,0)
0,975
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
142
41 (50,0)
19 (51,4)
12 (52,2)
21 (25,6)
7 (18,9)
5 (21,7)
20 (24,4)
11 (29,7)
6 (26,1)
0,941
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
60 (48,8)
10 (55,6)
29 (23,6)
5 (27,8)
34 (27,6)
3 (16,7)
0,679
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
17 (53,1)
27 (50,0)
27 (49,1)
5 (15,6)
14 (25,9)
14 (25,5)
10 (31,3)
13 (24,1)
14 (25,5)
0,825
238
Quadro A.9. Administraria um ou mais frmacos em doses letais a uma pessoa, com uma
doena incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente morte e incapaz de
tomar decises por alteraes da conscincia, a pedido de um familiar ou de outra pessoa
prxima?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
Opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
141
46 (92,0)
54 (78,3)
20 (90,9)
1 (2,0)
9 (13,0)
1 (4,5)
3 (6,0)
6 (8,7)
1 (4,5)
0,199
Sexo
Feminino
Masculino
142
44 (86,3)
76 (84,4)
3 (5,9)
8 (8,9)
4 (7,8)
6 (6,7)
0,872
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
141
102 (82,9)
18 (100,0)
11 (8,9)
0 (0,0)
10 (8,1)
0 (0,0)
0,254
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
53 (80,3)
51 (92,7)
7 (10,6)
1 (1,8)
6 (9,1)
3 (5,5)
0,112
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
142
47 (81,0)
49 (90,7)
17 (85,0)
8 (80,0)
8 (13,8)
3 (5,6)
0 (0,0)
0 (0,0)
3 (5,2)
2 (3,7)
3 (15,0)
2 (20,0)
0,096
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
72 (87,8)
32 (88,9)
16 (69,6)
4 (4,9)
4 (11,1)
3 (13,0)
6 (7,3)
0 (0,0)
4 (17,4)
0,035
Regio onde pratica
Cidade grande
Outra
140
102 (83,6)
17 (94,4)
10 (8,2)
1 (5,6)
10 (8,2)
0 (0,0)
0,658
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
26 (83,9)
46 (85,2)
48 (87,3)
3 (9,7)
5 (9,3)
3 (5,5)
2 (6,5)
3 (5,6)
4 (7,3)
0,933
239
Quadro A.10. Pensa que este tipo de actos deviam ser permitidos pela legislao?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
Opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
138
34 (69,4)
40 (60,6)
17 (73,9)
6 (12,2)
16 (24,2)
2 (8,7)
9 (18,4)
10 (15,2)
4 (17,4)
0,406
Sexo
Feminino
Masculino
138
30 (60,0)
61 (69,3)
8 (16,0)
16 (18,2)
12 (24,0)
11 (12,5)
0,232
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
138
78 (65,0)
13 (72,2)
22 (18,3)
2 (11,10)
20 (16,7)
3 (16,7)
0,869
Religio catlica
No praticante
Praticante
119
38 (59,4)
41 (74,5)
13 (20,3)
5 (9,1)
13 (20,3)
9 (16,4)
0,160
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
139
34 (58,6)
40 (76,9)
10 (52,6)
8 (80,0)
16 (27,6)
6 (11,5)
2 (10,5)
0 (0,0)
8 (13,8)
6 (11,5)
7 (36,8)
2 (20,0)
0,030
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
138
51 (64,6)
27 (73,0)
13 (59,1)
13 (16,5)
8 (21,6)
3 (13,6)
15 (19,0)
2 (5,4)
6 (27,3)
0,195
Regio onde pratica
Cidade grande
Outra
137
77 (64,7)
13 (72,2)
21 (17,6)
3 (16,7)
21 (17,6)
2 (11,1)
0,930
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
137
17 (56,7)
38 (71,7)
36 (66,7)
5 (16,7)
9 (17,0)
10 (18,5)
8 (26,7)
6 (11,3)
8 (14,8)
0,468
240
Quadro A.11. Se tivesse uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse
inexoravelmente morte e estivesse incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia,
gostaria que um mdico lhe administrasse um ou mais frmacos em doses letais, se tal lhe
fosse pedido por um seu familiar ou outra pessoa prxima?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
P
Idade
31 45
46 65
> 65
140
30 (61,2)
32 (47,1)
17 (73,9)
10 (20,4)
17 (25,0)
3 (13,0)
9 (18,4)
19 (27,9)
3 (13,0)
0,209
Sexo
Feminino
Masculino
138
25 (50,0)
54 (60,0)
11 (22,0)
19 (21,1)
14 (28,0)
17 (18,9)
0,409
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
140
69 (56,1)
10 (58,8)
27 (22,0)
3 (17,6)
27 (22,0)
4 (23,5)
1,000
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
29 (44,6)
39 (70,9)
17 (26,2)
8 (14,5)
19 (29,2)
8 (14,5)
0,016
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
141
30 (51,7)
32 (60,4)
12 (60,0)
6 (60,0)
17 (29,3)
9 (17,0)
3 (15)
1 (10,0)
11 (19,0)
12 (22,6)
5 (25,0)
3 (30,0)
0,683
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
138
49 (60,5)
21 (58,3)
10 (43,5)
15 (18,5)
8 (22,2)
6 (26,1)
17 (21,0)
7 (19,4)
7 (30,4)
0,677
Regio onde pratica
Cidade grande
Outra
139
67 (55,4)
11 (61,1)
27 (22,3)
3 (16,7)
27 (22,3)
4 (22,2)
0,942
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
137
19 (59,4)
31 (58,5)
30 (55,6)
4 (12,5)
13 (24,5)
12 (22,2)
9 (28,1)
9 (17,0)
12 (22,2)
0,617
241
Quadro A.12. Administraria um ou mais frmacos em doses letais a uma pessoa, com uma
doena incurvel, avanada e progressiva que levasse inexoravelmente morte e incapaz de
tomar decises por alteraes da conscincia, por sua prpria iniciativa (sem que lhe tenha
sido pedido)?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
P
Idade
31 45
46 65
> 65
138
45 (93,8)
56 (83,6)
22 (95,7)
1 (2,1)
5 (7,5)
0 (0,0)
2 (4,2)
6 (9,0)
1 (4,3)
0,453
Sexo
Feminino
Masculino
138
45 (91,8)
78 (87,6)
0 (0,0)
6 (6,7)
4 (8,2)
5 (5,6)
0,152
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
138
108 (89,3)
15 (88,2)
6 (5,0)
0 (0,0)
7 (5,8)
2 (11,8)
0,423
Religio catlica
No praticante
Praticante
118
56 (86,2)
51 (96,2)
4 (6,2)
0 (0,0)
5 (7,7)
2 (3,8)
0,116
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
139
47 (82,5)
49 (94,2)
19 (95,0)
9 (90,0)
5 (8,8)
1 (1,9)
0 (0,0)
0 (0,0)
5 (8,8)
2 (3,8)
1 (5,0)
1 (10,0)
0,442
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
138
71 (89,9)
33 (91,7)
19 (82,6)
4 (5,1)
1 (2,8)
1 (4,3)
4 (5,1)
2 (5,6)
3 (13,0)
0,689
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
137
107 (89,2)
15 (88,2)
5 (4,2)
1 (5,9)
8 (6,7)
1 (5,9)
0,824
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
137
30 (93,8)
46 (88,5)
46 (86,8)
1 (3,1)
2 (3,8)
3 (5,7)
1 (3,1)
4 (7,7)
4 (7,5)
0,920
242
Quadro A.13. Pensa que os actos deste tipo deviam ser permitidos pela legislao?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
P
Idade
31 45
46 65
> 65
140
36 (72,0)
45 (65,2)
19 (90,5)
5 (10,0)
13 (18,8)
1 (4,8)
9 (18,0)
11 (15,9)
1 (4,8)
0,214
Sexo
Feminino
Masculino
140
30 (60,0)
70 (77,8)
9 (18,0)
10 (11,1)
11 (22,0)
10 (11,1)
0,080
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
140
87 (71,3)
13 (72,2)
17 (13,9)
2 (11,1)
18 (14,8)
3 (16,7)
1,000
Religio catlica
No praticante
Praticante
119
40 (61,5)
44 (81,5)
14 (21,5)
2 (3,7)
11 (16,9)
8 (14,8)
0,010
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
141
40 (69,0)
41 (75,9)
12 (60,0)
8 (88,9)
10 (17,2)
7 (13,0)
2 (10,0)
0 (0,0)
8 (13,8)
6 (11,1)
6 (30,0)
1 (11,1)
0,449
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
140
58 (71,6)
27 (73,0)
15 (68,2)
10 (12,3)
6 (16,2)
3 (13,6)
13 (16,0)
4 (10,8)
4 (18,2)
0,902
Regio onde pratica
Cidade grande
Outra
140
86 (71,1)
13 (72,2)
17 (14,0)
2 (11,1)
18 (14,9)
3 (16,7)
1,000
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
23 (71,9)
40 (75,5)
37 (67,3)
5 (15,6)
6 (11,3)
8 (14,5)
4 (12,5)
7 (13,2)
10 (18,2)
0,878
243
Quadro A.14. Se tivesse uma doena incurvel, avanada e progressiva que levasse
inexoravelmente morte e estivesse incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia,
gostaria que um mdico lhe administrasse um ou mais frmacos em doses letais, baseado
apenas no seu julgamento?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
P
Idade
31 45
46 65
> 65
138
38 (76,0)
41 (62,1)
20 (90,9)
4 (8,0)
10 (15,2)
0 (0,0)
8 (16,0)
15 (22,7)
2 (9,1)
0,101
Sexo
Feminino
Masculino
138
32 (64,0)
70 (77,8)
7 (14,0)
7 (8,0)
11 (22,0)
14 (15,9)
0,300
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
138
87 (72,5)
12 (66,7)
12 (10,0)
2 (11,1)
21 (17,5)
4 (22,2)
0,776
Religio catlica
No praticante
Praticante
119
40 (62,5)
43 (83,6)
8 (12,5)
3 (5,5)
16 (25,0)
6 (10,9)
0,038
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
139
38 (66,70)
40 (76,9)
14 (70,0)
8 (80,9)
7 (12,3)
5 (9,6)
2 (10,0)
0 (0,0)
12 (21,1)
7 (13,5)
4 (20,0)
2 (20,0)
0,882
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
138
61 (74,4)
24 (72,7)
15 (65,2)
8 (9,8)
4 (12,1)
1 (4,3)
13 (15,9)
5 (15,2)
7 (30,4)
0,537
Regio onde pratica
Cidade grande
Outra
137
85 (70,8)
13 (76,5)
12 (10,0)
2 (11,8)
23 (19,2)
2 (11,8)
0,837
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
137
25 (83,3)
36 (69,2)
37 (67,3)
1 (3,3)
6 (11,5)
7 (12,7)
4 (13,3)
10 (19,2)
11 (20,0)
0,549
244
Quadro A.15. Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que
levasse inexoravelmente morte, legtimo suspender medidas de suporte da vida a seu
pedido explcito, repetido informado e bem reflectido?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
Em certas
circunstncias
P
Idade
31 45
46 65
> 65
141
12 (24,0)
9 (13,2)
6 (26,1)
32 (64,0)
50 (73,5)
12 (52,2)
6 (12,0)
9 (13,2)
5 (21,7)
0,276
Sexo
Feminino
Masculino
138
6 (12,0)
21 (23,1)
33 (66,0)
61 (67,0)
11 (22,0)
9 (9,9)
0,068
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
141
24 (19,5)
3 (16,7)
82 (66,7)
12 (66,7)
17 (13,8)
3 (16,7)
0,931
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
12 (18,5)
15 (27,3)
47 (72,3)
28 (50,9)
6 (9,2)
12 (21,8)
0,039
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
142
11 (19,0)
7 (13,0)
6 (30,0)
3 (30,0)
42 (72,4)
38 (70,4)
9 (45,0)
6 (60,0)
5 (8,6)
9 (16,7)
5 (25,0)
1 (10,0)
0,179
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
12 (14,6)
7 (19,4)
8 (34,8)
59 (72,0)
22 (61,1)
13 (56,5)
11 (13,4)
7 (19,4)
2 (8,7)
0,231
Regio onde pratica
Cidade grande
Outra
140
23 (18,9)
4 (22,2)
84 (68,9)
10 (55,6)
15 (12,3)
4 (22,2)
0,345
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
11 (34,4)
11 (20,8)
5 (9,1)
15 (46,9)
35 (66,0)
43 (78,2)
6 (18,8)
7 (13,2)
7 (12,7)
0,033
245
Quadro A.16. Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
p
Idade
31 45
46 65
> 65
141
35 (64,0)
36 (52,9)
15 (65,2)
18 (36,0)
32 (47,1)
8 (34,8)
0,381
Sexo
Feminino
Masculino
141
30 (58,8)
53 (58,9)
21 (41,2)
37 (41,1)
1,000
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
141
72 (58,8)
11 (61,1)
51 (41,5)
7 (38,9)
1,000
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
36 (54,5)
40 (72,7)
30 (45,5)
15 (27,3)
0,058
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
142
34 (57,6)
23 (43,4)
20 (100,0)
7 (70,0)
25 (42,4)
30 (56,6)
0 (0,0)
3 (30,0)
<0,001
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
52 (63,4)
15 (41,7)
17 (73,9)
30 (36,6)
21 (58,3)
6 (26,1)
0,027
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
140
74 (60,7)
10 (55,6)
48 (39,3)
8 (44,4)
0,798
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
24 (75,0)
30 (56,6)
29 (52,7)
8 (25,0)
23 (43,4)
26 (47,3)
0,107
246
Quadro A.17. Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que
levasse inexoravelmente morte e incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia,
legtimo suspender medidas de suporte da vida a pedido de um familiar ou de outra pessoa
prxima?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
Em certas
circunstncias
p
Idade
31 45
46 65
> 65
141
31 (62,0)
24 (34,8)
10 (45,5)
12 (24,0)
36 (52,2)
4 (18,2)
7 (14,0)
9 (13,0)
8 (36,4)
0,001
Sexo
Feminino
Masculino
138
27 (52,9)
38 (42,2)
15 (29,4)
37 (41,1)
11 (22,0)
9 (9,9)
0,068
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
141
55 (44,7)
10 (55,6)
46 (37,4)
6 (33,3)
22 (17,9)
2 (11,1)
0,595
Religio catlica
No praticante
Praticante
120
32 (48,5)
29 (53,7)
26 (39,4)
14 (25,9)
8 (12,1)
11 (20,4)
0,235
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
142
28 (48,3)
20 (37,0)
15 (75,0)
3 (30,0)
24 (41,4)
21 (38,9)
3 (15,0)
4 (40,0)
6 (10,3)
13 (24,1)
2 10,0)
3 (30,0)
0,040
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
141
35 (42,7)
18 (48,6)
13 (59,1)
32 (39,0)
12 (32,4)
7 (31,8)
15 (18,3)
7 (18,9)
2 (9,1)
0,664
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
140
54 (44,3)
11 (61,1)
47 (38,5)
4 (22,2)
21 (17,2)
3 (16,7)
0,331
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
20 (64,5)
22 (40,7)
23 (41,8)
6 (19,4)
21 (38,9)
25 (45,5)
5 (16,1)
11 (20,4
7 (12,7)
0,113
247
Quadro A.18. Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
p
Idade
31 45
46 65
> 65
140
37 (75,5)
43 (62,3)
16 (72,7)
12 (24,5)
26 (37,7)
6 (27,3)
0,292
Sexo
Feminino
Masculino
140
39 (76,5)
57 (64,0)
12 (23,5)
32 (36,0)
0,136
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
140
82 (67,2)
14 (77,8)
40 (32,8)
4 (22,2)
0,428
Religio catlica
No praticante
Praticante
119
44 (67,7)
43 (79,6)
21 (32,3)
11 (20,4)
0,154
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
141
41 (69,5)
30 (55,6)
19 (100,0)
7 (77,8)
18 (30,5)
24 (44,4)
0 (0,0)
2 (22,2)
0,003
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
140
58 (71,6)
22 (59,5)
17 (77,3)
23 (28,4)
15 (40,5)
5 (22,7)
0,295
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
139
83 (68,6)
13 (72,2)
38 (31,4)
5 (27,8)
0,795
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
26 (81,3)
37 (68,5)
33 (61,1)
6 (18,8)
17 (31,5)
21 (38,9)
0,142
248
Quadro A.19. Pensa que numa pessoa, com uma doena incurvel, avanada e progressiva que
levasse inexoravelmente morte e incapaz de tomar decises por alteraes da conscincia,
legtimo suspender medidas de suporte da vida por deciso unilateral do mdico ou da equipa
de sade?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
Em certas
circunstncias
p
Idade
31 45
46 65
> 65
142
30 (60,0)
24 (34,8)
11 (47,8)
12 (24,0)
32 (46,4)
8 (34,8)
8 (16,0)
13 (18,8)
4 (17,4)
0,085
Sexo
Feminino
Masculino
138
25 (49,0)
40 (44,0)
17 (33,3)
35 (38,5)
9 (17,6)
16 (17,6)
0,800
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
57 (46,0)
8 (44,4)
46 (37,1)
6 (33,3)
21 (16,9)
4 (22,2)
0,891
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
27 (40,9)
31 (56,4)
25 (37,9)
15 (27,3)
14 (21,2)
9 (16,4)
0,236
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
24 (40,7)
26 (40,1)
13 (65,0)
3 (30,0)
28 (47,5)
17 (31,5)
2 (10,0)
5 (50,0)
7 (11,9)
11 (20,4)
5 (25,0)
2 (20,0)
0,050
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
142
36 (43,9)
18 (48,6)
12 (52,2)
31 (37,8)
11 (29,7)
9 (39,1)
15 (18,3)
8 (21,6)
2 (8,7)
0,691
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
56 (45,5)
9 (50,0)
46 (37,4)
5 (27,8)
21 (17,1)
4 (22,2)
0,715
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
16 (50,0)
23 (42,6)
26 (47,3)
9 (28,1)
23 (42,6)
20 (36,4)
7 (21,9)
8 (14,8)
9 (16,4)
0,738
249
Quadro A.20. Suspenderia medidas como alimentao ou hidratao?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
p
Idade
31 45
46 65
> 65
135
39 (81,3)
41 (61,2)
16 (80,0)
9 (18,8)
26 (38,8)
4 (20,0)
0,043
Sexo
Feminino
Masculino
135
36 (73,5)
60 (69,8)
13 (26,5)
26 (30,2)
0,697
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
135
84 (70,6)
12 (75,0)
35 (29,4)
4 (25,0)
1,000
Religio catlica
No praticante
Praticante
116
40 (64,5)
47 (87,0)
22 (35,5)
7 (13,0)
0,009
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
136
41 (70,7)
31 (60,8)
19 (100,0)
6 (75,0)
17 (29,3)
20 (39,2)
0 (0,0)
2 (25,0)
0,013
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
135
57 (71,3)
25 (69,4)
15 (78,9)
23 (28,8)
11 (30,6)
4 (21,1)
0,795
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
134
83 (70,9)
13 (76,5)
34 (29,1)
4 (23,5)
0,778
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
140
20 (76,9)
37 (68,5)
39 (70,9)
6 (23,1)
17 (31,5)
16 (29,1)
0,753
250
Quadro A.21. No seu entender, o conceito de eutansia (com todas as suas implicaes ticas,
legais, sociais ou outras) deve ser alargado a situaes de pessoas sem uma doena terminal
ou doena somtica, englobando doentes crnicos, doentes mentais, pessoas cansadas de
viver por idade avanada, deteriorao fsica, solido ou dependncia?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
142
39 (78,0)
57 (82,6)
20 (87,0)
7 (14,0)
9 (13,0)
1 (4,3)
4 (8,0)
3 (4,3)
2 (8,7)
0,645
Sexo
Feminino
Masculino
142
42 (82,4)
74 (81,3)
6 (11,8)
11 (12,1)
3 (5,9)
6 (6,6)
1,000
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
101 (81,5)
15 (83,3)
14 (11,3)
3 (16,7)
9 (7,3)
0 (0,0)
0,540
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
56 (84,8)
44 (80,0)
6 (9,1)
6 (10,9)
4 (6,1)
5 (9,1)
0,824
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
50 (84,7)
44 (81,5)
14 (70,0)
9 (90,0)
6 (10,2)
8 (14,8)
3 (15,0)
0 (0,0)
3 (5,1)
2 (3,7)
3 (15,0)
1 (10,0)
0,416
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
142
61 (74,4)
34 (91,9)
21 (91,3)
14 (17,1)
2 (5,4)
1 (4,3)
7 (8,5)
1 (2,7)
1 (4,3)
0,169
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
97 (78,9)
18 (100,0)
17 (13,8)
0 (0,0)
9 (7,3)
0 (0,0)
0,108
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
28 (87,5)
43 (79,6)
46 (83,6)
3 (9,4)
7 (13,0)
7 (12,7)
1 (3,1)
4 (7,4)
2 (3,6)
0,871
251
Quadro A.22. No seu entender, o conceito de suicdio assistido (com todas as suas implicaes
ticas, legais, sociais ou outras) deve ser alargado a situaes de pessoas sem uma doena
terminal ou doena somtica, englobando doentes crnicos, doentes mentais, pessoas
cansadas de viver por idade avanada, deteriorao fsica, solido ou dependncia?
Caractersticas
n (%)
Total No
Sim
No tenho
opinio formada
p
Idade
31 45
46 65
> 65
142
39 (78,0)
54 (78,3)
20 (87,0)
6 (12,0)
11 (15,9)
1 (4,3)
5 (10,0)
4 (5,8)
2 (8,7)
0,620
Sexo
Feminino
Masculino
142
43 (84,3)
70 (76,9)
3 (5,9)
15 (16,5)
5 (9,8)
6 (6,6)
0,195
Estado civil
Casado(a)/Unio de facto
Vivendo s
142
97 (78,2)
16 (88,9)
17 (13,7)
1 (5,6)
10 (8,1)
1 (5,6)
0,720
Religio catlica
No praticante
Praticante
121
56 (84,8)
44 (80,0)
6 (9,1)
6 (10,9)
4 (6,1)
5 (9,1)
0,824
Especialidade principal
Cirurgia
Oncologia mdica
Radioterapia
Outra
143
50 (84,7)
44 (81,5)
14 (70,0)
9 (90,0)
6 (10,2)
8 (14,8)
3 (15,0)
0 (0,0)
3 (5,1)
2 (3,7)
3 (15,0)
1 (10,0)
0,416
Local de trabalho
Instituto de Oncologia
Hospital
Outros
142
61 (74,4)
34 (91,9)
21 (91,3)
14 (17,1)
2 (5,4)
1 (4,3)
7 (8,5)
1 (2,7)
1 (4,3)
0,169
Regio onde pratica
especialidade
Cidade grande
Outra
141
97 (78,9)
18 (100,0)
17 (13,8)
0 (0,0)
9 (7,3)
0 (0,0)
0,108
Quantas situaes de
pessoas com doena
incurvel
0 a 5
6 a 30
mais de 30
141
28 (87,5)
43 (79,6)
46 (83,6)
3 (9,4)
7 (13,0)
7 (12,7)
1 (3,1)
4 (7,4)
2 (3,6)
0,871
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Aspectos Legais e Espíritas Da Cremação (Bismael B. Moraes)Dokument22 SeitenAspectos Legais e Espíritas Da Cremação (Bismael B. Moraes)Adriano GhisiNoch keine Bewertungen
- Plan P Projeto Basico Habitacao de 2 QuartosDokument12 SeitenPlan P Projeto Basico Habitacao de 2 Quartossupervisores vargasNoch keine Bewertungen
- 1 PBDokument14 Seiten1 PBAdriano GhisiNoch keine Bewertungen
- Maria Elizia BorgesDokument14 SeitenMaria Elizia BorgesAdriano GhisiNoch keine Bewertungen
- 1 PBDokument14 Seiten1 PBAdriano GhisiNoch keine Bewertungen
- Aula 7 - OrçamentaçãoDokument8 SeitenAula 7 - OrçamentaçãoAdriano GhisiNoch keine Bewertungen
- 1 - o Meio Brasileiro e Sua InfluenciaDokument6 Seiten1 - o Meio Brasileiro e Sua InfluenciasergioelleaNoch keine Bewertungen
- In Memorian: Cemitério Vertical e CrematórioDokument67 SeitenIn Memorian: Cemitério Vertical e CrematórioADRIANO RODRIGUES100% (1)
- Monografiatcc 130909081611Dokument85 SeitenMonografiatcc 130909081611Adriano GhisiNoch keine Bewertungen
- A Arquitectura ModernaDokument14 SeitenA Arquitectura ModernaAdriano GhisiNoch keine Bewertungen
- Ficha de Leitura: O Existencialismo É Um HuamanismoDokument4 SeitenFicha de Leitura: O Existencialismo É Um HuamanismoAlbio Fabian MelchiorettoNoch keine Bewertungen
- ULBRA. Cultura Religiosa - LivroDokument122 SeitenULBRA. Cultura Religiosa - LivroFlavio AlexandrinoNoch keine Bewertungen
- Tema Projeto PAP SÉRGIO BARBOSADokument53 SeitenTema Projeto PAP SÉRGIO BARBOSABrielSilcaNoch keine Bewertungen
- 10 013-AbsenteísmoDokument49 Seiten10 013-AbsenteísmoMarcio Guilherme BispoNoch keine Bewertungen
- Consciência ÉticaDokument5 SeitenConsciência ÉticaAndrew Matteoli100% (4)
- Os Demonios Descem Do Norte - Delcio LimaDokument77 SeitenOs Demonios Descem Do Norte - Delcio LimaPabloNoch keine Bewertungen
- Comunidades Eclesiais de Tanque Novo - Protegido PDFDokument212 SeitenComunidades Eclesiais de Tanque Novo - Protegido PDFFernando_GriloNoch keine Bewertungen
- A Crise Do Mundo Moderno À Luz de René GuénonDokument4 SeitenA Crise Do Mundo Moderno À Luz de René GuénonGustavo HenriqueNoch keine Bewertungen
- R. J. Rushdoony - O Amor Ao DinheiroDokument2 SeitenR. J. Rushdoony - O Amor Ao DinheiroGabriel AngeloNoch keine Bewertungen
- Ficha - AValiação ALfa3 - PortuguesDokument16 SeitenFicha - AValiação ALfa3 - PortuguesIvone Silva100% (3)
- A Biblia No LarDokument7 SeitenA Biblia No LarComunidade Edificada de ParanavaíNoch keine Bewertungen
- Texto ÁureoDokument11 SeitenTexto ÁureoemmersonNoch keine Bewertungen
- Loucura e Suas CausasDokument15 SeitenLoucura e Suas CausasWagner Amorim MadozNoch keine Bewertungen
- A Epopéia No Período ColonialDokument8 SeitenA Epopéia No Período ColonialfabianasartiNoch keine Bewertungen
- Aventura Pronta O CasamentoDokument7 SeitenAventura Pronta O CasamentoTássio BrunoNoch keine Bewertungen
- Kachia Téchio TESE Transformando A Água em Sangue 1.4Dokument346 SeitenKachia Téchio TESE Transformando A Água em Sangue 1.4joaogabrielnevesdemaNoch keine Bewertungen
- A Bola Da Redenção Aparições Mammanelli Giuseppe Auricchia, AvolaDokument13 SeitenA Bola Da Redenção Aparições Mammanelli Giuseppe Auricchia, AvolaLandel JosephNoch keine Bewertungen
- 1 O Problema Da Exist Ncia de DeusDokument2 Seiten1 O Problema Da Exist Ncia de DeusdanielNoch keine Bewertungen
- Imagem Brasileira 2Dokument199 SeitenImagem Brasileira 2Alessandra Freire100% (1)
- Principais Filósofos GregosDokument11 SeitenPrincipais Filósofos GregosADRIANA CLARO MURETTO CAVALCANTE DOS SANTOSNoch keine Bewertungen
- Nahara Mini DictionarioDokument86 SeitenNahara Mini DictionarioFranciscoJoseEncarnacao100% (1)
- AULA 11. Feuerbach A Essência Do CristianismoDokument3 SeitenAULA 11. Feuerbach A Essência Do Cristianismojosneimaluco80Noch keine Bewertungen
- Abrindo Os Chakras MãosDokument6 SeitenAbrindo Os Chakras MãoscilleneNoch keine Bewertungen
- Há Muitas Moradas Na Casa de Meu PaiDokument3 SeitenHá Muitas Moradas Na Casa de Meu PaiLuis LaranjeiraNoch keine Bewertungen
- Pentaculos e Simbolos MagicosDokument6 SeitenPentaculos e Simbolos MagicosZeire50% (2)
- Retiro 1Dokument4 SeitenRetiro 1Martial Roland NdomoNoch keine Bewertungen
- Build Dominio VidaDokument6 SeitenBuild Dominio VidaLucas SenaNoch keine Bewertungen
- Sincro Parede 9.13 Brasil-1Dokument1 SeiteSincro Parede 9.13 Brasil-1Neuroon CarlosNoch keine Bewertungen
- C-Memoria 05 Bombeiros AVDokument114 SeitenC-Memoria 05 Bombeiros AVAlberto VieiraNoch keine Bewertungen
- Princípio 07 - Fidelidade. MANUAL DE DISCIPULADO 2 - by Ed Rocha - MediumDokument12 SeitenPrincípio 07 - Fidelidade. MANUAL DE DISCIPULADO 2 - by Ed Rocha - MediumluhjctNoch keine Bewertungen