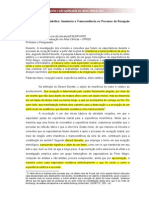Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Ética e Estética em Kante e Sartre
Hochgeladen von
Nadiana Carvalho0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
127 Ansichten113 SeitenOriginaltitel
Ética e Estética Em Kante e Sartre
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
127 Ansichten113 SeitenÉtica e Estética em Kante e Sartre
Hochgeladen von
Nadiana CarvalhoCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 113
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN
SETOR DE CINCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM FILOSOFIA - MESTRADO
REA DE CONCENTRAO: HISTRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORNEA
DISSERTAO DE MESTRADO
A QUESTO TICO-ESTTICA ENTRE KANT E SARTRE
lisson de Souza e Silva
CURITIBA
2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN
SETOR DE CINCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM FILOSOFIA - MESTRADO
REA DE CONCENTRAO: HISTRIA DA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORNEA
lisson de Souza e Silva
A QUESTO TICO-ESTTICA ENTRE KANT E SARTRE
Dissertao apresentada como requisito parcial
obteno do grau de Mestre do Curso de Mestrado em
Filosofia do Setor de Cincias Humanas, Letras e Artes
da Universidade Federal do Paran.
Orientador: Prof. Dr. Vincius Berlendis de Figueiredo.
Curitiba
2011
A uma me*
Que por breve
Existir
Em minha
Mais longa
Existncia,
Fez-me
Livre para
Mudar de vez
Os caminhos
Da dvida,
As confidncias
Da razo
E as inquietudes
Do corao.
(*in memoriam)
Resumo: Considerando que Sartre situa a obra de arte, mais especificamente a
literatura, de imediato ao nvel do imperativo categrico kantiano, e que Kant, por
sua vez, eleva o belo como smbolo da moral, o objeto de estudo desta pesquisa
esclarecer se a separao entre tica e esttica, para esses dois autores,
mesmo legtima. Se para Sartre a esttica est no plano do imaginrio e a tica
no plano real, como conceber a intersubjetividade sem antes atentarmos para a
liberdade na instncia prtica entre o autor da obra e o pblico a quem se
direciona? Alm disso, se a escrita, para Sartre, a constituio da subjetividade
e a leitura um apelo intersubjetividade, no idealismo kantiano essa corts
solicitao objetiva s tem cabimento com a espontaneidade da reflexo. Para
ambos os filsofos, o juzo do leitor, portanto, definitivamente deve ser livre.
Porm, essa liberdade, quando da atividade reflexionante, implica em Sartre certa
distoro ao aceitar a universalidade esttica quase que como um imperativo.
Pois esse juzo reflexionante que Sartre diz imergir no imaginrio a fim de
interromper a passividade do leitor para torn-lo um ser ativo, se posicionando no
mundo para nele agir concretamente. J para Kant, a universalidade do belo
requerida pelo gosto no deve ser entendida como um imperativo, mas um juzo
possvel na reflexo de cada um. Ora, atravs desse estudo, veremos que, para
ambos, h uma autonomia da esttica em relao tica, porm, no de forma
imparcial, mas uma provvel derivao esttica do campo moral.
Palavras-chave: Esttica, tica, Literatura, Arte, Juzo do Gosto, Engajamento
Abstract: Whereas Sartre situates the work of art, and more specifically literature,
immediately to the level of the Kantian categorical imperative, and that Kant, by his
turn, raises the beautiful as a symbol of morality, the object of this research is to
clarify whether the separation between ethics and aesthetics, for both authors, it is
legitimate. If, for Sartre, aesthetics is at the imaginary plan and ethics is in the real,
how to conceive of intersubjectivity without first paying attention to the freedom in
the practical instance between the author of the work and the public to whom it is
directed? Also, if writing, for Sartre, is the constitution of subjectivity and reading is
an appeal to intersubjectivity, in Kantian idealism that polite and objective request
is only available with the spontaneity of reflection. For both philosophers the
judgment of the reader, therefore, should definitely be free. However, this freedom,
when the activity of reflection, implies in Sartre some distortion in accepting the
aesthetic universality almost as an imperative. So this is the reflective judgment
that Sartre says to immerse in the imaginary in order to stop the passivity of the
reader to make him to be an active being, positioning itself in the world to take
concrete action on it. As for Kant, the universality of beauty required by the taste
should not be understood as an imperative, but a possible judgment in the
reflection of each one. Now, through this study, well see that, for both, there is
autonomy of aesthetics in relation to ethics, but not in an impartial way, but likely
an aesthetic derivation of the moral field.
Keywords: Aesthetics, Ethics, Literature, Art, Judgment of Taste, Engagement
ndice
Introduo .......................................................................................................... 1
I. Literatura e engajamento em Sartre, a esttica sob um plano tico .......... 10
II. O desinteresse e a negao do real .............................................................. 26
III. Sartre do nada ao ser imaginante ............................................................. 34
IV. A literatura e o papel do outro na questo tico-esttica ......................... 40
V. A intersubjetividade kantiana atravs da reflexo ..................................... 49
VI. O sentimento de prazer e o juzo do gosto ................................................. 57
VII. Forma e finalidade sem fim ......................................................................... 61
VIII. Kant e o belo como smbolo do moralmente bom ................................... 66
IX. Sartre - existencialismo e liberdade na emancipao literria ................. 74
X. A fruio esttica ........................................................................................... 79
XI. A condio histrica da literatura ................................................................82
XII. Kant e Sartre, a esttica moderna sob o olhar contemporneo .............. 91
Consideraes finais .......................................................................................... 99
Referncias Bibliogrficas .............................................................................. 101
Agradecimentos
Agradeo ao meu orientador, Prof. Dr. Vinicius Berlendis de Figueiredo que, com
pacincia, confiana, ateno e rigor, tornou possvel a execuo desta pesquisa.
Agradeo no s por ter me auxiliado desde os cursos da graduao at o Mestrado, mas
por sua generosa amizade construda em meio acadmico. Por ter me instigado a
investigar a obra de Kant com tanto rigor e profissionalismo, orientando-me em pesquisa
de Iniciao Cientfica.
Agradeo ao Prof. Dr. Luis Damon Moutinho, por ter me auxiliado em
orientaes e ter despertado meu interesse em Sartre com provocaes reflexivas desde
a Graduao, na qual foi meu Orientador de monografia. Agradeo ao Prof. Dr. Leandro
Cardim por seus valiosos conselhos durante a banca de qualificao de Mestrado.
Agradeo a todos os professores do Departamento de Filosofia da UFPR, principalmente
aqueles que me envolveram em grupos de estudos ou eventos afins.
Minha especial gratido aos meus familiares, em especial meu pai, Bento de
Oliveira e Silva, que dispensa mencionar aqui o apoio sempre efetivo que tem me dado.
Agradeo ao apoio cedido pelo Sesc Pao da Liberdade, empresa a qual fao
parte da equipe de produo e programao, mais especificamente Gerente Executiva
Celise Niero, por ter sido compreensvel pelo precioso tempo que necessitei para o
desenvolvimento e elaborao desta dissertao e por ter me envolvido em vrios
projetos e eventos de ordem filosfica ou acerca das Cincias Humanas.
Por fim, pelas longas conversas e provocaes que me envolveram cada vez mais
no universo filosfico e contriburam para ampliar meu conhecimento sobre vrios
autores e questes do gnero, minha gratido a todos os colegas que me acompanharam
durante esses anos.
No existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e no h forma mais
segura de se unir a ele do que a arte.
(Johann Wolfgang von Gethe), Mximas e reflexes, XIII, 3.
Em arte tudo est naquele nada.
(Leon Tolstoi), O que arte?
A arte a mentira que nos permite conhecer a verdade.
(Pablo Picasso)
Toda arte completamente intil.
(Oscar Wilde) O retrato de Dorian Gray, Prefcio
1
INTRODUO
Quando Sartre menciona, em Que a Literatura?, que a obra de arte ou
literria deve elevar-se imediatamente ao nvel do imperativo categrico, um certo
estranhamento nos vem em mente, pois fazer meno a Kant, principalmente com
esta afirmao, traz tona uma discusso confrontante no que diz respeito
relao entre tica e esttica. Portanto, levantamos aqui uma questo primordial,
a qual transitar por toda esta pesquisa: plausvel considerar uma fuso entre
tica e esttica?
Amar e admirar a beleza vantajoso para o afeto social, e de grande
auxlio virtude, que no outra coisa seno o amor ordem e beleza na
sociedade.
1
Esta frase atribuda a Anthony Ashley Cooper, Terceiro Conde de
Shaftesbury (1671-1713), filsofo que acreditava existir em ns um senso esttico
inato, assim como existe um senso moral. Para ele, poltica e esttica encontram-
se integradas e agem sobre o homem assim como agem sobre o meio.
Considerando a influncia deste autor sobre a obra de Kant e,
curiosamente, pela notvel aproximao com o discurso de Sartre, nada mais
oportuno que introduzirmos brevemente esta pesquisa com algumas reflexes
desse pensador ingls, a fim de pleitear um debate controverso a que, mais
adiante, nos reportaremos: a relao tico-esttica.
Shaftesbury inseriu sua filosofia o imperativo estico da tica esttica,
partindo da premissa de que toda beleza verdadeira. em Solilquio ou
Conselho a um Autor que ir abordar a relao entre o escritor, seu pblico e a
interveno da crtica. Baseando-se em Horcio, Shaftesbury considerava que a
habilidade de um escritor da Antiguidade se fundamentava em conhecimento e
sensatez provindos no s de tcnicas artsticas, mas de regras particulares da
arte, que somente a filosofia expe.
2
O mesmo filsofo faz, ento, uma leitura
dos diversos gneros da escrita desde a Antiguidade, relatando, sobretudo, os
gneros poticos. A escrita clssica, de forma potica, carregava consigo relatos
1
SHAFTESBURY, (Charactetistics) apud Eagleton, T. A ideologia da esttica, Zahar, Rio de
Janeiro, 1990, p. 32.
2
SHAFTESBURY, Solilquio ou conselho a um autor (104), traduo livre de Ligia Caselato.
2
histricos de costumes e caractersticas das antigas civilizaes. Graas a esses
escritos, podemos ter noo da dimenso tica e moral que vigorava naqueles
tempos. Se o poeta, homem de valores, no fosse digno e bom, sua arte no
seria valorosa e no teria jamais tal grandeza. atravs dos escritos clssicos
que Shaftesbury reconhece que no podemos apenas conhecer os outros, ou as
pessoas daquela poca, mas o que era mais importante e de maior virtude
nelas, pois nos ensinavam a conhecer ns mesmos.
3
Esses mtodos
dramtico-especulativos de desenvolvimento da arte potica, ora herica, ora
simples, ora trgica, ora cmica, representava ao homem um espelho dele
mesmo
4
ou, nas palavras de Shaftesbury, um vidro refletor para a poca, de
modo que carregavam virtualmente consigo histrias de emoes e sentimentos
humanos, despertados por aqueles que tinham em seu gnio a vocao para a
escrita. A arte potica da Antiguidade tinha em seu poder a sublimidade em
descrever o mundo e encant-lo ao mesmo tempo. Shaftesbury critica a sua
poca pela perda desse valor e do potencial artstico reluzente na era Clssica.
Segundo suas consideraes, o autor de seu tempo tinha o hbito de falar sobre
si, articulando sua tcnica e humor para se comunicar com o sujeito a quem se
endereava. Porm, o mau uso dessa prerrogativa gerava uma espcie de
coquetismo modal, conforme relata:
Um autor que escreve em sua prpria pessoa tem a vantagem de ser quem
ou o que desejar. No um certo homem nem possui algum carter
especfico ou genuno, mas adequa-se a cada momento fantasia de seu
leitor, de quem, como agora moda, constantemente cuida e adula. Tudo
gira em torno de suas duas pessoas. (Shaftesbury, Solilquio ou conselho a
um autor (104), traduo livre de Ligia Caselato)
Por conta disso, a relao entre o autor e leitor, ora existente na era
clssica, havia desaparecido. Falar de si, nesse mpeto, era excluir o dilogo a
ponto de omitir a universalidade humana. Para Shaftesbury, assim como o pintor
que ao retratar uma batalha reproduz em sua obra diferentes figuras que
representam gestos, hbitos e realidades de povos distintos, o escritor deveria
fazer o mesmo, relatando no apenas seus prprios costumes, mas coletivamente
a sociedade e a proporo histrica nela contida, sabendo, acima de tudo,
3
Idem, (104).
4
Observaremos um apontamento anlogo a Sartre, mais adiante.
3
dialogar.
5
Shaftesbury denomina artista moral esse escritor que imita a criao da
estrutura e forma interna de seus semelhantes com tamanha harmonia e
engenhosidade a ponto de, atravs da alteridade, poder conhecer a si mesmo.
Ora percebemos que o estreitamento entre tica e esttica faz seus rumores j no
projeto intencional da produo. Se por um lado o escritor deve enaltecer seu
processo criativo, de outro, deve fazer-se notar no s pelo leitor, mas pela
crtica. Para Shaftesbury, que se baseava na crtica surgida na Antiguidade,
inclusive elogiando a rigorosa metodologia sofista, os crticos so os apoios e os
pilares da construo literria.
Conforme veremos em anlise histrica de Sartre, Shastesbury examina a
situao dos escritores de sua poca, fazendo uma severa crtica principalmente
no que diz respeito influncia externa que os artistas recebiam e que
indiretamente transpunham a sua arte. A arte verdadeira, porm, para ele, no
deve provir somente da persuaso da crtica ou de qualquer agente externo, quer
seja autoridades ou pblico; a arte verdadeira nasce da liberdade e tcnica
imanente no gnio artstico. E da que Shaftesbury afirma que o escritor dotado
de habilidade chama o mundo para si, e no simplesmente se adqua a ele,
revelando sua fragilidade perante ele.
O que mais evidente nas acusaes de Shaftesbury que os escritores
de sua poca encontravam-se completamente acomodados e vulnerveis ao
gosto pblico, e assim modelavam sua arte conforme a genialidade passiva e
esttica daquele tempo: Hoje em dia a audincia faz o poeta, e o editor o autor;
com proveito para o pblico, (...).
6
Essa acusao shaftesburiana e seu olhar
sobre a deficincia e prejuzo assumido pelos autores em sua condio passiva,
que h muito se distanciaram do esprito altivo dos clssicos, nos assaz
proveitosa para ento decorrermos sobre a anlise esttica de efeito comunicativo
e moral, que mais adiante ser refletida em Sartre.
Para Shaftesbury, o poeta deveria recorrer aos filsofos a fim de se tornar
mestre nos tpicos comuns de moralidade. Os poetas, os escri tores e os artistas
em geral, deveriam, na concepo shaftesburiana, potencializar suas idias
concebidas de seus intelectos e de especulaes filosficas, a fim de aperfeioar
5
SHAFTESBURY, Solilquio ou conselho a um autor, (Parte I, Seo 3, 106-108).
6
Idem, ( 139).
4
a mente e o entendimento; um olhar substancial para dentro de si mesmo, um
encontro com seu interior, um mistrio que habita o individualismo do sujeito e
que se revela na criao artstica, ora, um caminho que leva sabedoria. O gnio
no s se distingue pela sua genialidade tcnica e originalidade, mas pela
inteleco de seu pensamento. A exemplo de Plato, Shaftesbury acreditava que
o artista deveria ser um entusiasta, e tanto o escritor quanto o artista deveriam se
questionar para poder se fazer expressar, descobrir o ser humano em sua
totalidade, sua imensido e riqueza de sentimentos que se extravasam ao
comunicar. Tal a moralidade que carrega esse ser singular em seu ofcio.
Shaftesbury, por isso, responde a questes muito adiantadas dentro do universo
esttico (questes essas que estaro em evidncia na teoria sartriana sobre a
literatura), elevando o gnio ao status daquele que tem a partir de si o poder de
mobilizar o mundo. O contemplador da obra de arte, por sua vez, pode elevar seu
esprito idia do bem, pois a percepo de belas formas sensveis eleva o
esprito progressivamente s formas inteligveis e influi no comportamento
humano, por conseguinte, tem efeito sobre a sociedade. Com isso, Shaftesbury
quer dizer que o belo sensvel o reflexo do belo moral, o que pode remeter a
uma possvel verdade intelectual. Eis aqui um ponto de notvel influncia exercida
questo kantiana do belo representado como smbolo da moral.
Deixando agora Shaftesbury, e ainda nos reportando ao sculo XVIII,
conferimos que a arte nessa poca recebe uma conotao terica e exerce, em
paralelo, uma efetiva participao crtica filosfica que ser responsvel pela
criao de novas concepes do belo e por um novo campo da filosofia: a
Esttica. Esta disciplina foi primeiramente estudada por Baumgarten (1714-1762),
tendo em sua gama terica um amplo desenvolvimento nas filosofias de Kant e
Hegel. Vrias cincias, antes disso, se vinculavam e norteavam a problemtica
conceptual da esttica e do gosto. Suas teorias correspondiam a uma prxis e,
portanto, pretendiam estabelecer normas e diretrizes para a produo artstica,
idealizando formas e definindo cnones para a arte em geral.
Em Baumgarten, embora fique claro a distino entre o inteligvel e o
sensvel, parece no haver uma separao perene entre arte e moral. Tanto que,
baseando-se em Horcio, a certa altura afirma: Mas a verdade esttica busca to
somente aquela possibilidade moral que se apresente ao anlogon da razo sob
5
a apreciao dos sentidos. Esta a VERDADE MORAL, como ensina Horcio,
(...).
7
(grifo meu)
A Esttica de Baumgarten est fundamentada na mimesis. Por mais que
haja inveno (o que considera invenes utpicas) somada ao talento do artista,
a arte, bem como a poesia, produzida se baseando em idias de reprodues
pr-concebidas pela imaginao. Aos olhos de Baumgarten, o objetivo da
esttica, como nova cincia, visava perfeio do conhecimento sensitivo; que,
em alguns momentos, ser entendido como conhecimento intuitivo.
O historiador de arte Giulio Carlo Argan, em leitura de Baumgarten,
delimita o terreno da esttica inserindo-a entre a moral e a lgica:
(...) uma filosofia da arte, o estudo, sob um ponto de vista terico, de uma
atividade da mente: a esttica, de fato, se situa entre a lgica, ou filosofia do
conhecimento, e a moral, ou filosofia da ao. tambm, notoriamente, a
cincia do belo, mas o belo o resultado de uma escolha, e a escolha
um ato crtico ou racional, cujo ponto de chegada o conceito.
8
(grifos
meus)
Embora Argan no desenvolva sua argumentao com esmero nesta
descrio, e seja assertivo em suas palavras, isto no quer dizer que essa sua
afirmao concorde com a de outros tericos, principalmente no que se refere
obteno de um conceito atravs do belo ou em situar a esttica entre a lgica e a
moral. fato que a esttica do sculo XVIII teve um encontro com a lgica. A
busca de um conhecimento puro se encontrava com a intuio artstica para
utilizar seus critrios a fim de se compreender a natureza do belo. No obstante
esse casamento entre sentimento e lgica, iniciado por Baumgarten, trouxesse
uma melhor anlise e sutileza no carter evolutivo do belo, a arte conduzida a
uma rigidez racional e submetida a um estudo criterioso, a fim de que se
comprove sua autenticidade. Todavia, de um lado, a arte poderia estar perdendo
a sua representatividade de prazer ou desprazer que desperta no homem o
contedo emotivo. De outro lado, a arte ganhava uma conotao superior por
envolver todo um estudo acerca de seus estatutos. Essa conduta investigativa
recebeu uma forte influncia de Descartes, pela forma estrutural de sua filosofia.
7
BAUMGARTEN, A. G. Esttica a lgica da arte e do poema, Vozes, Petrpolis, 1993, p. 126
435;
8
ARGAN, J. C. Arte Moderna, cap. 1 Clssico e Romntico, 1988, p. 21 e 22.
6
Seu legado influenciou ativamente o pensamento literrio do Esclarecimento, que
fez surgir uma literatura de sentimento. O homem que apelava razo agia
racionalmente, e o homem da emoo agia conforme seu desejo e necessidade
espiritual e material. neste ltimo, mais que no homem da razo, que haver a
prefigurao do movimento romntico, conforme a anlise de Hauser.
9
Considerando que existem leis universais para a natureza, uma das
questes centrais da Esttica era definir as leis universais e axiomas que regem a
arte partindo do pressuposto que o belo tem a capacidade imediata de atribuir
valor universal. Essa universalidade encontrada na peculiaridade de uma nica
obra de arte, na qual o juzo reconhece as particularidades que a fazem
incomparvel. Mesmo havendo uma separao evidente entre gosto, moralidade
e cognio, Kant reconhece a importncia filosfica do gosto. Para ele, o gosto
subjetivo, portanto, no seria admissvel o uso de um nico critrio para o
julgamento de uma obra de arte, sendo que tanto o artista quanto o pblico
atribuem valor obra consoante suas experincias e particularidades. Neste
aspecto, seria embaraoso conceber uma universalidade para o juzo; do mesmo
modo, tornar-se-ia irrealizvel prosseguir no estudo sem recorrer aos
procedimentos lgicos e cientficos. Kant pretender ento esclarecer um juzo
esttico que possa ser compartilhado por todos.
Mas como entender, frente subjetividade, a esttica a ponto de se
atribuir a ela um juzo que possa ser compartilhado por todos? Primeiramente,
devemos considerar que a experincia esttica provm da idia de beleza que ,
tambm, uma idia universal da razo, ou seja, mesmo o gosto variando em cada
sujeito, o sentimento do belo universal. Para o terico Hans Robert Jauss, que
mais adiante nos auxiliar na compreenso terica de Sartre, a esttica, em seu
sentido tradicional, pode ser interpretada atravs de trs conceitos que a definem
plenamente e descrevem historicamente o prazer esttico, so eles: a poiesis, a
aesthesis e a catharsis. A poiesis, no sentido peripattico, pode ser entendida
como um processo fundamental da experincia esttica produtiva, ou seja, a qual
admite que o homem satisfaz sua necessidade de ser-estar no mundo atravs da
produo artstica. A aesthesis, por sua vez, baseando-se no em Aristteles,
9
HAUSER, Arnold; Histria social da literatura e da arte tomo II, Editora Mestre Jou, So Paulo,
1972, p. 520-530.
7
mas em Baumgarten, corresponde experincia de prazer obtida atravs da
percepo sensitiva e do sentimento, sem haver interesse emprico. E, por ltimo,
a catharsis, que denomina o prazer produzido por estimulao oratria ou potica
a qual pode transformar sentimentos e libertar a mente daquele que observa a
obra: o espectador.
10
O que est implcito aqui a interao do modo de
produo, a receptividade e a comunicao (possvel) da obra, e aqui que
encontramos uma proximidade investigao de Sartre, e at mesmo em relao
a Kant. Pois se entendermos que possvel haver uma relao comunicativa na
arte, no que isso seja um apelo necessrio por parte do criador, isso implicaria
reconhecermos a existncia de uma relao tica na experincia esttica.
Destarte, para entendermos o porqu ento da separao entre a tica e a
Esttica, vejamos o que isso pode significar ao analisarmos as relaes entre um
filsofo moderno (Kant) e um contemporneo (Sartre).
Propor, porm, uma pesquisa relacionando dois filsofos de pocas
distintas exige certa cautela, ainda mais ao analisar uma temtica controversa em
sua construo histrica (no caso: idealismo versus fenomenologia, no obstante
esta ltima trazer ecos da filosofia transcendental).
De outro vis, visto que mudanas considerveis na arte e na filosofia,
desde a poca moderna at a contempornea, so notrias, um exame
comparativo entre dois importantes filsofos que marcaram rupturas radicais na
histria da filosofia poderia melhor esclarecer em que medida as disparidades de
conceitos tericos tiveram sentido na prtica, visto que ao tratarem desse dilogo
antigo, conforme apreciamos em Shaftesbury, qual seja tico-esttica, ambos j
possuam complexos e extensos escritos tericos, mesmo em outras esferas, que
edificavam e sustentavam suas teses. Alm disso, analisaremos, tambm, as
diferentes condies e situaes de pocas divergentes entre os autores, a fim de
realizar consideraes pertinentes, sem o intuito de favorecer um ou outro, mas
criteriosamente entend-los em seus contextos e, principalmente, em suas
abordagens em torno das artes.
10
Para Jauss, no h hierarquia entre essas categorias e a experincia esttica no pode ser
reduzida a uma nica delas. (JAUSS, H. R.; Aesthetic experience and literary hermeneutics
theory and history of literature, volume 3, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, p.
35).
8
No esperamos com esse estudo apenas entender a questo da distncia
e limites entre tica e esttica, mas interpretar melhor a arte e a literatura em todo
seu contexto objetivo e subjetivo, e observar a concepo fundamental da esttica
moderna (que em Kant estava ganhando mudanas que marcariam todo o
percorrer da disciplina) em relao concepo fenomenolgica de Sartre, que,
por sua vez, teve papel singular tanto na filosofia contempornea quanto na
literatura, e que exerceu papel considervel no pensamento poltico-social. Ora,
antes de estreitarmos a pesquisa, consideremos a princpio alguns embates que
sero aqui elucidados: se, para Kant, a finalidade sem fim pe fim finalidade
objetiva da representao de perfeio platnica, pois no h mais um
conhecimento ligado finalidade objetiva que suscite o prazer, para Sartre, por
sua vez, o espectador (ou o leitor) afasta a possibilidade da finalidade sem fim por
ser ele mesmo um fim ainda a criar, retirando o domnio que o autor tem antes,
por essencialidade, sobre a obra. Sartre, contrariamente tradio convencional
das teorias estticas ou artsticas em geral, no coloca a literatura no mesmo
plano da arte, ou seja, a literatura no , para ele, uma linguagem da arte, pois
ela se ocupa de signos que representam o mundo concreto atravs de
significados, e a arte, com todas as suas possibilidades, pode ser puramente
informal ou meramente abstrata, o que equivale dizer: no-significante.
11
A
literatura, ao contrrio da filosofia, no se utiliza de conceitos, portanto, pode
descrever o homem como sujeito universal concreto. Se, por outro lado,
observarmos que nas vrias linguagens artsticas ocorre correspondncia entre
as intersubjetividades artistas x espectadores, escritor x leitor perguntamos se
existe tambm a correspondncia entre tica e esttica. Com efeito, como
descartar ento a possibilidade tica quando analisamos a relao existente entre
autor, obra e pblico? E, alm disso, se h mesmo para ambos uma separao
entre tica e esttica, por que para Sartre a esttica est sobre um pano de fundo
da tica, ao passo que para Kant, no final da primeira parte da Crtica da
Faculdade do Juzo, este eleva a arte como smbolo da moralidade, remetendo a
esttica ao campo da tica? Ser no desenvolver do estudo, considerando que
11
Um objeto significante quando visa, atravs dele, um outro objeto, e neste caso o esprito
no presta ateno no prprio signo: ele o ultrapassa em direo coisa significada (Lartiste
e sa conscience, em Situaes IV, p. 30 traduo Thana Mara Sartre e a Literatura Engajada,
p. 25.).
9
no pode haver arte e literatura sem haver liberdade das partes, que
observaremos a Esttica, em vrios momentos, conversando com a tica. esse
paradoxo que, em meio aos estudos de ambos e mais aqueles que auxiliem essa
investigao, pretendemos analisar, desde o processo de criao at a
intersubjetividade envolvida na arte e na literatura.
Ao longo de todo o texto predominaro as obras cujas abordagens tratam
com mais afinco a proposta desta pesquisa, quais sejam: Crtica do Juzo, de
Kant, e Que a Literatura?, de Sartre. O conjunto das demais obras ser
frequentemente mencionado e trazido reflexo ao longo do texto.
10
I. Literatura e engajamento em Sartre, a esttica sob um plano tico
Ao estudarmos Sartre, devemos considerar uma poca hostil para as
suas reflexes que, alm de influenciar seus primeiros estudos, ir decretar uma
segunda fase a este filsofo.
12
Prisioneiro da Alemanha na Segunda Guerra
Mundial, Sartre inicia sua corrida esquerdista ao lado de companheiros
existencialistas. A exemplo de Heidegger, Sartre enxerga a misria da
humanidade. O homem em desencanto vivendo num mundo absurdo e
incompreensvel, com suas leis morais obsoletas e no fazendo bom uso da
razo, no sabe utilizar da prpria ao para que possa adaptar-se existncia.
Com efeito, em suas obras de fico, teatro e ensaios - formas prticas de
manifestar seu extenso contedo terico - Sartre insere personagens com
comportamentos que revelam inquietude, pouco comuns e com certa antipatia
queles dotados de conduta tradicional. Essa ausncia de otimismo pode ter
ocorrido por influncia de sua infncia conturbada, descrita em Les Mots, mas a
conjuntura de sua poca foi fator determinante para o desenvolvimento de seu
pensamento.
13
Embora utilizasse as linguagens da literatura e dramaturgia para
criar e refletir acerca desse universo perturbador que o rodeava, reivindica
literatura o engajamento, rompendo com a tradio terica de ordem esttica e
trazendo uma nova perspectiva na difcil aceitao da confluncia entre tica e
esttica. Ora, para entendermos o porqu do vnculo entre engajamento e
literatura, preciso entendermos um pouco da questo tica ento relacionada.
Para Sartre, o sujeito e se constitui de ao. Ao agir constitui a
qualidade do agir. O ato de escrever, aqui reputado como ao, uma estrutura
da conscincia, s que o ato da escrita, no consciente dele mesmo, pois
assume a conscincia ativa das palavras enquanto elas surgem atravs da
pena.
14
Como ato criativo, escrever e ler tem propriedade de atuao. E nesse
sentido, a conscincia reage na integridade da ao:
12
Assim como Kant que escrevia numa Europa fervorosa em poca de revoluo.
13
THODY, P. Sartre, uma introduo biogrfica, edies Bloch, Rio de Janeiro, 1974, p. 20.
14
SARTRE, J.P. Esboo para uma teoria das emoes, L&PM, Porto Alegre, 2006, p. 59.
11
(...) a ao como conscincia espontnea irrefletida constitui uma certa
camada existencial no mundo, e que no h necessidade de ser consciente
de si como agente para agir. (...) uma conduta irrefletida no uma conduta
inconsciente, ela consciente dela mesma no-teticamente, e sua maneira
de ser teticamente consciente dela mesma transcender-se e perceber-se
no mundo como uma qualidade de coisas.
15
(SARTRE, 2006, p. 59)
Mas teria a arte, enquanto ato criativo, algum papel no exerccio
existencial? Teria o escritor, em seu exerccio intelectual, algum reflexo
emancipvel do homem? Se nos basearmos em investigaes histricas, como
veremos mais adiante, observaremos o carter libertrio da literatura. Do clrigo
nobreza, da nobreza burguesia e desta para o povo. Os intelectuais do
Esclarecimento foram, para Sartre, os antecessores dos intelectuais
contemporneos, pois so notrias as suas condutas prescritas por um imperativo
tico. Todavia, o intelectual do Esclarecimento, ao passar corrente burguesa, se
transforma em especialista (cientista). O saber filosfico contribui para o
progresso e forma a classe burguesa juntamente com a formao do intelectual
especializado. O cientista se v herdeiro da reivindicao intelectual; herdeiro da
universalidade do saber formado pelo pensamento burgus. O especialista um
tcnico do saber prtico
16
em via de ser um intelectual quando percebe a
composio de classes e suas inseres sociais (classe dominante versus classe
dominada). Entretanto, o prprio intelectual foi recrutado por esse sistema. Um
farmacutico, por exemplo, enquanto cumpre seu trabalho, pode considerar que
suas pesquisas favorecem exclusivamente humanidade e o universo da cincia
farmacutica, porm, indiretamente est colaborando com alguma universalidade
formal que acaba por se resumir s marcas ou patentes. H ento um valor
particular inserido no seu saber que roubado por este sistema. Quando, pois, o
tcnico do saber prtico avana o seu saber para especular o sistema particular,
ele est se enveredando para um lugar em que no desejado. Mas isto
caracteriza, na viso de Sartre, a passagem de tcnico do saber prtico para o
intelectual, este um ser que viola as regras da classe que o controla; adquire um
mandato crtico no outorgado pela classe dominante e nem pela classe
dominada. Ao tcnico do saber prtico no restam vnculos orgnicos com ambas
as classes, pois este se emancipa da opinio comum. Essa desvinculao com
15
Idem, p. 62.
16
Termo cunhado por Sartre em Em defesa dos intelectuais. So Paulo: tica, 1994.
12
qualquer segmento lhe gerar uma noo de universalidade real. Doravante, ser
um indivduo real que se encontra em sua singularidade (unidade dentro da
totalidade por exemplo: Pedro (um) msico (alguns) que mortal (todos)).
Este ser singular tem a condio de construir a sua tarefa, algo a fazer e
comprometer-se com esta possibilidade, enfim, engajar-se. Um ser absoluto com
liberdade absoluta e radical. A partir da obtm a viso dialtica de se inserir na
histria, ou seja, na totalidade, ora adquire um dever de razo que esforar-se
para apreender o universal concreto que ainda no existe. O imperativo tico a
possibilidade dessa construo de universalidade real. Porm, um intelectual que
abandona o singular e defende a universalidade de classe, por engajar-se em
trabalhos especficos de classes, um falso intelectual ou um intelectual
orgnico (a servio do Estado, Igreja, partido, etc.).
Sendo assim, o intelectual corre risco em ambas as classes. De um lado,
um traidor crtico, taxado de pequeno-burgus, do outro, na classe proletria,
um traidor em potencial. atravs do exerccio da liberdade que o intelectual opta
pela universalidade concreta ou abstrata. Sua liberdade indesejada entre as
classes. O intelectual vive ento em constante tenso. Mas para ele, preciso
decifrar a ideologia e defender sua liberdade que inerente ao ser. A
subjetividade tem que furar o sistema e ir contra a tenso objetiva da histria. Eis
que ento, para Sartre, surge a arte como nica razo de ser. atravs dela que
nos opomos incompletude da existncia e inquietude da vida. Embora Sartre
reivindique o engajamento s artes, na literatura que ir constatar seu potencial
constituinte e revelador de valores. E pela passagem ao mundo que a
literatura se distingue das outras artes, pois ela, atravs da prosa, compromete o
escritor com aquilo que est decidido a escrever. E pelo carter singular do signo
designar algo que faz da prosa, para alm de seus efeitos estticos, uma
comunicao, pois a fala tem sempre um destinatrio: o outro. Por ser uma fala
ou expresso, quase que um dilogo, a literatura tem esse efeito de passagem
ao mundo mais evidente que as outras artes. Por isso, Sartre ir formular trs
perguntas, ainda no incio do Que a literatura?, direcionadas ao escritor. A
primeira trata-se da finalidade da ao (da escrita). Se o escritor no somente
uma testemunha do mundo, pergunta-se a ele: com que finalidade voc
13
escreve?
17
E como no se pode escrever sobre o mundo todo ao mesmo tempo,
essa ao situada, ou seja, o prosador escreve sobre um aspecto do mundo,
decidindo tratar sobre um determinado assunto e no de outro. Este envolvimento
com tal assunto, este interesse que o provoca, ir suscitar que o desvele tambm
ao pblico leitor, a fim de provocar mudanas no mundo.
18
Mais uma vez, atravs
do leitor, a literatura no s estimula uma ao, mas ela ao. Da Sartre
formula a segunda e a terceira perguntas: que aspectos do mundo voc quer
desvelar, que mudanas quer trazer ao mundo por esse desvelamento? e por
que falou disso e no daquilo?
19
Ora, optar por um determinado aspecto do
mundo se calar diante de outros. Porm, Sartre considera o silncio ainda como
um momento da linguagem. Essa recusa de qualquer outro assunto ainda
falar.
20
Com efeito, podemos observar que a escolha do que ir se falar exige
que uma situao anteceda o escritor como ser-no-mundo. Essa situao lhe
prope a essncia do contedo de sua criao. O mundo j lhe dado e est a
necessariamente e essencialmente. Por isso, o escritor toma a mundaneidade
como parte constitutiva de sua obra, ele tem por ato o efeito de designar o mundo,
mas um mundo comum a todos, o mesmo mundo que diz respeito condio de
ser. Entenda-se por designar no uma representao ou imitao, mas quase
que uma descrio desveladora, todavia ficcional. No jogo entre o real e o irreal,
o percebido e o imaginrio, a obra tem que ser inventada para ser imaginada.
Ora, nada mais coerente que a sujeio mundaneidade de sua poca, pois
em seu tempo que a experincia est presente e ele o constituinte de seus
valores. Sua poca a condio de sua existncia e que se pode exercer sua
liberdade para se fazer presente. Seria como que uma ingratido com a histria,
que lhe trouxe ali, no comprometer-se com o seu tempo. Isso para Sartre o
engajamento, uma conscincia refletida sobre a situao que ir estender-se em
uma vontade e uma deciso. Consequentemente, o escritor reflete sua posio no
mundo na medida em que desvela ao pblico leitor o prprio mundo. Para Sartre,
o engajamento no uma proposta, mas um efeito lgico derivado do prprio
17
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 19.
18
Notemos aqui a semelhana com a reivindicao e o propsito de Shaftesbury ao escritor.
19
Idem, p. 20. (substituio das palavras desvendar/desvendamento por desvelar /
desvelamento; modificao da traduo sugerida por Luiz Damon S. Moutinho)
20
Idem, p. 22.
14
eidos da literatura, ou seja, ou a obra engajada, ou a mesma no faz sentido,
pois a palavra por si s ao. Mas entendamos melhor a diviso entre arte e
literatura, proposta por Sartre, a fim de que possamos esclarecer qual implicncia
tica isso traz literatura, desde a produo ao ato contemplativo.
Na medida em que, para Sartre, h uma diviso entre metafsica e
ontologia, de igual modo ele separa a filosofia da literatura, pois esta trata do
singular e aquela trata do universal. O singular sempre a manifestao do
universal. Se a filosofia elucida a experincia concreta com conceitos universais
em que o sujeito situado no mundo, a literatura a singularidade exigida por tal
situao concreta do universal. Uma histria narrada, por exemplo, pode
representar um mundo que faz sentido filosofia. E enquanto a filosofia se ocupa
de conceitos, a literatura se ocupa de criao. Uma obra filosfica se contesta
atravs de conceitos ou lgica. J uma obra literria no se contesta, pois cria-se
em cima dela na medida em que se interpreta o que se l. Para Sartre h uma
diferena de essncia entre a literatura e as outras linguagens artsticas, estas por
lidarem diretamente com as coisas e aquela, atravs dos signos, por nos reportar
em direo s coisas; exatamente da que ir partir a fundamentao de sua
teoria sobre literatura e engajamento. Sartre, sendo um filsofo que refletiu mais a
tica esttica, ir valorizar singularmente a literatura, priorizando-a em relao
s artes, por exigir dela o engajamento. Por isso correto afirmar que, em Sartre,
a literatura no deve partir da tica, mas chegar a ela.
Mais uma vez em Que a Literatura?, Sartre primeiramente apresenta a
essncia (idos) da literatura perguntando: Que Escrever?. Para uma discusso
bem elaborada sobre literatura, preciso reconhecer os recursos que a
constituem e que a fundamentam. Sartre parte do universal (o que escrever?
primeiro captulo) e vai para o singular (situao do escritor em 1947 quarto e
ltimo captulo). E na medida em que discorre sobre o que escrever, demonstra
a distino entre a literatura e as outras linguagens da arte, destacando naquela a
relao que se tem enquanto signo e significado.
Primeiramente, Sartre parte do princpio de que a linguagem situa o
homem, pois ele as manipula a partir de dentro, sente-as como sente seu corpo,
est rodeado por um corpo verbal do qual mal tem conscincia e que estende sua
15
ao sobre o mundo.
21
Neste sentido, o homem no se utiliza das palavras para
falar, mas fala por meio delas e est dentro delas. Sartre compara a linguagem e
as palavras com o corpo. Temos conscincia no-ttica do corpo e dos signos
enquanto vivemos - o signo estrutura essencial do corpo. E tanto verdade
que temos a conscincia do signo que de outro modo no poderamos
compreender a significao.
22
Na prosa, a palavra arranca o prosador de si mesmo, lanando-o no
mundo atravs de signos e significados. O significado transcendente ao signo,
pois as palavras so como vestes empricas das idias e pensamentos. Vale
frisar que para Sartre as palavras no so objetos ou utenslios funcionais para a
linguagem, mas elas designam os objetos e o mundo imediatamente, e,
consequentemente, alteram o mundo nomeando o que h nele. Por isso, falar e
escrever significa agir. Alm disso, conforme observa Franklin Leopoldo e Silva, a
palavra traz a carga subjetiva da produo de um significado absolutamente
direto.
23
Com efeito, no conjunto desses signos - o contexto - sentimentos
intersubjetivos so compartilhados entre o autor e o leitor, o que significa dizer
que h uma relao entre produtor e receptor. As palavras agrupadas numa
ordem consensual elaborada pelo escritor podem portar sentimentos de dio,
amor, desgosto, felicidade, que a partir da apreenso do leitor estabelece-se uma
comunicao expressiva de afetividade e emoes, sejam elas boas ou ruins. Por
isso a prosa sempre transitiva. A partir do momento que esses signos so
apreendidos por leitores, o uso que se tem deles pode tomar mltiplos rumos, a
ponto de o autor no mais reconhecer suas palavras, ou sua criao ou mesmo
seu pensamento, no meio social que fora expandido. Ora, sabendo que as
palavras partem da reflexo, tanto do autor como do leitor, legtimo afirmar que
elas, as palavras, constituem a realidade, ou melhor, enquanto representam as
coisas elas significam ao, ou melhor, elas so aes.
Atravs do exerccio mtuo de produo e receptividade na produo
reflexiva de significaes, a necessria liberdade intersubjetiva estabelece um
encontro profcuo com o imaginrio. Porm, a transitividade literria depende da
21
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 14.
22
SARTRE, J. P. El ser y la nada; Ed. Losada, Buenos Aires, 1966, p. 417 (T.A.).
23
SILVA, F.L. Literatura e experincia histrica em Sartre: o engajamento, in Revista Dois Pontos,
vol. 3, nmero 2 Sartre, outubro de 2006, p. 70.
16
reciprocidade das liberdades. Mas o que dizer da arte e suas diversas
linguagens? Para Sartre, as artes no so paralelas, pois existem, em cada uma,
metodologias e condies fenomenolgicas distintas. As cores e os sons j so
por eles mesmos abstraes, so coisas em si. Os signos no se convertem em
coisas; as palavras, por exemplo, antes de serem elas belas ou no, devem ser
verdadeiras ou no. A palavra, conforme ela define, um signo que se atribui a
algo distinto dela e signo distinto de significao; as palavras, neste sentido,
exercem influncia na concepo do real, pois nenhuma coisa permanece a
mesma depois de nomeada. Se, por outro lado, compararmos a literatura com as
linguagens da arte, perceberemos a no existncia desse imediato transluzir entre
signo e significado. Com a cor, por exemplo, ocorre o contrrio, ela no significa
algo, pois j o objeto, assim como o som tambm a prpria coisa em si. As
cores melanclicas de um rosto numa tela de Rembrandt ou o cu amarelo
angustiante de Tintoretto, tanto um como outro podem expressar tais sentimentos,
porm, estes no limitam a coisidade de um rosto ou do cu, pois ultrapassam
tais significados e escapam a uma total decifrao. Do mesmo modo ocorre com
a complexa linguagem da msica, que em melodias de vivacidade ou nostalgia
seus sons, quando em sucesso, no representam mltiplos significados, mas
nos conduzem a sentimentos inefveis. Portanto, seria um equvoco exigir do
pintor ou do msico um comprometimento, como se exige do autor. neste
sentido que correto afirmar que a pintura, a msica e a escultura so
consideradas por Sartre como artes no-significantes. A poesia, apesar de lidar
com palavras, e, por ser arte significante, na opinio de Sartre, no est para o
engajamento como est a prosa. A prosa transitiva, pois o escritor se utiliza dos
signos para se reportar a algum ou ao mundo. J a poesia intransitiva, pois o
mundo representado atravs de signos pelo poeta. Portanto, no se deve exigir
do poeta comprometimento como se exige do prosador, porque as palavras nada
mais so para ele do que coisas. Para Sartre, os poetas no querem nomear
coisa alguma, recusam o perptuo sacrifcio do nome ao objeto nomeado.
24
Por
isso a poesia tem por atratividade o seu desapego com a essncia da palavra, o
seu jogo com as palavras que atrai, a coisidade das palavras o essencial ao
poeta que as domina com livre espontaneidade no ato da criao. Ele as utiliza,
24
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 13.
17
at mesmo, como imagem, brincando com suas disposies no papel, e tem total
liberdade de faz-lo, pois o poeta cria uma nova natureza para a linguagem. Na
poesia o significado tornado coisa, e ele naturalizado como so as palavras,
pois brotam naturalmente no mundo, que, por sua vez, representado pela
linguagem.
A literatura (ou prosa) difere da poesia, porque a linguagem, enquanto
prosa, deve se situar reciprocamente no mundo entre o autor e o leitor, do
contrrio, seria poesia, e seria o que Sartre chamaria de momento de respirao
do autor: o poeta, que por ordem dessa especfica linguagem volta-se a si
mesmo, representando-se numa solido narcisista, realiza um movimento de
expanso e contrao, uma dilatao e retrao da expresso.
25
Ora, a poesia
vem trabalhar com o ritmo, a sonoridade e o aspecto visual dos seus versos sobre
o papel. Portanto, a poesia representa um significado, mas no o expressa como
faz a prosa, pois est mais preocupada com a tnica da palavra ao teor da frase.
Ao ler um livro, no percebo seu contedo literrio atravs dos signos,
pois avano at outro real, como que para outra dimenso, deixando de perceber
as coisas. Dependo dos signos mas no os percebo durante o ato da leitura. Por
meio das palavras vai-se direto s coisas, pois se referem diretamente ao objeto
nomeado. Destarte, na prosa as palavras so, por essncia, utilitrias, pois o
prosador se serve das palavras para se expressar e narrar. por essa razo que
o prosador deve ter responsabilidade ao utiliz-las, pois lidando com palavras, lida
com o mundo. E como o escritor dotado de liberdade e autonomia para criar, o
valor de sua obra a responsabilidade total que ela implica. Essa
responsabilidade de escrever engajadamente pode ser, s vezes, a de se
submeter a riscos srios ou simplesmente a de ferir sua reputao, como
mencionou Camus, j alertando os fatos de sua poca: Criar, hoje em dia, criar
perigosamente. Toda publicao um ato, e esse ato expe s paixes de um
sculo que no perdoa nada.
26
Assim, considerando a prosa como um aglomerado de signos que nos
leva direto s coisas, Sartre entende que a obra literria no arte, mas
25
SARTRE, J.P. Situations, IX, Gallimard, Frana, 1972, p. 61.
26
Discurso pronunciado por Camus no ato do recebimento de seu prmio Nobel, em 1957.
(CAMUS, Albert, 1965. Discours de Sude. In: Essais. Paris Gallimard. apud: DENIS, B.
Literatura e engajamento, de Pascal a Sartre, Edusc, Bauru, 2002, p. 48).
18
contempla uma dimenso esttica, pois alm de elevar-se ao plano imaginrio,
l que est a beleza. no imaginrio que o leitor conduzido ao prazer, no s
pelo que se l, mas pelo texto bem escrito e seu estilo. Porm, o prazer esttico
na leitura s existe por acrscimo ao texto. E por esta razo que o estilo
literrio, no obstante d valor prosa, no deva vir antes que o tema ou
contedo a ser produzido, ele deve acontecer sem que no ato da leitura o leitor o
perceba. Sartre elucida que na literatura o prazer esttico s puro quando vem
por acrscimo.
27
Do contrrio, no seria exagero julgar o texto pela sua retrica.
Embora Sartre rejeite a subsuno da literatura entidade chamada Arte,
como se fosse uma nica substncia que contempla mltiplas linguagens, a
irrealizao fator peremptrio para a contemplao esttica de quaisquer
linguagens, sobretudo, a literatura. Na dramaturgia, Sartre toma como exemplo o
personagem Hamlet, de Shakespeare: o choro do ator representando Hamlet
um analogon de lgrimas irrealizantes. O ator deve se irrealizar inteiramente para
transfigurar a qualidade totalizante do personagem. J o dramaturgo, por sua vez,
apresenta ao homem o eidos de sua existncia cotidiana: sua prpria vida, de
uma forma que enxerga como quem estivesse de fora.
28
Quanto ao pblico, para
se chegar obra em si, atingir seu estado contemplativo, deve-se antes passar
pelo ator e pelo cenrio, como que se fundisse a eles na totalidade da pea.
Neste caso, resta claro que a dramaturgia depende desses recursos
determinantes para a apreciao do todo, assim como a pintura depende da tela e
das tintas, e uma pera musical, se no for exagero aqui exemplificar, depende
de muito mais para se concretizar enquanto objeto esttico.
A msica uma linguagem diferente, conforme Franklin Leopoldo e Silva
comenta,
29
ela por si prpria; independente do modo que se escuta, ela no
existe em lugar algum, mas ela . A Stima Sinfonia de Beethoven, por exemplo,
para se fazer presente, depende de msicos, instrumentos, sala de concertos,
mas ao ser tocada, ela transporta a nossa conscincia imaginante fora do mundo.
27
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 22.
28
Da Sartre faz um elogio genialidade de Brecht, confiando sua admirao pela pea Me
Coragem que relata o cotidiano dramtico de pessoas no burguesas, podendo facilmente
erigir o drama ao mito. SARTRE. J.P., Itinerrio de um pensamento (entrevista concedida
New Left Review 58, novembro-dezembro de 1969) in Vozes do Sculo Entrevistas da New
Left Review, da organizao de Emir Sader, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1997, p. 221.
29
LEOPOLDO E SILVA, F. tica e literatura em Sartre Ensaios introdutrios; Ed. UNESP, SP,
2003, p. 101-102.
19
Consequentemente, nada mais na mundaneidade ser relevante, somente a
msica em si, no contingente, o que importa. A msica possui seu prprio
tempo, pois atemporal no real. Ela a prpria coisa, mas que depende do real
(maestro, msicos, instrumentos, etc.) para se fazer aparecer. Para que eu a
escute necessrio haver a reduo imaginante: apreender precisamente os
sons reais como anloga.
30
Escutar ouvir no imaginrio. Com efeito, quando
escuto uma msica que eleva meu esprito e meu nimo, ou quando aprecio uma
pea de teatro, desperto em mim o sentimento de prazer, que um estado
subjetivo permanente no tempo, ocorrendo um rompimento com a causalidade
sem um fim definido. Como para Kant, o prazer tem causalidade em si para
conservar o estado da representao e o exerccio dos poderes do conhecimento.
O belo, para o mesmo filsofo, faz com que o contemplemos lentamente porque,
enquanto isso, fortalece e reproduz a si mesmo; diante disso, sofremos certa
passividade durante o estado contemplativo.
31
Por esta razo, ao abandonar o
imaginrio retrocedendo ao real, um mal-estar ir ocorrer. O abandono do
momento da contemplao esttica (fim de uma pea, filme, livro, msica, etc.)
nos devolve conscincia realizante que, frequentemente, pode no ser
agradvel viv-la, pois, conquanto a obra de arte nos provoque inspiraes
diversas, o sentimento de prazer, quando interrompido, nos pe de volta a uma
realidade limitada e condicionante: o contingente. Porm, nessa passagem que
a literatura nos situa. Algo parecido ocorre com o personagem Roquentin, em A
Nusea, romance de Sartre escrito em 1938, ora, antes de O Ser e o Nada, que
de maneira figurativa adiantava traos de sua ontologia fenomenolgica. Vale,
ento, para efeito ilustrativo, percorrermos com brevidade esta obra.
Quando Roquentin, tomado pelo pecado da existncia, escuta pela
primeira vez a msica que, mais tarde, se tornar a sua preferida: Some of These
Days, na voz daquela cantora, encontra a fuga de suas angstias perante a
existncia, ela, ou a msica em sua totalidade, que o liberta da nusea, de seu
mundo contingente, porque enquanto a ouve habita outro universo: o irreal.
32
ento que Roquentin declara:
30
SARTRE, J. P. O imaginrio, psicologia fenomenolgica da imaginao; Ed. tica, p. 251.
31
KANT, I. Analtica do Belo, in Os Pensadores Kant (II), Abril Cutural, p. 223-224.
32
SARTRE, J.P. La nusea, Editorial Losada, Buenos Aires, 1947. p. 35.
20
O que acaba de suceder que a Nusea desapareceu. Quando a voz se
elevou no silncio, senti que me corpo se enrijecia; e a Nusea se dissipou.
(...) Ao mesmo tempo a durao da msica se dilatava, inchava-se como
uma bomba. Enchia a sala com sua aparncia metlica, achatando contra
as paredes nosso tempo miservel. (...) Meu copo de cerveja tornou-se
pequeno, achata-se sobre a mesa; parece denso, indispensvel.
(SARTRE,
La nusea, 1947. p. 35, T.A.)
Roquentin ao se mover para agarrar o copo percebe que seu movimento
acompanhava a melodia da cantora, o que lhe pareceu estar em plena dana.
Olhando Adolphe, aquele que o acompanhava num jogo de cartas, aperta os
dedos contra o vidro do copo e, neste instante, tinha claro que necessitava de
uma concluso. Ento confessa: sou feliz. Roquentin segue ao longo do
romance refletindo e indagando sobre a dor da existncia e a imprevisibilidade da
vida. E ao final da histria, de volta quele caf, Madeleine, a anfitri, prestes a
jogar o disco fora, por estar muito velho, pergunta a Roquentin se gostaria de
escut-lo novamente. Ele, ao escutar aquela voz rouca dizendo Some of these
days..., pede que a toque mais uma vez, e reconhece que a msica tambm
estava num plano irreal, assim como ele enquanto a escutava. Apesar de estar
gravada num velho long-play, e depender daquele toca-discos para ser escutada,
no estava ali quem a cantava. Essa cantora negra, alm disso, que lhe era
imaginria, poderia ter morrido, assim como todos os msicos de jazz que a
acompanhavam. Mas a msica estava ali. E independente de ser tocada, sua
melodia Some of these days / Youll miss me honey estava cravada como um
fantasma em sua mente. A msica inexistia, mas ao mesmo tempo ela era, lhe
agradava e tambm lhe incomodava, porque ela estava ali e em outro lugar
inabitvel, do outro lado da existncia, naquele outro mundo que se pode ver de
longe, mas sem nunca alcan-lo (...).
33
. Espantou-se com a atemporalidade da
msica, pois quebra-se o disco, morrem os msicos, envelhecem os
instrumentos, e por detrs do existente que cai de um presente a outro, sem
passado, sem futuro
34
, todos os outros sons se decompem e se destinam
morte, mas a melodia, justamente aquela melodia, seguiria sendo a mesma,
jovem e firme. Doravante, quando ento mastigava o prazer de existir, e, agora
tomado por certa alegria, Roquentin decide ele mesmo ser um criador, mas no
33
Idem. p. 195.
34
Idem, Ibidem.
21
musical, pois desconhecia essa tcnica, decide criar atravs de seu ofcio de
escrever, j que lhe era atividade corrente. Decide escrever um livro e abrigar-se
na literatura para evitar seu mundo contingente. Porm, no escreveria um livro
biogrfico, como fizera at ali, relatando a histria de Marqus de Rollebon, pois
descobrira ser um erro justificar a existncia de outro existente atravs da histria.
Seu empreendimento deveria ser algo que estivesse por detrs das palavras
impressas, detrs das pginas, algo que no existia e que estivesse acima da
existncia.
35
E opta ento por uma aventura, bela e dura como o ao, para
intimidar as pessoas de sua existncia. Dali ento, caso fosse um escritor bem
sucedido, seria lembrado e aclamado pelo seu talento, como lhe ocorrera com a
cantora negra de Some of these days, ou mesmo como esta prpria msica. Nada
impediria que ele e seu livro existissem, mas no se preocuparia mais em existir
ou sentir a existncia. O que lhe restaria seria o irreal.
nesse sentido que Sartre reconhece o ato de escrever: ao mesmo
tempo agir, criar e irrealizar, assim como tambm o ato de ler. Quanto ao
desgosto nauseabundo pela existncia, isso uma polmica que mais tarde
Sartre tentar justificar, aps assumir outra postura no ps-guerra, a postura
engajada. Suas obras tomam outro rumo. Mas apesar disso, obras como As
Moscas, O Muro, A Prostituta Respeitosa, entre outras, contrapem as opinies
referentes questo de A Nusea, pois tratam de engajamento, liberdade e
situao, logo, do pronunciar-se e fazer-se existir. E mesmo em A Nusea a
questo da liberdade nunca deixou de estar presente; alis, como quase em
todas as obras de Sartre.
O objeto esttico, portanto, irreal. Este o objeto de apreciao.
Diferente perceber, pois quando percebo no imagino; se percebo o ator ou o
msico e no percebo a obra em sua totalidade, no realizo a reduo
imaginante. Sartre afirma que para se obter a contemplao esttica tudo deve
cair na reduo imaginria: as cores de um quadro, as notas de uma sinfonia, os
atores contracenando com cenrios, s assim a fruio esttica poder ocorrer,
assim como esse mergulho no irreal, em que se obtm o puro estado
contemplativo. Em sntese, no que diz respeito arte e literatura, tudo o que
35
Idem, p. 197.
22
real sofre uma reduo imaginante para que o irreal surja. Essa negao do real
devemos entender, consoante Sartre, como a nadificao do mundo (niilismo).
Assim, podemos afirmar que o real no jamais belo; somente irrealizando
apreendemos o belo. Ao perceber Hamlet, e no mais o ator, meu estado de
conscincia muda, ocorre uma alterao em minha intencionalidade e, com isso,
minha atitude tambm se transforma. Portanto, podemos afirmar que tanto para
Sartre quanto para Kant, acontece na apreciao esttica a depreciao pelo real,
ou seja, o desinteresse.
De volta questo literria, por se referir a alguma coisa, ou melhor, s
coisas externas, que o escritor deve ter uma finalidade em sua produo. por
isso que sua obra, como significante, deve ser engajada. Das artes no-
significantes no se pode exigir o engajamento porque os sentidos de suas
representaes esto nelas mesmas, no se referem a outro objeto.
Em O Ser e o Nada, publicado em 1943, ou seja, entre O Imaginrio e
Que a Literatura?, Sartre argumenta que O belo infesta o mundo como um
irrealizvel.
36
O que quer dizer que o belo se caracteriza por um objeto
imaginrio realizado no imaginrio de mim mesmo como totalidade em-si e para-
si, o que leva Sartre a concluir que o belo ento apreendido nas coisas como
uma ausncia, pois se desvela implicitamente atravs da imperfeio do mundo.
37
O belo seria uma realizao ideal do para-si em identidade com a unidade
absoluta do em-si. Por tais razes, Sartre assegura que por isso reivindicamos o
belo e apreendemos o universo como falta de beleza, at mesmo por nossa
finitude, cuja limitada capacidade de conscincia nos induz a tambm nos
enxergarmos como falta de beleza, malgrado essa possibilidade do belo nos seja
dada. Alm disso, a imaginao constitutiva da liberdade, pois atravs dela nos
descolamos do mundo limitado da realidade negando toda a empira da
conscincia. Sem a imaginao, at mesmo uma simples fotografia de nada
serviria. Para esta, a imaginao traz a significao transformada em contedos
sobre aquilo que na verdade no , porquanto sem a imaginao teramos
apenas tintas impressas sobre o papel fotogrfico ou, no caso da literatura,
somente signos tipogrficos. tambm atravs da imaginao que Sartre
36
SARTRE, J. P. El ser y la nada; Ed. Losada, Buenos Aires, 1966, p. 260 (T.A.).
37
Idem, p. 260.
23
assevera que o homem pode alienar-se do mundo real para imaginar uma nova
dimenso em busca de verdades, ou, simplesmente, obter novas revelaes
sobre a realidade, consequentemente, libertar-se. Citando Thody: (...) por sua
natureza, o mundo do imaginrio no impe resistncia ou consistncia.
38
Este
mesmo autor faz referncia aos comentrios do prprio Sartre em Les Mots que
ilustra o universo imaginrio. Sartre, quando menino, refugiando-se num universo
imaginrio, sendo uma criana marginalizada nos jardins de Luxemburgo, com
alguns traos de caneta sobre o papel podia matar mais de cem soldados. Ora,
nesse contexto a literatura fator essencial no processo de libertao porque lida
com significaes (linguagem) atravs da comunicao entre o escritor e o
pblico. A literatura uma relao transitiva (escritor-leitor), porquanto a prosa
por si mesma uma comunicao que se d entre dois plos em livres condies
criativas.
Se o escritor escreve para o leitor, entendemos que a escrita se completa
pela leitura, ora, uma prtica que se constitui no plano da alteridade. A leitura,
por seu turno, uma resposta a um atendimento do apelo, exercendo uma funo
comunicativa. O escritor (particular) escreve para o pblico (universal), e no
apenas para um indivduo. Logo, notamos aqui um envolvimento tico e histrico,
pois o escritor se compromete com a histria que vive e a que redige, se
compromete com a sociedade a que se dirige e com a prpria anlise que faz do
mundo. Desse modo, para Sartre, no h sentido em escrever abstratamente,
mas concretamente, ou seja, escrever para algum, a no ser que esta escrita
esteja versada para a poesia, conforme visto anteriormente.
39
A narrao exige uma situao que, por sua vez, exigir a liberdade, e
vice-versa. Ocorre percebermos que h um encontro entre duas liberdades de
forma situada, ambas produzindo. O escritor produz as significaes e o leitor as
assimila de forma recproca. Ambos tm em si a faculdade das letras, que lhes
ocorre quase sem perceber. A literatura, estando atrelada a uma comunidade
38
THODY, P. Sartre, uma introduo biogrfica, edies Bloch, Rio de Janeiro, 1974, p. 43.
39
Considerando que as palavras na poesia, conforme afirma Sartre, se transformam em coisas a
pleno servio do poeta. E, muitas vezes, a poesia to autoral que o que importa o
sentimento do prprio autor sendo extravasado, concebendo, de tal modo, um prazer particular
no ato prprio da criao. Neste caso, no importa a ele, poeta, o pblico, mas o sentimento
individual. Ademais, Sartre afirma que os poetas se recusam a utilizar a linguagem. Para ele, a
poesia no se serve de palavras; eu diria antes que ela as serve. (Que a literatura?- p. 13)
24
histrica, implica assunto. Eis ento o comprometimento da literatura ao
engajamento. Escrever com concretude histrica de sua poca ento
abandonar a literatura abstrata, assumindo uma expresso de compromisso como
se fosse um espelho crtico da sua poca, o que de modo anlogo Shaftesbury
j sustentava, conforme vimos na introduo desta pesquisa. Um espelho que
no mostra somente a imagem do que , mas tambm sugere o que no ,
colocando o indivduo em alienao e liberdade (para libertar-se). A negao,
portanto, faz-se necessria para negar a si prprio e poder situar o mundo, o
outro e a si mesmo.
Sartre atribui no s um valor social obra como tambm ideolgico, por
isso vai criticar o formalismo na prosa, pois o carter purista da obra corrompe
seu comprometimento com aquilo que se fala e, alm do mais, o excesso de
formalismo desconsidera que a linguagem e a tcnica so oriundas de cada
poca. Sartre condena o Realismo por este no admitir uma pintura imparcial da
realidade. neste vis tambm que Sartre dirige sua crtica a Flaubert, por sua
preocupao excessiva ao estilo e formalismo da escrita, e no pelo contedo ou
significado de sua obra, alm do descaso que este tinha, junto com Goncourt, de
se exprimir contra a represso dos communards.
40
O autor e o leitor devem se
comprometer com a obra e com o mundo, responsabilizando-se pelo universal.
Pois se o escritor um falador, conforme designao de Sartre
41
, deve se
preocupar antes com sua fala e depois com a esttica de sua obra. O escritor
deve antes encontrar a palavra e a ordem das palavras que melhor expressam o
significado do que ele quer exprimir, se indicam determinada coisa no mundo e se
elas conseguem dar uma dimenso imaginria que traga o bom entendimento do
leitor, dando a este a condio de tambm criar a partir da obra.
Em um artigo no assinado publicado no jornal clandestino Les Lettres
franaises, Sartre ataca severamente:
A literatura no um canto singelo que se pode acomodar a todos os
regimes, mas que levanta, por si s, a seguinte questo poltica: escrever
significa asseverar liberdade para todos os homens; se uma obra literria
no for um ato livre que exige o seu reconhecimento como tal por outras
40
JUDT, T. Passado imperfeito: um olhar crtico sobre a intelectualidade francesa no ps-guerra,
Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1992, p. 415.
41
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 18.
25
liberdades, ento, ela no passa de tagarelice infame. (SARTRE, Que a
literatura?, 2004, p. 18)
Enquanto que para Kant o belo a natureza sendo criada ou refletida,
para Sartre o belo uma liberdade apelando outra liberdade. O alvo sartriano
a produo social de significao que o pe a parte de Kant. Com efeito, Sartre
tenta pr fim finalidade sem fim, pois para ele a imaginao constitutiva; o
leitor, no caso, quem frui a obra e a cria. O artista cria o analogon, conforme
veremos mais adiante, e o outro cria o objeto esttico. Por isso, Sartre ir
reclamar a falta de apelo ao pblico na tese kantiana. Sob este ponto de vista,
Sartre eleva a obra imediatamente ao nvel do imperativo categrico
42
, pois ela se
identifica com a boa vontade kantiana,
43
tratando ...o homem como um fim e no
como um meio.
44
Por conta disso, levantemos uma questo acerca do
imperativo categrico nas condies kantianas: se, pois, a obra exige a liberdade
do pblico, como pode a arte ter o fim nela mesma, considerando que esta um
produto que parte da (cri)ao humana? Ora, neste vis que Sartre aponta que
o propsito moral est, sobretudo, vinculado literatura; por isso que a literatura
deve ser engajada. Valendo-se da literatura como significao, a obra literria
exige o imperativo tico e moral sob o fundo de um imperativo esttico. Para Kant,
diferentemente, a tica no entra na arte, inclusive na literatura. Para este, a arte
deve ser livre espontaneidade da criao e o pblico deve apenas fruir
desinteressadamente. Considerando, ento, que atravs da prpria terminologia
kantiana Sartre gerar uma discordncia terica em relao ao filsofo alemo,
analisemos agora, detalhadamente, o prazer desinteressado kantiano e meamos
se o confronto de Sartre mesmo aceitvel.
42
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 41.
43
A boa vontade em Kant o fundamento ilimitado de tudo o que pode ser considerado como
bom. Nada se legitima como bom, sem o princpio deste bem querer: Discernimento, argcia
de esprito, capacidade de julgar e como quer que possam chamar-se os demais talentos do
esprito, ou ainda coragem, deciso, constncia de propsito, como qualidades do
temperamento, so sem dvida a muitos respeitos coisas boas e desejveis; mas tambm
podem tornar-se extremamente ms e prejudiciais se a vontade, (...), no for boa. (KANT, I.
Fundamentao da Metafsica dos Costumes in Os Pensadores, Kant, Ed. Abril, So Paulo,
1974, p. 203)
44
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 198-199.
26
II. O desinteresse e a negao do real
certo que para Kant o livre jogo entre o entendimento e a imaginao
resulta em um juzo reflexionante que ir refletir o belo. Ora, essa constituio
kantiana de um juzo esttico no equivale mesma de Sartre, que no discute a
constituio do juzo, mas a criao do objeto esttico. Para o filsofo francs, o
que est em jogo a oposio entre percepo e entendimento. Alm disso, o
desinteresse kantiano, que conduz ao irremediavelmente subjetivo, oposto ao
de Sartre, pois o desinteresse pelo real requer uma converso de atitude, saindo
da esfera da conscincia realizante e partindo a uma conscincia no-realizante,
conforme veremos mais adiante.
Para Kant, a faculdade do juzo a aplicao do geral ao particular. Se
apenas o particular dado, o juzo, sistematicamente, deve encontrar o universal,
tornando-se juzo reflexionante. Kant, contrariando Baumgarten, apesar de
admirador de sua obra e ser influenciado por este, destitui a esttica de um
campo cognoscente. O sujeito esttico uma conscincia que julga, e no um
sujeito a conhecer o que se julga. Dessa forma, o gosto, no tendo como princpio
o conhecimento, no se discute determinantemente, porque no h conceitos e
sim reflexo. O juzo reflexionante provoca um sentimento (de prazer ou
desprazer) e no um conceito, pois no um juzo emprico e determinante. Mas
como ento admitir que o sentimento de prazer, isento de conhecimento,
provocado em mim me induz a pensar que ele pode ter carter de juzo universal?
As leis universais se fundamentam no entendimento; elas prescrevem a
natureza e determinam leis empricas prprias.
45
Para o mesmo filsofo, o belo
aquilo que causa prazer universalmente e que livre de conceitos, ou seja, belo
aquilo que, sem conceito, conhecido como objeto de uma satisfao
necessria
46
, por isso, na concepo kantiana, o nico modo de satisfao
(entre o agradvel, o bom e o belo) desinteressado e livre, pois visto que no
45
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo , Ed. Forense Universitria, 2 edio, PREFCIO, IV.
46
KANT, I. Analtica do Belo, in Os Pensadores Kant (II), Abril Cutural, p. 237.
27
requer conceitos, tambm no requer conhecimento. O interesse
47
pressupe
necessidade ou a produz, portanto, censura a liberdade sobre o juzo do objeto.
Se aquilo que nos interessamos pressupe a satisfao pela existncia do objeto,
deve haver alguma distino entre o prazer quanto representao deste objeto
e o prazer em relao existncia do mesmo. E essa diferena se encontra na
primazia do prazer pela representao que antecede a conscincia da existncia
fsica do objeto, que no determina necessariamente, porque simplesmente no
abstraio arbitrariamente a conscincia da existncia do objeto enquanto
contemplo. aqui que Lebrun reconhece uma separao de essncia que (...)
nem a relao de conhecimento nem a relao prtica permitiam adivinhar. Prova
de que o prazer uma instncia autnoma do nimo. (grifo meu)
48
E autnoma
porque no h uma exigncia consciente da existncia do objeto de antemo, e
tambm porque no me necessrio o conhecimento do objeto. O sujeito que
julga pressupe que a beleza esteja intrnseca ao objeto e que, assim, o juzo
pode parecer lgico, contudo, o belo somente esttico. A universalidade esttica
ressaltada por Kant tem validade universalmente subjetiva e no est vinculada
ao objeto, mas sim ao sujeito que julga. Ora, o juzo do gosto, assegura Kant,
meramente contemplativo. No nem terico e nem prtico e tambm, como j
vimos, no juzo de conhecimento, por conseguinte, no se relaciona com o
interesse pelo objeto. O belo, sendo uma experincia desinteressada, provm de
uma faculdade subjetiva; cabe aqui as precisas palavras de Deleuze: ...o prazer
esttico to independente do interesse especulativo como do interesse prtico e
define-se a si prprio como inteiramente desinteressado.
49
Para Kant, atravs do juzo reflexionante que se apreende a beleza
resultando na contemplao esttica, o que para Sartre se traduzir em prazer da
imaginao. De ambos entendemos que ocorre um desinteresse pelo real quando
se quer obter a fruio esttica. Pois h uma passagem da experincia sensvel
imaginao que, enquanto frumos a obra, ocorre a um desprendimento emprico
que nos possibilita vivenciar o irreal num plano imaginrio. Para Sartre, um
47
Chama-se interesse a complacncia que ligamos representao da existncia de um objeto.
Por isso, um tal interesse sempre envolve ao mesmo tempo referncia faculdade da apetio,
quer como seu fundamento de determinao, quer como vinculando-se necessariamente ao
seu fundamento de determinao. (KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo, p. 49)
48
Gemth (LEBRUN, P. 423).
49
DELEUZE, G. A filosofia crtica de Kant, Edies 70, Lisboa, 1963, p. 54.
28
estado dado inicialmente atravs da percepo e (ir)realizado no imaginrio.
Porm, como a imaginao carece de liberdade para se auto-afirmar, preciso
que se negue a percepo do objeto percebido, ou seja, a imaginao efetuada
atravs da espontaneidade que a percepo est impossibilitada. Para melhor
exemplificar, preciso estar clara a diferena entre a imagem e a imaginao no
entendimento de Sartre. Vejamos como isso procede.
A imagem, enquanto determinada, possui um nmero finito de
determinaes, o que ocorre enquanto percebida. Entretanto, do mesmo objeto
percebido que se extrai uma multiplicidade infinita de relaes possveis que, ao
mesmo tempo, se expandem por suas determinaes. E se de um lado a
imaginao se constitui antes por um saber imediato de seu objeto, conhecendo
suas determinaes sem aprender nada com elas, atravs da negao deste
objeto determinantemente percebido que se chega criao. Por conta disso,
resta claro que o ser imaginante um ser constitutivo ou criador. Ora, com isso
afirmamos - considerando que o exerccio imaginrio ocorre tanto no artista, como
no autor e no pblico - que h um processo de criao envolvendo ambos,
ocorrendo mutuamente a fruio artstica.
50
Essa alienao ou abstrao, obtida
enquanto se imagina e se nega o real, suporte para uma leitura da real condio
humana; uma abstrao deste mundo completamente situado. atravs dessa
liberdade de negao que posteriormente nos inserimos reflexivamente no
mundo, podendo, a partir da, apelarmos universalidade de nosso julgo, tanto no
sentido sartriano quanto no kantiano.
Estar diante de uma pintura, reconhec-la como retrato ou paisagem, e,
alm disso, contempl-la, obter a sua totalidade na complexidade da obra e
apreender sua forma; reconhec-la pela harmonia de suas vrias representaes
ali inseridas, sem que a percepo obstrua a ao contemplativa. Isto significa
dizer que se na mesma obra percebo seus elementos dissecando cada detalhe,
destruo o prprio sentido da mesma. A sensao de cor ela mesma, por exemplo,
no pode ser bela e digna de contemplao puramente substancial, pois o que ir
determinar esse sentimento ser a sua forma. As cores, para Kant, por exemplo,
pertencem ao atrativo (estes afetam prejudicialmente o juzo do gosto kantiano
50
E deste ponto que Sartre afirma que, tanto na arte quanto na literatura, o processo da criao
vem a ser a tentativa desesperante de alcanar o Em-si-Para-si, ou seja, uma experincia de
ser Deus.
29
quando postos como fundamento de julgamento da beleza), pois elas so
elementos percebveis. Com efeito, podemos concordar com Kant que a forma
que constitui o objeto do juzo do gosto puro, e no a matria, esta traz elementos
cognoscveis que cabe ao entendimento sintetiz-la. As cores, ainda
exemplificando, apenas contribuem para despertar e conservar a ateno pela
representao do objeto, o que quer dizer que as apreciamos isoladamente como
objeto esttico. A imaginao, para Kant, somente joga com os atrativos e com
eles desperta uma permanente contemplao do gosto. Tambm dessa maneira
Kant afirma que ornamentos, molduras e enfeites, enquanto adornos, causam
dano beleza genuna, pois caem no aspecto do meramente atrativo, provocando
um juzo de gosto aplicado e no puro,
51
pois os percebemos antes mesmo da
imaginao apreend-los. De maneira anloga, Sartre afirma, em O Imaginrio,
que a percepo de detalhes na obra de arte, seja ela arte plstica, dramaturgia
ou, at mesmo, a msica orquestrada, destri a totalidade da obra, afastando a
subjetividade contemplativa. Em suma, a obra deve transcender a percepo. Da
mesma forma que o pblico num cinema apaga de seu campo de viso o
mobilirio e adornos da sala, por esta se encontrar propositalmente escura, o
pblico, independente se diante de um concerto, de uma pea teatral, de uma
mostra num museu ou de um romance, este deve despir-se do real para poder
tambm criar, inserindo-se no mesmo plano da obra, que, enquanto experincia
esttica, transcende o campo do sensvel e passa ao inteligvel. Por outro lado,
recorrendo mais uma vez a Kant, quando a beleza trazida razo acaba por
extrair a pureza do juzo do gosto, tornando-se juzo do gosto aplicado, e este
juzo pressupe, atravs do entendimento, um conceito de fim que determina o
que a coisa deva ser, ou seja, um conceito do objeto em que se parte
perfeio.
52
O que de fato ir provocar a pureza do belo so figuras artsticas
cambiantes, suas diversidades, perspectivas, tcnica, harmonia e autenticidade
da criao (para Kant se resumiria, sobretudo, no talento do gnio), fruto da
liberdade da imaginao enquanto negao da imagem percebida, o que nos leva
a afirmar que a pureza do belo resultante da imaginao criativa.
51
KANT, I. Analtica do Belo, in Os Pensadores Kant (II), Abril Cutural, p. 224-226.
52
Idem, p. 229-230.
30
Como j mencionado, tanto em Sartre quanto em Kant h uma separao
entre moral e esttica; a moral est para o real, enquanto a estti ca para o
irreal.
53
A moral sartriana est intrnseca liberdade da ao, pois implica o ser-
no-mundo. J a esttica exige um recuo em relao ao mundo, o sujeito
contemplativo irrealiza no mundo imaginrio. Nas palavras de Sartre:
Para que uma conscincia possa imaginar preciso que ela escape ao
mundo por sua prpria natureza, preciso que ela possa tirar dela mesma
uma posio de recuo em relao ao mundo. Em uma palavra, preciso
que seja livre. (SARTRE, Limaginaire, 2005, p. 353 (T.A.))
desse modo que Sartre revela a negao da realidade como condio
singular para a imaginao. A essa negao Sartre ir denomin-la nadificao
nadificao do mundo como totalidade que nos revelada, sendo ela o inverso
da prpria liberdade da conscincia. Apoiando-se em Heidegger, Sartre afirma
que o nada estrutura constitutiva da existncia,
54
pois o nada est presente na
intra-estrutura do cogito pr-reflexivo e da conscincia, separando-a de si mesma
e impedindo que ela coincida consigo mesma no ato intencional. De tal modo,
Sartre considera uma diviso de mundo: o mundo moral e o mundo imaginrio,
delimitando, dessa maneira, o domnio esttico.
E aqui ocorre uma divergncia inevitvel para Sartre em relao a Kant:
para aquele h um desinteresse pelo real, mas sem a conseqncia reflexionante
kantiana. Para Kant, quando do desinteresse, a conscincia ela mesma se
entretm com as representaes, apreendidas pelo jogo do entendimento com a
imaginao, exercendo um juzo reflexionante. Sartre rejeita a conseqncia
reflexionante, pois para ele o desinteresse uma converso imaginante e no
reflexionante, pois no imaginrio, como negao do real, que se nadifica e se
particulariza a obra, criando o analogon, que o elemento exterior negado
enquanto real e necessariamente complementador da obra. Analisemos melhor o
que significa o termo analogon para Sartre.
53
Logicamente, h uma diferena entre o real idealista e o real fenomenolgico, mas o que se
considera aqui o real enquanto plano da ao moral.
54
Idem. P. 354.
31
Na pintura o artista tem uma idia enquanto imagem (o que para Kant
seria a idia esttica
55
) que em seguida ele constitui o analogon material a fim
de que todos possam irrealizar a imagem, ou seja, o artista, dotado de sua tcnica
imanente, constitui um conjunto de tons reais para que o irreal se manifeste ao
pblico (atitude imaginante). O analogon, para Sartre, presena
56
, enquanto
imagens so ausncia
57
. Isso no quer dizer que ocorra um abandono total da
objetividade, causado por conta do desinteresse pelo real. O analogon um
suporte exterior do objeto esttico real, animado por uma inteno imaginante,
um objeto que se presta a analogia e trespassado por uma inteno.
58
As
cores e as formas s ganharo seu verdadeiro sentido no irreal, e no com
aspectos sensitivos acerca da percepo detalhada de um retrato ou paisagem. O
artista, quando escolhe determinadas cores e efeitos, pretende alcanar aquilo
que representa o analogon (suporte do objeto irreal). Encontramos um bom
exemplo na pintura moderna, em que no mais o retratado que importa, mas o
que se manifesta. A expresso do autor e sua obra correspondem a um conjunto
irreal de coisas novas, como, por exemplo, as cores e formas cubistas, que se
tornam coisas irreais.
59
Esse complexo de coisas no existe no quadro e nem em
lugar algum no mundo, mas se manifesta atravs da tela como que tomando
possesso da mesma para se exprimir. a esse conjunto de objetos irreais que
Sartre ir referir a beleza, ou, numa melhor aproximao kantiana: o Belo.
Lebrun declara que a sensao no um ingrediente necessrio da
conscincia reflexionante; ela apenas a hyl apreendida fora da forma que a
torna, no significante ainda, mas sugestiva.
60
Essa hyl o que Sartre ir
55
(...) e por Idia Esttica entendo aquela representao da imaginao que d muito a pensar,
sem que entretanto nenhum pensamento determinado, isto , conceito, possa ser-lhe
adequado, que conseqentemente nenhuma idia alcana totalmente e pode tornar inteligvel.
(KANT, I. Da arte e do gnio in Os Pensadores, Kant, Ed. Abril, So Paulo, 1974, p. 345)
56
SARTRE, J.P. Limaginaire, p. 179.
57
SARTRE. J.P., Itinerrio de um pensamento (entrevista concedida New Left Review 58,
novembro-dezembro de 1969) in Vozes do Sculo Entrevistas da New Left Review, da
organizao de Emir Sader, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1997, p. 218.
58
Idem, p. 218.
59
Mas aqui oportuno transcrever a reserva crtica bastante pertinente que Lebrun faz
desfigurao na arte moderna, chamando de um dos piores mal-entendidos favorecido por
ela: (...) a obra s teria valor esttico sob a condio de ser informe e de significar o mnimo,
como se seu destino esttico se decidisse na percepo que tenho dela e no ao imaginrio
que ela me reenvia. (...) e foi abusadamente que se confundiu a proibio de figurar com a
permisso de no figurar. (Lebrun, Kant e o fim da metafsica, p. 454).
60
LEBRUN, G. Kant e o fim da metafsica, p. 459.
32
denominar de analogon, na inteno imaginante. A hyl ocorre quando, no
exerccio da finalidade subjetiva, a sensao deixa de ser elemento da
conscincia e se converte a tal analogon meramente subjetivo. Este s
animado pela intencionalidade imaginante; como um suporte ao objeto irreal, ele
no percebido. A est a crtica de Sartre a Kant por este ter determinado a
objetividade sem fazer a reduo imaginante. Para Kant a finalidade sem fim se
impe quando ocorre a reduo ao meramente subjetivo, que o reflexionante. E
a, segundo Lebrun, que o prazer se confunde com a conscincia da
causalidade de uma representao que tende a manter o sujeito neutralizado no
estado em que se encontra.
61
Para Sartre, no modelo kantiano o objeto esttico
teria por funo apenas a de requerer o livre jogo da imaginao, sem exerc-lo
de fato. Sartre no concorda que a imaginao deva ter funo unicamente
reguladora, como ele mesmo afirma: esquecer que a imaginao do
espectador tem no apenas uma funo reguladora mas constitutiva. Ela no
apenas representa: chamada a recompor o objeto belo para alm dos traos
deixados pelo artista.
62
(grifo meu)
Por isso, a obra de arte ou a literatura podem ser comparadas intuio
racional (...) que Kant reserva Razo divina
63
, porque nunca se tem um
conhecimento concreto da obra, pois ela no objetiva. Ela se aproxima ao ser
em si kantiano, visto que, dados os fenmenos, ela nos pensvel. Porm, seria
um erro grotesco defini-la como coisa-em-si, porque esta a condio do nosso
desvelamento, a coisa-em-si sempre esteve a, sendo incriada e eterna, sem
sermos seus produtores, ao contrrio da criao produzida por este ser finito e
contingente que o homem (Para-si). Examinaremos essa questo mais adiante.
Podemos contrapor a objeo de Sartre em relao ao juzo reflexionante,
mas tambm erigindo um paradoxo entre os dois filsofos, com um exemplo
ilustrativo que pe em questo as duas teorias: o mictrio de Duchamp. Diante de
tal obra, dentro de uma sala de museu, tenho a liberdade de criar a partir da obra,
nisso concordamos com Sartre. Mas o imaginrio, mesmo este sendo constitutivo,
daria conta dessa tarefa ou estamos diante de algo que previamente dispunha de
um conceito (um ready-made) e agora esse conceito, desconstrudo pelo artista,
61
Idem, p. 448-451.
62
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 40.
63
Idem. P. 39.
33
exigiria o apelo ao entendimento para dar-nos um juzo esttico, ou, at mesmo,
ter a liberdade de no aceit-lo? Essa passagem do conceito prvio que tenho do
objeto, que tinha uma funcionalidade e uma finalidade, portanto, era de ordem
prtica e se inseria no real, agora requer uma desconstruo conceitual para
migrar ao imaginrio. Ora, como lidar com a massiva objetividade dessa pea
remetendo-a ao imaginrio? De uma forma ou de outra, o que seria esteticamente
prazeroso aqui a reflexo em sua plena liberdade de trazer imaginao
inmeras possibilidades. A reflexo age aqui sobre a coisidade da coisa, e no
primeiramente como diante de um objeto esttico. A pea absorvida antes pela
percepo e reconhecida por sua funcionalidade anterior ao autor da obra
transform-la em um projeto esttico. E pouco importa, a partir da, se este
objeto nunca teve a oportunidade de ser belo, fino, agradvel ao olhar ou feio,
como indagava Duchamp. A pea, dependendo de como a observamos, pode
estar no plano real ou no imaginrio. E, dependendo do ponto de vista, se a
objetividade da obra a impede de ser julgada como esttica, essa sntese poderia
ser atribuda ao juzo determinante kantiano, por j existir um conhecimento
prvio do objeto, tanto pelo conceito como pela intuio. Isso nos leva a crer que
pode haver dois agentes operando: a reflexo, se apoiando no entendimento, e a
imaginao. Isso traz um paradoxo para ambos os filsofos, pois, depois disso,
como estabelecer em suas investigaes argumentos no falveis? Thierry de
Duve traz uma obra inteira problematizando e inspecionando acerca das teorias
estticas, principalmente as de Kant e Greenberg, aps a revoluo dadasta.
64
Para Kant a obra existe e depois ela vista. Sartre, por sua vez, discorda,
assegurando-se de que o espectador aquele quem tambm cria a obra e no
aquele quem apenas a frui. O sujeito ao contemplar a obra s sente prazer na
medida em que cria, essa a posio metafsica dada por Sartre; a conscincia
de estar livre enquanto se aprecia, e, sobretudo, de onde se obtm o gosto; h
uma criao absoluta do pblico diante da arte, pois a criao da obra, ou do
objeto esttico que transcendente, jamais pode ser individual, mas coletiva. E
esse objeto depende dessa transcendncia para se desvelar. O desvelamento
que ocorre aqui, apesar da conscincia que se tem dele, no perceptivo, porque
64
DUVE, T. Kant After Duchamp, MIT Press, Massachusetts, 1996.
34
a percepo no produz de modo algum o objeto esttico, quem o faz a
imaginao, que desvela e cria o objeto esttico. um argumento convincente de
Sartre, considerando que o exerccio esttico envolve artista (ou escritor) e
pblico, ou seja, a essencialidade do objeto esttico criado e a essencialidade
subjetiva de seus criadores (artistas, autores e pblico) nos sugerem um livre
jogo entre esses opostos. A imaginao tem um papel fundamental neste
processo, pois, para Sartre, ela sempre est engajada em alguma coisa, sempre
voltada ao exterior. Porm, dado que estamos o tempo todo percorrendo em torno
do imaginrio, devemos entender o que este termo significa para Sartre e qual
seu exerccio ao tratarmos de esttica. Analisemos.
III. Sartre do nada ao ser imaginante
O homem o ser pelo qual o nada vem ao mundo. A negao condio
de sua existncia. Deste modo, o para-si se arranca ao ser para fazer sair de si a
possibilidade de um no-ser. Por isso, o para-si um auto-nadificador. Nas
palavras de Bornheim: a possibilidade que tem o homem de produzir o nada que
o isola da transcendncia chama-se liberdade.
65
Portanto, a angstia o modo
de ser da liberdade, e esta se descobre na angstia. O homem um ser que se
despede constantemente do ser, a angstia o desenraza do que .
66
Com
efeito, o homem est em constante busca do ser que no , obrigando-se a
sempre representar, ora, o homem est condenado a representar e o teatro
eterno.
67
Quanto ao em-si, no existe a menor possibilidade do nada ser
introduzido nele, pois ele a plenitude total; o em-si no tem segredos:
macio, Sartre anuncia no incio de O Ser e o Nada. Neste sentido, correto
afirmar que as coisas no tem interioridade, visto que pela interioridade que o
homem se faz ser-para-si, enquanto que sua conscincia se alimenta de sua
65
BORNHEIM, G. A. Sartre, Perspectiva, So Paulo, 2007, 3
.a
Ed., p. 46.
66
Idem, p. 47.
67
Idem, p. 50.
35
prpria intencionalidade. E a conscincia o que no , por conta da
intencionalidade que se alimenta do outro, do que ela no , mas sem ser este
outro. Ora, visto que a conscincia um vazio, tudo ir resultar em exterioridade,
tudo est fora, tudo, at ns mesmos: fora, no mundo, entre os outros.
68
O homem, pelo horror ao nada, tenta ser em-si para atingir uma plenitude
total e fugir do nada. Mas seu projeto frustrante. Na busca de um fundamento, o
sujeito totalmente responsvel pelo seu ser, da a liberdade minha facticidade
e contingncia absoluta. Por conseguinte, verificamos que o ato fundamenta o
para-si, ora, lhe necessrio. O para-si se faz, ento, enquanto instaura o
presente. Na medida em que se organiza, constitui a significao do mundo.
O horror ao nada motiva o para-si busca de um ser substancial. o que
explica a sua radicalidade da inveno de Deus, que um ser impossvel na
concepo sartriana,
69
isto , dentro de sua teoria a existncia de Deus um
pensamento absurdo, a nica lgica para isso o desespero humano e sua
contigncia diante da existncia. Isso ocorre porque o homem se sabe
instransponivelmente infeliz. Mas, o pior, que o homem no pode ser nem
mesmo seu prprio sofrimento, porque este apenas a conscincia de sofrer.
70
Contra a tese kantiana, para Sartre o conhecimento presena e no
ausncia, pois o para-si nada acrescenta ao ser. Sartre recusa o solipsismo, pois
no exterior, sobre o ser, que se edifica o mundo, a que se constri a realidade
humana. H uma distncia infinita entre o em-si e o para-si (causa tambm de
angstia). Se tento apreender o ser, s encontro a mim mesmo com aquilo que
fao do ser. Ao olhar o outro (outro Para-si), tenho a conscincia de mim mesmo,
por isso deixo de perceber e tomo conscincia de meu ser-no-mundo. Por isso
Bornheim conclui e logo pergunta: eu sou atravs do olhar do outro. Mas como
68
SARTRE, Situaes I, Cosacnaify, So Paulo, 2005, p. 57.
69
Bornheim faz uma anlise bastante clara em relao ao problema de Deus para o
Existencialismo: Se Deus fosse provido de conscincia, abrigaria o nada em seu ser, visto que
a conscincia , por definio, ontologicamente intencional; ela se institui como busca de ser,
como um nada de ser que persegue o outro que no ela. Se Deus fosse conscincia, s teria
ser pela alteridade, pelo mundo, enquanto consciente do outro que no Ele. Assim, no caberia
dotar Deus de conscincia, e, nesse caso, s lhe restaria ser um objeto absoluto, o que
evidentemente absurdo: fiquemos com o absoluto da pedra, do em-si. Desse modo, a
identidade termina impossvel; (...). (BORNHEIM, G. A. Sartre, Perspectiva, So Paulo, 2007,
3
.a
Ed., p. 307)
70
BORNHEIM, G. A., Idem, p. 59-60.
36
sou?.
71
Da minha condio de objeto que ir provocar em mim uma reao de
vergonha e, mais uma vez, angstia, pois minha vergonha ao mesmo tempo
uma confisso. O outro, quando sei que me olha, apenas isto: minha
transcendncia transcendida. Porm, atravs da negao, tanto minha quanto a
do outro, que ocorre a intersubjetividade. Mas apesar de certa dependncia do
olhar-do-outro, pois pela negao do outro me reconheo para-si, ele me pe
escravo. Meu ser, a partir do olhar-do-outro, est em perigo por tender ao em-si, e
minha interioridade teme ser despedida pelo olhar-do-outro; ela no se sustenta
mais a partir de ento. Logo, mais uma vez me reconheo como sendo o nada.
No tenho plenitude alguma como tem o em-si. Nesse sentido, sou rasgado pelo
nada, degradado e envergonhado de mim mesmo.
72
A angstia, portanto, se faz
perene. Em Huis-clos (ou Entre Quatro Paredes), Sartre ir bem retratar essa
angstia quando os personagens, j mortos, so condenados por renegarem a
liberdade durante a vida. Esto condenados a passar a eternidade entre quatro
paredes slidas, olhando um para o outro, ou melhor, sob o efeito dos olhares
devassadores do outro, tornando a presena alheia insuportvel. Da a famosa
frase: O inferno so os outros.
Partindo do pressuposto de que o homem que d significado s coisas,
desvelando-as, ele estabelece tambm a relao entre as coisas. Interpretemos
essas coisas, conforme Sartre, como seres-em-si. Estes no possuem uma razo
de ser, pois somos ns ontologicamente que lhes atribumos o ser atravs de
significados que lhes impomos. Antes de Ser-em-si, este ente apenas Em-si,
pois pleno de si e no mantm nenhuma relao com aquilo que no , ora,
seria ento apenas o si. Como no h relaes entre os sis por eles mesmos,
ou seja, no h uma alteridade em meio a eles que possa constituir uma relao
de mundo, ocorre a necessidade de outro ser estabelecer essas relaes dando-
lhes significados. Tarefa essa atribuda ao Para-si (o homem), este si destitudo
de ser, mas que confere presena a si buscando necessariamente seu si em
outros seres, pois um vazio que para fugir da onipresena do nada precisa
conferir sua existncia em meio s coisas. Por isso, o Para-si uma conscincia
intencional, ou seja, conscincia de: Dizer que a conscincia conscincia de
71
Idem, p. 87.
72
Idem, p. 89.
37
algo, significa que para a conscincia no h ser, (...) precisa ser intuio
reveladora de algo, a saber, de um ser transcendente.
73
Ele no pode buscar em
si mesmo este ser, pois coincidiria com o prprio si. Destarte, vai instituir
significado s coisas e a relao entre elas (essa rvore se relacionando com
aquele pedao do cu...), tornando-as Seres-em-si. Essa sntese ser tambm
realizada com outro Para-si e mais outros, ou seja, de Para-si a Para-si.
Consequentemente, juntamente com essa alteridade constitutiva, constri-se
aquilo que conhecemos por realidade humana. E neste sentido podemos adiantar
a responsabilidade do Para-si com a histria, que se inicia pelos atos de cada um
dos homens: para (...) o Para-si, ser escolher sua maneira de ser sobre fundo
de uma contingncia absoluta do seu ser-a (Dasein).
74
Na medida em que o homem (Para-si) age, ele vai desvelando o mundo e
os seres. Porm, somos detectores dos seres e no seus produtores, eles
independem de ns para existir. Diante disso, contrariando Berkeley, Sartre
argumenta que ser no perceber, pois na medida em que olho um objeto dou a
ele significado e construo sua relao com as coisas. Ao deixar de v-lo, este ser
e tudo o que est ao seu redor perdem as significaes que lhes atribuo, porm,
no deixam de existir, pois em hiptese alguma roubo sua existncia. A rvore
que vejo, junto com a paisagem que por mim composta, me revela duas
condies, digamos: uma otimista e uma infeliz. A otimista a minha
essencialidade para desvelar o em-si e comp-lo com o resto do mundo; a infeliz
que ela revela tambm a minha inessencialidade em relao existncia da
mesma, ou seja, para que ela exista, sou um ser insignificante. Da a busca
agnica pela essencialidade das coisas, sentir-se essencial ao mundo.
75
uma
busca desesperada que, por querer deixar sua insignificncia em relao ao
mundo e deixar de ser essa paixo intil, o homem busca inutilmente ser Em-si-
Para-si, ou seja, ser um criador altura de Deus.
73
SARTRE, J. P. El ser y la nada; Ed. Losada, Buenos Aires, 1966, p. 30 (T.A.).
74
Idem, p. 486.
75
Vale citar aqui o que representa essa conscincia para Sartre: A conscincia um ser cuja
existncia pe a essncia, e, inversamente, conscincia de um ser cuja essncia implica a
existncia, isto , cuja aparncia exige ser. E complementa a definio com uma aproximao
a que Heidegger d ao Dasein: a conscincia um ser para o qual em seu ser questo de
seu ser assim como este ser implica um ser outro que ele mesmo. (Idem, p. 31)
38
Logo, para tentar ser essencial ao mundo, o Para-si encontra na arte uma
possibilidade, e nela poder ser ento essencial existncia do objeto criado. Por
isso o artista ou o escritor, pode fazer uso da realidade, daquilo que j dado, e
representar livremente numa tela, num romance, ou qualquer outra linguagem, a
ordem que lhe for cabvel desses seres emprestados (em-si ou para-si) do
mundo, ou pode criar livremente de acordo com sua intuio e imaginao. Ora,
eis o papel da imaginao, ela lhe dar novas idealizaes e contedo para poder
realizar essa criao. A percepo acolhe os seres, mas a imaginao que lhes
dar uma nova forma ou relao criativa, para que ento seja essencial obra. A
literatura, por ser significante lidando com signos e significados, obviamente tem
uma maior aproximao com o discurso de Sartre.
Entretanto, a conscincia um vazio, e no h nela imagem alguma, pois
as imagens esto ao lado de fora, e o que a conscincia faz ir de encontro a
elas. Mas de onde ento vm as imagens da imaginao? A conscincia
intencional ir espontaneamente intencionar um objeto e transcender. A imagem,
na linguagem fenomenolgica, uma espcie de conscincia; uma conscincia
que consciente de si enquanto intencional do objeto transcendente, ora,
reconhece nela mesma uma imagem no momento mesmo em que surge. A
conscincia imaginante pura espontaneidade. Se imagino algo, este al go no
est em minha imaginao, pois ela um ato para fora. Assim como a
imaginao conscincia, a percepo tambm o , ambas se relacionam com o
objeto, apesar de no se identificarem. Sartre as considera modos de se
relacionar com o objeto. Imaginar, perceber e conceber so trs tipos de
conscincia pelas quais um mesmo objeto nos dado. Destes, atravs da
percepo posso ter apenas observaes razoveis e parciais do objeto, pois vejo
um perfil de cada vez. Com efeito, no posso apreender o objeto de uma s vez.
J conceber ocorre atravs de um s ato da conscincia, isto , apreendo de uma
nica vez, pois o concebo pensando em essncias concretas que me do o
conhecimento desse objeto. No imaginar tambm ocorre uma nica apreenso,
ou tenho vrios perfis do objeto ou tenho ele por inteiro. Ora, a imagem est entre
a percepo e a concepo.
Na imaginao e na concepo no ocorre nenhum aprendizado, como
ocorre com a percepo. Nesta, cada olhar me traz novas informaes podendo
39
criar infinitas relaes possveis com sua multiplicidade infinita de dados que vo
aparecendo. Na imagem, a conscincia limitada, pois ela no pode acrescentar
mais nada do que j est concebido nela, por isso nada apreende, est limitada
s informaes j processadas. Porm, a imagem o oposto da percepo e da
concepo, pois envolve o nada. Enquanto essas exercem a existncia do objeto
ou de sua natureza como um todo, aquela coloca o objeto no inexistente, no
ausente, no plano da quase-observao.
76
Segundo Sartre, neste plano somos
colocados no ato de observao que no apreende nada. Como observa Thana
Mara de Souza: Assim, se a percepo e a concepo pem a existncia do
objeto ou de sua natureza, a imagem d seu objeto como nada de ser.
77
Ora,
justamente porque a imagem a negao do objeto percebido que a imaginao
mais espontnea que a percepo. Na imaginao o vazio, a espontaneidade, o
nada, a negatividade e a liberdade da conscincia esto propcios e com todas as
condies de se afirmarem. Ora, terreno frtil para a essencialidade da criao
artstica ou literria: o imaginrio.
Em O Imaginrio, Sartre d uma demonstrao de como a imaginao
produz as relaes das imagens atravs do sonho. Algo que no momento nos
bastante auxiliador. Sartre declara sonhar frequentemente que passeia por Nova
Iorque sentindo um grande prazer. Cada vez que o sonho acaba, tem um certo
desapontamento em entregar-se novamente realidade, algo como acontece
quando deixamos um espetculo. s vezes ocorre de pensar, dentro do prprio
sonho, que naquela ocasio aquilo no um sonho. Mas este ato reflexivo que
lhe ocorrera estava enganado, o que o leva a colocar em cheque essa reflexo.
Porm, este ato no era um ato real porque no se efetivou, era apenas um ato
reflexivo imaginrio operado pelo eu-objeto e no pela sua conscincia. E quem
duvidou naquele momento de estar sonhando era o eu-objeto, enquanto Sartre
estava consciente de seu passeio por Nova Iorque. Ora, a conscincia que sonha
determinada a produzir de uma nica vez o imaginrio com todas as
preocupaes e problemas por que passou, e projeta isso de forma simblica e
irreal. Por conseguinte, o desejo de no estar sonhando toma conscincia de si
76
SARTRE, J.P. Limaginaire, p. 28.
77
SOUZA, T. M. Sartre e a Literatura Engajada, p. 88.
40
mesmo do lado de fora, na transcendncia do imaginrio, e a que ir obter a
satisfao. Sartre, contrariando Descartes, conclui que no ocorre com o sonho
aquilo que ocorre com a apreenso da realidade. apenas uma histria, seja ele
um sonho bom ou um pesadelo, que das duas maneiras nos apreende
profundamente pelo contedo radicalmente distinto do cotidiano, como se fosse
um leitor ingnuo que desconhece a obra e, quando se d conta, est envolvido
apaixonadamente pela fico, no querendo, como no sonho, estar acordado
para a realidade ou findar o livro. Do mesmo modo que o rei Midas transformava
em ouro tudo o que tocava, a conscincia determinada ela mesma a transformar
tudo o que ela adquire em imaginrio: e esta a caracterstica fatal do sonho.
78
deste modo que se confunde a apreenso do mundo sonhado com a realidade.
E o que mais nos interessa o que ocorre com a natureza do sonho: a realidade,
enquanto dormimos, escapa e aparece embaralhada vinda de todos os lugares
para a conscincia que, por sua vez, tenta recuper-la e reorganiz-la, entretanto,
transformando-a ento em imaginrio. Por isso Sartre conclui:
O sonho no a fico tomada pela realidade, a odissia de uma
conscincia condenada por ela mesma, e em despeito dela mesma, a
somente constituir um mundo irreal. O sonho uma experincia privilegiada
que pode nos ajudar a conceber aquilo que seria uma conscincia que teria
perdido seu ser-no-mundo e que seria privada, ao mesmo tempo, da
categoria do real. (SARTRE, Limaginaire, 2005, p. 339. T.A.)
IV. A literatura e o papel do outro na questo tico-esttica
Na literatura, notamos que se o escritor escreve para o leitor, entendemos
a escrita se completando pela leitura, ora, uma prtica que se constitui no plano
da alteridade. A leitura, por seu turno, uma resposta ou um atendimento ao
apelo, exercendo uma funo comunicativa. O escritor (particular) escreve para o
pblico (universal), e no apenas para um indivduo. Ora, notamos aqui um
envolvimento tico e histrico, pois o escritor se compromete com a histria vivida
78
SARTRE, J.P. Limaginaire, p. 339.
41
e redigida. Desse modo, para Sartre no h sentido em escrever abstratamente,
mas concretamente, ou seja, escrever para algum. A narrao exige uma
situao que, por sua vez, exigir a liberdade, e vice-versa. Ocorre percebermos
que h um encontro entre duas liberdades de forma situada, ambas produzindo.
O escritor produz as significaes e o leitor as assimila de forma recproca.
Estando atrelada a uma comunidade histrica, ou seja, a um meio social cuja
cultura foi construda historicamente, necessariamente essa literatura implica
assunto. Eis ento o comprometimento da literatura ao engajamento. Vale aqui
mais uma vez citarmos Thana Mara de Souza:
No so, porm, s o escritor e o leitor que esto inseridos nessa trama da
liberdade e responsabilidade: todos os homens esto. Concordando com
Kant, Sartre v na arte um imperativo o prazer esttico que o leitor sente
exigncia de que todo homem, enquanto liberdade, experimente o mesmo
prazer. Quando vemos algo belo, exigimos que cada um, livremente,
tambm perceba essa beleza. (...) Do escritor ao leitor, e deste a todos os
outros homens, a obra de arte total apelo ao exerccio da liberdade. (grifos
meus - SOUZA, T. M. Sartre e a literatura engajada, 2008, p. 136)
E citando o prprio Sartre:
O julgamento esttico , ento, o reconhecimento de que h uma liberdade
frente a mim, a liberdade do criador e, ao mesmo tempo, uma tomada de
conscincia diante do objeto que est na minha frente, de minha prpria
liberdade e enfim, (...) uma exigncia de que os outros homens, nas
mesmas circunstncias, tenham a mesma liberdade. Consequentemente,
um livro concebido no plano esttico realmente um apelo de uma
liberdade a uma liberdade, e o prazer esttico a tomada de conscincia da
liberdade diante do objeto.
79
(grifo meu)
Aqui percebemos uma congruncia em relao universalidade kantiana
no que diz respeito ao juzo do gosto. Se me refiro, por exemplo, tela La
Desserte, de Matisse, afirmando que esta uma bela pintura, como e por que
tendo a afirmar isso em relao ao gosto dos outros? Como este juzo no
pressupe nenhum princpio de conhecimento, ou seja, no h conceitos
determinados que possam prevalecer sobre meu juzo, ento, atravs da reflexo
atribuo um juzo esttico sobre o objeto, que livre para cada sujeito. E por saber
que o outro sujeito dotado dessa liberdade, requeiro a ele que concorde com a
79
SARTRE, J.P. La Responsabilit de lcrivain, p. 26-27, (traduo de Thana Mara de Souza
apud Sartre e a Literatura Engajada, p.136).
42
certeza de meu juzo, a fim de validar este meu juzo. Porm, ciente de que no
posso determinar este juzo, de que a tela de Matisse seguramente bela, como
se fosse uma imposio, tenho conscincia de que a liberdade do outro pode
impedir a universalidade de meu juzo. Mesmo assim, quero ter a certeza de que
este meu juzo no foi uma simples escolha ou deciso casual, ele no pode ser
em vo, pois um juzo que me dado atravs do exerccio reflexivo e do
acmulo de minha experincia vivida. A confirmao ou concordncia do juzo do
outro ir constatar que em meu nimo h uma relao assertiva entre
entendimento e imaginao. Por isso, pode-se afirmar que o outro, de tal modo,
corrobora com meu ajuizamento. Da, posso compartilhar minhas reflexes acerca
do juzo, gerando um envolvimento tico sobre uma complacncia esttica. Ora,
aqui conferimos um possvel vcuo em que a esttica, de modo sutil, dialoga com
a tica, embora no enquanto contemplao individual, mas enquanto
partilhamento do gosto. Com efeito, no a tela La Desserte, enquanto
percebida, que estabelece o exerccio tico entre os sujeitos, mas o ajuizamento
da mesma entre a intersubjetividade dos sujeitos reflexivos.
Cabe agora novamente voltarmos em Que a literatura?, e lembrarmos
que Sartre considera a literatura genuinamente a partir do sculo XVIII. Conforme
menciona, nos sculos antecedentes o escritor escrevia para o clero (sculo XVI)
e para o pblico corts (sculo XVII), a partir do sculo XVIII ocorre uma diviso
entre o pblico corts e o pblico burgus, este ltimo ser o pblico do sculo
XIX. No sculo XX, Sartre reivindica a literatura engajada popular. Sob consulta a
historiadores, analisaremos esses dados expostos por Sartre mais adiante.
Escrever com concretude histrica de sua poca abandonar a literatura
abstrata, assumindo uma expresso de compromisso com a sua poca. A beleza,
como menciona Romano, deveria ser apenas uma fora suave e insensvel.
80
Como vimos, Sartre ir condenar o Realismo exigindo que o autor e o leitor
devam se comprometer com a obra e com o mundo, responsabilizando-se pelo
universal. Sua crtica a Flaubert vai alm do excesso de preocupao formal com
a escrita, mas a falta de engajamento e o fascnio de querer dizer muito de si
mesmo, sem uma preocupao respeitvel por aquele a quem se escreve,
80
ROMANO, L. A. C. A passagem de Sartre e Simone de Beauvoir pelo Brasil em 1960, Fapesp
Mercado das Letras, Campinas , 2002, p. 253.
43
tornando o autor e sua obra um tanto presunosos.
81
As obras de Flaubert,
segundo a crtica de Sartre, eram carregadas de personagens que representavam
as prprias pessoas que circundavam a vida do autor, no caso a burguesia. Para
Sartre no h sentido em escrever prosa abstratamente, mas concretamente, ou
seja, escrever para algum e referir-se s suas condies, ou melhor, situao.
Se observarmos, conforme relatado no incio desta pesquisa, a mesma
exigncia e crtica que Shaftesbury j fazia no sculo XVII e XVIII, requerendo aos
autores produes que levassem em considerao seus leitores, suas vidas e
suas realidades, ou que simplesmente apelassem liberdade subjetiva dos
mesmos. Destarte, propor uma prosa para si mesmo petrificar o outro, conflitar
os para-sis e, metaforicamente, inserir a si mesmo e ao outro, livre e
espontaneamente, no inferno.
82
importante mencionar que quando Sartre se refere literatura est se
reportando prosa e no poesia. Esta ltima coisificada, pois as palavras so
objetivadas pelo poeta; o signo convertido em coisa na poesia. O poeta
manipula as palavras como se fossem cores, paisagens, retratos. Essa recusa da
linguagem comum faz tambm da poesia uma recusa da ao, pois no requer o
que de comum linguagem: a fala. Para Denis, a poesia forma intransitiva
por excelncia e por conta disso ela resiste com todo seu ser ao
engajamento.
83
J o escritor, na prosa, ele domestica as palavras tornando-as
extenso de nosso corpo, por conseguinte, elas estendem nossa ao pelo
mundo. Conforme afirma Sartre: se o prosador cultiva demasiadamente as
palavras, o eidos prosa se rompe e camos numa algaravia incompreensvel. Se
81
(...) Flaubert representa para mim exatamente o oposto de minha prpria concepo de
literatura: desengajamento total e uma determinada noo da forma que no exatamente a
que admiro. E tambm tece crtica a Rimbaud e Baudelaire, pela falta de engajamento e estilo
essencialmente burgus. SARTRE. J.P., Itinerrio de um pensamento (entrevista concedida
New Left Review 58, novembro-dezembro de 1969) in Vozes do Sculo Entrevistas da New
Left Review, da organizao de Emir Sader, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1997, p. 217 e
231.
82
Aluso clebre frase: O inferno so os outros, em Entre Quatro Paredes, de Sartre, que
segundo ele fora mal interpretada: Ora, trata-se de outra coisa o que eu quis dizer. Eu quis
dizer que se as relaes com o outro so tortuosas, viciadas, ento o outro s pode ser o
inferno. (...) Os outros so, no fundo, o que h de mais importante em ns mesmos, para nosso
prprio conhecimento. (CONTAT, M. & RYBALKA, M., Les crits de Sartre, Paris, Ed.
Gallimard, 1970, p. 101).
83
DENIS, B. Literatura e engajamento, de Pascal a Sartre, Edusc, Bauru, 2002, p. 75.
44
o poeta narra, explica ou ensina, a poesia se torna prosaica; ele perdeu a
partida.
84
Desse modo, Sartre considera que a literatura ela mesma uma extenso
de nossos sentidos, opondo-se poesia que recusa a ao. Todavia, isso no
quer dizer que h um desprezo de Sartre em relao poesia, conforme fora
polemizado, pelo contrrio, ao invs de subestim-la, percebe a sua grandeza
mas sem exigir da poesia um engajamento, pois isso seria claramente uma
tolice. A condio do poeta est do outro lado da condio humana, est ao lado
de Deus.
85
Pois quando coisifica uma palavra, retira dela o significado e a
transforma em substncia, a exemplo de Rimbaud que atravs de um pequeno
verso conferiu bela palavra alma uma existncia interrogativa
86
, ou seja, a
prpria interrogao se torna coisa, como a angstia de Tintoretto se tornou cu
amarelo. Como poeta, Rimbaud nos convida a ver a palavra de fora e no de
dentro, conforme ocorre com a prosa. Pois a palavra sem seu significado (que
parte internamente da palavra) substncia (vista de fora). Se as palavras so
vistas do avesso, elas so um espelho do mundo e do poeta, refletem aquilo que
transita pela e atravs da palavra sem que implique qualquer alterao do mundo.
Portanto, a poesia no se compromete.
Vale destacar que a relevncia do prosador para os fenomenlogos
notria. Para estes, atravs da ao que se deve partir para se chegar
universalidade; atravs da ao que se cria valores. Ora, o prosador, por ele
estar situado, tem participao ativa na histria. Para o historiador Tony Judt:
Sartre tentou pr o mximo de peso possvel no ato literrio, a fim de dar ao
seu autor uma gravidade existencial que, de outra maneira, lhe faltaria. O
conflito com os outros tem que continuar interminavelmente, mas, ao
menos, alguma autonomia, alguma liberdade ter sido autogerada para si.
(JUDT, T. Passado imperfeito: um olhar crtico sobre a intelectualidade
francesa no ps-guerra, 1992, p. 118.)
O sentido metafsico da criao artstica, do ponto de vista sartriano, a
necessidade de nos sentirmos essenciais no mundo, ou seja, de sermos criadores
84
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 32 (nota 5).
85
Idem, p. 17.
86
Idem. Trata-se do verso:
estaes! castelos!
Que alma sem defeito?
45
do mundo, condicionando-nos a ser, j que somos inessenciais em relao
coisa. O homem no produz o ser em-si, ele apenas produz o fenmeno (mundo).
Necessariamente a minha posio est sempre situada neste mundo. Quando
percebo um objeto este se torna essencial, enquanto isso, meu sujeito
inessencial. Quando crio um objeto sou o sujeito essencial em relao ao objeto
que ento passa a ser inessencial. nesse sentido que Sartre afirma (...) s
atravs da conscincia do leitor que ele (o artista) pode perceber-se como
essencial obra (...). No sentido metafsico, numa tentativa de alcanar quilo
que insistentemente desejamos, que a sntese impossvel do Em-si-Para-si,
queremos ser criadores absolutos sem criarmos existncia, pois, neste caso,
estaramos assumindo a posio de Deus. Da parte a problematizao idealista
da objetividade: um objeto criado uma contestao ao criador. O escritor cria no
domnio histrico e no oniscientemente. Na narrativa onisciente (analogamente a
Deus) no h liberdade, pois seria impostura. Ora, cabe literatura a introduo
da conscincia filosfica, em que o contexto da significao recproco ao
desvelar da liberdade.
O escritor (sendo essencial) jamais poder ler adequadamente sua obra,
pois lhe faltar objetividade em relao obra por ele conhecer o desfecho da
mesma, tornado-a inessencial. Isto quer dizer que na criao artstica o criador
ganha a essencialidade e a obra a perde para se tornar inessencial.
87
E a partir do
momento em que se cria, estar convocando a alteridade, pois aquilo que cria
no pode ser lido por si mesmo, porque seu texto est repleto de seus
conhecimentos, suas vontades e o prprio projeto do livro, cuja subjetividade foi
ele mesmo quem a criou. Ele j conhece o texto e no faz sentido l-lo como uma
livre literatura. Ora, esta obra foi escrita para algum, e s assim a obra se
consumar. Uma cadeira fabricada por um arteso, por exemplo, pode ser
usufruda pelo mesmo, pois alm de sua funcionalidade tem sua objetividade
concreta, porm no uma histria escrita ou narrada. Por conseguinte, conclui-se
que s existe arte e literatura para a alteridade. ela quem far a obra existir de
fato. o pblico quem transforma o objeto criado em elemento subjetivo. Se no
fosse pela alteridade, um romance escrito seria apenas traos negros sobre o
87
Assim, na percepo, o objeto se d como o essencial e o sujeito como o inessencial; este
procura a essencialidade na criao e a obtm, mas ento o objeto que se torna o
inessencial. (SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 35).
46
papel.
88
A leitura feita pelo outro faz com que a obra surja em seu mais
espontneo ato concreto de liberdade.
Em O Ser e o Nada, Sartre expe claramente o papel da alteridade e sua
importncia no plano da existncia. Acusa Descartes por seu cogito no atingir a
interioridade do outro, pois no se chega ao outro como sujeito. O sujeito ao voltar
para si descobre que ele para outro (conscincia para outro), pois h um
deslocamento da conscincia. O ser-para-si sempre o ser-para-outro (o outro eu
que no sou eu). Todavia, notamos que esse eu que no sou eu no objeto,
mas sujeito, ora, um objeto tratado como se fosse sujeito (pois a objetivao
condio necessria ontologia), e ontologicamente ele est definido a priori
como sujeito. Agora podemos mudar de curso e afirmar que estar com o outro
estar definitivamente no plano moral, o que marcar singularmente a questo da
alteridade na concepo esttica de Sartre.
A criao em si um momento incompleto e abstrato. A literatura, no
caso, revela o homem ao homem, pois h nela uma funo comunicativa. O
criador sartriano cria a partir da nadificao, ele nega o ser-em-si. Assim sendo,
um ser para ser afetado passivamente deve existir para receber a ao. Para
Sartre, o papel do pblico fator determinante na constitui o da obra. Quando
em Huis-Clos Sartre menciona que o inferno so os outros, j sinaliza a
importncia da alteridade em suas obras e teorias; o homem vive em constante
relao de conflito com o outro no s pela sua presena, mas tambm a partir do
momento que este lhe atribui valores no reconhecidos. Neste sentido, o ser em
cada um (ser-para-outro) est sob a condio da liberdade do outro. Na questo
literria, a obra um apelo ao leitor; atravs dele que a obra ganhar
objetividade; igualmente, a leitura faz a obra ser. O leitor co-criador da obra
quando deixa a imaginao interpretar e dar continuidade obra. Com efeito, o
escritor no deve induzir o leitor, pois s assim a literatura se efetiva, de outra
forma estaria canonizando a obra. Destarte, o escritor deve ir a fundo em suas
inspiraes, em suas pesquisas e desenvolvimento de texto, pois quanto mais
sensibilizar o leitor, mais estar invocando a sua imaginao.
O leitor cria um objeto puramente imaginrio, objeto este esttico e irreal.
Ento, conforme j observado, afirma-se que somente no irreal que o homem,
88
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 35.
47
enquanto criador, pode se fazer Deus. Para o escritor, a escrita a constituio
da subjetividade, o que para o leitor tambm , mas com apelo
intersubjetividade. Segundo Suzuki, no idealismo de Kant essa corts solicitao
objetiva s tem cabimento com a espontaneidade da reflexo, pois no se deve
impelir, mas somente sugerir liberdade do leitor a fim de, da ento, vivificar a
atividade reflexionante.
89
O juzo do leitor, portanto, em concordncia com Sartre,
definitivamente deve ser livre. Porm, essa liberdade, quando da atividade
reflexionante, implica em certa distoro ao aceitar a universalidade esttica
quase que como um imperativo. Pois esse juzo reflexionante que Sartre imerge
no imaginrio a fim de interromper a passividade do leitor e o eleva a um ser
ativo, se posicionando no mundo para nele agir concretamente como parte de sua
existncia. Para Kant, a universalidade do belo requerida pelo gosto no deve ser
entendida como um imperativo, mas um juzo possvel na reflexo de cada um.
A liberdade um absoluto que no pode ser limitado. Na leitura tenho a
liberdade da criao, o que corresponde dizer que ler uma ao. O escritor no
pode jamais ser coercitivo, ou seja, deve reconhecer a liberdade do leitor para
no torn-lo passivo, assim no deve servir-se das paixes, pois estas induzem o
leitor a regras.
Em Kant, o belo no chega a ser um apelo a minha liberdade, mas se
restringe a solicitar o jogo livre entre a imaginao e o entendimento. O juzo
esttico, para o mesmo filsofo, no traz conhecimento; j em Sartre a literatura
um desvelamento do mundo, pois no percebo os signos, mas os atravesso me
lanando ao outro real, podendo ento trazer conhecimento. Neste sentido se
observa, tambm, desconsideraes de Sartre em relao ao belo natural
kantiano, pois o que Sartre impe acima de tudo a condio criativa. No que diz
respeito fruio, o apelo do livro se dirige ao subjetivo do leitor, pois se este
fosse objetivado, a obra iria contra a sua liberdade e ganharia carter utilitrio, ou
hipottico. Como Sartre exemplifica, o carter utilitrio de um objeto o coloca ao
nvel de um imperativo hipottico (a esse imperativo, Kant o define como: ao
boa como meio para qualquer outra coisa).
90
O uso do martelo, por exemplo, j
tem um fim dado, como utenslio, pois posso utiliz-lo para pregar algo na parede
89
SUZUKI, M. O gnio romntico, Iluminuras, So Paulo, 1998, p. 42.
90
KANT, I. Fundamentao da Metafsica dos Costumes in Os Pensadores, Kant, Ed. Abril, So
Paulo, 1974, p. 219.
48
ou at mesmo destruir um vidro. A arte no possui carter utilitrio e contingente,
pois no serve (no presta servio) liberdade do pblico, mas a requisita.
Lembremos que o que til pode ser bom e agradvel, mas no belo. aqui
oportuno mencionar Lebrun: em esttica, o agradvel, o til e o bom so
colocados sob a mesma rubrica: Eles concordam no fato de que so sempre
ligados por algum interesse ao seu objeto.
91
J o belo diferente.
Na literatura, para Sartre, no h um fim dado, pois depende da liberdade
do leitor para que este possa tambm cri-la. Contudo, no apenas cri-la, como
tambm fazer aparecer o autor extraindo aquilo que h de mais profundo em seus
pensamentos, de maneira que o prprio leitor se ponha no lugar do autor, sem
que se sobreponha a ele; o que Sartre ir chamar de comunicao narcisista,
92
narcisista por parte do autor que aparece, e do leitor que revela a si mesmo este
universo profundo de significados e significaes derramados pelo autor e que
agora est a desfrute do leitor. Logo, na viso sartriana, a literatura um apelo ao
leitor, um apelo de uma liberdade a outra liberdade, e a obra se totaliza diante da
dupla criao entre autor e leitor. neste sentido, mais uma vez, que Sartre eleva
a obra condio de imperativo categrico, por ser ela uma tarefa a cumprir; h
um apelo liberdade do outro. O imperativo, ento, aparece na obra de Sartre
por isso, porque a obra s se realiza pela alteridade; logo envolve uma relao de
liberdade a liberdade. E aqui novamente a tica se insere pelo veio do propsito
artstico. Uma vez comeada a leitura, a criao subjetiva solicitada por um
imperativo: (...) imperativo transcendente, porm consentido, assumido pela
prpria liberdade, aquilo que se chama valor. A obra de arte valor porque
apelo.
93
Para Kant, o ser racional, ao agir em relao a outros seres racionais,
age em relao a si mesmo (dignidade). Para Kant tambm ocorre na arte uma
relao comunicativa entre os homens. O gnio, por exemplo, se depara com a
questo intersubjetiva do gosto, que pode influir no ato da criao da obra, e
assim resultar num possvel senso comum do pblico. Na literatura, o apelo
liberdade incondicionada do leitor implica o sentido moral que Sartre traz
literatura, porquanto est implcita a criao do escritor e a criao contnua do
leitor, e da se origina uma relao tica intersubjetiva, contrapondo o ponto de
91
LEBRUN, G. Kant e o fim da metafsica, Martins Fontes, So Paulo, 1993, 2 edio, p. 427.
92
SARTRE, J.P. Situations, IX, Gallimard, Frana, 1972, p. 60.
93
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 41.
49
vista kantiano. Porm, isso no quer dizer que Kant tenha sido indiferente
questo da intersubjetividade, pelo contrrio, enfatiza que atravs do gosto o
egosmo superado e atravs do gosto que ocorre a correspondncia do juzo
do belo, seja ele um senso-comum ou um gosto particular reivindicando
universalmente a concordncia de juzo. As investigaes de Hannah Arendt a
esse respeito nos bastante proveitoso neste momento. Examinemos.
V. A intersubjetividade kantiana atravs da reflexo
Quando a sensao, como o real da percepo, referida ao
conhecimento, ela chama-se sensao sensorial e o especfico de sua
qualidade pode ser representado como exaustivamente comunicvel da
mesma maneira, desde que se admita que qualquer um tenha um sentido
igual ao nosso; mas isto no se pode absolutamente pressupor de uma
sensao sensorial. Assim esta espcie de sensao no pode ser
comunicada quele a quem falta o sentido do olfato; e mesmo quando ele
no lhe falta, no se pode contudo estar seguro de que ele tenha de uma
flor exatamente a mesma sensao que ns temos. (KANT, Crtica da
Faculdade do Juzo , 2 edio, 39, p. 137-138.)
E ainda: (...) se se quiser empregar o termo sentido como um efeito da
simples reflexo sobre o nimo, pois ento se entende por sentido o sentimento
de prazer.
94
A fim de evitar uma confuso habitual, iniciamos este captulo com
duas citaes que diferem as sensaes para Kant. De acordo com a primeira
citao, pode-se afirmar que a sensao sensorial ali mencionada a sensao
objetiva que se reporta ao conhecimento. Diferente a sensao, ou sentido,
descrito na segunda sensao, que no tem nenhuma ligao cognitiva. Com
efeito, notamos que existem dois tipos de sensao: a sensao objetiva (que
est atrelada a representatividade do objeto, exigindo uma receptividade sensorial
do mesmo) e a sensao subjetiva (que o sentimento de prazer; este no pode
de maneira alguma constituir uma representao de um objeto).
Primeiramente se nos perguntarmos por que o fenmeno mental do Juzo
derivado da sensao do gosto e no de sensaes mais objetivas do gosto,
94
Idem, 40, p. 142.
50
como a viso, que possibilita uma anlise mais comparativa perante os outros,
concluiremos que o paladar e o cheiro so as sensaes mais privadas. Isto
porque essas sensaes no sentem um objeto, mas puramente derivam da
prpria sensao. Essas sensaes propriamente ditas, do paladar e do olfato,
no so de fcil assimilao, pois no podemos record-las como recordamos
com exatido um objeto visto ou uma melodia escutada. Conforme exemplo de
Arendt, lembraremos do cheiro de uma rosa ou do gosto de uma refeio
somente se os provarmos novamente, mas no espontaneamente na imaginao.
Ora, o paladar e o olfato so sensaes que no podem ser representadas, no
haveria como, por exemplo, transform-los em arte subjetivamente. Por outro
lado, observamos que estas duas sensaes remetem ao Juzo, isto porque
possuem, por natureza, um carter discriminatrio que parte do particular ao
particular; pois h de se encontrar sua particularidade diante de todos os objetos
dados pelas sensaes objetivas. Assim, entendemos que a causa de prazer ou
desprazer est presente nas sensaes olfativas ou gustativas de forma imediata,
o que quase semelhante afirmar estar de acordo ou em desacordo ao gosto
particular. Isso porque as sensaes visuais e auditivas no so imediatas, pois
implicam algum pensamento ou reflexo. Outrossim ocorre com o tato. Essas trs
sensaes, na medida em que so submetidas subjetividade, anulam a
objetividade existente. Com efeito, conclumos que as sensaes olfativas ou
gustativas so sensaes internas, ou seja, sentimo-las porque esto em ns e
partem de ns, ou melhor, na particularidade de cada um. Somos imediatamente
afetados. Por tal motivo, no se pode discutir sobre um gosto verdadeiro; o que
nos remete a frase comumente pronunciada: gosto no se discute.
Consequentemente, isso pode nos persuadir a pensar que as sensaes no so
comunicveis em hiptese alguma. Arendt, em leitura a Kant, nos apresenta duas
solues: a faculdade de imaginao e o senso comum. A imaginao
entendida como a faculdade de ter presente aquilo que est ausente; ela ocorre
atravs de uma sensao no objetiva afetada pela interiorizao da mesma. E o
senso comum uma conveno dada pelo fato de que o belo nos interessa
somente em sociedade. Da o exemplo que Kant nos traz de que um homem
vivendo sozinho numa ilha deserta no adornaria nem seu lar e nem a ele
mesmo, ou mesmo o fato de que as pessoas no se contentam com um objeto
51
que agrada a elas mesmas e no aos outros.
95
No gosto renunciamos a ns
mesmos em favor dos outros. Da o porqu do egosmo ser suprimido e a
moralidade, mais uma vez, timidamente aparecer no quesito esttico.
Para Kant, bem como para Sartre, o belo no est na percepo (o que
resultaria no agradvel), mas no prprio ato de julgar. Ora, se nos reportarmos s
sensaes visuais, auditivas e tateveis, todas nos so dadas atravs de
representaes. E representaes nos submetem imaginao, que, por sua vez,
nos prepara o terreno para a reflexo. Eis o juzo reflexionante. ele, por
conseguinte, quem refutar a objetividade desinteresse na positividade para
empreender, pela imaginao, o prazer. Haja vista, ocorre uma passagem da
sensao objetiva para a sensao subjetiva e a reflexo que ir conduzir essa
passagem atravs da imaginao. Porm, como vimos, diferentemente ir ocorrer
na tese de Sartre que refuta a idia de que a imaginao apenas seja um meio da
reflexo. Pois para ele na imaginao que se apreende o belo, e somente nela
se vivencia a experincia da beleza.
Arendt, tendo em vista o interesse objetivo pelo belo apontado por Kant,
considera que somos seres com a necessidade de vivermos em sociedade, e isso
ir refletir no juzo do gosto. Consoante mencionamos acima, citemos as palavras
de Kant, no pargrafo 41:
Um homem abandonado em uma ilha deserta no adornaria para si s nem
uma choupana nem a si prprio, nem procuraria flores, e muito menos as
plantaria para enfeitar-se com elas, mas s em sociedade ocorre-lhe ser
no simplesmente homem, mas tambm um homem fino sua maneira (o
comeo da civilizao); pois como tal ajuza-se aquele que inclinado e
apto a comunicar seu prazer a outros e ao qual um objeto no satisfaz se
no pode sentir a complacncia do mesmo em comunidade com
outros.(KANT, Crtica da Faculdade do Juzo , 1995, 41)
De tal modo, devemos superar nossas condies especiais de
subjetividade por respeito ao prximo: o elemento no-subjetivo nas sensaes
no-objetivas a intersubjetividade. (Voc pode estar sozinho para pensar; mas
precisa de companhia para apreciar uma refeio).
96
95
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo , Ed. Forense Universitria, 2 edio, 41.
96
ARENDT, H. Lectures on Kants Political Philosohpy, The University of Chicago Press, Chicago,
1992, p. 67. (T.A.) Arendt se apoia aqui nos comentrios que Kant faz na Antropologia de um
Ponto de Vista Pragmtico: Comer sozinho nocivo para um douto filosofante: no
restaurao, mas exausto (principalmente quando se torna glutonaria solitria), trabalho
52
A faculdade do juzo situa-se entre o entendimento e a razo. Em geral
(...) a faculdade de pensar o particular como contido no universal. No caso
de este (a regra, o princpio, a lei) ser dado, a faculdade do juzo, que nele
subsume o particular, determinante (...). Porm, se s o particular for
dado, para o qual ela deve encontrar o universal, ento a faculdade do juzo
simplesmente reflexionante.
97
A faculdade de juzo determinante somente subsume, dadas as leis
transcendentais universais fundamentadas pelo entendimento. Como a lei lhe
dada a priori no h necessidade de pensar uma lei para si mesma, como seria o
caso do juzo reflexionante. Este no pode retirar o princpio da experincia e nem
prescrev-lo natureza, pois a reflexo sobre as leis da natureza orienta-se em
funo desta.
98
Por isso o juzo reflexionante pode dar a si mesmo um princpio
como lei. Embora sejam juzos distintos, eles se complementam para a
esquematizao a priori dos conceitos da natureza e aplicao desses esquemas
nas snteses empricas. Sem isso, nenhum julgamento de experincia seria
possvel.
O conceito de um objeto chama-se fim. O fim determina a unio da coisa
com as coisas, o que Kant denominar de conformidade a fins
99
(Zweckmssigkeit) da forma dessa coisa. A conformidade a fins da natureza na
sua multiplicidade, como um particular conceito a priori de origem na faculdade de
juzo reflexiva, o princpio da faculdade de juzo. O princpio transcendental, e
no emprico, representa a priori a condio universal. Ora, o fundamento para
julgar deve buscar a priori, nas fontes do conhecimento, uma necessidade lgica.
A natureza especifica suas leis universais para a nossa faculdade de
conhecimento, conforme o princpio da conformidade a fins, ou seja, as leis
universais so adequadas ao nosso entendimento humano que tem por objeto
encontrar o universal no particular. Podemos determinar limites no uso racional
das faculdades de conhecimento, mas no no campo do emprico, porque neste o
extenuante, no jogo vivificante dos pensamentos. (p. 176-177)
97
KANT, I. Crtica da Faculdade de Juzo, traduo de Valrio Rohden e Antonio Marques, Ed.
Forense Universitria, 2 edio, p. 23 (alterao de traduo: reflexivo p/ reflexionante).
98
Idem, p. 24.
99
KANT, I. Crtica da Faculdade de Juzo, traduo de Valrio Rohden e Antonio Marques, Ed.
Forense Universitria, 2 edio, p. 25.
53
julgamento no possui uma legislao prpria, mas princpios para ento procurar
leis que lhes so cabveis.
Toda inteno (a priori) est ligada ao sentimento (determinado) de
prazer. A razo para o prazer a unio entre duas ou vrias leis da natureza
emprica. Todas as capacidades ou faculdades do nimo podem ser reduzidas em
trs: faculdade de conhecimento; faculdade de sentimento de prazer e desprazer;
e faculdade de desejo (ou apetio, conforme traduo de Valrio Rohden). Para
a faculdade de conhecimento apenas o entendimento legislador. Para a
faculdade de desejo apenas a razo legisladora a priori segundo o conceito de
liberdade. Eis que entre a faculdade de conhecimento e a faculdade de desejo
encontra-se o sentimento de prazer. Mas tambm o juzo uma faculdade,
justamente por ser sempre irredutvel ou original. Com efeito, por estar situada
entre o entendimento e a razo, a faculdade de juzo uma faculdade de
conhecimento, e legisla na faculdade de sentir; da que provm o juzo esttico.
Nas palavras de Deleuze: (...) o juzo esttico reflexivo; no legisla sobre
objetos, mas somente sobre si mesmo; no exprime uma determinao de objeto
sob uma faculdade determinante, mas um acordo livre de todas as faculdades a
propsito de um objeto refletido.
100
Lebrun compara, numa viso aproximativa, essa noo de juzo esttico
kantiana com a noo fenomenolgica de neutralizao, pois a suspenso da
posio de existncia ocasiona uma mudana de atitude em relao ao olhar que
no se volta mais para a coisa, como objeto, mas para a manifestao advinda
deste.
101
Sartre, em O Imaginrio, retoma essa experincia esttica
desinteressada quando menciona que a obra de arte um irreal. Apoiemo-nos em
seu exemplo da tela de Charles VIII. Primeiramente sabemos que esse Charles
VIII, ora pintado, apenas uma representao. Mas totalizando essa imagem com
o restante da tela e mais as habilidosas pinceladas e combinaes de tinta
desenvolvidas pelo artista, tem-se uma pintura prxima do real. Atravs dessa
tela se concebe o objeto esttico. Mas para obter essa experincia, a conscincia
irrealizou, ou seja, desconsiderou os componentes que formam a imagem de
Charles VIII numa operao radical na qual Sartre, como vimos, denomina de
100
DELEUZE, G. A filosofia crtica de Kant, Edies 70, Lisboa, 1963, p. 67.
101
LEBRUN, G. Kant e o fim da metafsica, Martins Fontes, So Paulo, 1993, 2 edio, p. 433.
54
nadificao, assim se constituir a conscincia imaginante.
102
A tela, por
conseguinte, em sua totalidade funciona como um analogon
103
;
(...) o que se manifesta atravs dele [do quadro] um conjunto irreal de
coisas novas, objetos que eu nunca vi e nem os verei jamais, mas que no
so menos que objetos irreais, objetos que no existem no quadro, e em
nenhuma parte do mundo, mas que se manifestam atravs da tela e que
so apoderados dela por uma espcie de possesso. E o conjunto desses
objetos irreais que eu qualificaria de belo.
104
O juzo esttico real, porm, um modo de apreenso do objeto irreal. E
este juzo serve para constituir, atravs da tela, o objeto imaginrio. Para Sartre
da que vem o famoso desinteresse da viso esttica.
105
E eis por que Kant
pde dizer que era indiferente que o objeto belo, apreendido na medida em que
belo, fosse provido ou no de existncia.
106
O elemento subjetivo da representao que no pode ser conhecido ele
mesmo o prazer ou desprazer ligado a esta representao mesma. A
conformidade a fins, em Kant, precede o conhecimento de um objeto, e isto
somente se sucede quando sua representao for imediatamente combinada com
o sentimento de prazer (representao esttica da conformidade a fins), todavia
Kant questiona se h mesmo uma representao da conformidade a fins.
O prazer adere ao sujeito da representao e no ao objeto, pois o sujeito
se abstrai do elemento cognitivo para se ater ao reflexivo. Por isso, o prazer pode
apenas expressar a finalidade subjetiva do objeto. A imaginao (faculdade das
intuies a priori) situa-se a par do entendimento para ento despertar o
sentimento de prazer. O objeto, por sua vez, torna-se fim para a faculdade de
juzo reflexionante. Tal juzo esttico conformidade a fins do objeto, sem
mesmo fundament-lo ou conceitu-lo. Se ajuizarmos a forma desse objeto e no
sua matria, sem a inteno de retirar conceitos dele, mas na pura e simples
reflexo como forma de um prazer, este prazer estar submetido representao
desse objeto, no s para o sujeito que o observa, mas para todos aqueles que
julgam. Por conseguinte, este objeto denomina-se belo e a faculdade de julg-lo
102
SARTRE, J.P. Limaginaire, p. 362.
103
Um representante analgico do objeto visto. Idem, p.46.
104
Idem, Ibidem (T.A.).
105
Idem, Ibidem.
106
Idem, Ibidem.
55
chama-se gosto, por ser este um juzo universal. Mas o que vem a ser o refletir
para Kant?
Kant considera o Juzo ou como uma mera faculdade de refletir (...) sobre
uma representao dada (neste caso seria o Juzo Reflexionante) ou como uma
faculdade de determinar um conceito (...) por uma representao emprica dada
(e este seria o Juzo Determinante).
107
Refletir, para Kant, : comparar e manter
juntas dadas representaes, seja com outras, seja com uma faculdade-de-
conhecimento, em referncia a um conceito tornado possvel atravs disso.
108
Kant tambm denomina o Juzo Reflexionante como faculdade-de-julgamento,
pois ambos devem encontrar o particular no universal. Porm, o refletir carece de
um princpio, e refletir sobre objetos dados da natureza exige o seguinte princpio:
para todas as coisas naturais se deixam encontrar conceitos empiricamente
determinados. Se o Juzo Reflexionante procura de forma sistemtica por
conceitos, se utilizando, por exemplo, de gneros e espcies para efeito
comparativo de formas naturais, o Juzo pressupe um sistema da natureza
tambm segundo leis empricas, e isto a priori, consequentemente por um
princpio transcendental.
109
Por isso sempre pressupomos aos objetos ou
fenmenos dados uma forma que nos cognoscvel, s possvel pelas leis
naturais. Sem essa pressuposio todo o refletir seria em vo. O Juzo
esquematiza-se a priori e aplica esses esquemas a toda sntese emprica.
No final da analtica do belo, Kant chega concluso de que o gosto
uma faculdade de julgamento de um objeto em referncia legalidade livre da
imaginao. Essas condies da reflexo (concordncia do objeto com as
faculdades do sujeito) so universais a priori. Os juzos empricos, que no so
conceitos empricos, mas sentimentos de prazer, so vlidos para todos, como se
estivessem associados a um predicado do conhecimento do objeto. Os
fundamentos do prazer esto na condio universal subjetiva dos juzos
reflexionantes, ou seja, na concordncia conforme os fins de um objeto, seja este
de arte ou de natureza, com o relacionamento que fazem com as faculdades de
conhecimento entre si. As faculdades de conhecimento so exigidas para todo
107
KANT, I. Primeira Introduo Crtica do Juzo, Traduo de Rubens Rodrigues Torres Filho.
In: Os Pensadores, So Paulo, Abril Cultural, 1974, p. 270.
108
Idem, p. 270.
109
Idem 271 (nota 4).
56
conhecimento emprico (faculdade da imaginao e faculdade do entendimento),
por isso cabe a a crtica ao juzo do gosto, pois este no de modo algum
determinante a priori. Consequentemente, Kant verifica que o juzo esttico ocorre
no somente em um juzo de gosto em relao ao belo, mas tambm quando um
sentimento espiritual despertado: o sublime. Da ir dividir a crtica do
julgamento esttico em duas sees: o Belo e o Sublime. Porm, no vem ao
caso avanarmos aqui no que se refere ao Sublime, dada a extenso dessa
abordagem.
Por fim, o entendimento, faculdade que na condio de conhecimento
terico, legisladora a priori em relao natureza; enquanto objeto da natureza,
legisla sobre os fenmenos, mas apenas quando estes so considerados na
forma da sua intuio. As categorias do entendimento constituem leis gerais e se
manifestam sobre a natureza como objeto de experincia possvel. A razo, por
sua vez, legisladora a priori em relao liberdade e a causalidade (supra-
sensvel no sujeito) para um conhecimento incondicionado prtico. O conceito de
natureza no determina nada nas leis prticas da liberdade, e nem s leis tericas
da natureza determinam sobre as leis da liberdade. A faculdade de juzo vai ento
possibilitar a passagem do domnio do conceito de natureza para o conceito de
liberdade. E este um ponto que nos interessa para pensarmos a liberdade no
juzo do gosto kantiano com a liberdade criativa do pblico perante a obra, na
fruio sartriana, conforme analisaremos a seguir.
Ocorre nos sentimentos de prazer e desprazer a faculdade de juzo que
independe de conceitos, pois se refere faculdade de desejo. Na faculdade de
desejo a razo, que prtica, exerce suas atividades sem que haja a mediao
de prazer. Observa-se, vista disso, que o juzo esttico um princpio
constitutivo em relao ao sentimento de prazer e desprazer sobre determinado
objeto (de natureza ou de arte). O prazer est fundamentado nas faculdades de
conhecimento, o que no quer dizer que deva trazer conhecimento, por isso, o
conceito pensado adequado conexo existente entre os conceitos de natureza
e de liberdade, o que provoca a receptividade do nimo ao sentimento moral. A
esttica manifesta um interesse especial pelo belo, interesse esse que nos remete
a ser moral, pois prepara o advento da lei moral e o interesse prtico puro. Aqui
57
observamos que Kant manifesta um encontro da esttica com a tica.
Examinemos com uma exposio mais minuciosa do prazer e do gosto.
VI. O sentimento de prazer e o juzo do gosto
Segundo Kant, o juzo do gosto um juzo subjetivo, pois no lgico,
mas esttico, e no vai do entendimento ao conhecimento, mas da faculdade de
imaginao ao sujeito que afetado pela sensao, causando-lhe, com efeito, o
sentimento de prazer e desprazer. Este sentimento nada tem a contribuir ao
conhecimento, pois tem apenas a qualidade de manter no sujeito a relao entre
a representao dada e a inteira faculdade de representaes, ademais, uma
faculdade do nimo que, por conseguinte, se torna consciente de seu estado.
Kant define que o sentimento de prazer e desprazer tem trs relaes com as
representaes: o agradvel, o bom e o belo.
A sensao, para Kant, se divide em subjetiva ou objetiva, esta a
emprica (como, por exemplo, a cor) e aquela onde nada, alm da satisfao
(que ela mesma sensao de prazer), representado. A satisfao no
depende do interesse pela existncia ou no da representao de um objeto, o
que importa a simples contemplao. Alm disso, Kant, um pouco controverso,
salienta que devemos nos colocar a parte da questo da existncia da coisa para
podermos julgar sobre o gosto. Porm, posteriormente, ir conferir um interesse
emprico pelo objeto prevalecendo que da que se parte e se preserva o gosto
quando o mesmo objeto causa de prazer.
Em se tratando da satisfao, Kant aponta o agradvel como
correspondente satisfao. O agradvel no apenas satisfaz como tambm
gratifica. Se meu juzo sobre um objeto me agrada ele tambm me provoca um
desejo por este, gerando uma inclinao. Aliado a isso, surge o bom como aquilo
que satisfaz pela razo atravs do conceito. O bom tem um carter utilitrio: bom
para. O bom pode ser um meio ou bom em si; em ambos h um conceito de um
fim. A satisfao est na razo de querer a existncia de um objeto ou de uma
58
ao, o que designado como interesse. Ora, para que se considere algo como
bom, devo ter um conceito disso, porm, para consider-lo belo no necessito
conhec-lo. O agradvel se assemelha ao bom, da ser usual afirmar que o
gratificante bom. Mas esta afirmao incorreta, pois o agradvel e o bom so
coisas distintas. O agradvel se d atravs dos sentidos, por conseguinte, pela
razo. O bom o objeto da vontade, que a faculdade de desejo determinada
pela razo, portanto, ele condicionado. Por isso, conclui-se que ter satisfao
por algo, quer-lo e tom-lo como interesse a mesma coisa.
Retomando aos trs modos de satisfao, podemos definir que o
agradvel gratifica, o belo satisfaz (d prazer) e o bom estimado (aprovado). O
belo e o bom acontecem somente para os homens enquanto animais racionais. O
belo o nico desinteressado e livre entre os trs; ele designa inclinao, favor
(nica complacncia livre) e respeito. Como o interesse pressupe uma
necessidade ou a produz, a moral produz uma necessidade, e o gosto moral joga
com objetos da satisfao sem se prender a eles. A questo aqui que Kant
reconhece uma liberdade distinta da liberdade moral: a liberdade do julgar e do
sentimento de prazer, ou seja, a liberdade esttica. Cabe aqui a anlise de
Lebrun:
Neste momento em que a palavra esttica designa ainda uma regio
psicolgica e j uma disciplina filosfica, em que de adjetivo ela torna-se
substantivo, seu prprio deslizamento o indcio da descoberta de uma
liberdade de uma outra envergadura que a liberdade moral.
110
Portanto, a liberdade esttica apontada por Kant, nos d indcio de uma
aproximao com a liberdade que Sartre requer para que haja a fruio. Pois
ambas se atribuem condio subjetiva e imaginria. Para Kant a liberdade
esttica se volta mais para o juzo do gosto, que dado atravs da reflexo,
uma liberdade investigativa e apreciativa, no est no plano da prtica, e tambm
a liberdade que ocorre na reivindicao pela universalidade do gosto. Para
Sartre esta liberdade esttica representa a criao, tanto por parte do autor da
110
LEBRUN, G. Kant e o fim da metafsica, Martins Fontes, So Paulo, 1993, 2 edio, p. 433.
Aqui Lebrun se refere ao advento da Esttica como disciplina no Esclarecimento. Pois o
sentimento de prazer, refletido por Kant, marca a chegada de uma liberdade bastante inslita,
pois Desafio supremo s descries do senso comum, ele libera o homem de toda
determinao no prprio nvel das inclinaes, e no alm dele. (Idem, Ibidem)
59
obra, como para o sujeito que a contempla, pois este ao contemplar tem a
liberdade de criar continuamente enquanto a aprecia.
correto afirmar que o juzo do gosto meramente contemplativo, no
nem terico nem prtico. Tambm no juzo de conhecimento porque, embora
se efetive atravs do sensvel, no se relaciona com o interesse pela existncia
do objeto. O gosto independente de todo interesse, cabe a ele a faculdade de
julgar um objeto ou mtodo de representao mediante satisfao ou insatisfao
sem que haja o interesse. Assim, pelo exposto, o objeto da satisfao o que
Kant denomina belo no primeiro momento da Analtica do Belo.
111
Com relao ao
prazer e o desinteresse, Deleuze faz a seguinte leitura: ...o prazer esttico to
independente do interesse especulativo como do interesse prtico e define-se a si
prprio como inteiramente desinteressado.
112
Kant denominar de finalidade sem
fim o juzo esttico no lgico e sem conhecimento. um prazer desinteressado
na positividade.
Para Kant, o gosto pode ocorrer de duas maneiras: gosto dos sentidos
(juzos privados: o agradvel) e gosto da reflexo (juzos geralmente vlidos
pblicos: o belo). Em ambos a esttica julga o aspecto do prazer e desprazer
causado pela representao de um objeto.
Um juzo objetivo e universal vlido tambm vlido subjetivamente. Ele
vale para tudo o que est sob um conceito dado e vale para todas as
representaes de objetos que estejam sob este conceito. A universali dade
esttica, que tem validade universal subjetiva, no est vinculada ao objeto, mas
sim aos que julgam. Na lgica, todos os juzos de gosto so singulares, enquanto
eles trazem uma universalidade esttica, os juzos provocados pelos sentidos so
estticos e singulares. O bom tem universalidade lgica, porm no meramente
esttica em razo de ter validade como conhecimento de objeto, vlido para
qualquer um. Neste sentido, do juzo do gosto parte uma voz universal sem
mediao de conceitos, a fim de que haja possibilidade de um juzo esttico vlido
para qualquer um.
O estado de nimo, livre das faculdades de representao, e encontrado
na relao entre as faculdades de representao, responsvel subjetivamente
111
KANT, I. Crtica da Faculdade de Juzo, traduo de Valrio Rohden e Antonio Marques, Ed.
Forense Universitria, 2 edio, p. 55.
112
DELEUZE, G. A filosofia crtica de Kant, Edies 70, Lisboa, 1963, p. 54.
60
pela comunicabilidade universal existente na representao. Este estado, quando
na relao livre entre a faculdade de imaginao e o entendimento, provoca a
comunicabilidade que unifica as representaes para um conhecimento. Essa
relao (imaginao/entendimento) ir se desencadear na reivindicao pela
universalidade do gosto, e ela s possvel atravs da sensao. Por sua vez, o
ajuizamento subjetivo do objeto proporciona o prazer do mesmo e, com efeito,
fundamenta o prazer. Uma relao objetiva s pode ser pensada; subjetivamente,
pode ser sentida no efeito sobre o nimo. E como a beleza exige referncia ao
sentimento do sujeito, Kant conclui, no segundo momento, que o belo aquilo
que, sem conceito, apraz universalmente.
113
O fundamento do juzo de gosto a finalidade. O fim o objeto de um
conceito, e a causalidade deste conceito a finalidade. impossvel estabelecer
a priori a ligao do sentimento de prazer e desprazer de qualquer representao
com sua causa. O prazer tem causalidade em si para conservar o estado da
representao e o exerccio dos poderes do conhecimento. O belo exerce algo
sobre ns de modo que o contemplemos lentamente porque, concomitantemente,
fortalece e reproduz a si mesmo. Diante disso, permanecemos passivos em
relao ao belo.
A mistura de atrativo e emoo o critrio para a aprovao dos gostos.
Mas quando o juzo do gosto no tem nenhuma dependncia ou influncia dessa
mistura, chama-se juzo de gosto puro. O juzo de gosto s pode ser puro quando
no se envolve com satisfaes empricas em seu fundamento de determinao.
Juzos estticos, no ponto de vista de Kant, podem ser empricos ou puros. Os
empricos (juzos de sentidos), que so materiais, assentam o agrado ou o
desagrado. J os puros (juzos de gosto), formais, contemplam a beleza de um
objeto. O atrativo necessrio beleza e suficiente por si s para ser
denominado belo. O problema que os atrativos afetam prejudicialmente o juzo
de gosto quando postos como fundamento de julgamento da beleza. As
sensaes s so belas quando puras, pois as suas determinaes dizem
respeito forma, e esta responsvel por constituir o objeto de juzo de gosto
puro. Ora, a sensao de cor, por exemplo, no pode ser digna de contemplao
113
KANT, I. Crtica do juzo, in Os Pensadores Kant (II), Trad.: Rubens Rodrigues Torres Filho,
Ed. Abril Cultural, p. 221.
61
e nem considerada bela, pois o que determina isso a forma relacionada a ela, e,
alm disso, as cores pertencem ao atrativo. As cores e os sons contribuem para
despertar e conservar a ateno pela representao do objeto. Por isso, como
vimos acima, os ornamentos (molduras) e enfeites causam dano beleza
genuna, pois caem no mbito do atrativo, pois remetem percepo. A forma
tem como significado a reflexo de um objeto singular na imaginao, ou seja, ela
o que a imaginao reflete de um objeto em oposio ao elemento material
sensitivo que este objeto provoca enquanto est a e age sobre ns.
Kant afirma que a emoo no pertence beleza, pois ela est vinculada
ao sublime. Por conseguinte, o juzo de gosto puro no tem nem atrativo nem
emoo, e a conseqncia que nenhuma sensao ir fundamentar e
determinar este juzo. O belo tem por julgamento uma finalidade formal que
independe da representao do bem, pois enquanto belo, no tem fim utilitrio
(que seja externo a ele), mas tem o fim em si mesmo (interno); ao contrrio de um
fim objetivo de algo que exige o conceito deste. A concordncia do conceito com
o diverso o que Kant chama de perfeio qualitativa. O belo no possui
conceitos para que possa ser representado. O sujeito que julga age como se a
beleza estivesse intrnseca e inseparvel do objeto. Ora, por isso que ir
requerer aos demais sujeitos a concordncia de seu ajuizamento do gosto.
VII. Forma e finalidade sem fim
Se a satisfao determinada pelo juzo do gosto desprovida de
interesse, poderamos com isso questionar se h algum fim quando do senti mento
de prazer provocado pelo belo. Kant define a finalidade como efeito de excitar
harmoniosamente as faculdades humanas. Porm, no faamos confuso entre o
fim e a finalidade, pois todo fim sempre comporta um interesse como motivo de
julgamento, trazido pelo objeto do prazer, mas com uma destinao til; j a
finalidade est vinculada ao sujeito em sua sensao de prazer experimentada. O
fim se detm nas propriedades do objeto, e o juzo esttico, por sua vez,
62
puramente subjetivo, resultante do livre jogo entre a imaginao e o
entendimento. Ora, o fim pode ser a satisfao adquirida pelo objeto, mas de
carter utilitrio e de interesse; a finalidade se atm apreenso da forma do
objeto pelo sujeito e o sentimento de prazer e desprazer exercido no sujeito, de
modo a julgar esteticamente o objeto. Com efeito, Kant afirma que o juzo esttico
no tem outro fundamento seno a forma da finalidade de um objeto. da que
deduz, tambm, que a satisfao determinada pelo juzo do gosto uma
finalidade sem fim.
Do formal, na representao, no se tem nenhuma finalidade objetiva. O
fim que existe, por abstrao, subjetivo naquele que intui uma forma dada
imaginao. Isso no significa uma qualidade de perfeio, porque no pensado
nenhum conceito de fim. Sendo juzo esttico, o juzo de gosto repousa sobre
fundamentos subjetivos. Estes no podem designar conceitos e tampouco um fim
determinado. Conforme j observado, o juzo esttico no traz conhecimento de
um objeto, pois no juzo lgico, destarte, no traz nenhum conceito. A
faculdade dos conceitos, quer sejam claros quer sejam obscuros, dada atravs
do entendimento. Por fim, o juzo de gosto requer o entendimento como faculdade
de determinao do juzo e de sua representao. Assim, podemos concluir que a
beleza uma finalidade subjetiva formal.
Para Kant, h duas espcies de beleza: a beleza livre e a beleza
aderente. A beleza livre no pressupe conceito do que o objeto, ao contrrio
da beleza aderente que pressupe a perfeio. A primeira requer que seja beleza
de alguma coisa; a outra adere a um conceito (beleza condicionada) de um
objeto. As belezas naturais livres (flor, animais, paisagens, etc.) so belas por si,
sem necessitarem de conceitos de determinao, pois aqui o juzo de gosto
puro. A beleza de algo (aderente) pressupe um conceito de fim que determine o
que a coisa deva ser, e este conceito qualifica a sua perfeio; ocorre aqui uma
mistura entre o agradvel e a beleza, o que acaba por extrair a pureza do juzo de
gosto. A satisfao com a beleza livre acontece imediatamente com a qual o
objeto dado e no pensado, pois no exige conceitos.
A mistura do belo com o bom, uma satisfao esttica unida satisfao
intelectual, provoca uma prescrio de fins a objetos determinados. O gosto
unificado razo tem sua validade universal objetiva, isso por se utilizar de um
63
modo de pensamento. Ora, a partir da, nos dada, atravs dos sentidos (juzo de
gosto puro) com o que pensado (juzo de gosto aplicado), a faculdade do poder
de representao.
No h regra de gosto objetiva que determine atravs de conceitos o que
belo. Este se d pelo sentimento do sujeito (fundamento de determinao) e
no por um conceito de objeto. Atravs da idia, que um conceito da razo,
pode-se ter um prottipo do gosto. Esse prottipo ser o ideal do belo, todavia,
um ideal da imaginao que no repousa sobre conceitos e sim sobre a
exposio. Para se chegar a um ideal de beleza, deve-se fixar a beleza em um
conceito de finalidade objetiva, portanto, j sabemos que no ser um juzo de
gosto puro. Da beleza aderente aos fins determinados no se pode representar
nenhum ideal. oportuno destacar que o homem o nico ser suscetvel de ideal
de beleza por determinar ele mesmo seus fins.
Para que as regras de julgamento sejam possveis as idias-normas,
conforme denomina Kant, so acionadas. Entretanto, essas no so idias tiradas
de propores da experincia (idia de cavalo, por exemplo), conforme regras
determinadas. A idia-norma retira todos os elementos possveis da experincia
para a construo, na imaginao, de uma figura que definir um gnero
particular: suas medidas e qualidades, sobretudo, suas finalidades, que a tornaro
aptas e a condicionaro ao julgamento esttico. A idia-norma no ela mesma o
ideal do belo e nem um prottipo da beleza, mas a forma que ir constituir a
condio para que algo seja belo, ou seja, a regra. Para Sartre, ocorre um
processo semelhante dado atravs de sua concepo de analogon. Mas o que
fica evidente, tanto para Kant quanto para Sartre, o papel da imaginao como
condicionador da beleza.
Kant estabelece que nenhum atrativo-de-sentidos pode ser misturado
satisfao pelo objeto, trazendo a ele um grande interesse. Um julgamento nunca
pode ser puramente esttico; e um julgamento de ideal de beleza no pode ser
considerado um juzo de gosto. No terceiro momento da Analtica do Belo, conclui
que: Beleza a forma de finalidade de um objeto, na medida em que, sem
representao de um fim, percebida nele.
114
114
KANT, I. Crtica do juzo, in Os Pensadores Kant (II), Ed. Abril Cultural, p. 234.
64
Mas o que dizer da satisfao que se tem diante do belo e a pretenso
que esta seja universal? A satisfao a consequncia necessria de uma lei
objetiva. Essa necessidade pensada em juzo esttico denominada exemplar,
como se valesse universalmente para a concordncia de todos. uma
necessidade no apodtica, pois um juzo esttico no objetivo e nem de
conhecimento. Quando se declara que algo belo, deseja-se que todos devam
estar de acordo porque todos tm o mesmo fundamento que os condiciona e os
limita no julgar. O juzo de gosto s pode ser emitido pela pressuposio do
senso-comum, sendo julgado segundo conceitos.
Os juzos e conhecimentos se correspondem para chegar concordncia
em relao ao objeto. A comunicabilidade universal de um sentimento pressupe
um senso-comum que a condio necessria para a comunicabilidade universal
de nosso conhecimento. O sentimento do belo, quando expressado por uma
pessoa, requer um consentimento de todos os outros. Estes devem concordar
para validar o exemplar, constituindo uma mera norma ideal.
Na Observao Geral primeira parte da Analtica, Kant faz meno
regularidade nas formas, o que ir esclarecer sua teoria sobre o gosto. A
regularidade algo que atrai a satisfao do homem, porm ela determinada
por conceitos, como aqueles que definem um cubo ou uma pirmide. Mas Kant
destaca que a permanncia na regularidade enfastia o gosto, porquanto,
semelhana da natureza, em que prolonga o estado de contemplao humana
pela sua irregularidade aparente, as figuras artsticas cambiantes, a diversidade e
o uso criativo da perspectiva convidam a imaginao a jogar com o atrativo e
despertar uma permanente contemplao do gosto. Tarefa esta atribuda ao
gnio.
Uma das concluses que se tira da Analtica do Belo, consoante
observao do prprio Kant, e de significante importncia para esta pesquisa,
que o gosto uma faculdade de julgamento de um objeto em referncia
legalidade livre da imaginao, e que o entendimento, por sua vez, est
submetido imaginao. Outra concluso que o belo, para Kant,
desinteressado e possui uma finalidade sem fim, o que aqui j se pode adiantar
uma problemtica que Sartre ir tecer acerca dessa finalidade sem fim. A ttulo de
aclarao, vlido que citemos Rosa Grabriella de Castro Gonalves:
65
A expresso finalidade sem fim indica que quando se julga belo um objeto,
isso acontece porque se percebe nele uma legalidade, mas que esta
legalidade livre, ou seja, apreende-se a unidade de uma multiplicidade
sem que esta unidade tenha por fundamento um conceito e, portanto, no
existe uma legalidade objetiva e conceitual que unifique a multiplicidade no
objeto.
115
E ainda: (...) alm de excluir os fins objetivos, a finalidade sem
fim exclui os fins subjetivos, ou seja, aqueles que tm alguma relao com o
interesse.
116
Para Kant:
Todo fim, se considerado como fundamento de satisfao, traz sempre
consigo um interesse, como fundamento-de-determinao do juzo sobre o
objeto do prazer. Portanto, no pode estar no fundamento do juzo-de-gosto
nenhum fim subjetivo. Mas tambm nenhuma representao de um fim
objetivo, isto , da possibilidade do prprio objeto segundo princpios da
vinculao final, portanto nenhum conceito do bom, pode determinar o juzo-
de-gosto; porque um juzo esttico e no um juzo-de-conhecimento, que,
portanto, no diz respeito a nenhum conceito da ndole e da possibilidade
interna ou externa do objeto, por esta ou aquela causa, mas meramente
proporo dos poderes-de-representao entre si, na medida em que so
determinados por uma representao.
117
Conforme analisamos, ocorrem, no juzo, duas operaes mentais: a
imaginao e a reflexo. Na primeira, o juzo sobre objetos no campo da
experincia - que nos afeta pela sensao imediata da percepo - age sobre a
ausncia de tais objetos tornando-se uma sensao interna na medida em que os
mesmos so trazidos mentalmente. Ora, ao se criar uma representao de algo
que est ausente, a subjetividade ir agir sobre a objetividade que aos poucos
quase se desintegra. da que se provm o gosto, da sensao individual e
subjetiva de cada um. Desta operao da imaginao o objeto ora percebido, ora
imaginado, preparado para a operao da reflexo, que ento o momento do
julgamento do objeto, ou seja, o momento em que a reflexo julgar se o mesmo
causa prazer ou desprazer. Aqui a comunicabilidade requerida como
consentimento de aprovao do objeto dado; eis que da poder-se- obter o
senso comum (sensus communis x sensus privatus).
115
GONALVES, R. G. C., Tese de doutorado Forma e gosto na crtica do juzo, Universidade
de So Paulo, 2006; p. 24.
116
Idem, p. 25.
117
Kant, I. Crtica da Razo Pura e outros textos filosficos, So Paulo, Abril, 1974, p. 316-317.
66
Partindo do pressuposto que cada um possui as mesmas condies
sensoriais, correto afirmar que as sensaes so comunicveis e que a
capacidade do juzo possvel a qualquer um, assim como a capacidade de
pensar. Por outro lado, quando partimos da sensao interior, conforme descrito
acima, no podemos consider-la pblica, mas sensao particular ou privada.
Para Arendt, nesse momento nenhum juzo est envolvido: ns somos
meramente passivos, ns reagimos, no somos espontneos conforme quando
imaginamos algo vontade ou refletimos sobre isso.
118
E, conforme a autora
menciona, no plo oposto a essas sensaes encontramos os juzos morais,
ditados pela razo prtica. J o juzo do belo resulta da apreenso de um objeto
atravs da imaginao. Nesse juzo as experincias comuns so requeridas de
forma a pressupor em cada outro ser o mesmo juzo. Dessa forma o juzo do belo
est baseado no senso comum e um juzo expressivamente intelectual.
Ser, ento, que a partir disso podemos responder a questo da
moralidade trazida por Kant na analtica do belo? Por que motivo controverso
Kant, na Crtica do Juzo, ir apontar o belo (ou a arte) como smbolo da
moralidade? Teria, posteriormente, essa perspectiva alguma relao com a
liberdade sartriana no processo de fruio artstica entre o autor e seu pblico?
Vejamos.
VIII. Kant e o belo como smbolo do moralmente bom
Para Kant, apenas a beleza natural capaz de despertar aquilo que ele
descreve como interesse intelectual pelo belo. Apesar do juzo do gosto ser
desinteressado, isso no significa que no possa haver um interesse pelo belo.
Ora, no faamos confuso entre uma coisa e outra, pois dizer que o belo possa
ser motivo de interesse no o mesmo que dizer que o interesse seja o motivo do
belo. O prazer esttico no est atrelado existncia do objeto, mas este prazer
118
ARENDT, H. Lectures on Kants Political Philosohpy, The University of Chicago Press, Chicago,
1992, p. 70. (T.A.)
67
deriva desta existncia, ou seja, ocorre um prazer pela existncia do objeto,
vontade da sua presena como fundamento permanncia de um sentimento.
Ora, se temos uma vontade, esta pode ser determinada a priori pela razo.
Percebemos aqui, por estranho que parea, um interesse emprico que pode estar
supostamente baseado em nossa sociabilidade ou comunicabilidade universal. Se
somos seres inerentemente sociais, necessariamente nos interessamos pela
comunicabilidade universal de nossos juzos e sentimentos, consequentemente,
lembramos que Kant assim afirma o gosto: uma faculdade de ajuizamento de
tudo aquilo pelo qual se pode comunicar o seu sentimento a qualquer outro (grifo
meu).
119
Alm disso, Kant reconhece um interesse emprico (baseado na
inclinao pela existncia do objeto) e um interesse intelectual (relacionado s
determinaes a priori); e, com efeito, tambm comunicabilidade (por sermos
seres inerentemente sociais).
Vale ressaltar que o interesse pelo belo da arte no fornece
absolutamente nenhuma prova de uma maneira de pensar que se afeioe ao
moralmente bom ou sequer inclinado a ele. Isso atribudo ao belo natural. Kant
afirma que tomar um interesse imediato pela beleza da natureza (no
simplesmente ter gosto para julg-la) pode significar o reflexo de uma boa alma;
(...) e que se esse interesse habitual e liga-se de bom grado contemplao da
natureza, ele denota pelo menos uma disposio de nimo favorvel ao
sentimento moral.
120
Em Kant, o prazer pelo belo deriva de sua forma e a existncia deste
tambm apraz. Para o mesmo filsofo, ocorre uma superioridade do belo natural
em relao ao belo artstico. Ao comparar juzos estticos com juzos morais,
conclui que ambos dizem respeito forma: a forma dos objetos no primeiro caso
e a forma das mximas no segundo. De mesmo modo, ambos envolvem uma
satisfao que tomada como uma lei para todos, sem se aterem anteriormente a
algum interesse. Esses juzos diferem pelo fato de o juzo esttico se basear num
sentimento e o juzo moral se fundamentar sobre conceitos, e tambm porque o
juzo moral pode dar lugar a um interesse. Ora, de que modo podemos entender
nesse domnio o chamado interesse pelo belo?
119
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo, Forense Universitria, Rio de Janeiro, 2005, 2 Ed., p.
143.
120
Idem, p. 145.
68
No idealismo kantiano, este interesse um interesse intelectual, ou seja,
um interesse a priori e imediato: a priori porque a vontade racional se refere por
si mesma ao belo, e imediato porque a existncia do belo se torna interesse
unicamente pela sua existncia, sem que haja qualquer fim. Com efeito, o
interesse que se liga existncia do belo natural nos provoca uma admirao
pela beleza da natureza ao mesmo tempo em que desejamos a sua existncia.
Como j vimos, amar a beleza natural, para Kant, revela sentimentos
morais elevados no homem a ponto de este se inclinar ao bem moral e prenunciar
ento uma alma boa. A natureza e talvez Sartre concordasse com isso, por no
se referir aqui beleza artstica, em que o belo objeto de criao e fruio entre
artista (produtor) e pblico (receptor) - revela ao prazer esttico uma finalidade
sem fim; o que causa prazer vontade racional e lhe confere a nossa destinao
moral. O nimo, por sua vez, s pode refletir sobre a beleza da natureza
interessando-se por ela, pois a razo tem de tomar um interesse pelas
manifestaes da natureza a fim de admitir concordncias legais de seus objetos
(conformidade a fins) em relao a nossa satisfao, independente de qualquer
interesse.
121
No entanto, o que dizer da beleza artstica? Pode ela tambm simbolizar
a moralidade? Cabe a ns avaliarmos o teor instigante que agora Kant nos
enderea em sua terceira Crtica: uma proximidade da esttica com a tica,
provindo da beleza da natureza ou da beleza artstica. Esse nexo a priori e
mesmo necessrio entre o belo e o interesse moral, apesar de anteriormente ter
sido excludo da constituio do belo e do prazer esttico, doravante ressurge,
inteiramente restitudo.
Podemos ora notar dois tipos de satisfao causada pela representao
da conformidade a fins dos objetos da natureza: a satisfao pela forma desses
objetos e uma satisfao pela existncia dos mesmos, e a partir da notamos um
interesse do sentimento moral por este tipo de beleza (o natural). Ocorre que para
fazermos uma relao entre beleza natural e sentimento moral preciso
considerar aquela como se fosse beleza artstica, no sentido de parecer ser o
121
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo, Forense Universitria, Rio de Janeiro, 2005, 2 Ed., p.
146.
69
fruto de uma vontade livre e racional.
122
O belo artstico pode suscitar a idia da
finalidade da natureza. A finalidade da forma comum aos dois tipos de beleza.
De acordo com Henry Allison, se levarmos em considerao que, para Kant, a
bela arte deva parecer natureza, poderamos argumentar que a apreciao da
bela forma nas obras de arte desperta em nosso nimo um potencial maior de
contemplao tambm nas formas na natureza, ou seja, um olhar mais refinado e
apreciativo atento s vrias formas que a natureza pode oferecer. o que nos
leva a pensar em semelhante finalidade da natureza atribuda obra de arte.
123
Ora, de acordo com esse argumento, tambm caberia ao belo artstico uma
suposta simbolizao da moralidade. Essa uma suposio que pode fazer jus
anlise de outros autores. Para Paul Guyer, por exemplo, o prazer esttico requer
mais que a mera harmonia das faculdades.
124
Visto que quando observamos com
freqncia aquilo que artificialmente belo, podemos sentir certa familiaridade
com a obra, por conseguinte, um interesse ou mesmo conhecimento pela mesma
pode ser manifestado. Contudo, as j esperadas formas, dadas atravs da
experincia contnua, podem criar fastio e at mesmo uma diminuio do prazer,
conforme Kant afirmara. aqui que a beleza artstica pode intervir conduzindo-
nos s formas inesperadas, ao novo, criao inusitada realizada unicamente
pelo gnio. Como tambm as buscamos na natureza, o cultivo dessas novas
formas, totalizadas em sua plenitude como objetos belos, pode ento simbolizar o
moralmente bom.
125
E aqui podemos aproximar Guyer a Allison no que diz
respeito forma no juzo esttico de Kant.
122
O pensamento de que a natureza produziu aquela beleza tem que acompanhar a intuio e a
reflexo; e unicamente sobre ele funda-se o interesse imediato que se toma por ele. (Idem. p.
145).
123
ALLISON, H., Kants Theory of Taste. Cambridge, Cambridge University Press, 2001 pp. 213-
215.
124
GUYER, P. Kant and the Claims of Taste, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, 2
nd
ed., p. 349.
125
oportuno ilustrar essa explicao com o pensamento trazido por Thierry de Duve quando
comenta que na obra de arte moderna e contempornea, num ps- kantismo, esse fastio,
causado pela contnua repetio de semelhanas em antigos movimentos da arte, intenso.
Eis que surge o diferente ou o inesperado. A busca desesperada pelo novo faz perder ento
a orla artstica, no mais discernindo o que podemos considerar ou denominar arte, perdendo,
por conseguinte, o antigo senso comparativo e imitativo que legitimava as obras, trazendo, com
isso, anormalidades no que diz respeito s formas. Conforme Duve menciona, na arte moderna
a preocupao foi outra, o que se via em evidncia era o tubo de tinta. (DUVE, T. Kant After
Duchamp, MIT Press, Massachusetts, 1996, p. 140-143, 175) Essa leitura vem coadunar com
a nfase proposta por Guyer no sentido em que a busca pela nova forma universal e
70
Todavia, o que devemos levar em conta que o cultivo do gosto e a
experincia da beleza realmente contribuem para o desenvolvimento da
moralidade e contribuem tambm necessria transio entre natureza e
liberdade. O belo natural indiretamente sugere uma finalidade que faz relao
moralidade e d origem ao interesse intelectual pelo belo na natureza. Mais que o
entendimento comum, o gosto pode ser considerado um sensus communis, por
envolver a capacidade de abstrair os fatores privados na reflexo e avaliar as
caractersticas formais de uma representao num ponto de vista universal.
126
Desse modo, as qualidades que fundamentam a conexo com a moralidade so
as mesmas que permitem que o gosto seja descrito como um sensus communis.
Kant bastante claro em relao s condies universais que so
requeridas ao gosto, leiamos:
Em qualquer um este prazer necessariamente tem que se assentar sobre
idnticas condies, porque elas so condies subjetivas da possibilidade
de um conhecimento em geral, e a proporo destas faculdades de
conhecimento, que requerida para o gosto, tambm exigida para o so e
comum entendimento que se pode pressupor em qualquer um. Justamente
por isso tambm aquele que julga com gosto (contanto que ele no se
engane nesta conscincia e no tome a matria pela forma, o atrativo pela
beleza) pode postular em todo outro a conformidade a fins subjetiva, isto ,
a sua complacncia no objeto, e admitir o seu sentimento como
universalmente comunicvel e na verdade sem mediao de conceitos.
(KANT, Crtica da Faculdade do Juzo, 2005, p. 142)
Este acordo de todos nos remete idia de um senso comum. preciso,
entretanto, estar atento idia do sensus communis como fundamento da
conexo entre beleza e moralidade. Kant afirmar que o belo, seja ele natural ou
intrnseca ao homem. E a prpria forma, no sentido de novo, pode ela estar delimitada pelo
juzo. O que dizer, por exemplo, da pintura pura, estilo abstrato trazido por Kandinsky, cujo
artista reivindicava que a arte abstrata demandaria para sempre uma necessidade interior?
Em suas telas dizia trazer o tato atravs das cores, ou o som musical das cores liberto da
limitao das formas, a fim de se ter um acesso direto alma, pois as formas quando dadas
conscientemente produzem um objeto puramente cerebral e sem alma. A alma do artista s
revelada quando essa necessidade interior aparece, deixando a mtrica das formas e as
adaptando profundamente a seu contedo (KANDINSKY, N. Du spirituel dans lart et dans la
peinture en particulier,Mediations, Paris, 1969). A pintura pura estudada por Danto e
Greenberg. Este ltimo, enquanto crtico de arte, fazia uma analogia com a Crtica da Razo
Pura, de Kant. Kant denominou de modo puro de conhecimento aquele em que no h
mistura de qualquer coisa de emprico, ora, isso ocorre quando se trata de um conhecimento
puro a priori. Para Greenberg, toda pintura modernista seria uma crtica pintura pura, que a
pintura enquanto pintura. (DANTO, A.C., Aps o fim da arte, Edusp, So Paulo, 2010, p. 75).
126
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo, Forense Universitria, Rio de Janeiro, 2005, 2 Ed., p.
142.
71
artstico, se relaciona com a moralidade apenas na medida em que pode
simboliz-la:
O belo smbolo do moralmente bom; e tambm somente sob este aspecto
(uma referncia que natural a qualquer um e que tambm se exige de
qualquer outro como dever) ele apraz com uma pretenso de assentimento
de qualquer outro, em cujo caso o nimo ao mesmo tempo consciente de
um certo enobrecimento e elevao sobre a simples receptividade de um
prazer atravs de impresses dos sentidos e aprecia tambm o valor de
outros segundo uma mxima semelhante do seu Juzo. (KANT, I. Crtica da
Faculdade do Juzo, 2005, p. 197-198)
A razo, por sua vez, exige um juzo de gosto que pressuponha um
assentimento universal, uma busca de unanimidade no modo-de-sentir. E
posteriormente, como um dever-ser, ocorre uma necessidade subjetiva da
confluncia do sentimento de todos com o sentimento particular de cada um, o
que pode significar somente a possibilidade de um acordo; isso seria a unificao
resultante no senso comum.
127
O apelo do gosto a uma intersubjetividade vlida pode nos dar indcios de
uma referncia razo prtica. Requerer de outros o sentimento de prazer do
julgamento esttico sobre um objeto, conforme salienta Kant no 40 da Terceira
Crtica, vem a ser quase um dever. Mas isso no quer dizer que se pode explicar
este sentimento em termos epistemolgicos ou num juzo reflexionante. Conforme
Guyer sugere:
(...) ns devemos apelar a algum tipo de interesse para explicar essa
imputao. Tal interesse, obviamente, no pode ser um interesse particular
vlido ou um interesse individual; ora, a nica possibilidade que a
imputao da concordncia do gosto no prazer deve ter um fundamento em
um interesse de moralidade. (GUYER, P. Kant and the Claims of Taste,
1977, 2
nd
ed., p. 312. (T.A.))
Isso no quer dizer que essa conexo da esttica com a moral destri a
autonomia do gosto. Muito pelo contrrio, ela apenas assegura sua possibilidade
de requerer universalidade e necessidade. A bem da verdade, a deduo do juzo
do gosto concerne justificativa da expectativa de concordncia no gosto. E a
moralidade se atribui, sobretudo, na demanda por essa concordncia. Tal
demanda, assim como a expectativa, est na esfera cognitiva. Para Guyer,
127
KANT, I. Da arte e do gnio in Os Pensadores, Kant, Ed. Abril, So Paulo, 1974, p. 331.
72
podemos ter essa pretenso do juzo para com os outros hipoteticamente ou
categoricamente. E a analogia da esttica com a tica poderia ocorrer para
justificar a pretenso e imputao de sentimentos particulares aos outros. De
certa forma, isto imbricaria a referncia exigida por Sartre no que diz respeito
relao entre o autor, sua obra e o pblico diante desta, que, por conta do
imperativo categrico, seria o meio e o homem o fim a quem se destina a obra, ou
at mesmo a exigibilidade universal requerida pelo gosto.
Quando declaramos algo como belo, requeremos aos outros que
compartilhem da mesma opinio. Por qu? Pois quando tomamos nosso prprio
sentimento como um sentimento comum a todos, desejando que todos
concordem da mesma opinio, pretendemos que assim o seja condicionalmente,
como se estivssemos a aplicar um juzo de conhecimento que, atravs do
entendimento, valida universalmente os conceitos dos objetos. Mas o juzo do
gosto subjetivo, ora, o que ir determinar o que apraz ou no um sentimento
que se pretenda universalmente, e no algo objetivo que se possa atribuir
conceitos. Nas palavras de Kant o gosto deve ser definido como: faculdade de
julgar a priori a comunicabilidade dos sentimentos que so ligados a uma
representao dada (sem mediao de um conceito).
128
(grifamos)
Na Analtica do Belo, Kant considera a necessidade da concordncia de
todos como se houvesse uma regra universal, embora no proceda por no se
tratar de lgica, mas de sentimento. Afirma tambm que a necessidade exemplar
no apenas subjetiva, mas tambm condicional, na medida em que repousa
sobre a subsuno correta de uma satisfao particular sob uma regra. Ao
crermos que nesta regra temos um fundamento que comum a todos, solicitamos
o assentimento de todos, como se exigssemos a universalidade do gosto:
Angaria-se o assentimento de todos, porque se tem para isso um
fundamento que comum a todos; assentimento este com o qual tambm
se poderia contar, se simplesmente se tivesse sempre certeza de que o
caso estaria corretamente subsumido sob aquele fundamento como regra
da aprovao.
129
128
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo, Forense Universitria, Rio de Janeiro, 2005, 2 Ed., p.
142.
129
KANT, I. Da arte e do gnio in Os Pensadores, Kant, Ed. Abril, So Paulo, 1974, p. 329.
73
A questo que aqui se evidencia a de saber que tipo de princpio
poderia garantir tal necessidade subjetiva. O juzo ele mesmo deve ser um
princpio que determina aquilo que estimado por meio de um sentimento, no
por conceitos, e que, ao mesmo tempo, possui validade universal. Com efeito, tal
princpio s pode ser visto como um senso comum, pois somente sob a
pressuposio de que haja um senso-comum (...), somente sob a pressuposio,
digo eu, de um tal senso-comum, pode o juzo-de-gosto ser emitido.
130
Ora,
conclumos que o senso comum, ao pretender possuir um sentido universal que
requer a validade para todos, se posiciona como uma norma ou princpio que soa
como uma voz universal. Porm, perguntamos se essa analogia com a
moralidade, trazida por Kant, tem por objetivo conduzir a imputao de prazeres
aos outros, enquanto requeremos-lhes a mesma concordncia de nosso juzo
para com um objeto, ou se a imputao do gosto por mim exigida uma
faculdade que ir influir nos prazeres alheios, considerando-lhes j de gostos
formados, mas podendo alterar seus gostos acatando o meu juzo.
Partindo em defesa de Kant, poderamos doravante levantar uma questo
a Sartre: esse prprio querer o assentimento de todos em relao ao belo, o
projetar visando ao sensus communis, no poderia ser ele mesmo um imediato
imperativo categrico? No seria o gosto um meio de comunicabilidade entre os
homens? Isto valeria dizer que o imperativo categrico tambm seria aplicvel
entre a intersubjetividade do pblico e no somente, como ir requerer Sartre, no
ato da criao da obra, i.e., especificamente no caso de Sartre, no apenas do
escritor para o leitor, mas de leitor para leitor, ainda mais considerando que a
est pautada a liberdade de cada um. Se busco validar universalmente meu juzo,
na medida em que tenho conscincia de que o outro possui as mesmas
condies de julgo que as minhas, estou usando de meu juzo para, no mnimo,
buscar o senso comum. Esta relao comunicativa, portanto, uma ao socivel,
pode ser associada ao imperativo categrico, pois o outro a finalidade de minha
ao de juzo, requeiro um juzo universal sem a idia de que o mesmo tenha um
fim objetivo ou utilitrio. Eis aqui, portanto, um imperativo tico. Como j
observado em conformidade a Guyer, independente se essa pretenso universal
130
KANT, I. Crtica da Faculdade do Juzo, Forense Universitria, Rio de Janeiro, 2005, 2 Ed., p.
330.
74
seja hipottica ou categrica, acrescentamos que ela pode ser, sobretudo, um
imperativo kantiano.
Agora podemos avaliar como Sartre insere a questo tica, sobretudo na
literatura,
131
empregando termos kantianos, ao mesmo tempo em que rejeita
algumas de suas afirmaes. Passemos ento para essa outra vertente: uma
anlise esttica do ponto de vista histrico de Sartre, sua teoria existencialista e
suas consideraes sobre a arte e a literatura que iro fazer frente ao corpo
terico kantiano.
IX. Sartre - existencialismo e liberdade na emancipao literria
Para que entendamos a questo tica de Sartre inserida na literatura, e,
mais ainda, sua disparidade terica em relao filosofia de Kant, pertinente
fazer um breve relato da Fenomenologia e os fundamentos ontolgicos
existencialistas repercutidos em toda a sua filosofia.
At a modernidade o conhecimento era dividido por correntes antagnicas
que dificultavam a relao entre as teorias, fossem elas ontolgicas ou
gnoseolgicas. A relao entre sujeito e objeto sempre foi a grande questo que
dividiu a filosofia entre realismo e idealismo. Mais tarde Kant conceberia um meio
termo entre o sujeito e as coisas e redistribuiria as funes do sujeito e do objeto.
De um lado a apreenso sensorial e de outro o intelecto. A partir de ento, o
filsofo alemo estabelece que o conhecimento se efetiva atravs do sujeito e
para o sujeito, o que se entende por fenmeno. A realidade, dada por funes
lgicas do conhecimento (elementos transcendentes do conhecimento), ocorre
no em si mesma, mas como aparece ao sujeito. As funes lgicas do
conhecimento esto antes e independentes da nossa experincia, pois elas
condicionam e organizam a experincia. H um comprometimento entre o sujeito
e o objeto dado pela representao, o sujeito a conscincia que apreende o
131
Mesmo Sartre separando a arte da literatura, esta ainda est num plano esttico, pois est
submetida, do mesmo modo que as outras artes, atmosfera da imaginao.
75
fenmeno, e o objeto o fenmeno apreendido pela conscincia. A apreenso
a assimilao das coisas pelo sujeito; ora, Husserl ir encontrar aqui um
paradoxo: do modo que se teorizava, principalmente em relao a Kant, a
apreenso ocasionaria um desaparecimento do objeto ou uma total incorporao
deste pelo sujeito. Husserl percebe um desequilbrio no modo que a apreenso
ento analisada, pois, neste sentido, as coisas perderiam a realidade pelo
processo de apreenso. Considera, ento, que necessrio voltar s coisas
mesmas. As coisas se contaminam o tempo todo pela conscincia do sujeito. Elas
se adaptam, quer por ordem lgica, quer por ordem social, conscincia do
sujeito. Husserl quer recuperar um conhecimento de mundo mais autntico,
buscando a purificao da relao entre sujeito e objeto atravs da prpria
conscincia. A apreenso mantm essa separao. As coisas precisam de uma
autonomia prpria. A conscincia visa s coisas atravs da intencionalidade
(conscincia de). Com efeito, sou consciente das coisas fora de mim. A
conscincia, como bem define, Thana Mara de Souza, essa recusa de ser
substncia e necessidade de existir como conscincia de outra coisa que no
ela.
132
Husserl define que a conscincia um ato; e o ato de conhecer era por
ele denominado como Ego.
Sartre ir perceber uma distino entre conscincia e exterioridade, o que
seria uma relao bipolar. Para Sartre a conscincia translcida, ou seja, vazia.
como um vento livre que se lana nas coisas. A conscincia e o mundo surgem
simultaneamente. Para Husserl, as coisas no poderiam se dissolver na
conscincia, o que contraria Descartes, que considerava a conscincia como
coisa pensante. Para Sartre, o primeiro passo da filosofia deveria ser expulsar as
coisas da conscincia. A conscincia posicional do mundo posiciona os objetos e
se posiciona diante deles. De um lado temos o para-si (ser-para-si), que um
vazio no qual a conscincia se projeta para fora, ou seja, o si est na
exterioridade. Do outro lado temos o em-si (ser-em-si), um ser denso e
substancial. Ora, Sartre entende que o em-si o Ser e a conscincia o Nada,
pois no acredita, como Husserl, que haja um ego na conscincia, esta depende
do ser-em-si. No para-si, somos um movimento visando chegar a ns mesmos,
um movimento que nunca se completa. O nada um buraco no ser, uma queda
132
SOUZA, T. M. Sartre e a Literatura Engajada, p. 83.
76
do em-si rumo ao si, para constituir o para-si. O para-si (conscincia) no se
constitui como ser, mas se constitui como negao do ser-em-si (ser pleno). O
homem, como ncleo instantneo da conscincia, ser-para-si ( o que no e
no o que ), ora, precisa, obrigatoriamente, escolher-se, pois dispe de
absoluta liberdade perante todas as coisas. Nisso, a liberdade o distingue do em-
si, que o que . Nossa conscincia conscincia de ser, mas no o ser
consolidado, pois a conscincia no coisa alguma, pois o sujeito aquilo que
ele se faz ser. A conscincia um constante transcender-se, ou seja, um ir para
fora de si a fim de superar a si prprio. Por conseguinte, a realidade humana
aquilo que cada um projeta ser, ou seja, somos aquilo que ainda no somos.
Doravante, camos no eptome que foi o centro da filosofia existencialista: a
Liberdade. O movimento (projetar-se) a liberdade, o que significa dizer que o
sujeito se constitui de liberdade, pois a nica coisa de que no tem liberdade,
ressaltamos, a de no poder optar em suas decises. Da a mxima sartriana:
o homem est condenado a ser livre. Desse modo, o projeto existencial se
estende ao plano histrico. E nesse contexto que a tica se insere no
existencialismo. Somos aquilo que fazemos com o que fazem de ns. O que
equivale a dizer que somos livres para constantemente nos libertar. Neste
sentido, enquanto somos lanados num mundo onde j existe uma situao, que
faz de ns seres puramente contigentes, precisamos agir para fazermo-nos
presentes ao mundo. Esta a facticidade do para-si; uma condio para a sua
liberdade.
Sartre no aceita das outras correntes filosficas, e nem mesmo do
marxismo, que a conscincia seja um reflexo das condies objetivas. O indivduo
determinado pela histria e tambm responsvel pela histria. Ele a
singularidade que filtra as determinaes da histria. Se o sujeito se abdica de tal
responsabilidade, est por trair a prpria existncia, pois estaria negando sua
liberdade (a isso Sartre denomina de m-f). Assim, conclui que abdicar-se da
liberdade ento se abdicar do prprio ser, daquilo que somos ontologicamente.
neste sentido que Sartre ir cobrar a ao dos indivduos e o engajamento na
literatura, pois acima de tudo, o homem o meio pelo qual as coisas se
77
manifestam.
133
A liberdade tambm requerida na relao entre o artista, o
escritor e o pblico. Essa liberdade criadora est limitada a criar dentro da ordem
fenomenolgica, no podendo constituir, como Deus o faria, essncias e
existncias de um mundo que tem prioridade ontolgica: o ser-em-si, que a
negao do ser do homem na positividade. partindo da que Sartre enxerga na
arte a potencialidade do homem em se manifestar diante do mundo e conferir
existncia s coisas dadas em seu mundo fenomnico, ou seja, criar e dar sentido
ao mundo, que se traduz pela criao do ser. Este o motivo essencial de
qualquer arte, para Sartre. um sentido metafsico e, portanto, universal.
Todavia, para que a fruio ocorra tanto na arte como na literatura,
necessrio que haja liberdade como pr-requisito de condio existencial entre os
sujeitos. este o princpio do engajamento. Neste mbito, cercear a liberdade de
expresso, censurar a livre leitura ou qualquer obra, que est ali para se
manifestar atravs da liberdade de negar o existente por meio da intencionalidade
imaginante da conscincia, impedir a condio existencial subjetiva intrnseca
ao ser, o que para Sartre seria inadmissvel, pois a liberdade a maior grandeza
que o ser humano possui, pois o homem est submetido liberdade e esta est
submetida estrutura ontolgica da subjetividade. E constituindo o ato,
escolhendo e definindo suas aes que o homem se faz ser-no-mundo. Essa a
condio da situao, a inveno de si e de seu tempo e um compromisso com o
futuro, atravs da escolha absoluta, que a liberdade exercendo a liberdade.
Conforme destaca Franklin Leopoldo e Silva, a escolha um momento radical
(...) porque nela no est implicada necessariamente a realizao; uma
escolha sempre um comeo de ao que pode ou no se realizar ou que
pode realizar-se de modo inteiramente diverso de seu propsito inicial, pois
a deciso compromete o futuro enquanto projeto. (...) Contingncia e
negao permitem o exerccio da liberdade pela qual o homem inventa o
homem.
134
Faamos aqui uma remisso a Kierkegaard, aquele que para alguns foi
considerado o pai do existencialismo:
133
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 33.
134
SILVA, F.L. Literatura e experincia histrica em Sartre: o engajamento, in Revista Dois
Pontos, vol. 3, nmero 2 Sartre, outubro de 2006, p.76.
78
Quando, no Gnesis, Deus declara a Ado: Porm, os frutos da rvore do
Bem e do Mal no comers,
135
est claro que, no ntimo, Ado no
entendia essa frase; como poderia, se a diferenciao apenas se fixou aps
saborear o fruto? (KIERKEGAARD, S.; O conceito de angstia, 2007, p. 53.)
A proibio um despertar do desejo. Uma forma de sair da ingenuidade,
ou melhor, da ignorncia, romper com o proibido, ora, desobedecer para
saldar a liberdade e pr-se, de certo modo, a saber. Mandar significa tambm
proibir de no fazer outra coisa seno aquilo. Porm, se o homem pura
liberdade, pois ela que constitui o ser, a censura um convite desobedincia.
O homem desobedece para se fazer existir e se constituir como ato. Por meio de
sua ao e pelo seu juzo, sua vida se faz presente, ainda mais em seu papel
crtico e contraditrio. O Poder autoritrio joga contra o poder da possibilidade
(Poder x poder). Na luta pelo esclarecimento, pode haver uma possvel falncia
daquele que impe pela fora ou hierarquiza a represso contra a razo. Ado e
Eva conheceram a liberdade por conta da proibio. O que Kierkegaard chamou
de a aflitiva possibilidade de poder.
136
A partir dali, ambos aprenderiam a
diferena entre o Bem e o Mal, alm da morte e a sexualidade, pois como
poderiam no provar do fruto que lhes daria cincia de um novo entendimento?
Inocentemente, no conheciam o que era a morte para serem assim ameaados.
Ora, a coibio foi um limitar do saber. E, alm disso, Eva, ao ser questionada
pelo Criador por que experimentou do fruto daquela rvore, replicou que foi
seduzida pelo entendimento, ou seja, agiu para sair da ingenuidade. Com isso, se
trouxermos essa alegoria bblica ao pensamento existencialista de Sartre,
poderamos concluir que o erro inicial de Deus foi usar da proibio do
conhecimento aos nicos seres racionais, imprimindo-lhes depois o castigo (a
morte, a vergonha, o trabalho, a dor, etc...). Por isso para Kierkegaard a vida
castigo. E a est a razo do sofrimento humano, fruto do profano e princpio da
Angstia. Viver, para este filsofo dinamarqus, sofrer.
Para Sartre, a conscincia de mundo uma abstrao; sendo que a
conscincia no mundo o fato originrio de onde a filosofia deve partir, a fim de
135
pois no dia em que a comer, certamente morrers, Kierkegaard suprime esta continuao da
frase retirada do Gnesis, Primeiro Evangelho da Bblia.
136
Idem, Ibidem.
79
elucidar o Ser-no-mundo da existncia concreta. O mundo percebido, para Sartre,
no uma abstrao; forma e contedo no se separam. Isto significa dizer que
h uma diferena entre definir e perceber.
No projeto sartriano a filosofia trata do universal e no do particular. O
universal no um conceito e nem uma abstrao, ele possui um carter
concreto que ao comunicar com o particular invoca uma conscincia histrica. O
homem, como existente, est em via de se fazer. Sendo assim, uma questo
para si mesmo, ou seja, uma constante interrogao nunca inteiramente
respondida, sempre a constituir-se. Na contingncia humana so os predicados
que constituem o homem; sua subjetividade o que o determina, conforme
manifesta a mxima existencialista sartriana de que a existncia precede a
essncia.
137
A recusa do primado da essncia vai de par com a recusa do
primado do conhecimento. O primado da existncia sobre a conscincia o
objeto de uma afirmao de princpio do existencialismo.
138
O existencialismo no
sustenta a prioridade do universal abstrato, ora, no sustenta a separao entre a
generalidade abstrata e a particularidade concreta. Eis que do concreto total
que o existencialismo quer partir e no concreto absoluto que quer chegar.
139
X. A fruio esttica
Antes de explorarmos diretamente a abordagem de Sartre, faremos uma
apreciao crtica que nos essencial sobre a importncia da comoo causada
pela arte, independente de poca ou circunstncias. Falemos sobre um
sentimento universal que parte do particular, como uma fora movedora de
sentimentos capaz de transformar valores e comportamentos do homem. Tal
processo podemos entender como fruio. Ora, como entender a experincia
esttica em seu aspecto comunicativo e receptivo?
137
SARTRE, J. P. O existencialismo um humanismo, in Os Pensadores. Abril Cultural, So
Paulo, 1978, p. 5.
138
SARTRE, J. P. Questo de mtodo, in Os Pensadores. Abril Cultural, So Paulo, 1978, p. 125.
139
Idem, p. 119.
80
Na experincia esttica, h um momento crucial na passagem do objetivo
ao subjetivo de que nos interessa falar aqui - o que para Sartre seria a passagem
do real ao imaginrio - como se, tanto o criador, quanto o sujeito que contempla a
obra, estivesse, nesse hiato, abandonando o mundo acidental para mergulhar no
mundo do ilimitado. Essa negao carrega uma sensibilidade aguda a ponto de
despertar sentimentos ocultos, emoes e valores neste que contempla a obra.
Emoes essas que significam para Sartre o todo da conscincia e da realidade
humana no plano existencial, ou seja, o homem assume suas emoes como
forma organizada de representar sua existncia.
140
A coisa fsica, o mundo
emprico, servir de suporte (analogon) para um objeto irreal do imaginrio. Se
me atenho ao pedao de pano emoldurado e colorido pendurado na parede
jamais terei a pintura em si; Carlos VIII jamais surgir na obra se eu no deixar de
perceber. Do mesmo modo, se em uma pea teatral eu me atenho ao corpo nu da
personagem, atrado fisicamente pela percepo do mesmo, no atingirei o objeto
esttico da personagem, e nem mesmo da obra como um todo. Neste sentido, o
objeto esttico s ir aparecer no momento em que a conscincia, operando uma
converso radical que supe a nadificao do mundo, se constituir ela mesma
como imaginante.
141
Jauss, concordando e citando a fenomenologia do
imaginrio de Sartre, sustenta que a negatividade do real caracteriza a obra
literria e a produo das belas artes como objetos irreais a fim de constituir o
mundo (cita Sartre: superar o real constituindo-o como mundo).
142
Nesse
momento de ruptura com o objetivo, o ato esttico desvincula o sujeito do objeto,
tornando aquele vulnervel ao estado contemplativo e de absoro, mas sem o
interesse emprico do real, apenas em gozo e desejo de permanncia nesse
estado, ainda que consciente de sua finitude. o momento, denominado j pela
antiguidade clssica, da catarse. Embora seja um momento de intensa absoro,
esse efeito catrtico fora aproveitado para efeito de retrica. O uso do mesmo em
um aprimorado discurso pblico, em que a linguagem pode ser utilizada como
140
SARTRE, J.P. Esboo para uma teoria das emoes, L&PM, Porto Alegre, 2006, p. 26-27.
141
SARTRE, J.P. Limaginaire, p. 362 (T.A.). Por isso, tambm, o artista, tanto enquanto pintor, ou
enquanto ator, deve manifestar sua obra de modo a no tender a imaginao do pblico
percepo. A imerso na obra ocorre pela sutileza de sua boa elaborao ao envolvimento
profundo do pblico diante do objeto esttico.
142
JAUSS, H. R.; Aesthetic experience and literary hermeneutics theory and history of literature,
volume 3, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, p. 13-14 (T.A.).
81
instrumento de seduo do nimo, quase elevada a nvel potico, confere certo
poder sobre o pathos e o ethos, a ponto de modificar as crenas dos indivduos,
conforme lucidamente acusa Jauss,
143
apontando tambm que essa vantagem
abusiva e retrica da linguagem fora suprimida pela revelao manifesta e
ascendente do gnio,
144
que se afasta dessa habilidade utilitria da linguagem e
rompe com o interesse pelo uso das palavras como ferramentas. A mesma
ruptura ir ocorrer do subjetivo ao objetivo no sentimento de prazer do ser
contemplativo, e nesse momento que ocorre o desvelar do mundo. Ao mesmo
tempo em que a fruio ocorre, pode haver um interesse no desinteresse, isto ,
enquanto gozo do prazer imaginrio, cuja positividade abandonada, se obtm
subjetivamente um desejo de permanncia nessa experincia esttica, e at
mesmo, pelo objeto que causa esse prazer.
A sensibilidade do sujeito vulnervel, pois tanto o autor quanto o sujeito
contemplativo, esteticamente desinteressados, experimentam a si mesmos como
sendo possveis outros. Num processo de abstrao apurado paulatinamente, o
juzo desperta o senso crtico e a significncia essencial do ser-no-mundo. aqui
que a discusso contempornea da arte ter seu solo, mais precisamente, para
Sartre, pois atravs da experincia esttica a superao do real se torna possvel,
a fim de constitu-lo como mundo. Sobretudo, porque o prazer esttico se constitui
livremente. Essa negatividade pode ser transposta atravs da formao histrica
da esttica, em que a experincia tanto se encontra na receptividade, como
tambm em sua produtividade. Se nos apoiarmos no historiador e crtico Arnold
Hauser, comum observarmos que atravs da arte e da literatura sempre
encontramos algum tipo de emancipao social na histria; o que tambm nos
revela que a prpria arte se emancipou, ganhando autonomia. Sartre ir bem
perceber, em sua abordagem histrica, essa proximidade um pouco incmoda
entre a tica e a esttica, cuja anlise nos elucida que a mimesis renascentista
perde terreno cada vez mais no campo das artes. Isso por conta da superao do
homem diante da natureza e sua histria no plano social. Sartre reivindica a
mudana social e sua significncia no mundo. Para ele, atravs da literatura essa
mudana torna-se possvel.
143
Idem, p. 25.
144
Idem, p.26.
82
Conforme vimos, Sartre separa a literatura da arte. Essa diviso pode ter
ocorrido historicamente com o prprio florescer da literatura, na medida em que,
atravs da escrita, nascia tambm o leitor, livre e com poder de conhecimento.
Sartre, trazendo a questo da fruio entre autor e leitor - pois para ele literatura
comunicao - levanta a questo: para quem se escreve?. Para tanto, ir
procurar fazer o reconhecimento do leitor de sua poca, diagnosticando
historicamente a escrita e a leitura, embora reivindicando sempre um l eitor
universal; uma espcie de teoria da dialtica da leitura e da escrita. Ir reconhecer
o letrado em seus vrios estgios: o clrigo desde o sculo XII, limitado a
escrever somente em seu meio, de forma a persuadir e conservar o pensamento
voltado ao divino, sem controle da nobreza que ainda no era dotada desse
conhecimento; somente a partir do sculo XVII que a escrita e a leitura so
consideradas atividades destacveis entre a aristocracia. Vejamos.
XI. A condio histrica da literatura
Em Que a Literatura?, Sartre expe seu pensamento sobre uma anlise
histrica da condio do escritor a partir do sculo XVI, considerando que a
literatura ela mesma tenha tido seu incio a partir do sculo XVIII. Diferentemente
de Cassirer, que afirmava haver um surgimento da esttica no sculo XVIII, para
Sartre houve uma passagem da esttica do classicismo para a esttica do
Iluminismo.
145
Desde o perodo do sculo XII at meados do sculo XVI o escritor
pertencia ao clrigo e escrevia para o clero. Saber ler era possuir o instrumento
necessrio para adquirir o conhecimento dos textos sagrados e de seus
inumerveis comentrios; saber escrever era saber comentar.
146
A escrita tinha
funo de preservar a questo da espiritualidade, por isso a tarefa era
encarregada aos clrigos. No havia ento um controle sobre os escritores por
parte das autoridades e nem mesmo uma viso crtica do pblico. Antes, com um
145
FIGUEIREDO. V. B. Cassirer e Sartre sobre o esclarecimento in Kriterion 112, Belo Horizonte,
p. 206.
146
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 67.
83
povo analfabeto, o escritor pusilnime se situava numa condio alienada,
vulnervel a obrigaes que lhe eram impostas. Por isso, era uma literatura
concreta e alienada. No sculo XVII, a leitura deixa de ser prioridade dos clrigos
e tambm privilgio de uma sociedade na qual est inserida no s o clero, mas
tambm parte da corte, a magistratura e a burguesia rica. O leitor considerado
homem de bem exercendo uma funo de censura denominada gosto. Por isso
h uma corrida das classes superiores para tambm adquirir a especialidade de
escrever e saber discutir e criticar uma obra. Embora tenha sido uma era frutfera
para os escritores, Sartre aponta que, apesar de haver nesse perodo um pblico
mais extenso, ainda assim este era restrito e delimitado, pois se falava dos
camponeses, por exemplo, mas no ao campons, de tal modo que as massas
ainda permaneciam em conscincia alienada ao seu prprio mundo. Com efeito, o
escritor apenas exercia a funo que lhe era determinada, ou seja, suas
publicaes eram rigorosamente controladas. No havia pblico virtual, mas um
pblico real. A relao entre escritor e leitor era apenas uma cortesia, pois ambos
partilhavam da mesma opinio, por menos verdadeira que fosse. Para Sartre os
escritores do sculo XVII eram apenas clssicos.
147
A elite enxerga a si prpria
na obra e no o outro (campons ou arteso). No entanto, a literatura ganha
liberdade pela negatividade no prximo sculo.
No sculo XVIII a literatura aos poucos se afasta do pblico corteso e
comea a se enveredar para a classe burguesa. Um pblico passivo que aspira
por idias, mas no as produz. Ainda neste sculo, principalmente no incio, as
obras publicadas vinham com selos de aprovaes impressas pelos censores
reais, que autorizavam e qualificavam cada obra alertando e instruindo como a
mesma deveria ser lida.
148
Mesmo assim, aos poucos, o escritor ganha autonomia
perante um pblico que sabe ler, porm, ainda no sabe escrever, e,
consequentemente, no tem sua opinio formada. Doravante o escritor
requisitado por duas classes: o pblico corts e a burguesia. O escritor est
inserido numa margem que o coloca dentro e fora das classes para que
desenvolva seu exerccio, tornando-se um parasita em relao ao capital.
149
147
Idem, p. 73.
148
DARNTON, Robert, Histria da leitura, in BURKE, P (org.). A escrita da histria: novas
perspectivas, Editora Unesp, So Paulo, 1991, p. 220-221.
149
SARTRE, J. P. Que a literatura; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 80.
84
Porm, ciente de sua marginalizao, encontra-se s e escreve sobre sua
solido.
150
Seu gnio desperta a formao de idias, crticas, recusas, e toma um
caminho abstrato que intensifica sua individualizao em busca da verdade. O
escritor ento cria seus prprios caminhos e reinventa uma literatura abstrata
rompida com a histria. E aqui a crtica que Shaftesbury fazia aos autores de sua
poca, consoante observamos na introduo desta pesquisa, que vem validar a
investigao sartriana acerca do egotismo predominante na literatura do sculo
XVIII, ou seja, aqueles autores criavam uma metodologia literria em que o
prprio eu era o ponto de referncia de investigaes e experimentos
psicolgicos. Mesmo assim, ainda tende a servir mais a classe burguesa que
aspira esclarecimento e se encaminha a uma revoluo poltica e no ideolgica.
O escritor sofre ento uma mudana radical de pblico, seus livros so livres
apelos liberdade dos leitores.
151
Com a derrocada da nobreza, Sartre afirma que a burguesia adquire
agora um domnio sobre o escritor. Este passa a exercer uma atividade
remunerada. A literatura, sendo financiada por uma classe de interesses, adquire
um papel utilitrio, consagrada, talvez, como a conscincia da classe opressora,
reduzindo-se muitas vezes em literatura psicolgica. Por conseguinte,
emancipado do pblico corteso, mas no do burgus, pois para Sartre, o escritor
ainda escreve para um pblico virtual.
Apesar dessa afirmao austera de Sartre em relao ao pblico erudito
do sculo XVIII, interessante mostrarmos os relatos de Robert Darnton
152
, que
tambm fazem jus s profundas pesquisas de Hauser, que reflete, sob outra tica,
uma pr-democratizao da leitura j nesse sculo. Baseado nas estatsticas da
poca, Darnton, em conformidade a Sartre, afirma que foi no sculo XVIII que o
pblico se tornou vido pela leitura. Mas a diferena que aponta remanescentes
da leitura junto classe trabalhadora. Muito embora a leitura fosse hbito da
150
Os Devaneios do Caminhante Solitrio de Rousseau um bom exemplo. O escritor passa a
escrever para ele mesmo, seus sentimentos so expostos, independente das classes que o
cercam. Sua solido revelada atravs da obra. Para o historiador literrio Robert Darnton,
baseado em correspondncias de comerciantes encontradas entre os anos de 1774 a 1785,
Rousseau foi o responsvel por despertar uma nova sensibilidade romntica do pblico,
revolucionando o modo de ler. DARNTON, Robert, Histria da leitura, in BURKE, P (org.). A
escrita da histria: novas perspectivas, Editora Unesp, So Paulo, 1991, p. 201-202.
151
SARTRE, J. P. Que a literatura; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 86.
152
Robert Darnton professor de histria da literatura na Universidade de Princeton e diretor da
Biblioteca da Universidade de Harvard.
85
classe burguesa, pois eram esses que adquiriam os livros, a classe proletria
tambm comea a ler nessa poca, o que no coaduna com a opinio de Sartre,
mas nos d, atravs de dados, a idia de como a literatura intervia e pode intervir
na construo social que tanto Sartre insiste em sustentar.
Neste sculo ocorreu uma queda na produo de livros impressos em
latim para dar lugar s novelas. Isso representa um visvel declnio da literatura
religiosa. Estudos apontam que por volta de 1770 a Wertherfieber eclodiu
produzindo uma popularizao da leitura pela Europa. Para Darnton, o estudo
alemo mais completo j realizado foi feito por Walter Wittmann nos inventrios a
partir do final do sculo XVIII em Frankfurt am Main: Indicou que os livros
pertenciam a 100% dos funcionrios graduados, 51% dos comerciantes, 35% dos
mestres artesos e 26% dos artfices. Ora, percebemos que a graduao j era
fator determinante para a formao de um pblico leitor, quanto menor a
formao necessria ao ofcio, menor tambm o nmero de leitores dessa classe.
E ainda, com referncia a Frana antes de 1789, a leitura
(...) envolvia literatura popular, crticas violentas, cartazes, cartas pessoais e
at os leitores nas ruas. Os parisienses liam em suas caminhadas pela
cidade e liam atravs de suas vidas, mas seus processos de leitura no
deixaram evidncia suficiente nos arquivos, para que o historiador possa
seguir de perto seus calcanhares. (DARNTON, 1991, p. 209-210)
Estudos relatam que aps 1760 as bibliotecas se democratizam. O ensino
da leitura entre as classes inferiores ensinado de uma classe a outra, e, aos
poucos, entre os prprios membros das classes inferiores. Esses dados indicados
por Darnton revelam que a literatura popular se principiava antes da indicada por
Sartre e requerida por este no ps-guerra. Porm, isso no obscurece, de forma
alguma, a investida de Sartre em seu apelo. Ao contrrio, o relato de Darnton
refora que a literatura obteve participao singular na emancipao social da
Frana. E nesses termos que a literatura contribui liberdade do homem. Denis
outro autor que reconhece a importncia histrica do escritor engajado, citando
alguns nomes que representaram heroicamente e perigosamente marcos de
transformao no percurso da literatura:
Voltaire modo de pancadas ou encarcerado na Bastilha, Hugo exilado em
Guernesey, Zola condenado pelo Eu acuso, Pguy submetido
86
permanentemente pelas eventualidades da precariedade material, os
escritores da resistncia torturados e deportados, todas essas imagens
impregnam a representao do escritor engajado, porque elas permitem
apreciar o valor do engajamento pelo metro do perigo concretamente
enfrentado. (DENIS, B. Literatura e engajamento, de Pascal a Sartre, 2002,
p. 50)
Para Sartre, foi no sculo XIX que finalmente a literatura ganha um
pblico real que quer se desprender da burguesia e lanar-se aos seus prprios
ideais, ganhando autonomia. O escritor experimenta seus prprios mtodos e por
isso novas tcnicas surgem. Parte da a nova concepo do drama e do romance.
Porm, o escritor esbarra no problema da falta de cultura das massas, mais uma
vez tem de recorrer ao pblico burgus porque ele quem o l e quem ala a sua
glria. No querendo assumir posio em uma sociedade de classes, mais uma
vez, o escritor se v sozinho e escreve para si mesmo. Sartre acusa o sculo XIX
como sendo o sculo em que os escritores apelavam para um sucesso futuro,
como Baudelaire que, embora pessimista e acreditar viver numa era decadente,
considerava seu prestgio pstumo. O escritor dessa poca usufrua dos bens da
sociedade burguesa, mas vivia uma vida distinta desta, pois na maioria das vezes
no podia acompanh-la em todos os seus consumos. Sartre entende a arte,
nesta poca, como forma mais elevada de consumo puro.
153
A literatura serviria
como forma de negar este mundo, no fosse a predileo da sociedade pela
coisa consumvel, que s bela quando consumida e morta aps seu desfrute.
Sartre critica os monlogos afirmando que estes, ao passar do realismo
para o idealismo absoluto, o que mais fazem destruir a literatura (lembremos
das semelhantes crticas de Shaftesbury). Faz tambm uma dura crtica aos
surrealistas por extrarem os sentidos das palavras retirando o significado que
elas exercem. Quando se escreve assim, na viso de Sartre, subestima-se o leitor
e toda a influncia que este pode exercer sobre a obra. Neste sentido, a literatura
no deve se alienar perante o pblico, ainda mais quando concebido por uma
classe, pois assim no atinge a conscincia de sua autonomia.
Embora Sartre reconhea certa emancipao do pblico do sculo XIX,
faz tambm uma severa crtica literatura da poca, gerando algumas
controvrsias. nesse sculo que a fruio entre escritor e leitor comea a
153
SARTRE, J. P. Que a literatura; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 99.
87
florescer atravs da prpria narrativa. Para Jauss, baseando-se em Proust e
Baudelaire, fora neste sculo que a experincia esttica, a produtiva e a
receptiva, teve sua parcela na funo cognitiva da arte. E isto importante
comentarmos aqui para mostrar que naquele sculo a fruio artstica dava seus
primeiros indcios de uma nova experincia esttica. Do lado produtivo, a
lembrana se tornou um instrumento preciso da cognio esttica, como, por
exemplo, para Proust. Para este autor a representao da memria era tambm o
real, uma nica esfera remanescente da origem do belo, o que significa uma
espcie de dj vu necessrio requisitado pelo autor como imanncia de uma
experincia vivida numa distncia temporal entre um pensamento original e um
reconhecimento posterior por parte do leitor. O artista ou o escritor, com efeito,
revela sua experincia perdida, ou melhor, escondida pela percepo perdida,
para trazer luz essa experincia, como se fosse vivenciada pela primeira vez
por aquele que contempla. Este, em que a experincia esttica permanece
suspensa no horizonte da primeira leitura, poder perceber, atrs da aparncia
contingente de um tempo perdido, a totalidade de um passado nico e um mundo
recuperado que imperceptivelmente se desenvolveu atravs dessa experincia.
Ora, o que observamos um fundamento de uma comunicao possvel de como
ver o universo com os olhos do outro; o que nos faz reconhecer o quo diferente
o mundo pode parecer aos outros, um mundo cuja alteridade, sob os olhos da
lembrana, pode ser revelada apenas pela experincia esttica, e isto quer dizer
que apenas atravs da arte essa experincia se torna comunicvel.
154
Para Sartre, a literatura, no obstante obter naquela altura um pblico real
- e isso a reflexo de Jauss corrobora -, fora declinante no sculo XIX e, mais
ainda, negao absoluta no sculo XX, rompendo todos os laos com a
sociedade, no obtendo sequer algum pblico. Sartre , citando Paulhan, apesar
de este ser um opositor de seu engajamento literrio,
155
concorda que havia neste
154
JAUSS, H. R.; Aesthetic experience and literary hermeneutics theory and history of literature,
volume 3, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, p. 88-92.
155
Discreto e influente, este (Jean Paulhan) permanece fiel s suas posies de antes da guerra:
a literatura e permanece uma atividade singular que no pode ser julgada segundo critrios
polticos e ideolgicos. Paulhan foi um dentre vrios intelectuais a polemizar a tese sartriana
da literatura engajada, no obstante ser tambm um dos criadores do Les Temps Modernes e
romper com Sartre posteriormente. (DENIS, B. Literatura e engajamento, de Pascal a Sartre,
88
sculo duas literaturas: a m, que propriamente ilegvel (e muito lida), e a boa,
que no lida.
156
Por outro lado, Sartre reivindica uma sociedade sem classes para que a
literatura possa ser totalizada em sua essncia. Pois se o autor escreve sobre o
homem no mundo, o pblico deveria se identificar com o universal concreto. O
escritor, por conseguinte, deveria escrever para a totalidade contempornea sua
poca, no para um leitor abstrato e sem data; uma literatura escrita como
testemunho da eternidade , para Sartre, motivo de orgulho aristocrtico.
157
Seu
tema e seu pblico devem validar-se, de modo que, falando do pblico, falaria
dele mesmo e falando dele mesmo, falaria do pblico, exprimindo suas angstias
e esperanas em nome da humanidade. Sartre esclarece a condio da literatura
em sua contemporaneidade: o problema que se coloca hoje para o escritor o
de saber quais os meios de que ele pode dispor para dar ao leitor a idia de que o
destino humano est exclusivamente nas mos do prprio homem.
158
Atravs do
livro que os leitores podem situar-se, alienar-se do real e enxergar sua situao
e a do mundo. Ler um ato livre e reflexivo. Ora, da competncia do autor
escrever para um pblico livre que pode exigir mudanas no quadro social e
poltico. A literatura , para Sartre, a forma subjetiva pela qual a sociedade deve
buscar uma revoluo permanente, pois como mencionou: as palavras (...) so
pistolas carregadas.
159
Atravs da leitura o leitor passa a existir numa outra
concepo, assume novas dimenses e integra-se ao esprito livre da obra, de
modo que Sartre pergunta:
Depois disso, como se pode querer que ele (o leitor) continue agindo da
mesma maneira? Ou ir preservar na sua conduta por obstinao, e com
conhecimento de causa, ou ir abandon-la. Assim, ao falar, eu desvendo a
situao por meu prprio projeto de mud-la; desvendo-a a mim mesmo e
aos outros, para mud-la. (SARTRE, Que a literatura?; 2004, p. 20)
Entretanto, Sartre no aceita que o autor imponha seus ideais, como uma
doutrina, ao leitor. Para que a obra tenha efeito literrio, e para que haja fruio, o
Edusc, Bauru, 2002, p. 281-282).
156
PAULHAN, apud SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 115.
157
Idem, p. 118.
158
SARTRE, in : Sartre faz a defesa da literatura popular O Estado de S. Paulo, 27 de agosto
de 1960 apud ROMANO, L. A. C. A passagem de Sartre e Simone de Beauvoir pelo Brasil em
1960, Fapesp Mercado das Letras, Campinas , 2002, p. 263.
159
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 21.
89
apelo deve ser feito liberdade do leitor, para que este tenha conscincia
reflexiva e indeterminada como condio essencial da ao, a fim de realizar e
manter a liberdade. E, consoante sua prpria afirmao, se tudo isso pode
parecer utopia no sculo XX, no haveria momento melhor para reivindic-lo.
Cabe aqui apreciarmos a observao de Romano:
Devemos lembrar ainda que no mundo em que Sartre escrevia era menor a
presena dos meios de comunicao de massa na vida diria das pessoas,
por isso se acreditava que a literatura, devido ao seu grande pblico,
devesse mostrar a realidade do leitor numa linguagem a mais acessvel
possvel, para que esse, iluminado pela reflexo provocada pela
representao que encontra na obra literria, pudesse contribuir para a
transformao do mundo ao modificar sua ao nele. (ROMANO, L. A. C. A
passagem de Sartre e Simone de Beauvoir pelo Brasil em 1960, 2002, p.
258)
Se aqui resgatarmos as trs categorias introduzidas por Jauss (poiesis,
aesthesis e catharsis) - cuja anlise literria parte da reao ou receptividade do
leitor - para entendermos a experincia esttica, observaremos que seus
argumentos so bastante prximos e contribuem para entendermos o processo
comunicativo entre o autor e o leitor, concomitante a toda discusso esttica
percorrida at aqui.
Para Jauss, a experincia do prazer esttico que nos libera de e para
alguma coisa pode ocorrer de trs formas: pela conscincia produtiva, na
produo de mundo conforme sua prpria obra (poiesis); pela conscincia
receptiva, atrelando-se possibilidade de renovao da percepo de realidade
externa e interna (o que neste caso seria a aesthesis), e finalmente e aqui a
subjetividade se abre para a experincia intersubjetiva no consentimento ao
juzo requerido pela obra (catharsis), ou mesmo, na identificao com normas
prticas. Essas trs categorias no devem ser concebidas hierarquicamente ou
reduzidas uma a uma, pois elas ocorrem envolvendo funes independentes. O
artista criativo pode adotar as funes de observador ou leitor atravs de sua
prpria obra.
160
Por isso, o fato de o artista no poder produzir e absorver,
160
JAUSS, H. R.; Aesthetic experience and literary hermeneutics theory and history of literature,
volume 3, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, p. 35. (T.A.) importante notar
que Sartre algumas vezes mencionado nesta obra, cujos fragmentos, do nfase obra Que
literatura?. O que no quer dizer que haja uma teoria da receptividade j definida por Sartre,
mas que, em meio relao comunicativa que este faz acerca do autor e leitor, a anlise de
Jauss nos parece bastante colaborativa e em conformidade tese sartriana.
90
escrever e ler num nico e mesmo momento, far com que ele experimente a
mudana de atitude da poiesis aesthesis. Na receptividade do texto, para o
leitor contemporneo e geraes futuras, o hiato entre receptividade e poiesis
aparece nas circunstncias em que o artista no pode atar a recepo inteno
com a qual ele produziu sua obra: em sua progressiva aesthesis, somada sua
interpretao, a obra acabada mostra a plenitude de signifi cados que em muito
transcende o horizonte de sua criao. A sequncia da poiesis catharsis deve
absorver o destinatrio da obra que, por sua vez, est sob a influncia da
totalidade do texto, podendo doravante se tornar o produtor. Dessa forma, a
funo catrtica no seria o nico meio de uma comunicao efetiva da
experincia esttica. Pode tambm surgir da aesthesis. No ato contemplativo o
espectador pode compreender o que contempla como sendo uma comunicao
acerca do mundo do outro, a alteridade est intrnseca neste processo. Mas a
aesthesis pode tambm se passar por poiesis, pois o espectador, quando
contempla, pode considerar o objeto esttico como incompleto, abandonando seu
processo contemplativo e se tornando um co-criador da obra, completando a
concretizao da forma da obra, seu contedo e sua significncia. E isso
corresponde fruio que Sartre insiste em posicionar, entre o autor da obra e
aquele que a contempla h um processo de criao contnuo. A obra nunca um
objeto totalizado, finito ou encerrado, pelo contrrio, ela sempre um ato a se
fazer, um ato mltiplo de criao. Assim, se o leitor acompanha sua atividade
receptiva refletindo em seu prprio desenvolvimento, a experincia esttica pode
ser includa no processo da criao esttica de identidade. Mais uma vez, Jauss
muito bem explica: A validade dos textos no derivam da autoridade do autor,
seja quais forem suas razes, mas do confronto com nossas histrias de vida.
Aqui ns somos os autores, todos so os autores de suas histrias.
161
E ainda
cita um aforismo de Goethe, elevando-o condio de precursor da teoria da
receptividade (teoria essa que percebemos em Sartre):
Existem trs tipos de leitores: primeiro, aquele que sente prazer sem julgar;
terceiro, aquele que julga sem prazer; e h aquele que est no meio, que
julga conforme se apraz e se apraz conforme julga. Este ltimo tipo
realmente reproduz a nova obra de arte.
162
161
ZIMMERMANN (1977), in Idem, p. 36.
162
GETHE, in Carta J. F. Rochlitz, de junho de 1819, apud JAUSS, H. R.; Aesthetic experience
91
Esse dilogo entre produtividade e receptividade evidente no
pensamento de Sartre acerca da arte e, sobretudo, da literatura. Analisemos a
seguir alguns aspectos cruciais que pe Sartre a se distanciar da teoria kantiana.
XII. Kant e Sartre, a esttica moderna sob o olhar contemporneo
Em O Imaginrio, publicado em 1940, portanto, anterior a Que a
Literatura? (1947), Sartre menciona que a obra de arte um irreal.
163
Da segue-
se, como vimos, que o artista lida com as coisas (cor, tela) e o escritor, por seu
turno, lida diretamente com signos. A msica, como tambm j vimos, ao
contrrio de uma tela ou da dramaturgia, no remete a nada seno a si prpria,
ela irreal enquanto escutada e contemplada. Em O Imaginrio, Sartre se utiliza
da fotografia para pressupor o analogon material. Para se lembrar de Pierre,
recorre a trs meios: tenta imagin-lo; depois busca uma fotografia; e ento
recorre a uma caricatura de Pierre. Nessas trs formas ele se serve do analogon
de Pierre. E podemos observar que a intencionalidade que age nos trs
momentos, pois conforme no podemos perceb-lo, visamos uma matria que
servir ao analogon.
O significado transcendente aos signos, mas ele depende desses para
se situar. Este significado far referncia direta ao autor; da a sua
responsabilidade. Os sons e as cores nada designam, ou seja, no representam
nenhum sentido transcendente como fazem os signos das palavras. Uma rvore
pintada remete diretamente a uma rvore, pois o pintor no pinta o signo para ser
and literary hermeneutics theory and history of literature, volume 3, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1982, p. 36. (T.A.)
163 SARTRE, J. P. O imaginrio, psicologia fenomenolgica da imaginao; Ed. tica, p. 245.
interessante observar que a distino que Sartre fazia entre literatura e arte ainda no era
clara, quando dessa sentena. Muito embora ainda no mencione a literatura nesta obra, fcil
notar que justamente por no mencion-la, situava a literatura no real, ao contrrio das artes
que requerem a atitude irrealizante no imaginrio para fim de contemplao esttica. Somente
sete anos depois publicaria Quest-ce que la Littrature?, em que, ao entender as palavras
como signos e significados, poria definitivamente a literatura parte das artes, e, por
conseguinte, exigiria o engajamento dos escritores.
92
anterior ou posterior ao significado, ele pinta e suas cores que do a forma do
objeto pintado. A cor por si s ir depender de sua forma para se contextualizar.
Na linguagem escrita ou falada, no h transcendncia entre signo e significado.
O signo se esvai diante do significado, por isso ao ler um livro atravesso os signos
e eles somem, como se fosse a visualizao de uma paisagem atravs de um
vidro; no percebo o vidro a no ser quando interrompo minha contemplao para
not-lo. Da mesma forma h prosa quando (...) nosso olhar atravessa a palavra
como o sol ao vidro.
164
Em Kant, a imaginao dialoga com o entendimento para despertar o
sentimento de prazer. A faculdade de juzo reflexionante tem como fim o objeto.
Tal juzo no fundamenta ou conceitua o objeto. Para Kant, se ajuizarmos a forma
desse objeto e no sua matria, sem a inteno de retirar conceitos dele, mas na
pura e simples reflexo como forma de um prazer, este prazer estar submetido
representao desse objeto, no s para o sujeito que o observa, mas para todos
aqueles que julgam. por isso que Kant ir denominar este objeto de belo e o
remeter a um juzo universal chamado gosto.
Para Kant, conforme j mencionado, a obra existe de fato e depois ela
vista. Mas isso no quer dizer que o espectador, ou mesmo o leitor, se encontre
passivo diante da obra, como se essa lhe fosse determinante. Para Kant aquele
que contempla a obra exerce seu juzo reflexionante agindo espontaneamente
sobre a obra. E isso nos d alguma margem para aproxim-lo ao processo
produtivo do leitor em Sartre que, por sua vez, discorda de Kant em relao
obra ser um fim em si mesmo, pois essa exige ainda a criao por parte de quem
contempla a obra, contando com uma colaborao mtua no processo criativo.
Uma obra, seja ela artstica ou literria, conforme concebe Sartre, depende de um
pblico.
Para Kant, a tica no se insere na arte, nem mesmo na literatura.
Fundamentando a formao da Esttica de sua poca, que ora dialogava com a
lgica (Baumgarten), ora dialogava com a moralidade (Shaftesbury), Kant sugere
que a arte deva ser livre espontaneidade da criao para que o pblico frua
desinteressadamente. Aqui importante analisarmos a investigao de Cassirer,
164
Sartre cita Paul Valry; SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p.
19.
93
pois este, ao discorrer sobre a esttica do Esclarecimento, observa atentamente
que h um problema no tipo de doutrina acerca da relao comunicativa entre
autor e espectador. A obra de arte est sempre orientada para o espectador, pois
se o artista cria para algum, pode sofrer a influncia deste no processo
produtivo, provocando, com isso, a espetaculosidade da obra.
Entendamos melhor o pensamento de Sartre, apoiando-nos novamente
na apreciao feita por Jauss, para demonstrar que, tanto a finalidade sem fim
(em Kant), quanto negligncia do autor perante o pblico (em Cassirer), ambas
as ticas podem estar equivocadas.
Como vimos, em Kant, belo aquilo que causa prazer universalmente e
que livre de conceitos, por isso o nico modo de satisfao desinteressado e
livre. O sujeito que julga pressupe que a beleza est intrnseca ao objeto e que o
juzo lgico, contudo, o belo somente esttico.
Consoante a Crtica do Juzo, o criador (gnio) no deve depender de
regras pr-determinadas e nem imp-las, muito pelo contrrio, o gnio um
talento natural (faculdade inata do artista), original e serve de modelo a outros que
o seguiro. Kant afirma que a natureza prescreve, atravs do gnio, as regras
arte, e suas habilidades no se deixam comunicar, pois morrem com ele. A regra
absorvida pelo gnio no pode, a partir da, ser prescritiva, caso contrrio, o juzo
sobre o belo seria determinvel segundo conceitos. Existem diferenas kantianas
no que se refere arte: quando indica aes requeridas para torn-la possvel,
Kant denomina de arte mecnica, que seria a arte da diligncia e do aprendizado.
Por outro lado, a arte que tem inteno de prazer a arte esttica (arte do gnio).
A esta, Kant divide em: arte agradvel e bela-arte. A agradvel seria o prazer que
acompanha as representaes enquanto sensaes, o que seria o gozo (servem
para o entretenimento momentneo como, por exemplo, os hobbies).
165
J a
arte bela seria o prazer acompanhando as representaes, mas enquanto modos
de conhecimento. Seria, ento, um modo de representao dotado de uma
finalidade sem fim, que promove a cultura da faculdade do nimo para a
comunicao social (universalidade); o que resultaria em um prazer reflexivo.
165
curioso observar que, na Antropologia de um ponto de vista pragmtico, Kant dedica um sub-
item a falar do prazer e da dor no passatempo e no tdio, no qual o agradvel fica bem
elucidado em seu conceito. p. 130-136.
94
Sartre distingue sua opinio da de Kant, pois recusa que a obra seja uma
finalidade sem fim (momento da conscincia), em nome de que:
a imaginao, como as demais funes do esprito, no pode usufruir de si
mesma; est sempre do lado de fora, sempre engajada num
empreendimento. Haveria finalidade sem fim se algum objeto oferecesse
uma ordenao to regulada que nos convidasse a admitir para ele um fim,
quando ns prprios fssemos incapazes de lhe atribuir algum fim.
(SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 40)
O que Sartre contesta que para Kant o leitor frui e no cria. Sartre
defende insistentemente a questo da alteridade na obra de arte ou, mais
especificamente, na literatura, ela depende da criao contnua do agente
contemplativo. A intersubjetividade do belo kantiano distinta da proposta por
Sartre. Na Crtica do Juzo, Kant nos d a entender que o autor, enquanto
gnio, o porta-voz do discurso intersubjetivo, pois a comunicabilidade mais
ocorrente e explcita na terceira Crtica aparece no juzo do gosto que, este, da
sim, pode interagir no processo criativo do artista, mas no que o determine.
O juzo, se encarado como comunicabilidade, nos possibilita a
sociabilidade, podendo ento exercer um apelo tico ao julgo. No entanto, para
Kant, a comunicabilidade livre referente obra de arte acontece de modo
desinteressado, e isso faz com que o pblico frua tambm entre si o belo. Porm,
preciso cautela nesse entendimento, pois esse processo comunicativo difere
daquele da vida prtica, onde h fins e interesse. uma comunicabilidade em
vista do consentimento de sentimento de prazer.
Kant afirma que um juzo de gosto no juzo de conhecimento, mas sim
juzo esttico. O prazer no conhecimento, por isso h uma ausncia de
necessidade mundana. Na representao dada, o sujeito afetado sente a si
mesmo, e seus fundamentos subjetivos no podem ter nenhum conceito e
tampouco um fim dado. Para Kant, a arte possui uma finalidade sem um fim
objetivo, pois a finalidade subjetiva (fim em si mesmo). O fim objetivo de algo
exige o conceito deste. J o fim que existe por abstrao subjetivo naquele que
intui uma forma dada na imaginao. O sensorial distinto do reflexionante. A
finalidade sem fim atribuda por Kant um juzo esttico no lgico e sem
conhecimento, por isso, conforme j afirmado, um prazer desinteressado. Da
se tem a neutralizao que vai da passagem do objetivo ao subjetivo
95
desinteressadamente. Os juzos estticos para Kant, conforme reala Lebrun, so
juzos reflexionantes; seu princpio de determinao ser sempre uma sensao e
nunca um conceito, e a ela que se infere o sentimento de prazer.
166
A
representao ligada ao prazer no pode ser representao de nada, o que
Lebrun entende por eco em si mesmo no sentimento de prazer. A finalidade sem
fim no a percepo do objeto, um momento da conscincia, um objeto sem
finalidade. O belo no predicado da objetividade. Ao contrrio da finalidade
formal platnica, em que o caracterstico realado em vista da perfeio, a
finalidade sem fim de Kant deixa de perceber para poder imaginar (eis uma
concordncia com Sartre), pois perceber o objeto caracteriz-lo e conceitualiz-
lo, ou seja, destruir sua totalidade e qualidade esttica. O carter de no-
perfeio, no-percepo e no-utenslio da obra de arte nos pressupe, por
conseguinte, a condio necessria do prazer esttico. Alis, a questo da
percepo e do julgar foi o ponto de ruptura entre Kant e Baumgarten, pois para
este, julgar perceber.
167
Observemos, portanto, que para ambos os filsofos h, na arte,
desinteresse e liberdade esttica. Conforme observa Franklin Leopoldo e Silva: O
carter incondicionado da obra de arte, invocado por Kant, para Sartre o apelo
liberdade.
168
E se o artista ou o escritor invoca a liberdade daquele que aprecia a
obra, h a uma relao tico-esttica; a universalidade da liberdade.
A neutralizao dos fenomenlogos suspende a posio de existncia
das coisas (fenmenos). Em Sartre h um recuo em direo ao elemento
subjetivo; a irredutibilidade a representao do nada. Ora, para ele, o objeto
esttico remete apreciao, que s ocorrer quando o real for anulado numa
converso da conscincia realizante para a conscincia irrealizante, visto que,
para Sartre, o objeto esttico exige uma reduo: a passagem da percepo
imaginao. Por isso, conforme j salientado, para Sartre o leitor no pode estar a
166
LEBRUN, G. Kant e o fim da metafsica, Martins Fontes, So Paulo, 1993, 2 edio, p. 417-
418.
167
BAUMGARTEN, A. G. Esttica a lgica da arte e do poema, Vozes, Petrpolis, 1993, p. 88
607-608. Para Baumgarten, a crtica em seu sentido mais amplo a arte de julgar e o gosto
o julgamento dos sentidos, ora, o mau gosto, considerado uma falha do julgamento dos sentidos,
so iluses sensveis. (idem, ibidem). Aos olhos de Baumgarten, o objetivo da esttica, como
nova cincia, visa perfeio do conhecimento sensitivo; que, em muitos momentos, ser
entendido como conhecimento intuitivo.
168
LEOPOLDO E SILVA, F. Idem, p. 20.
96
servio da obra a ponto de se tornar passivo a mesma, contra sua liberdade de
imaginar. Deve haver uma pureza equivalente tanto para o leitor quanto para o
escritor. O ato de ler um criar, que, por sua vez, um agir. E isso define a
diferena da intersubjetividade requerida por Sartre em relao a Kant, a criao
dada tanto pelo autor quanto pelo leitor implica em uma ao prtico-moral,
ambos conscientes de sua situao no mundo. A intersubjetividade esttica
kantiana no exige ao, mas reflexo.
Em conformidade a Kant, para Sartre o prazer esttico no produz gozo
sensual. Da conclui que no belo h uma inibio do interesse e que o real no
jamais belo;
169
por isso Sartre ir mencionar que a extrema beleza de uma
mulher mata o desejo de t-la.
170
Pois sua beleza est no irreal, i.e., no
imaginrio, por isso conclui: Para desej-la seria necessrio esquecer que ela
bela, porque o desejo um mergulho no corao da existncia, no que h de
mais contingente e mais absurdo.
171
isso o que Sartre chama de reduo
imaginante, o recuo ao imaginrio a fim de se obter a contemplao esttica.
de forma anloga que Kant afirma o belo como prazer desinteressado. No
deixar de perceber, para Kant, poder no mximo causar um prazer sensorial,
mas no o prazer do belo. Como demonstra Lebrun: (...) quando sou capaz de
fazer abstrao de seu valor informativo, a sensao dita pura e o juzo de
gosto tornado possvel.
172
Ora, apreciar uma cor e dizer que ela bela um
juzo errneo, pois se ater a sensao da cor e no totalidade que ela apenas
contribui a configurar. Seria como escutar um som nunca antes escutado e poder
ter a imagem verdadeira daquilo que est emitindo esse som, saber de onde ele
vem. Isso, podemos observar, uma reduo a um exclusivo dado sensorial que
pode ser falacioso, e no mais uma reduo imaginao como um todo. Mais
uma vez nos apoiamos nas palavras precisas de Lebrun, refletir cessar de
conhecer ou de acreditar que se conhece, para entregar-se a uma interpretao
espontnea dos contedos.
173
Lebrun concorda com Sartre ao tomar o exemplo
169
SARTRE, J.P. Limaginaire, p. 371 (T.A.).
170
Idem, p. 372.
171
Idem, Ibidem.
172
LEBRUN, G. Kant e o fim da metafsica, Martins Fontes, So Paulo, 1993, 2 edio, p. 456.
173
Idem, p. 458. E ainda vale acrescentar: A sensao enquanto tal no um ingrediente
necessrio da conscincia reflexionante; ela apenas a hyl, apreendida fora da forma que a
torna, no significante ainda, mas sugestiva. (p. 459)
97
do tapete vermelho de uma tela de Matisse. Em O Imaginrio Sartre acusa que
isoladamente esse gozo sensual do vermelho no tem nada de esttico, pois
pura e simplesmente o prazer dos sentidos. (...) s se pode gozar
verdadeiramente o vermelho, apreendendo-o como vermelho de tapete, portanto
como um irreal... portanto no irreal que as relaes entre cores e formas
adquirem seu sentido verdadeiro.
174
Para Kant a constituio de um juzo
esttico est atrelada finalidade sem fim. o que nos faz permanecer sem
pressa durante um ato contemplativo, porque temos conscincia dessa finalidade,
e essa conscincia o prprio prazer, segundo Kant (porm no para Sartre).
175
E no a representao que o prazer vem a repetir, mas o sentimento de sua
presena enquanto objeto. Da a distino entre forma e contedo, dada por Kant.
A beleza se atribui forma, e, necessariamente, o agradvel ao contedo do
objeto, pois subjetivamente depende desse, para constituir-se enquanto objeto
esttico.
Ambos tambm concordam que h um apelo universalidade: no juzo do
gosto (Kant) e na criao (Sartre). Por outro lado, levando em conta as diferenas
conjunturais entre estes autores, a relao intersubjetiva ocorria em condies
tambm distintas. Como vimos, para Sartre o escritor deve se preocupar com o
seu tempo, escrever para sua poca, ou seja, engajar-se, pois todos esses anos
de histria o trouxeram at ali e este o seu nico momento de comprometer-se.
Para Kant, se considerarmos a influncia que obteve de Rousseau e a situao
dos leitores do sculo XVIII, conforme j visto, tudo indica que o escritor deveria
escrever para alm de sua poca, como nota Mrcio Suzuki:
(...) a situao de Kant, longe da vida parisiense, sem ter notcia quente
das desventuras de Jean-Jacques ou ser imediatamente afetado por elas,
(...) tudo isso parece favorec-lo em relao aos leitores vulgares do seu
sculo
176
, mas sujeitos aos preconceitos da opinio, alando-o quase
174
Sartre (LImaginaire) apud LEBRUN, G. Kant e o fim da metafsica, Martins Fontes, So Paulo,
1993, 2 edio, p. 458-459 (traduo de Lebrun).
175
KANT, I. Analtica do Belo. In Kant II. Col. Os Pensadores. Trad. Rubens Rodrigues T. Filho.
So Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 223. Sartre, como vimos, recusa a finalidade sem fim; para
ele, no h fim e nem finalidade, h sim um processo de criao contnua entre autor e pblico.
176
No se deve escrever para tais leitores, quando se quer viver alm de seu sculo
(ROUSSEAU, J.J. Discurso sobre a cincia e as artes. Paris, Pliade, 1964, vol. III, p. 3). Vale
ressaltar que tanto a poca de Kant como a de Sartre passava por intensas crises e
revolues polticas sob diferentes condies. E que a filosofia kantiana teve influncia
singular na nova corrente idealista romntica que ali surgia, sobretudo na forma profunda e
abstrusa de se escrever e no movimento Sturm und Drang, conforme salienta o historiador da
98
condio de leitor ideal, capaz de ler no silncio das paixes
177
(meno
Diderot).
Com efeito, se examinamos o engajamento da escrita proposta por
Sartre, fica difcil de entendermos o que a atemporalidade de um clssico
significava para ele. Seria apenas uma obra que carrega em si um relato histrico
a ser examinado pelo sentimento e imaginrio? Se assim fosse, a perplexidade de
leitores diante da literatura clssica no resultaria na genialidade que
reconhecemos em seus autores. E diremos que o prprio elogio de Shaftesbury
em relao aos Clssicos e seus picos, no poderia estar equivocado. Da
concordamos com Kant quanto a singularidade do gnio. porque este, quando
surge, traz consigo o dom de provocar sentimentos, independente de sua poca,
e pode mudar uma concepo inteira daquilo que se estabelecia paradigmtico no
cnone artstico. Mas no interpretemos inapropriadamente a filosofia de Sartre,
pois o que ele mais requer aos autores de sua contemporaneidade, mais que
provocar sentimentos, talvez seja simplesmente o provocar. Talvez uma corts
provocao, para no confundirmos com insulto, seja a espcie de apelo que um
escritor deva fazer liberdade do outro em via de mobiliz-lo a tambm criar
sobre a obra, sobretudo em poca que urge a abstrao a fim de se entender o
caos de seu tempo. E entendamos, em relao aos clssicos, que Sartre bania o
sonho da imortalidade, pois, conforme menciona na Apresentao de Les Temps
Modernes texto que inicia a polmica sartriana do engajamento ns
escrevemos para nossos contemporneos, no queremos olhar nosso mundo
com olhos futuros seria o meio mais seguro de destru-lo mas com nossos
olhos de carne, com nossos verdadeiros olhos perecveis.
178
Por conta disso, ir
declarar que reverenciar os clssicos da literatura, ou evidenciar o tempo todo
Pascal e Montaigne, no os tornaro mais vivos, mas tornam escritores como
Malraux e Gide mais mortos.
179
E como o escritor s vive numa poca, a ela
arte Arnold Hauser: A experincia da arte adquire a a funo que at ento s a religio tinha
sido capaz de cumprir; torna-se o baluarte contra o caos. E cita Gethe: a arte a tentativa
do indivduo de preservar-se contra o poder destrutivo do todo. (p. 623). O legado deixado
por Kant no campo esttico indiscutvel e muito atual em vrios aspectos.
177
SUZUKI, M. O gnio romntico, Iluminuras, So Paulo, 1998, p. 45.
178
SARTRE, Apresentao de Les Temps Modernes in Revista Praga - estudos marxistas 8, ed.
Hucitec, So Paulo, 1999, P. 14;
179
SARTRE, J. P. Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004, p. 28-29. Malraux e Gide,
escritores contemporneos a Sartre.
99
que deve entregar-se, sempre levando em considerao o objeto esttico,
escrevendo a seu pblico sobre seu tempo, o homem o meio pelo qual as
coisas se manifestam.
180
Falar a homens de seu tempo reconhecer tambm a
responsabilidade de sua ao que, atravs da liberdade, situa os seres enquanto
ser-no-mundo; dizer a respeito da universalidade do homem enquanto se pode
fazer alguma coisa por ele; e por essa razo que conclumos: a obra de arte ou
literria, enquanto objeto esttico e de livre criao humana, deve
reconhecidamente ser posta a merc do imperativo categrico.
Consideraes finais
dispensvel comentar a importncia histrica que a Esttica obteve com
Kant. Sua genialidade como filsofo o posiciona talvez como o pensador que mais
explorou o campo esttico, esmiuando e dando uma nova concepo que se
estenderia at os dias de hoje. Em Sartre, seus efeitos se desdobram ainda sobre
outros fenomenlogos, como Merleau-Ponty, Camus e Simone de Beauvoir, e
influenciaram tambm outras correntes filosficas, assim como a literatura da
poca e a advinda posteriormente. vlido notar que a filosofia transcendental de
Kant e o existencialismo de Sartre obtiveram um grande ganho na literatura de
suas pocas, bem como na dramaturgia. A contribuio de ambos para o
percurso filosfico da Esttica notria. certo tambm afirmar que suas teorias
geraram objees. Mas esse o vento que move a Filosofia, sobretudo, a
Esttica, para um perptuo desdobrar da reflexo e do sentimento. Os rumos da
Esttica, por maiores antteses que possuam, nunca acabam por nortearem em si
mesmos, como peties de princpios, pelo contrrio, nos orientam a
compreender e interpretar a dimenso das artes, seus valores, o despertar da
intuio e, tambm, a importncia da fruio que nela deve ocorrer.
Vimos que para Sartre, a ruptura entre arte e literatura, reivindica o
engajamento a esta ltima, de modo que a literatura espelha ao homem a imagem
180
Idem, p. 33.
100
crtica dele mesmo: mostrar, demonstrar, representar. Isso o engajamento.
181
,
e esse ento o papel da literatura. O escritor apela liberdade subjetiva do leitor
para que este possa tambm criar a obra conforme sua imaginao; a liberdade
do escritor, seja ele gnio (na concepo kantiana) ou criador (consoante Sartre),
deve, sob a luz do imperativo categrico, se limitar a no arbitrar ou impor uma
narrativa peremptria ao leitor, ou, de modo adverso, estaria cerceando sua
qualidade de gnio kantiano. Este nada mais faria do que uma produo egotista
e sem valor liberdade universal, ademais, seria um manifesto alvo da crtica
shaftesburiana, pois o objeto belo serviria apenas para a satisfao de algum
em particular e no um pblico universal. Neste caso, dentro da concepo
kantiana, a faculdade de juzo deixaria de ser esttica e passaria a ser intelectual,
visto que seria patologicamente o prazer ou desprazer do sentimento moral; e
para Sartre, seria outra coisa que no literatura, algo utilitrio que no tem mais
apelo ao carter subjetivo do leitor e lhe indiferente a liberdade do mesmo.
Em Kant apresentamos como ocorre o envolvimento entre o objeto
esttico, o juzo reflexionante e o gosto, e que o belo, enquanto prazer
desinteressado, pode simbolizar a moralidade, mas no exerc-la, pois esta
encontra-se no plano prtico e objetivo. A propsito, observamos vrias vezes
que dentro das filosofias de Sartre e de Kant a Esttica dialoga com a tica em
vrios momentos, apesar de ambas se situarem em dois mundos distintos e no
poderem, de maneira alguma, ser confundidas (para no dizer que seria algo
estpido confundi-las, como releva Sartre em tom mais depreciativo
182
). Pois a
moral implica ao no mundo e a esttica um recuo em relao ao mundo, face
ao irreal. H, porm, aqueles que afirmam que essas duas disciplinas podem no
ser a mesma, mas so inseparveis, Wittgenstein um deles. E isso pode ser
bastante plausvel se tomarmos como base que o percurso da Esttica, quando
estudada pela filosofia da linguagem, se orienta nesta direo. Mas isso matria
com vasto contedo a ser explorado em uma futura pesquisa.
181
SARTRE, J.P. Situations, IX, Gallimard, Frana, 1972, p. 31.
182
Os valores do Bem supem o ser-no-mundo, eles visam s condutas dentro do real e so
submetidos inicialmente ao absurdo essencial da existncia. SARTRE, J.P. Limaginaire, p.
371-372 (T.A.).
101
Referncias Bibliogrficas
KANT, Immanuel; Crtica do juzo, in Os Pensadores Kant (II), Trad.: Rubens
Rodrigues Torres Filho, Ed. Abril Cultural, So Paulo, 1974;
__________, Crtica da faculdade de juzo, traduo de Valrio Rohden
e Antonio Marques, Ed. Forense Universitria, Rio de Janeiro, 1995,
2 edio;
__________, Primeira Introduo Crtica do J uzo, Traduo de
Rubens Rodrigues Torres Filho. In: Os Pensadores, So Paulo, Abril
Cultural, 1974;
__________, Da arte e do gnio in Os Pensadores, Kant, Ed. Abril, So
Paulo, 1974;
__________, The critique of practical reason, in Great Books of the
Western World, Encyclopaedia Britannica, Inc., translated by Thomas
Kingsmill Abbott, Chicago, 1952;
__________, Prolegmenos a toda a metafsica futura, Edies 70,
Textos Filosficos, Lisboa 2003;
__________, Crtica da razo pura, Ed. Fundao Calouste Gulbenkian,
Lisboa, 2001, 5 edio;
__________, Fundamentao da metafsica dos costumes in Os
Pensadores, Kant, Ed. Abril, So Paulo, 1974;
__________, Antropologia de um ponto de vista pragmtico,
Iluminuras, So Paulo, 2006;
__________, Observaes sobre o sentimento do belo e do sublime,
Traduo de Vincius de Figueiredo, Papirus Editora, Campinas,
2000, 2 Ed..
__________, Textos seletos, Editora Vozes, So Paulo, 2005.
102
SARTRE, Jean-Paul; Que a literatura?; Editora tica, So Paulo, 2004;
___________, Limaginaire; Folio Essais - Gallimard, Frana, 2005;
___________, El ser y la nada; Ed. Losada, Buenos Aires, 1966;
___________, Situaes I, Cosacnaify, So Paulo, 2005;
___________, Situaes II, Gallimard, Frana, 1987;
___________, Situations, IV, Gallimard, Frana, 1964;
___________, Situations, IX, Gallimard, Frana, 1972;
___________, O existencialismo um humanismo, in Os Pensadores.
Abril Cultural, So Paulo, 1978;
___________, Esboo para uma teoria das emoes, L&PM, Porto
Alegre, 2009;
___________, Apresentao de Les Temps Modernes in Revista
Praga - estudos marxistas 8, ed. Hucitec, So Paulo, 1999;
___________, A imaginao. L&PM, Porto Alegre, 2008;
___________, Itinerrio de um pensamento (entrevista concedida New
Left Review 58, novembro-dezembro de 1969) in Vozes do Sculo
Entrevistas da New Left Review, da organizao de Emir Sader, Ed.
Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1997;
___________, Em defesa dos intelectuais. So Paulo: tica, 1994;
___________, Questo de mtodo, in Os Pensadores. Abril Cultural, So
Paulo, 1978;
___________, La nusea, Editorial Losada, Buenos Aires, 1947;
___________, La P... respectueuse, ditions Gallimard, Barcelona, 2008;
103
Bibliografia secundria
ALLISON, H. Kants theory of taste, Cambridge, Cambridge University
Press, 2001;
ARENDT, H. Lectures on Kants Political Philosophy, Chicago, The University
of Chicago Press, 1992;
ARGAN, G. C. Arte moderna, Companhia das Letras, So Paulo, 2002;
BARTHES, R. O prazer do texto, So Paulo, Ed. Perspectiva, 1973, 4. ed.;
BAUMGARTEN, A. G. Esttica a lgica da arte e do poema, Vozes,
Petrpolis, 1993;
BORNHEIM, G. A. Sartre, Perspectiva, So Paulo, 2007, 3
.a
Ed.;
CASSIRER, Ernst; La philosophie des Lumires, Fayard, Paris, 1966;
CHEDIN, O. Sur lesthtique de Kant et la thorie critique de la
reprsentation, Librarie Philosophique J. Vrin, Paris, 1982;
CONTAT, M. & RYBALKA, M., Les crits de Sartre, Paris, Ed. Gallimard, 1970;
DANTO, A.C., Aps o fim da arte, Edusp, So Paulo, 2010
DARNTON, Robert, Histria da leitura, in BURKE, P. (org.). A escrita da
histria: novas perspectivas, Editora Unesp, So Paulo, 1991;
DELEUZE, G. A filosofia crtica de Kant, Edies 70, Lisboa, 1963;
______________, A Ilha Deserta, Iluminuras, So Paulo, 2006;
DENIS, B. Literatura e engajamento, de Pascal a Sartre, Edusc, Bauru, 2002;
DONIZETTI DA SILVA, L., Filosofia, literatura e dramaturgia: liberdade e
situao em Sartre in Revista Dois Pontos, vol. 3, nmero 2
Sartre, outubro de 2006;
DUVE, T de. Kant after Duchamp, October MIT Press, Massachusetts, 1996;
104
EAGLETON, T. A ideologia da esttica, Zahar, Rio de Janeiro, 1990;
FIGUEIREDO. Vinicius B. Cassirer e Sartre sobre o esclarecimento in
Kriterion 112, Belo Horizonte, 2005;
_________, Kant & a crtica da razo pura, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro,
2005;
GONALVES, R. G. C.; A especificidade do belo artstico in Discurso
Revista do Departamento de Filosofia da USP, vol. 34, So Paulo,
2004;
________________ , Tese de doutorado Forma e gosto na crtica do juzo,
Universidade de So Paulo, 2006;
GUYER, P. Kant and the claims of taste, Cambridge University Press,
Cambridge, 1977, 2
nd
ed.;
HAUSER, Arnold; Histria social da literatura e da arte tomo II, Editora
Mestre Jou, So Paulo, 1972;
JAUSS, H. R.; Aesthetic experience and literary hermeneutics theory and
history of literature, volume 3, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1982;
JUDT, Tony. Passado imperfeito: um olhar crtico sobre a intelectualidade
francesa no ps-guerra, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro,
1992;
KANDINSKY, N. Du spirituel dans lart et dans la peinture en particulier,
Mediations, Paris, 1969;
KIERKEGAARD, S.; O conceito de angstia, Hemus, Brasil, 2007;
KORSMEYER, C.; (Edited by) Aesthetics: the big questions, Blackwell
Publishing, Singapore, 2006;
LEBRUN, Gerard; Kant e o fim da metafsica, Martins Fontes, So Paulo,
1993, 2 edio;
LEOPOLDO E SILVA, Franklin; tica e literatura em Sartre Ensaios
introdutrios; Ed. UNESP, SP, 2003;
105
___________, Literatura e experincia histrica em Sartre: o
engajamento, in Revista Dois Pontos, vol. 3, nmero 2 Sartre,
outubro de 2006;
LEVY, B.H., Le sicle de Sartre, diotions Grasset & Fasquelle, Paris, 2000;
MOURA, Carlos A. R.; Husserl: significao e existncia in revista Um
passado revisitado. 80 anos do curso de filosofia da PUC-SP.
Muchail, Slama T. (org.) So Paulo, 1992;
MOUTINHO, L. D. S.; Sartre existencialismo e liberdade , Editora Moderna,
So Paulo;
__________, A lgica do engajamento - Literatura e Metafsica em Sartre, in
Discurso Revista do Departamento de Filosofia da USP, nmero
39, Ed. Barcarolla, 2009;
REIS, P. e CERN, I. P. Kant crtica e esttica na modernidade, Editora
Senac So Paulo, So Paulo, 1999;
ROMANO, L. A. C. A passagem de Sartre e Simone de Beauvoir pelo Brasil
em 1960, Fapesp Mercado das Letras, Campinas , 2002;
RUSSO, Luigi; Il Gusto Storia di una idea estetica, Aesthetica Edizioni,
Milo, 2000;
SHAFTESBURY, A. A. Cooper, Solilquio ou conselho a um autor, traduo
Ligia Caselato;
____________, Los Moralistas, Traduo de Delia A. Sampietro, Universidad
Nacional de la Plata, Argentina, 1961;
SOUZA, T. M. Sartre e a literatura engajada, Edusp, So Paulo, 2008;
SUZUKI, Mrcio; O gnio romntico, Iluminuras, So Paulo, 1998;
THODY, P. Sartre, uma introduo biogrfica, edies Bloch, Rio de Janeiro,
1974;
WERLE, M. A. O lugar de Kant na fundamentao da esttica como
disciplina filosfica in Revista Dois Pontos Kant vol. 2, nmero
2, outubro de 2005;
106
DICIONRIO KANTIANO: Vocabulaire Kantienne (Anthropologique,
Esthtique, Pratique et Thorique).
Verso Final aprovada pelo Orientador em ____/____/_______. Ass.:______________________.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Encontros Com A Tragedia e A Comedia em PDFDokument19 SeitenEncontros Com A Tragedia e A Comedia em PDFNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Heloisa Maria Lyra Da Silva Bulcao - A Criacao Da CenografiaDokument4 SeitenHeloisa Maria Lyra Da Silva Bulcao - A Criacao Da CenografiaNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Quem Casa Quer Casa - Martins PenaDokument32 SeitenQuem Casa Quer Casa - Martins PenaRodrigo Da Silva LimaNoch keine Bewertungen
- Responsabilidade Moral em AristótelesDokument15 SeitenResponsabilidade Moral em AristótelesNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- ARTIGO StanislávskiGrotowskiDokument6 SeitenARTIGO StanislávskiGrotowskiNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- FeiurinhaDokument16 SeitenFeiurinhaNadiana Carvalho100% (1)
- Artefilosofia 01 02 Filisofia 03 Helio Lopes SilvaDokument11 SeitenArtefilosofia 01 02 Filisofia 03 Helio Lopes SilvaHálwaro Carvalho Freire FreireNoch keine Bewertungen
- Teatralidade e Performatividade Na Cena ContemporâneaDokument13 SeitenTeatralidade e Performatividade Na Cena ContemporâneaTav Neto100% (1)
- Artigo Nadiana ArtedacenaDokument9 SeitenArtigo Nadiana ArtedacenaNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Curso Básico de Gestão CulturalDokument2 SeitenCurso Básico de Gestão CulturalNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Politicas Culturais Entre o Possivel e o ImpossivelDokument17 SeitenPoliticas Culturais Entre o Possivel e o ImpossivelJo StellaNoch keine Bewertungen
- Clóvis Massa - Elaboração Do SimbólicoDokument4 SeitenClóvis Massa - Elaboração Do SimbólicoNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- 03 em Defesa Do Prazer Estc3a9tico Versc3a3o de Publicac3a7c3a3oDokument8 Seiten03 em Defesa Do Prazer Estc3a9tico Versc3a3o de Publicac3a7c3a3oju1976Noch keine Bewertungen
- Coenelius Castoriadis - A Instituição Imaginária Da Sociedade PDFDokument7 SeitenCoenelius Castoriadis - A Instituição Imaginária Da Sociedade PDFRodionRaskolnikov100% (1)
- Tratado Da Natureza Humana Hume PDFDokument63 SeitenTratado Da Natureza Humana Hume PDFVictória Régia100% (2)
- Povo FalaDokument1 SeitePovo FalaNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Artigo 4 BetinaDokument7 SeitenArtigo 4 BetinaNadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- RANCIÈRE, Jacques. Dossiê Ética, Estética e Política - Revista Urdimento PDFDokument176 SeitenRANCIÈRE, Jacques. Dossiê Ética, Estética e Política - Revista Urdimento PDFandrade.mariana100% (1)
- BACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioDokument209 SeitenBACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioCarlos Regis100% (11)
- Stratico - Jose Fernando ADokument8 SeitenStratico - Jose Fernando ANadiana CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Procedimento Operacional Padrão (UAN)Dokument16 SeitenProcedimento Operacional Padrão (UAN)Juninho Ferreira TjsNoch keine Bewertungen
- 19.10 Dialogos Ed10 - Web PDFDokument72 Seiten19.10 Dialogos Ed10 - Web PDFbrendaNoch keine Bewertungen
- Questoes 33 ViniciusDokument6 SeitenQuestoes 33 ViniciusVM LopesNoch keine Bewertungen
- Seminário de Parasitologia - Teníase e Cisticercose - SarahDokument19 SeitenSeminário de Parasitologia - Teníase e Cisticercose - SarahSarah Marjorie100% (1)
- Manual Usuario Asena GHDokument20 SeitenManual Usuario Asena GHJosiel MarlosNoch keine Bewertungen
- Astrologia e Mitologia - Ariel Guttman e Kenneth JohnsonDokument13 SeitenAstrologia e Mitologia - Ariel Guttman e Kenneth JohnsonAlmir Campos Pimenta50% (2)
- Ficha Alternativa D&D 5E - PT-BR (Editável)Dokument3 SeitenFicha Alternativa D&D 5E - PT-BR (Editável)arthur seabraNoch keine Bewertungen
- Apostila de Medicina Nuclear 2014 PDFDokument51 SeitenApostila de Medicina Nuclear 2014 PDFNathália CassianoNoch keine Bewertungen
- Os CavaleirosDokument8 SeitenOs CavaleirosLucas VieiraNoch keine Bewertungen
- Cronograma Proerd 2023.2 002Dokument3 SeitenCronograma Proerd 2023.2 002Janbrito212Noch keine Bewertungen
- Izabel CavalletDokument82 SeitenIzabel CavalletCarmen Lidia KollenzNoch keine Bewertungen
- ColheitaMeca RSZDokument11 SeitenColheitaMeca RSZcraiddyNoch keine Bewertungen
- Uma Virgem para Lorde Black (Er - Islay RodriguesDokument363 SeitenUma Virgem para Lorde Black (Er - Islay RodriguesLí SilvaNoch keine Bewertungen
- Dark Souls RPGDokument18 SeitenDark Souls RPGIZANAGI YTNoch keine Bewertungen
- Poesia Acustica LetraDokument4 SeitenPoesia Acustica LetraSaraNoch keine Bewertungen
- Perfil Técnico Eco-Star Oxy-Brite LT - 19-01-2015 PDFDokument3 SeitenPerfil Técnico Eco-Star Oxy-Brite LT - 19-01-2015 PDFMaykon AbreuNoch keine Bewertungen
- Apostila Tiro DefensivoDokument40 SeitenApostila Tiro DefensivoIsaacpontes100% (2)
- QuestoesDokument15 SeitenQuestoesjordany.silvaNoch keine Bewertungen
- Plano de Aula 3Dokument4 SeitenPlano de Aula 3Ana Luiza GolinNoch keine Bewertungen
- Modelo PDI 2020Dokument14 SeitenModelo PDI 2020Jéssica AlbernazNoch keine Bewertungen
- 11Dokument2 Seiten11Diego CiênciaNoch keine Bewertungen
- Plano Municipal de Saneamento Básico - P1 - Plano de Trabalho - 2015Dokument104 SeitenPlano Municipal de Saneamento Básico - P1 - Plano de Trabalho - 2015Marcelo PessoaNoch keine Bewertungen
- Um páSsArO cOM Um coRAÇãO de BúzioDokument9 SeitenUm páSsArO cOM Um coRAÇãO de BúzioLeá CunhaNoch keine Bewertungen
- O Anatomista (Revista) PDFDokument81 SeitenO Anatomista (Revista) PDFRhiannonDangelo100% (1)
- Gabarito Adg2 - Empreendedorismo e Inovação - ADokument3 SeitenGabarito Adg2 - Empreendedorismo e Inovação - ARayssa Padilha100% (1)
- Deus em EspinozaDokument2 SeitenDeus em EspinozaigorandradeytNoch keine Bewertungen
- As Parábolas de Jesus para Crianças Livro para ColorirDokument19 SeitenAs Parábolas de Jesus para Crianças Livro para Colorirsouzawellinton026Noch keine Bewertungen
- Casa Dino - Caderno de Marcenaria - Adega - R00Dokument5 SeitenCasa Dino - Caderno de Marcenaria - Adega - R00Clara RosaNoch keine Bewertungen
- Mensageiro de Deus A Um Povo RebeldeDokument18 SeitenMensageiro de Deus A Um Povo RebeldeKarolina SoaresNoch keine Bewertungen
- Manual jkw5 Rev Nov 18 PDFDokument6 SeitenManual jkw5 Rev Nov 18 PDFEnzio Jorge RicardoNoch keine Bewertungen