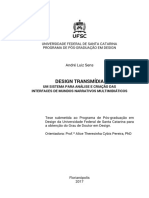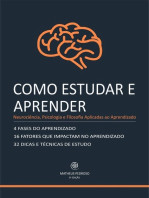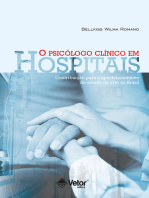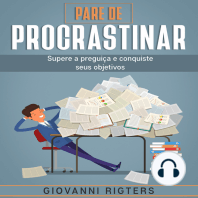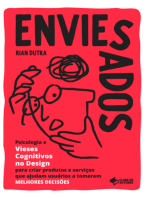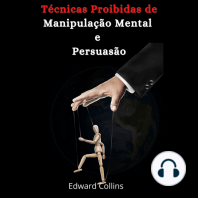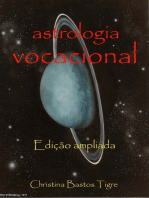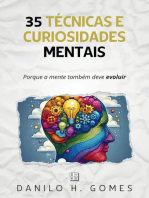Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Identi Dade
Hochgeladen von
Jackie CastroCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Identi Dade
Hochgeladen von
Jackie CastroCopyright:
Verfügbare Formate
Universidade de Aveiro
2005
Departamento de Comunicao e Arte
Daniel Raposo
Martins
Gesto de Identidade Corporativa:
do signo ao cdigo
Universidade de Aveiro
2005
Departamento de Comunicao e Arte
Daniel Raposo
Martins
Gesto de Identidade Corporativa:
do signo ao cdigo
Dissertao apresentada Universidade de Aveiro para cumprimento dos
requisitos necessrios obteno do grau de Mestre em Design, Materiais e
Gesto de Produto, realizada sob a orientao cientfica do Prof. Vasco Afonso
da Silva Branco e co-orientao do Prof. Francisco Providncia Santarm,
Professores do Departamento de Comunicao e Arte da Universidade de
Aveiro.
dedicatria
Aos que amo e que sempre me apoiam nas dificuldades.
o jri
presidente Doutor Rui Ramos Ferreira e Silva
Professor Associado da Universidade de Aveiro
Doutor Vasco da Silva Branco
Professor Associado da Universidade de Aveiro
Doutor Pedro Manuel dos Santos Quelhas Taumaturgo de Brito
Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Mestre Francisco Maria da Providncia Santarm
Professor Auxiliar Convidado da Universidade de Aveiro
agradecimentos
Ao meu orientador, Prof. Doutor Vasco Afonso da Silva Branco, pela
orientao, sabedoria e exigncia que me obrigou a reflectir medida das
necessidades do presente estudo. Ao co-orientador, Dr. Francisco Providncia
Santarm, pelo trabalho conjunto com o orientador, pela partilha de
conhecimento e pela sempre amvel prestao.
Ao amigo J oan Costa, pela sua humildade e generosidade, que sempre se
mostrou disponvel para me ajudar e clarificar dvidas.
Aos professores J oo Augusto da Silva Branco e Antnio dos Santos Pereira,
pelas estimadas opinies que me incentivaram a continuar.
minha namorada Carla Snia Valente Antunes, pelo tempo que junto comigo
investiu na elaborao deste projecto e pelas horas que passou sem a minha
presena.
A Rui Vinhas da Silva, pelo seu contributo no meu estudo, que se mostrou
sempre disponvel.
Aos meus pais e irm, que generosamente me souberam perdoar pelo tempo
de ausncia que decorreu do meu empenho e aos quais devo o meu percurso
profissional.
A tantos outros que pontualmente contriburam para o presente estudo, mas
sem os quais seria difcil a realizao deste: Licor Beiro, na pessoa de Daniel
Redondo; Vista Alegre; Revista Marketeer; CTT; Elemento Digital; Ricardo
Silva; J os Silva; Ana Marcelo; Pedro Brito, Brgida Ribeiro; J oo Neves;
Carlos Rocha (Letra Design); Carlos de Sousa Rocha; Fernando Raposo;
Alexandra Gomes, Natlia Roque; Filipe Ramalheira; Margarida Morgado,
Catarina Vicente e Cristina de Almeida.
A todos que directa ou indirectamente contriburam para a realizao deste
trabalho, como aos que no acreditaram em mim, levando-me melhorar.
palavras-chave
Gesto de identidade corporativa, marca, imagem corporativa, Identidade
Corporativa, Signo, Cdigo.
resumo
O presente estudo, aborda o conceito de gesto de identidade corporativa,
centrado na questo da marca. Encontra-se que ser difcil compreender ou
gerir a identidade corporativa, sem conhecer a origem de tal fenmeno,
justificando um estudo dos diferentes antecedentes ou origens da marca,
procurando contextualizar cada um e traar um percurso que partindo do signo
possa chegar gesto, do que se compreende como um sistema vivo de
signos o cdigo. Propem-se um percurso baseado nas diferentes alteraes
funcionais e simblicas da marca, evidenciando a sua relao com as
alteraes tcnicas, sociais, culturais e econmicas que tero provocado a sua
transio de signo a cdigo.
Os modelos de gesto de identidade corporativa convergem com a ideia chave
de olhar a marca como um sistema vivo em de rede de signos, influenciador e
dependente da empresa na sua dimenso interna e externa. As alteraes
culturais, sociais, econmicas e tecnolgicas, emergentes parecem reforar a
necessidade de uma relao cada vez mais prxima entre empresa e
consumidor, a qual pode ser facilitada pela flexibilidade da estrutura
organizativa atravs do servio, da customizao de massas, da
personalizao e da Internet, tendo a marca como elo de ligao e domnio
transversal comum.
Para a elaborao deste trabalho, recorreu-se a bibliografia diversa,
relacionando e/ou confrontando opinies sustentadas por diferentes autores,
dos quais se destacam pela incidncia das suas citaes J oan Costa (2004),
Per Mollerup (1997) e Norberto Chaves (1988).
A marca e a empresa contempornea so interdependentes e criam um super
sistema semitico, composto por signos e meta-signos relacionados em
expresso inter-media, que criam uma experincia multisensorial capaz de
influenciar a construo da imagem corporativa. Razo pela qual para gerir a
identidade e a imagem corporativa necessrio actuar sobre o sistema
semitico, procurando manter ou criar um discurso multisensorial coerente.
keywords
Corporate Identity Management, Branding, Corporate Image, Corporate
Identity, Sign, Code.
abstract
The study concentrates on the concept of corporate identity management as
part of branding. It is difficult to understand or manage corporate identity
without previously understanding the origins of the whole process of branding.
An analysis of the manifold antecedents or origins of the brand and its contexts
is needed in order to connect each sign to the management of a living system
of signs the code. The present study attempts to analyse the various
functional and symbolic brand changes in articulation with the technical, social,
cultural and economical changes that may have dictated their transition from
sign to code.
Models of corporate identity management are based on the key notion that a
brand is a living system of a net of signs, which influences and is influenced by
the internal and external dimensions of the company. Emerging cultural, social,
economical and technological changes seem to reinforce the need for a closer
relationship between company and consumer. This relationship may be
facilitated by a flexible organizational structure, service, mass customisation,
personalisation and the Internet, while retaining the brand as transversal
common ground that links the several domains.
The present study is based on a diverse bibliography, which articulates and/or
contests several authors opinions. In particular, the study quotes extensively
from J oan Costa (2004), Per Mollerup (1997) and Norberto Chaves (1988).
Contemporary brands and companys are interdependent and create a semiotic
super-system, composed by signs and meta-signs. These are articulated
through inter-media expression, thus generating a multi-sensorial experience
that is capable of influencing the construction of the corporate image. This is
why to manage the corporate identity and image it is necessary to act upon the
semiotic system in order to maintain or create a coherent multi-sensorial
discourse.
1
NDICE GERAL
NDICE GERAL ........................................................................................ 1
NDICE GERAL DE FIGURAS .................................................................... 3
1- INTRODUO...................................................................................... 8
1.1- Problema .................................................................................... 11
1.2- Relevncia do problema ............................................................... 11
2- CONCEITOS RELACIONADOS? ........................................................... 12
2.1- Os signos.................................................................................... 18
2.2- cones, ndices, e s mbolos ........................................................... 19
2.3- O S mbolo ................................................................................... 20
2.4- Os cdigos .................................................................................. 22
2.5- Modos de comunicao................................................................. 24
2.6- Signos naturais ou arbitrrios ....................................................... 25
2.7- O significado de uma marca .......................................................... 26
2.8- A dupla dimenso da marca .......................................................... 27
2.9- Identificao planeada e espontnea ............................................. 28
2.10- O signo grfico .......................................................................... 29
2.11- A marca em toda a sua dimenso semitica .................................. 29
2.12- A imagem grfica e imagem corporativa........................................ 30
2.13- A identidade corporativa ............................................................. 31
2.14- Semitica corporativa ................................................................. 31
2.15- Relaes entre componentes corporativos (realidade; identidade;
comunicao; imagem): .......................................................................... 34
3- ANTECEDENTES HISTRICOS DA IDENTIDADE CORPORATIVA ........... 37
3.1- Primeiro nascimento da marca a marca para identificar ................. 38
3.1.1- A pr-histria da marca........................................................... 38
3.1.2- Monogramas A marca como assinatura .................................. 42
3.1.3- A marca laboral ...................................................................... 44
3.1.4- As marcas dos canteiros ......................................................... 50
3.1.6- As marcas de gado ................................................................. 58
3.1.7- A marca na moeda.................................................................. 67
3.1.8- Marcas na cermica Os cdigos de identidade das nforas e das
tgulas ........................................................................................... 70
3.2- O segundo nascimento da marca A marca obrigatria e a militar .... 79
3.2.1- O sistema corporativo medieval ............................................... 79
3.2.2- A herldica ............................................................................ 87
3.2.2.1- A herldica portuguesa ..................................................... 97
3.2.3- Marcas de contraste e de ourives ou punes ......................... 104
3.2.4- Marcas de imprensa.............................................................. 107
2
3.3- O terceiro nascimento da marca a marca moderna...................... 117
3.3.1- A liberdade comercial e a marca ............................................ 117
3.3.2- O industrialismo e a marca moderna....................................... 117
3.3.3- A publicidade (o cartaz marca de 1900) e a crescente autonomia
das marcas ................................................................................... 118
3.3.4- Da marca identidade corporativa (AEG) ............................... 128
3.3.5- O design no per odo da II Guerra Mundial ............................... 129
3.3.6- O design do Ps-Guerra........................................................ 130
3.3.7- Escola de Ulm (1953-1968) ................................................... 131
3.4- O quarto nascimento da marca O cdigo.................................... 133
3.4.1- O contexto e a marca como um sistema vivo ........................... 133
3.4.2- Personalizao e adaptao s necessidades do cliente .......... 136
3.4.3- O eDesign e a marca on-line ................................................. 139
3.4.4- A marca emocional na era digital ........................................... 141
3.5- Concluses sobre os nascimentos da marca ................................. 143
4- A ESTRUTURA DA IDENTIDADE CORPORATIVA................................. 147
4.1 - Consideraes acerca da arquitectura da marca. ....................... 153
5- MODELOS CONCEPTUAIS DE GESTO DE IDENTIDADE CORPORATIVA
.......................................................................................................... 155
5.1- Enquadramento.......................................................................... 155
5.2- Mtodos de gesto de identidade corporativa ............................... 156
5.2.1- Modelo de Kevin Lane Keller (1998) Estratgia de Marca
Baseada no Consumidor................................................................ 157
5.2.2- Modelo de Gesto De David A. Aaker ..................................... 166
5.2.3- Modelo de Gesto de Scott M. Davis ...................................... 174
5.2.4- Modelo de J oan Costa........................................................... 182
5.2.5- Modelo de Norberto Chaves................................................... 191
5.2.7- Modelo da Brandia Network Fusion System.......................... 213
5.2.8- Concluses sobre os modelos ................................................ 218
5.2.9- Outros modelos conceptuais no aprofundados ....................... 222
CONCLUSO....................................................................................... 225
GLOSSRIO DE TERMOS ..................................................................... 239
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.......................................................... 243
BIBLIOGRAFIA .................................................................................... 250
3
NDICE GERAL DE FIGURAS
Figura 1 Pirmide de Abraham Maslow....13
Figura 2 Modelo de Claude E. Shannon e Warren Weaver..15
Figura 3 Modelo de comunicao de Roman J akobson.17
Figura 4 Modelo de comunicao de Roman J akobson.17
Figura 5 I nterpretao simultnea do signo..19
Figura 6 I nterpretaes de s mbolo..21
Figura 7 Cdigos lgicos e expressivos...32
Figura 8 Ligao entre cdigos lgicos e expressivos.24
Figura 9 Tipos de signos..26
Figura 10 Embalagem como marca..27
Figura 11 Logtipos29
Figura 12 Semitica corporativa31
Figura 13 Marcas em vasilhas Neol ticas..38
Figura 14 Ferros de marcar de povos nmadas..38
Figura 15 Letras rnicas sobre madeira.39
Figura 16 Estela com escrita do Sudoeste Peninsular..39
Figura 17 Marcas gravadas em pedra.40
Figura 18 Monograma , El i zabet h Regi na I I . . 41
Figura 19 Monogramas de Carlos Magno at Filipe I V.42
Figura 20 Monogramas monarcas portugueses43
Figura 21 Sistema de cadncia da marca poveira..44
Figura 22 Sistema de cadncia da marca poveira...44
Figura 23 Marcas na porta da capela de Santa Cruz Balazar45
Figura 24 Marcas poveiras em pescado..46
Figura 25 I dentidade das balizas e divisas.46
Figura 26 Marcas poveiras em barcos..47
Figura 27 Marcas de pescado em Hamburgo.48
Figura 28 Tabuleiro de anotaes com marcas....48
Figura 29 Marcas de canteiro...51
Figura 30 Marcas de canteiro...51
Figura 31 Marcas de canteiro com grelha.52
Figura 32 Marcas de canteiro com grelha.52
Figura 33 Marcas de canteiro com grelha.53
Figura 34 Marcas de canteiro...53
Figura 35 Marcas de canteiro.54
Figura 36 Marcas de canteiro.54
Figura 37 Marcas de canteiro.54
Figura 38 Marcas de canteiro.55
Figura 39 Ferro de marcar gado...56
Figura 40 Marcao de gado no Egipto..56
Figura 41 Marca de gado eg pcia..57
Figura 42 Marcas de gado portuguesas..57
4
Figura 43 Ferros da Coudelaria de Alter do Cho desde 1748.....58
Figura 44 Ferra dos bois.58
Figura 45 Marca e contra-marca num cavalo.59
Figura 46 Marcas em cavalos...60
Figura 47 Marcas de gado mexicanas61
Figura 48 Passe de gado do Montana..61
Figura 49 Marca do mestre Oswaldo na parede..62
Figura 50 Bandeiras de origem monglica....62
Figura 51 Cartaz de tourada...63
Figura 52 Marca em dromedrio...63
Figura 53 Marcas de orelha....64
Figura 54 Moedas L dias..65
Figura 55 Marcas em Moedas.65
Figura 56 Moeda t et r adr acma.... 66
Figura 57 Moedas com motivos zoomrficos.66
Figura 58 Marca de gado em moeda...67
Figura 59 nforas...68
Figura 60 Marcas em nforas.69
Figura 61 Marcas de cermica mesopotmica.69
Figura 62 Marcas em nforas.70
Figura 63 Marcas em nforas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.70
Figura 64 Carimbo de bronze romano.72
Figura 65 Marca de telha cermica..72
Figura 66 Lamparinas romanas do sc. I I d.C.73
Figura 67 Marcas de porcelana italiana....73
Figura 68 Marcas francesas de porcelana com motivos herldicos....74
Figura 69 Algumas das marcas Vista-Alegre...74
Figura 70 Placa de talho em Pompeia.76
Figura 71 Marcas de of cios...76
Figura 72 Estela funerria com sinais de of cios...78
Figura 73 Marca de Bartl J annitzer..78
Figura 74 Marca de mercador....79
Figura 75 Marca de mobilirio...82
Figura 76 Selo da guilda..82
Figura 77 Rtulo para marcar equipamento..82
Figura 78 Marca dos Shakers....83
Figura 79 Emblemas herldicos....84
Figura 80 leo..84
Figura 81 A guia84
Figura 82 Escudos e regies..85
Figura 83 Grupo de combatentes em redor do chefe.86
Figura 84 Cavaleiro portugus..87
Figura 85 Fardas militares..88
Figura 86 Braso com legenda herldica..89
Figura 87 Herldica burguesa.90
5
Figura 88 Bells Whisky.91
Figura 89 Armas da Corporao da Lavoura.92
Figura 90 O sinal rodado de D. Afonso Henriques....93
Figura 91 Construo dos escudos..94
Figura 92 Cnon de propores herldicas..95
Figura 93 Campos do escudo herldico.95
Figura 94 Subdiviso dos campos do escudo herldico...96
Figura 95 Fraces do campo do escudo herldico96
Figura 96 Fraces do campo do escudo herldico...96
Figura 97 Elmo herldico.97
Figura 98 Propores das armas herldicas.97
Figura 99 Graus de diferena na herldica familiar........98
Figura 100 Graus de diferena na herldica familiar..,,,,98
Figura 101 Marcas de contraste...99
Figura 102 Marcas de contraste..100
Figura 103 Marcas de contraste..100
Figura 104 Marcas de contraste..101
Figura 105 Marcas de contraste..102
Figura 106 Marca de impressor mais antiga conhecida.103
Figura 107 Marca do impressor Holanda.103
Figura 108 Marcas de impressores105
Figura 109 Marca do impressor William Caxton104
Figura 110 Marcas de impressores105
Figura 111 Marca do impressor J ohn Siberch105
Figura 112 Marca do impressor Antnio Blado..106
Figura 113 Sinal pblico de Valentim Fernandes.107
Figura 114 Marcas de gua diversas.108
Figura 115 Marca de gua de Giorgio Magnani e dois plgios109
Figura 116 Marcas de gua portuguesas copiadas..110
Figura 117 Marcas de gua portuguesas copiadas..110
Figura 118 Marca registada..112
Figura 119 Embalagem/marca do Sabo Sunl i ght . . . 113
Figura 120 Embalagem Azeite galo114
Figura 121 Marcas mascote..114
Figura 122 Promocionais Luso....115
Figura 123 Evoluo do logtipo da Bayer....115
Figura 124 Marca Nestl116
Figura 125 Marca Ford...116
Figura 126 Marca Unicer116
Figura 127 Marca CTT...116
Figura 128 Cartazes de Raul de Caldevilla.117
Figura 129 Cartazes vitivin colas118
Figura 130 Cartazes portugueses..119
Figura 131 Primeiras placas de sinalizao rodoviria nacional119
Figura 132 Cartaz Sandeman..120
6
Figura 133 Cartazes Licor Beiro..121
Figura 134 Cartazes Licor Beiro122
Figura 135 I dentidade visual AEG..123
Figura 136 Marcas desenvolvidas na Suia...124
Figura 137 Marcas desenvolvidas na Suia...124
Figura 138 Marcas desenvolvidas na Suia...124
Figura 139 Da marca/funo marca/emoo .128
Figura 140 eDesi g, eBusi ness e eMar ket i ng. . . . . 133
Figura 141 Estruturas da I dentidade corporativa....140
Figura 142 Marca Amorim..141
Figura 143 Marcas N vea, Mimosa e Diese.141
Figura 144 Carto Diners Club e marcas Galp energia..141
Figura 145 Sub marcas Volkswagen Plo e Macmenu...142
Figura 146 Marcas grupo Nutrinveste142
Figura 147 Marcas Universidade do Minho.143
Figura 148 Marcas Lactogal.143
Figura 149 Marcas Unicer.144
Figura 150 Marcas Portugal Telecom...144
Figura 151 Marcas grupo Ercros.145
Figura 152 Gesto Estratgica de marca, de Keller (1998)....151
Figura 153 Capital - marca baseado no consumidor, Keller (1998)152
Figura 154 Medio do Capital - marca Keller (1998)..154
Figura 155 Gesto do Capital - marca, Keller (1998)..156
Figura 156 Planeamento da identidade da marca. Aaker (2001)160
Figura 157 Personalidade da marca, de Aaker ( 1997) . . 161
Figura 158 Capital - marca cria valor, Aaker (2001)162
Figura 159 Pirmide da Fidelidade, Aaker (1998)164
Figura 160 Reconhecimento versus recordao, Young & Rubicam.............165
Figura 161 Gesto da marca como activo, Davies (2000).168
Figura 162 Pirmide do Capital - marca, Davies
(2000).............169
Figura 163 Factores de Fidelidade marca, Davies (2000).172
Figura 164 Avaliar o Capital - marca, Davies (2000)173
Figura 165 Clarificao de conceitos, Costa (2004)176
Figura 166 I mplementao e gesto da imagem, Costa (2001)..180
Figura 167 Semitica corporativa, (Chaves, 1998)..183
Figura 168 Model o oper at i vo aj ust vel , (Chaves, 1998)...184
Figura 169 Condicionamento do projecto, (Chaves, 1998)............................186
Figura 170 Slido da imagem, (Chaves, 1998).........................................187
Figura 171 Matriz de dupla entrada, (Chaves, 1998)....................................188
Figura 172 Estrutura do diagnstico, (Chaves, 1998).189
Figura 173 I ntervenes dominantes, (Chaves, 1998)...190
Figura 174 Esqueleto da planificao, (Chaves, 1998)..191
Figura 175 Organizacional de St akehol der s, MBS, (2003)..193
Figura 176 Cultura organizacional, MBS, (2003)..194
7
Figura 177 Falhas na reputao, MBS, (2003)..194
Figura 178 Perspectiva dos St akehol der s, MBS, (2003)..195
Figura 179 Criao da reputao, MBS, (2003)195
Figura 180 I dentidade, reputao, MBS, (2003)..196
Figura 181 A cadeia da reputao, MBS, (2003).197
Figura 182 Escala da reputao, MBS, (2003).198
Figura 183 Satisfao, MBS, (2003).198
Figura 184 Empreendimento, MBS, (2003).199
Figura 185 Competncia, MBS, (2003).199
Figura 186 Ruthessness, MBS, (2003)..200
Figura 187 Chic, MBS, (2003)..200
Figura 188 I nformalidade e machismo, MBS, (2003)..201
Figura 189 kit da reputao, MBS, (2003)..202
Figura 190 Boas prticas na reputao, MBS, (2003)...203
Figura 191 O Hiperespao, Brandia....206
Figura 192 Br and Ar chi t ect ur e, Brandia.....207
Figura 193 Diagrama pentagonal da marca, Brandia..208
Figura 194 Br and Devel opment , Brandia.209
Figura 195 Do si gno ao cdi go217
Figura 196 I magem cor por at i va pr et endi da e r eal ..220
Figura 197 Mar ket i ng e Desi gn224
Figura 198 O desi gn e a gest o de mar ca . . ..227
8
1- INTRODUO
A Gest o de I dent i dade Cor por at i va foi o desafio para a realizao do
presente estudo. Foi com base neste tema que prosseguiu toda a
investigao, a qual nem sempre foi linear ou fiel a pressupostos, mas que
manteve sempre o rumo do percurso traado.
Dependendo de obstculos, pistas e entusiasmos, algumas questes foram
abandonadas ou pouco aprofundadas, dada a sua proporo ou
especificidade, que s por si justificariam outro estudo exaustivo e
prolongado.
O conceito de Gest o de I dent i dade Cor porat i va relativamente recente e
ser essa uma das razes pelas quais tem sido alvo de diversas confuses,
nomeadamente entre imagem e identidade corporativa, frequentemente
utilizados como sinnimos e que aqui encontram uma tentativa de
explicitao.
Wally Olins (1995, p.7)
1
refere que o termo I magem cor por at i va surgiu na
dcada de 1950, o qual segundo al guns, t er si do ut i l i zado pel a pri mei ra vez
por Wal t er Mar gul i es, chef e da di st i nt a consul t or i a de Nova Yor ke Li ppi ncot t
& Margul i es, para designar programas de design complexos, coerentes e
resultantes de investigao e anlise.
A este propsito, refere J oan Costa (2004, p.101) que o termo ter sido
criado nos Estados Unidos, com base em projectos como o da AEG, mas
adoptando uma perspectiva mais redutora confinada apenas aos aspectos
grficos, eventualmente por ser mais fcil de comercializar.
Diferentes autores (por exemplo J oan Costa, Wally Olins, Norberto Chaves)
referem que o termo I dent i dade Corporat i va tem duas interpretaes
diferentes: a primeira, considerada mais redutora, relacionada apenas com os
suportes visuais; a segunda, que compreende a marca como um sistema vivo
de signos, composto por uma dimenso material f sica e outra imaterial ou
fenmeno mental, resultante de comunicaes voluntrias e involuntrias
vindas da organizao.
No que se refere Gest o de I dent i dade Cor porat i va, o presente estudo
no pretende clarificar quem foi o primeiro a atribuir-lhe um nome, mas antes
procura uma contribuio para a definio de conceitos relacionados. Ainda,
partindo do pressuposto de que a marca o principal objecto de trabalho da
Gest o de I dent i dade Cor porat i va, procurou-se traar o seu percurso
histrico, com as suas mudanas funcionais e simblicas decorrentes das
transformaes culturais, sociais, econmicas e tecnolgicas tal opinio
1
OLI NS, Wal l y, I magem Corporati va I nternaci onal. Barcelona: Editori al Gustavo Gi ll i, 1995.
9
partilhada por Rui Valente (2002, p.7)
2
.O tempo presente de
profundas alteraes sociais, polticas e econmicas. Na
ltima dcada, a globalizao tornou-se palavra de ordem: h
multinacionais com mais poder do que Estados, a economia
deixou de centrar-se no produto para se centrar no cliente,
o marketing de exportao deu lugar ao marketing global e
Frederico DOrey
3
(2002, p. 8 e 9), que complementa dizendo que os produtos
esto cada vez mais iguais, os seus ciclos de vida mais curtos e os cliente
menos fieis, conferindo marca um papel cada vez mais relevante no que diz
respeito ao valor acrescentado e de diferenciao. Para Wally Olins (1995,
p.10) o valor acrescentado que permite a diferenciao de uma empresa
relativamente aos seus concorrentes, prende-se com a relao emocional que
esta estabelece com o consumidor, fazendo-o com argumentos lgicos e
emotivos.
Opinio directamente relacionada com a do autor J os M. Martins (1999,
p.12)
4
, para quem abordar a questo da marca falar em emoes, pelo que
no processo de concepo e divulgao de uma marca necessrio
compreender o que motiva a opo de compra e fundamental utilizar uma
imagem (mental e simblica), adequada aos sentimentos do consumidor.
Estas alteraes, entre outras, tero aumentado a exigncia ao n vel da
comunicao corporativa, alterando a sua lgica e evidenciando novos
pblicos. A este respeito, refere Helena Gonalves
5
(2001, p. 25 27), que a
comunicao corporativa abandona a lgica objectiva dos produtos em
benef cio de estilos de vida vigentes no contexto social, afirmando-se social e
psicologicamente. qual se dever somar uma vez mais a opinio de Olins
(1995, p.10) que refere que as empresas actuais devem preocupar-se no
apenas com os seus clientes (tradicionalmente considerado o seu pblico),
mas tambm com empregados, fornecedores, distribuidores, comunidades
locais e mundiais, numa viso mais hol stica da marca enquanto imagem
alargada.
Por outro lado, as crescentes fuses e aquisies empresariais formam
alianas estratgicas para trabalhar um projecto comum (como ocorreu com a
fuso de vrios bancos que deu origem ao BPI), o que segundo Olins (1995,
p.11) pode contribuir para o desenvolvimento da Identidade Corporativa,
opinio contrria de Naomi Klein (2002, p.154), que considera que tal facto
2
Vi ce- P resi dente do Consel ho de Admi ni strao do I cep. Revi sta i nformar, Ano I I , n3, Li sboa: I CEP ,
Abri l de 2002, p: 7
3
Di rector do Dep. Comuni cao e i magem do I cep. Revi sta i nformar, Ano I I , n3, Li sboa: I CEP , Abril de
2002, p. 12.
4
MARTI NS, J os; A Natureza Emocional da Marca: como encontrar a imagem que fortalece sua marca.
4 Ed. So P aul o: Negci o Editora, 1999.
5
Revista Comunicao Empresarial. n. 19. Li sboa: AP CE, Set/Dez, 2001.
10
reduzir as opes de escolha do consumidor marcas mais fortes em menor
nmero.
Ainda assim, parece ser opinio geral que o xito de uma empresa depende
em grande medida da imagem que dela tem o consumidor, e neste caso fala-
se da marca em toda a sua dimenso. Como refere Frederico DOrey (2002,
p.9), uma marca mais que uma designao ou logtipo, uma proposta
para uma experincia, um conjunto de valores associados a
uma organizao, bens ou servios que esto na cabea (no
imaginrio) dos consumidores.
Assumindo que uma empresa se prope criar e implementar um projecto de
Identidade Corporativa, necessrio conhecer resultados, nomeadamente as
associaes e percepes da marca, no que se refere ao valor atribu do, no
posicionamento e na personalidade. Para conhecer os ditos resultados,
alguns autores apontam meios como observatrios ou auditorias, embora
considerem que a monitorizao e gesto do processo a forma mais segura
de assegurar o resultado pretendido. No entanto, a gesto da marca parece
ser uma preocupao relativamente recente, talvez correlacionada com o
aumento da complexidade da vida das corporaes e das sociedades (ou a
sua relao) que podero ter implicaes directas sobre o seu uso e
estrutura.
No presente estudo, entendeu-se que s depois de compreender como
nasce e funciona o fenmeno marca (nas suas dimenses material e social ou
simblica), compreendendo-a como um sistema vivo estratgico (um cdigo)
que culmina numa imagem mental, ser poss vel falar da sua gesto. Neste
sentido, foram explanadas sete propostas metodolgicas de gesto de marca,
pertencentes a cinco diferentes autores, uma empresa e uma escola.
Para responder s questes relacionadas com o tema, foi fundamental a
pesquisa bibliogrfica, cruzando, complementando ou refutando opinies de
diversos autores.
No menos importante, tero sido as reflexes acerca de cada uma das
questes em particular, que naturalmente vo surgindo mediante novas pistas
e cuja resoluo se dever em grande parte ao dilogo com alguns dos
autores de referncia deste estudo, como so disso exemplo J oan Costa, Rui
Vinhas da Silva, mas tambm empresas como a Vista Alegre, os CTT, o Licor
Beiro, a Brandia Network e diversos amigos.
Tambm as alteraes tecnolgicas, nomeadamente a Internet, em conjunto
com aquelas j enunciadas, parecem contribuir para a modificao constante
da Gesto da Identidade Corporativa, a qual parece assumir um papel cada
vez mais relevante para as corporaes. A este respeito, Olins (1995, p.11)
refere que a Identidade Corporativa evoluiu at chegar a ser uma
11
ferramenta poderosa que opera no contexto que
frequentemente, mas erradamente, se denomina por mundo dos
servios de Marketing.
1.1- Pr obl ema
Que alteraes que se verificam quando a marca transita de signo para
cdigo?
1.2- Rel evnci a do pr obl ema
Como anteriormente referido, a marca parece ocupar o centro da Gesto de
Identidade Corporativa, que por sua vez tem um papel estratgico para a
corporao.
A identificao das alteraes que se verificam quando a marca transita de
signo para cdigo, evidencia um aumento na complexidade da comunicao
identitria, que a partir de determinado momento justifica a gesto da imagem
social (cdigo).
Tendo como tema a Gesto de Identidade Corporativa, todo o estudo foi
desenvolvido com a convico de que s poss vel gerir o que se
compreende e para que tal ocorra, ser fundamental a identificao das
diversas funcionalidades que a marca teve ao longo da histria humana, onde
ganhou relevncia na comunicao das empresas com os seus pblicos.
Ainda de referir, que as ditas alteraes da marca, normalmente procedem de
fenmenos de descontinuidade ou mesmo revolues culturais, sociais,
econmicas e tecnolgicas, dos quais a Internet e a dita economia da
informao so gnese contempornea.
12
2- CONCEITOS RELACIONADOS?
Para o melhor entendimento do presente estudo e procurando contribuir
para a clarificao de conceitos usados no discurso tcnico dos profissionais
do design, foi realizada uma reflexo referente gesto de identidade
corporativa.
Os usos espontneos do discurso tcnico dos profissionais do design, a
diversidade de ideologias e interpretaes livres sobre os termos Imagem
corporativa e identidade corporativa sero certamente responsveis pela
presente (mas aparente) ambiguidade dos conceitos. Parece portanto, existir
uma necessidade de proposta terminolgica que garanta um discurso
inequ voco.
Embora para Ana Lu sa Ecorel (2000, p. 57)
6
a confuso de termos comece
logo entre Marketing e Design, esta dissertao ocupa-se apenas da
identidade corporativa, porm h outros factores importantes para um melhor
esclarecimento dos conceitos, pelo que ser necessrio compreender como
ao n vel da comunicao, o ser humano (individualmente e em sociedade)
toma conscincia destes, como criam valor e por fim, como afectam as
motivaes de compra.
Autores de diversas reas debruaram-se sobre a temtica da
comunicao, procurando saber como funcionam tais fenmenos sociais e
como influenciam o processo de aquisio de bens ou servios.
Para J os Martins (1999), a motivao de compra relaciona-se com as
necessidades e desejos pessoais, despertada por imagens no consciente
colectivo das quais a marca faz parte.
A teoria de motivao de Abraham Maslow (1992), refere que as
necessidades humanas obedecem a uma hierarquia ou escala de valores onde
sempre que uma necessidade satisfeita, aparece uma nova (que deve ser
satisfeita) e quando no suprimida, substitu da ou transferida.
Na pirmide de motivao (figura 1) de Maslow (1992) as necessidades
humanas esto organizadas e dispostas hierarquicamente em n veis de
importncia e de influncia, em cuja base esto as necessidades mais baixas
(necessidades fisiolgicas) e no topo as mais elevadas (necessidades de auto
realizao).
6
ESCOREL, Ana Luisa, O efeito multi pl icador do desi gn, 1 Ed. So P aul o: Editora SENAC, 2000.
13
Figura 1
Fonte: pirmide de Maslow, adaptada de MASLOW, Abraham. (1992).
Um outro conceito, o da Personal l y advant ageneous deci si on foi proposto
por Antnio Damsio
7
(citado por J os Martins, 1999) que se debruou sobre
a motivao bsica que leva um ser humano a ter uma predileco e que cria
o sentimento de valor, baseando-se em estudos de pessoas com leses
cerebrais profundas, nomeadamente das zonas correlacionadas com a
emocionalidade. Ficou provado que as decises mais racionais procedem das
emoes inconscientes.
Com base no que foi exposto anteriormente, pode-se concluir que a
motivao se relaciona com necessidades e desejos individuais, que podem
estar em diferentes n veis (conforme a pirmide de Maslow) e onde o
processo de aquisio influenciado por argumentos racionais e sobretudo
emocionais (sendo que a relao de proporo varia em funo do n vel), que
utilizam imagens j presentes no inconsciente colectivo (do qual a marca faz
parte).
Porm, ainda nada foi referido quanto forma como se criam tais imagens
no inconsciente colectivo ou sobre o estudo da actividade simblica humana,
onde se destaca a literatura sobre semitica que contribui para o
entendimento da comunicao.
Para o estudo da actividade simblica humana, considerou-se necessria a
anlise de trabalhos anteriores procurando entender de que forma a literatura
sobre semitica
8
contribui para a explanao da comunicao.
A origem do estudo dos signos
9
poder confundir-se com a histria da
filosofia, comeando desde logo com a definio de signo feita por Plato;
7
O erro de descartes
8
P ara Hurwi tz (1993, p. 17), semi tica o estudo dos signos e sistemas de signos
9
P ara Humberto Eco (1976, p. 16) Tudo o que num terreno de uma conveno social pr-
estabelecido pode ser tomado, como reputao de algo ausente.
14
J ohn Locke que no sc. XVII props a dout r i na dos si gnos com o nome de
Semeiotik ou J ohann H. Lambert (1764) que escreveu "um t r at ado espec f i co
i nt i t ul ado Semi ot i k" (Nth, 1995:20). A derivao etimologica do grego
seme on (signo) e sema (sinal) originou diversos termos como semei ot i ca,
semei ol ogi a, semat ol ogi a, semol ogi a, embora ao final dos anos 60 tenha sido
adoptada a palavra semitica como termo geral do territrio de
investigaes nas tradies da semiologia e da semitica
geral" (Nth, 1995:26), ainda hoje se encontram inclinaes entre a
semiologia e a semitica.
Os semioticistas e semiologistas mantm uma disputa que tem levado a que
cada lado crie as suas prprias definies para os termos semitica e
semiologia.
Para os semioticistas, maioritariamente de origem anglo-saxnicos, a
semiologia tida como a cincia dos signos especificamente criados pelos
homens e portanto menos abrangente, que a semitica. Enquanto que para os
semiologistas, normalmente oriundos de pa ses romnicos, "a semitica
um sistema de signos com estruturas hierrquicas anlogas
linguagem, como uma lngua, um cdigo de trnsito, arte,
msica ou literatura, enquanto que a semiologia a teoria
geral, a metalngua (...), que trata dos aspectos semiticos
comuns a todos os sistemas semiticos" (Nth, 1995:25-26).
Aproximado no tempo, mas de forma independente, Ferdinand Saussure,
um linguista Su o e Charles Sanders Pierce, um filsofo dos Estados Unidos,
descreveram a necessidade de um campo de estudo para estudar o
significado transmitido pelos signos e s mbolos.
Na verdade, as declaraes de Saussure que introduziram a Semiologia,
so provenientes de uma compilao de notas dos seus alunos onde este ter
afirmado que Uma cincia que estuda a vida dos signos na
sociedade concebvel; seria uma parte da psicologia social
e consequentemente da psicologia geral; Eu chamar-lhe-ia
Semiologia (do grego semion signo). A Semiologia mostrar
o que constitui um signo e que leis o governam (Hurwitz, 1993,
p.3).
Pierce, escreveu as suas prprias notas sobre Semitica. A lgica, em
senso geral, , como acredito ter mostrado, apenas mais um
nome para semitica, a quase necessria, ou doutrina dos
signos. Ao descrever a doutrina como quase necessria, ou
formal, eu pretendo que observemos o carcter dos signos
como os conhecemos, e atravs de uma observao, por um
processo ao qual no me oponho chamar Abstraco, somos
15
conduzidos a declaraes, eminentemente falveis e por isso
num sentido sem significado necessrio, assim como qual
dever ser o carcter de todos os signos usados por uma
inteligncia cientfica, o que dizer, por uma
inteligncia capaz de aprender pela experincia (Hurwitz, 1993,
p:3).
Saussure usou a semitica para analisar a linguagem que olhou como um
sistema de signos, mas que tem vindo a ser utilizada de forma muito mais
vasta para estudar os signos do quotidiano como por exemplo os assobios
aos rbitros num jogo de futebol, pegadas na areia, cunhos, marcas ou selos
(Mollerup, 1997, P:67).
A relao entre comunicao e semitica tem sido largamente discutida ao
longo dos tempos (como so exemplo Ray Birdwhistell em 1970, Worth e
Gross em 1974, J ames Carey em 1975 ou Thomas Sebeok em 1986) que
apontam definies e classificaes ordenadas condensivamente por Hurwitz
(1993):
1- A comunicao envolve o uso de um tipo de signos e s mbolos
particulares;
2- Envolve a combinao de s mbolos em cdigos;
3- Usa s mbolos e cdigos como forma para socialmente construir
(produzir, manter, concertar, transformar) a realidade;
4- Permite ordenar a interaco humana.
Procurando resumir, Mollerup (1997, p:68) refere que a comuni cao
a i nt er aco s oci al at r avs de mens agens , que so constitu das por
signos com significado, razo pela qual em 1986 Thomas Sebeok referiu que
o termo pode ser permutvel com o de semitica.
De forma diferente no modelo de Claude E. Shannon e Warren Weaver
(1949)
10
a comunicao aparece como uma questo de canais que podem ou
no ser utilizados eficientemente. (figura 2) e que poder ser analisada
atravs da definio de t r s vect ores:
Figura 2
10
Teori a matemtica da comunicao - Mat hemat i cal Theor y of Communi cat i on. Ur bana, The Uni ver si t y
of I l l i noi s Pr ess, ( 1949) 1964 .
16
1- Problema tcnico como podem os s mbolos de comunicao ser
transmitidos (mensagem como sinal).
2- Problema semntico como os s mbolos transmitidos conferem
precisamente o significado desejado (mensagem como ve culo de
significado)
3- Problema efectivo como o significado recebido efectivamente afecta
e conduz ao sentido desejado (mensagem como significado de
influncia).
Mollerup (1997, p:68), aplica o modelo de Shanon e Weaver (1949) a um
modelo de caneta onde consta a marca grfica Mont Blank (que aparece na
tampa) que consiste numa estrela de seis pontas redondas em representao
do cume da montanha com o mesmo nome, referindo que:
1- Pela localizao da aplicao dif cil evitar ver a marca, pois
funciona perfeitamente a n vel tcnico;
2- Ao n vel semntico, apesar da notoriedade e de toda a publicidade,
poucos entendem o significado do nmero 4810 (altura da montanha
Mont Blank, em metros) gravado na outra extremidade.
3- Por outro lado, na Arbia Saudita, as mesmas canetas so vendidas
sem marca grfica na tampa, dada a sua semelhana com a Estrela de
David, o que parece ser uma dificuldade ao n vel efectivo e
semntico. A este propsito, Umberto Eco (1997), refere que existem
preposies aberrantes e descodificaes aberrantes, o signo
codificado com um significado e descodificado com outro (Mollerup,
1997, p:68).
A proposta de Charles Morris (1946)
11
similar de Shannon e Weaver
(1949) e sugere trs n veis:
11
MORRIS, Charles, Signs, Language and Behaviour. Nova York: Edies George Brazilliere, 1955.
17
1- Pragmtico a parte da semitica que se ocupa da origem, uso e
efeito dos signos no comportamento onde tm lugar.
2 - Semntico que se relaciona com a significao dos signos em todos
os seus modos de significado.
3 - Sinttico que se refere s combinaes de signos, sem compreender
os seus significados espec ficos, ou a relao com o comportamento.
Um outro factor importante para a comunicao a engenhar i a de ru do
descrita por Shannon e Weaver (1949) que mostra como este pode interferir
ao n vel semntico. A marca pode ser muito sens vel engenharia de ru do,
dependendo do local onde vai ser mostrada ou ao n vel semntico referindo-
se a semelhanas com outros signos vistos em simultneo.
Para Shannon e Weaver (1949), no h comunicao sempre que a
inteno falha, bem diferente dos semiticos que consideram o ru do
semntico como di f er enas cul t ur ai s
12
. No entanto, diferenas culturais no
so necessariamente ru do, como refere Mollerup (1997, p.70), ou seja, o
receptor entendeu inteiramente a mensagem, mas no reage como pretendido
(por ter opinio diferente ou por algum impedimento). Opinies diferentes
podem ser diferenas culturais, mas tambm existem outras condicionantes
do contexto, como por exemplo razes econmicas.
Poder-se- concluir que a comunicao depende da cul t ur a do r ecept or , do
cont ext o onde ocorre e da f or ma da mensagem.
A proposta de Shannon e Weaver (1949) foi importante para o estudo que
em 1960, originou o modelo de Roman J akobson (1896-1982), que tem a
caracter stica de se ocupar tambm da comunicao no verbal, o qual
assenta em seis factores:
Figura 3
Figura 4
12
P ara Hurwi tz (1993, p. 17), cultura um leque de sistemas ou cdigos de s mbolos e significados da
comunicao como a acti vi dade si mbl ica humana, col ocados disposio.
18
1- A funo referencial lida com a relao entre mensagem e o seu
referente ( objectiva, como so exemplo aplicaes da marca).
2- A funo emotiva lida com a relao emissor e mensagem ou como
esta apresentada (subjectiva), no o que , mas sim o que
representa para o emissor (como interpretada);
3- A funo conotativa trata da relao entre emissor e mensagem, como
a mensagem afecta o destinatrio (pelo que tem uma ligao ao n vel
efectivo de Shannon e Weaver, 1949);
4- A funo potica, relacionada com a ligao entre mensagem e as
suas caracter sticas formais (que se prende com a sua esttica);
5- A funo ftica refere-se ao propsito da comunicao sua
continuidade (a marca usada como pequenos discursos repetidos para
dizer ol );
6- A funo met al i ngu st i ca, analisa se a mensagem foi entendida no
sentido correcto (o tom de voz de um anuncio, e a identificao como
marca e no como obra de arte).
Mollerup (1997) refere que funo referencial (que objectiva e cognitiva)
e a emotiva (subjectiva e expressiva) so fundamentais para qualquer
comunicao, referindo tambm que os signos objectivos lgicos chamam
ateno, enquanto os expressivos (por exemplo um gesto corporal que pode
revelar desconforto) participao.
2.1- Os si gnos
Segundo a teoria de Saussure, cada signo pode assumir uma dualidade
tendo duas partes nas quais pode ser entendido: o significante (uma bandeira
que se v no momento) e o significado (invis vel, o pa s ao qual pertence a
bandeira). Por outras pal avr as, o significante o aspecto
explcito do signo o elemento tcito do signo, que pode
ser definido como uma presena imaterial, algo literalmente
ausente que ainda assim est funcionalmente presente pela
sua invocao (Hurwitz, 1993, p. 23).
Pierce dividiu os signos de forma diferente, propondo uma tr ade (Figura
5): o signo ou representante (equivale ao significante de Saussure, por
exemplo a marca); o objecto pelo qual permanece (ex.: a empresa); e o
interpretante (a imagem mental que decorre da visualizao da marca) e
dividiu o significado de Saussure em duas partes: o objecto (ao que se refere
o representante) e o interpretante (o significado transmitido pelo
19
representante sobre o objecto, tudo o que no era conhecido sobre ele mas
foi transmitido) (Mollerup, 1997, p: 78).
Surpreendemente, utilizando termos diferentes, Saussure e Pierce,
partilham as mesmas posies, sem se que tenham conhecido um ao outro e
embora o segundo seja mais minucioso na explicao (ou talvez por ter sido
ele a registar as suas teorias).
O signo pode mesmo ter mais do que uma interpretao em simultneo. A
descodificao pode ser diferente da codificao, pois o interpretante
depende do representante e do contexto. O exemplo da caneta Mont Blank
mostra como a marca pode ser descodificada como representante da
Montanha, da empresa ou dos valores desta como qualidade e prest gio.
Figura 5
Fonte: P er Mollerup (1997, p: 108)
2.2- cones, ndi ces, e smbol os
Ainda, para designar as partes componentes de um signo, os semiticos
frequentemente tipificam as classes de signos em diferentes grupos ou tipos.
Pierce (2003, p74-76) identificou 66 pot enci ai s var i edades de si gnos, trs dos
quais ganharam grande aceitao: os conceitos de ndi ce, cone e s mbol o.
Em cada um destes casos a relao entre significante e significado merece
ateno.
Os signos naturais partilham qualidades com os objectos que referem, ao
contrrio dos arbitrrios, como exemplo uma letra do alfabeto.
Pierce (2003), dividiu o signo em cones (naturais), ndices (naturais) e
s mbolos (arbitrrios), em funo do seu tipo de relao com o objecto:
1- Um ndi ce tem a relao da contiguidade ou l i gao; utiliza parte em
representao do todo. (Ex.: uma recordao; o topo do bolo de noiva
guardado para o primeiro aniversrio uma pea que fez parte de um
evento).
20
2- Um cone tem uma relao de similaridade ou semelhana entre
pr esent e e o ausent e; (Ex.: Fotografia de um pssaro assemelha-se
ao pssaro).
3- Um s mbol o tem a relao da arbi t r ari edade; (Ex.: o vestido de noiva
branco, que tradicionalmente simboliza a virgindade).
Uma marca pode ser um ndice, um cone, um s mbolo ou todos eles em
simultneo (uma marca que uma imagem, uma met f or a que r epresent a
det er mi nada empresa e que apresenta o estilo da empresa podendo invocar o
do designer que a concebeu).
Carlos de Sousa Rocha (1986, p:63)
13
, refere que o semilogo J ean Coutier,
classificava os signos em funo dos seus significados: 1- Monossmicos
Um s significado convencionado, onde se incluem os sinais de trnsito; 2-
Polissmicos Um significante com vrios significados; 3- Pansmicos
Estabelecem todas as relaes poss veis, onde se inclui a msica.
Segundo Rocha (1986), alguns autores propem uma quarta categoria do
signo (para alm ndice, cone e s mbolo), derivada da monossemia e que
recebe o nome de si nal .
2.3- O Smbol o
O facto de que qualquer coisa pode tornar-se um signo se o
desejarmos indica o papel fundamental dos signos na vida
social (Hurwitz, 1993, p.29).
Dizer que qualquer coisa pode ser um s mbolo vago e nem sempre til.
Geralmente podem tornar-se s mbolos: objectos (desde um anel a um edif cio,
de objectos constru dos a naturais); comportamentos (do comportamento
individual aos rituais comunitrios); textos (ao n vel do discurso, desde
palavras individuais at ciclos histricos); ideias (conceitos, imagens); e
pessoas (reais ou imaginrias).
Diferentes culturas usam diferentes s mbolos, cujo entendimento depende
do conhecimento que vai sendo apreendido ao longo da vida humana, de
forma impl cita e expl cita:
1- Impl cita pois com a experincia, observao, contacto, retm-se um
significado e exclui-se a necessidade da sua explicao.
2- Expl cita, atravs da educao orientada por pais, professores e
amigos (por exemplo a religio).
13
ROCHA, Carlos de Sousa, Teoria do design, 1 Ed. Lisboa: Pltano editora, 1986.
21
Esta questo relaciona-se com os s mbolos chave, da antropologia, tambm
estudados por diversas reas com diferentes nomes como s mbolos mestre,
s mbolos dominantes ou s mbolos ncleo os quais so importantes dentro de
uma cultura (os restantes s mbolos tm sido pouco estudados). A rvore de
natal um s mbolo chave da poca e a sua ausncia pode ser descodificada
como sinnimo de misria
Hurwitz (1993, p.33) refere que so os s mbolos do dia-a-dia que permitem
estudar a forma como os actores sociais tecem fragmentos de interaco para
formarem uma imagem coerente deles mesmos e dos outros, uma vez que as
pessoas criam um mundo de significados, para o prprio
indivduo e para os outros.
As pessoas podem recriar o mundo quando interagem com outros e voltar a
recri-lo um momento mais tarde, o qual no existe fisicamente, nem apenas
na mente de uma nica pessoa, uma criao conjunta constru da atravs de
uma mtua cooperao de uma comunidade de criadores (Hurwitz, 1993,
p.33).
With Goffman (1959 -1983), Birdwistell (1970?) e Leeds-Hurwitz (1989)
argumentam que particularmente atravs dos pequenos comportamentos do
dia-a-dia (no com os s mbolos chave), que a informao convencionada
(para o prprio e/ou grupo) e transmitida ao longo de geraes.
Como refere posteriormente Maslow (1992), tambm Von Bertalanffy (1965)
sugere que tendo satisfeito as suas necessidades biolgicas, o indiv duo
passa a viver num mundo de s mbolos (mundo social) em vez do natural,
sobre o qual no tem poder de produo. Para Carey (1989), primeiro cria-se
o mundo pelo trabalho simblico para depois se comear a viver nele,
seguindo-se tendencialmente o esquecimento da capacidade de o recriar.
Ento, para que um s mbolo tenha valor, necessita de um significado
partilhado em resultado da interaco social (Hurwitz, 1993, p. 34) cuja
extenso funcional so os s mbol os da i dent i dade de um grupo em particular
(o que envolve o metasigno), que indicam tambm caracter sticas como o
status.
Adrian Frutiger (1981, p.177) alerta que frequentemente o termo s mbolo
usado erradamente, confundindo-se por exemplo com signos, marcas ou
sinais de novas descobertas cient ficas. O autor refere que no mbito da
expresso grfica no alfabtica, dif cil ter certeza do significado simblico
de alguns signos como no exemplo da figura 6.
Figura 6
22
Fonte: Adrian Frutiger (1981, p:178).
2.4- Os cdi gos
Em semitica um cdigo um sistema de signos com relaes e
significados e como o signo, poder ser mais ou menos objectivo (ou
subjectivo).
Tecnicamente os semiticos consideram que um grupo de signos um
cdigo (Leeds-Hurwitz, 1993), um sistema, modelo ou rede (grupos de
signos). Trata-se de uma colocao e organizao dos signos no grupo,
conferindo-lhes significado (no apenas da relao significante e significado).
O cdigo implica no apenas agrupamentos, mas tambm regras de
organizao individual o cdigo como um conjunto de signos e regras para o
seu uso.
Os signos como as palavras encontram-se num contexto e num discurso ou
texto, para que sejam entendidos, de contrrio entendem-se apenas
parcialmente.
As relaes entre signos numa mesma rede, devem ser compreendidas
para conhecer o significado (assim o exige a lgica), disso um bom exemplo
a linguagem (de cdigo), objecto de grande interesse para Saussure
Claramente a linguagem inclui mais do que uma lista de
vocabulrio; as regras para combinar itens individuais,
termos gramaticais, formam partes crticas do mesmo conjunto
(Hurwitz, 1993, p. 53). No entanto, o fenmeno no ocorre apenas com a
linguagem, mas com todos os outros cdigos sempre integrando no apenas
os conjuntos de signos relacionados, mas tambm as regras para o seu uso.
A linguagem como modelo do cdigo tem vis veis limitaes e
inconvenientes entre os quais os seguintes:
1 - Lingu stica descritiva foco na quase totalidade do texto, incluindo um
pouco o seu contexto); os socilogos tm a Sociologistica o estudo
do uso discursivo, escolhem um contexto geral para entenderem as
consideraes.
2 - Cdigo digital os signos e palavras so claramente distingu veis uns
dos outros. Outros cdigos so analgicos os signos esto
23
interligados e apenas separados por anlise. Os cdigos digitais so
mais fceis de compreender e analisar do que os analgicos.
3 - O desenvolvimento exacto da correlao das regras gramaticais
provavelmente imposs vel, o que dificulta as previses
comportamentais.
4 - O uso da lingu stica primrio. As palavras antecedem as aces e
outros aspectos de comunicao no verbal.
Os cdigos lgicos so objectivos, com uma forte conveno, denotam,
chamam ateno e incluem cdigos paralingu sticos (alfabetos, cdigo
morse, braille, dos semforos, etc.) e epistemolgicos (cdigos cient ficos,
matemticos, etc.). Pierre Guiraud (1971)
14
tambm incluiu os cdigos
profticos (mant i c codes - comunicao com os deuses) entre os cdigos
lgicos.
Os signos cient ficos so maioritariamente arbitrrios, embora em geral
possam ser homlogos ou estruturalmente analgicos. A arbitrariedade liberta
a notao das analogias indesejveis (Ex: H20 constitu do por trs signos
arbitrrios e a combinao homloga).
Os Cdigos expressivos so subjectivos com fracas possibilidades de
conveno, que conotam e chamam participao (por exemplo linguagem
corporal no verbal).
Na Figura 7 apenas esto listados cdigos lgicos e expressivos, os quais
esto em cont nua dilatao. Uma marca apenas lgica se esta facilitar a
orientao, e expressiva se por exemplo exprimir os sentimentos do
remetente.
Figura 7
Cdi gos l gi cos
- Parali ngusticos
- Prticos
- Epistemolgicos
Cdi gos expr essi vos
14
GUI RARD, P ierre Semi ol ogy. Londres: Routledge & Kegan P aul, 1971.
24
2.5- Modos de comuni cao
Antes de discutir a expressividade ou a lgica das marcas, necessrio
observar os modos de comunicao (figura 8) propostos por Pierre Guirard
(1971):
1- A indicao lida com o ser, e est associada a todos signos sociais
por reunir qualquer indicao identitria (ao n vel individual -
alcunhas, nomes, monogramas, assinaturas; ou colectiva uniformes,
herldica, signos comerciais, identidade visual e a marca).
2- A ordem refere-se s instrues dadas pelo emissor por comando ou
sugesto.
3- A representao prende-se com o conhecimento, por exemplo da
cincia e da arte.
Figura 8
Ti pos de c di gos I ndi c a o
Ser
Or dem
Ac o
Repr es ent a o
Conhec i ment o
Cdigos objectivos
Denotao/conotao
Ins gnias Sinais Cincia
Cdigos
Expressivos/subjectivos
Conotao/participao
Moda
Comportamento
dirio
Festival de
um jogo
Literatura
Legenda: Ligao entre cdigos lgicos e expressivos com os trs modos de comunicao.
Como o seu prprio autor reconhecia, a tabela anterior, no
genericamente aplicvel a todos os tipos de comunicao, como exemplo a
publicitria, mas permite classificar reas onde os cdigos operam (e no s
os cdigos), uma vez que estes funcionam de diversos modos.
Aplicando a tabela s marcas comerciais e sociais, pode observar-se
que estas funcionam no campo da objectividade e da indicao, permitindo a
distino mas tambm da subjectividade, uma vez que tambm expressa
sentimentos no necessariamente intencionais.
25
2.6- Si gnos nat ur ai s ou ar bi t r r i os
Para Mollerup (1997, p.82-89) e Hurwitz (1993, p.31-44), em princ pio a
conveno
15
faz parte de todos os signos e a sua consistncia que
determina o significado. As convenes podem ser mais expl ci t as e
correspondentes (estabelecida por acordo) ou mais ou menos i mpl ci t a
(estabelecida por uso ou hbito).
Um exemplo de signo pouco natural ou arbitrrio o cart oon pol t i co, onde
a semelhana no prxima pessoa, mas uma acentuao de alguma
caracter stica sua. Este conceito importante pois permite caracterizar cada
e todas as categorias de signos ( cone, ndex, s mbolo).
Rocha (1986) considera que os signos ndice podem ser verdadeiramente
naturais (por exemplo o fumo, que ind cio de fogo) ou expressivos (revelado
involuntariamente de forma expressiva, como um gesto corporal que ind cio
de cansao).
As alianas de casamento correntes como s mbolo do status do
relacionamento so pouco naturais, enquanto que alguns anis mais inusuais
apresentam duas mos entrelaadas j o so, pois demonstram mais
facilmente a ligao entre duas pessoas. As flores vermelhas so pouco
naturais como significantes do romance e amor e no h uma razo lgica
pela qual os narcisos amarelos no sirvam igual efeito, embora a tradio
diga o contrrio.
Enquanto a denot ao se refere ao primeiro significado bvio e expl cito de
um signo a conot ao refere-se ao impl cito, convencional, um segundo
significado imposto por uma cultura espec fica.
Para a semitica, a marca natural compreendida sem uma forte
conveno (ex.: um peixe na porta de uma loja lido como peixaria),
enquanto que a arbitrria depende de uma forte conveno por acordo ou
hbito (um mocho na porta de uma loja lido como livraria), mas
importante notar que a cultura desempenha um papel fundamental (para um
estudante ou conhecedor de mitologia Grega e Romana, o mocho ser um
signo natural). Poder concluir-se que quanto mais arbitrrio for o signo,
maior a necessidade de conveno para o seu correcto entendimento.
Relacionados com a cultura e com o cdigo, os autores Hodge e Kress
(1988), citados por Hurwitz (1993), sugerem que met as i gnos s o
conj unt os de mar cas de f i del i dade s oci al ( s ol i dar i edade,
i dent i dade e i deol ogi a do gr upo) os quai s penet r am na
mai or i a dos t ext os . Exemplos de metasignos incluem estilos e acentos
entre outras possibilidades. O conceito de metasigno organiza signos
15
A conveno refere- se ao n vel de tradio ou hbi to associ ado a determi nado si gno
26
hierarquicamente: designa alguns mais genericamente do que outros
(metasignos, gerais dizem-nos como interpretar outros mais espec ficos que
de outro modo podem ser igualmente provveis para conter uma de muitas
interpretaes). Os metasignos da identidade do grupo so os mais
numerosos e particularmente intrigantes, so exemplo o sotaque de
determinada regio, um casamento num estdio de futebol ou noivos vestidos
de palhao.
Assim, segundo Rocha (1986), poss vel apresentar os signos da seguinte
forma:
Figura 9
Signos
Artificiais
(ou voluntrios)
Naturais
(ou involuntrios)
Sinais
cones
Smbolos
ndices
Verdadeiramente naturais
Expressivos
Fonte: adaptado de Carlos de Sousa Rocha (1986, p:65)
2.7- O si gni f i cado de uma mar ca
Como foi referido, a marca pode ter diversos significados em diferentes
n veis, na realidade tem uma tripla funo: distino (apresenta a empresa, e
individualiza-a por distino) e descrio que se subdivide em categoria
(comunica a empresa pela descrio) e atribuio (revela competncia e
qualidades).
A distino relaciona-se com a funo referencial de Roman J akobson,
enquanto que o aspecto descritivo mais complexo por poder incluir a
emoo (se uma marca representa um barco e pertence a uma empresa de
barcos trata-se de uma referncia ao sector de actividade - categoria, mas se
o seu aspecto for tecnolgico surge a funo emocional atributo moderno).
A marca pode ainda ser relacionada com a dupla funo da linguagem ao
n vel referencial e emocional. A marca poder ter o seu significado alterado ao
longo do seu tempo de vida, pois os seus pblicos tero em conta a
performance da empresa e dos seus produtos, independentemente da
inteno do emissor.
Ento, ser poss vel dizer que uma marca tem um complexo leque de
significados, podendo subdividir-se em: pr opsi t o (o que a empresa pretende
27
alcanar com a marca), si gni f i cado descodi f i cado (se a marca identifica, d
informaes sobre os objectivos e qualidades) e si gni f i cado aber r ant e
descodi f i cado (a adio de outros significados com base em dados que vo
para alm do controlo da empresa).
2.8- A dupl a di menso da mar ca
Para Chaves e Belluccia (2003, p: 15) nenhuma entidade
contempornea prescinde do seu signo grfico normalizado,
como identificador institucional, o que ter provocado uma
associao quase exclusivamente visual ao conceito de marca, mesmo que
este, por si, s no comunique todos os atributos corporativos.
Per Mol l erup (1993, p.88) esclarece que quando se fala em marca,
fala-se de aspectos verbais e visuais da identidade dos
produtos referindo-se sua capacidade de comunicao retrica (incluindo
o nome) da organizao, produto ou servio e semntica.
Poder-se- referir que a marca tem uma dupla dimenso de identidade. Nas
palavras de J oan Costa (2004), a primeira refere-se sua componente
material comunicacional e a segunda ao imaginrio social (imagem mental ou
reputao), incluindo classes de produtos ou servios, a reputao e a
atmosfera constru da em seu redor o seu mundo simblico. O autor J oan
Costa (2004, p.18), afirma que desde a revoluo Francesa, a marca
deixou de ser uma coisa, um signo, para se converter num
fenmeno. Um fenmeno socio-econmico, poltico e cultural,
mas tambm legal, formal, semitico, etc.
Chaves e Belluccia (2003, p.17) esclarecem que falar de capi t al de marca
fazer referncia ao fenmeno de acumulao de valor atribu do
organizao, que, por uma tendncia natural de economia prpria da
comunicao humana, se condensa na sua marca conceptual e grfica.
Ser ento plaus vel referir que em todas as suas dimenses a marca
consequncia de associaes decorrentes da experincia e cultura do
receptor, tendo em conta mensagens recebidas directa ou indirectamente da
organizao (os produtos ou servios, objectos grficos, embalagens, a
qualidade, a retrica, os preos, a imagem do staff, os ambientes, entre
outros figura 10), que funcionam como grupos e sistemas de signos e que
enquanto cdigo, culminam no imaginrio social colectivo.
Figura 10
28
Legenda: A embalagem faz parte da marca como associao secundria
2.9- Ident i f i cao pl aneada e espont nea
Ser importante referir que nem todos os representantes (marcas) so
resultado de planeamento da organizao, podem decorrer de dados
transmitidos sem intenso, como exemplo a percepo do cliente face ao
edif cio da empresa (Chaves e Belluccia, 2003).
A torre Eiffel que foi constru da para a Exposio Universal de 1889,
funciona como identificador visual da cidade de Paris, ainda que as suas
caracter sticas em nada que descrevam a cidade, mas por que foi
estabelecido por conveno pelo uso identificao espontnea (Chaves e
Belluccia, 2003). O mesmo ocorre com as marcas (Chaves, 2003), em
Portugal na dcada de 70, houve uma grande projeco na comercializao
de casacos tipo desportivo, impermeveis e com capuz (o anoraque) sob a
marca Kispo, cuja designao passou a ser definio dessa gama de
produto
16
.
Ainda que as marcas tenham sido planeadas, podem ter o seu significado
alterado espontaneamente atravs do trabalho simblico quotidiano, a
exemplo do que ocorreu com a Kispo e com outras marcas como x-acto, a
aspirina ou o Cimbalino (que no Porto designa qualquer caf expresso).
Chaves e Belluccia (2003, p.18) acrescentam que de forma
espontnea, mais cedo ou mais tarde, a qualquer
identificador de uma entidade ser-lhe-o conferidos os seus
atributos. Nesse sentido, qualquer identificador serve, mas de forma
espontnea no h garantias de que a atribuio seja rpida e com o sentido
desejado, por isso importante que seja planeada, como se ver no quinto
cap tulo deste estudo.
16
Segundo Cl otil de P erez (2004, p. 11) este fenmeno recebe o nome de meton mi a, uma figura
retrica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semntico
normal, por ter uma significao que tenha relao objectiva, de contiguidade,
material ou conceptual com o contedo ou o referente ocasionalmente pensado.
29
2.10- O si gno gr f i co
Centrando agora as atenes na identificao planeada especificamente na
dimenso comunicacional da marca, cabe referir que os signos grficos
podem ser mais descritivos (signos naturais) ou simblicos (motivados ou
arbitrrios) e como j referido, a necessidade de conveno varia.
A marca grfica um signo visual que poder ser constitu do por um
logtipo, um sinal, cone ou s mbolo (individualmente ou em par).
Dos poss veis constituintes do signo visual da marca, apenas um no foi j
definido: o logtipo. Rocha (1995, p.139)
17
aponta a origem do termo logtipo,
ao referir que no sc. XVIII, na Inglaterra, os tipgrafos, por
razes de comodidade de composio, decidiram que certas
associaes de letras, que se verificavam com muita
frequncia, passariam a constituir um nico tipo
18
mvel
(figura 11). Referindo tambm, que quando as designaes das empresas se
tornaram frequentes, ter-se-o fundido num s tipo (facilitando a sua
composio) com a designao de logtipo.
Figura 11
Fonte: Carlos de Sousa Rocha, 1995, p: 139.
Resumidamente, um logtipo ser uma palavra projectada graficamente de
forma nica. Uma juno de letras numa matriz, geralmente do mesmo tipo,
formando um grupo, sigla ou palavra identificadora de uma organizao,
produto ou servio (Rocha, 1995).
2.11- A mar ca em t oda a sua di menso semi t i ca
Como j foi visto, a marca constitu da por uma dimenso comunicacional
onde se inserem vrios tipos de signos relacionados com a retrica (incluindo
discurso e nome), com a materializao visual (marca grfica) e com todo o
ambiente e contexto de uso (edif cios, empregados, etc.), mas falta referir
que tambm pode existir uma correspondncia sonor a e/ ou ol f act i va.
17
ROCHA, Carlos de Sousa - Desi gn Grfi co: P anormi ca das Artes Grfi cas I I . 1 Ed. Li sboa: P l tano
editora, 1995.
18
Em ti pografi a cada l etra i mpressa com o aux li o de um carcter a que se chama tipo.
30
Ser este sistema de signos interrelacionados capaz de definir a retrica,
que ir culminar numa imagem mental colectiva, a funcionar como um sistema
vivo em constante alterao (J oan Costa, 2004).
2.12- A i magem gr f i ca e i magem cor por at i va
Compreendendo a dupla dimenso da marca, ser poss vel introduzir o
termo imagem, utilizando-o para designar tanto o que se representa
visualmente como mentalmente.
Yves Zimmermann (1993, p.11 e 38),
19
entende que a imagem grfica
designa um processo cujo objecto definir, projectar e materializar a
identidade corporativa mediante signos (apenas os elementos visuais) No
smbolo ou no logtipo, em cores, em tipografia: no jogo
entre a multiplicidade de relaes visuais entre todos estes
elementos bsicos de identidade visual, uma empresa exibe
publicamente a sua imagem e em simultneo, o seu ser.
A imagem corporativa refere-se a uma anlise feita pelos pblicos, que
resulta de todos os dados provenientes da organizao (podendo dar azo a
diferentes interpretaes ou imagens). Como refere J oan Costa (2004), a
i magem cor porat i va no se refere ao design ou a imagens grficas, mas antes
i magem ment al que o pbl i co f az de uma empr esa ou organi zao.
Confundem-se imagens vi suai s (eikon) com as imagens ment ai s ou da
i magi nao (imago). Imagem grfica no identidade
corporativa, ainda que esteja generalizado consider-la
enquanto tal graficamente apenas, no se constri a imagem
nem a identidade corporativa, mas simplesmente a identidade
grfica, que contribui para a construo da imagem
corporativa. (J oan Costa, 2004)
20
.
Consequentemente aos estudos de Costa (2004) os autores Davies, G. [et.
Al] (2001), afirmam que Imagem corporativa a viso da empresa,
sustentada por Stakeholders
21
externos, principalmente
clientes.
Em s ntese, como afirma Zimmermann (1993) a imagem corporativa
engloba e transcende a imagem grfica. O conceito subjacente
ao posicionamento da imagem corporativa consiste na
considerao de que qualquer coisa tangvel, visvel e
inclusive intangvel de uma empresa, pode ser entendida como
19
ZI MMERMANN, Y ves - Zi mmermann Asoci ados. Barcel ona: Gustavo Gil l i, S. A, , 1993
20
Afi rmao de J oan Costa por e- mail envi ado ao autor desta dissertao de mestrado.
21
Qual quer indiv duo ou grupo que possa benefici ar ou ser prej udicado pel as aces da organizao,
dos quais os cli entes so os mais importantes.
31
uma representao desta; como um modo e meio pelo qual se
manifesta o seu ser, a sua identidade.
2.13- A i dent i dade cor por at i va
Referindo-se confuso de terminologias, J oan Costa (1992, p.23)
22
,
esclarece sobre a identidade corporativa:
1- No se trata de uma simples variante da disciplina do
design grfico.
2- O seu objectivo no simplesmente dotar as empresas
de marcas as quais so confundidas com logtipos.
3- Devem-se estabelecer normas de aplicao dos ditos
signos da marca, mas na realidade muitas vezes so
apenas pseudonormas, sempre repetidas, no sendo seno
a cpia indefinida de um manual cujo modelo est
ultrapassado e no serve as necessidades de cada
empresa em particular.
Para Yves Zimmermann (1993), o projecto de identidade corporativa
sintetiza e confere coerncia em trs mbitos pblicos e identitrios: 1- a
comunicao (independentemente da sua classe); 2- a envolvente (a presena
pblica de qualquer dole - arquitectura, interiores, sinaltica); 3- as suas
actuaes (a filosofia de produtos ou servios que oferece, o contacto directo
com a empresa - atendimento telefnico, contacto pessoal ou escrito, etc.).
Enquanto para Davies, G. [et. Al] (2001) a Identidade corporativa a viso
interna, que o staff tem da empresa. Segundo Albert e Whettens
(1985, citado pelos autores anteriores), trata-se da noo de Como nos
vemos a ns prprios
2.14- Semi t i ca cor por at i va
Porm faltar relacionar os conceitos, numa cadeia lgica de interaco
que permita saber onde e como os termos se cruzam e como funcionam
individualmente. Para isso, encontrou-se como adequada a proposta de
Norberto Chaves (1988), onde se procede ao desdobramento do problema em
quatro elementos distintos (figura 12): 1-realidade; 2- identidade; 3-
comunicao; 4-imagem corporativa.
Figura 12
22
COSTA, J oan I denti dad Corporati va. Barcel ona: Ceac, 1992.
32
Identidade
Corporativa
Imagem
Corporativa
Realidade
Corporativa
Comunicao
Corporativa
Fonte: Norberto Chaves (1988, p:27)
Rel aci onando os conceitos obtm- se sei s comparaes:
1 . Real i dade Corporati va/I dentidade Corporati va
2 . Real i dade Corporati va/Comunicao Corporati va
3 . I denti dade Corporati va/ Comunicao Corporati va
4 . I denti dade Corporati va/I magem Corporati va
5 . Comunicao Corporati va / I magem Corporati va
6 . I magem Corporati va/Realidade Corporativa
O fenmeno corporativo fica totalizado nas suas dimenses anal ticas, no
como facto econmico ou tcnico, mas semitico, que processa
frequentemente o discurso da sua identidade.
Para Norberto Chaves (1988, p.31) por semitica
23
Institucional,
deve entender-se o processo espontneo, artificial ou misto,
pelo qual uma instituio produz e comunica o discurso da
sua identidade no seu contexto, e motiva uma determinada
leitura que determinar a sua prpria imagem.
Realidade Corporativa:
A Realidade Corporativa situa-se num plano do material, dos factos e
dados objectivos, factos reais, anteriores e independentes da conscincia
organizacional.
Trata-se da entidade jur dica e do funcionamento concreto da organizao;
da estrutura organizativa e operativa; a realidade econmico-financeira; a sua
infra-estrutura e recursos materiais; a integrao social interna (individual, de
grupo, societria, tcnica, etc.); o sistema de relaes e condies de
comunicao interna e externa; entre outros.
23
Semi ografi a (do Gr. seme on, sinal + gr phei n, descrever) representao por meio de si nais.
33
Identidade Corporativa:
A Identidade Corporativa um conjunto de atributos assumidos como
prprios, pela organizao, que constitui o discurso da identidade.
Desenvolve-se no interior da organizao, como acontece com um indiv duo.
So constru das formas de auto-representao, atravs da sua actividade
regular, mas sobretudo no dilogo constante com os seus interlocutores.
A Identidade Corporativa um quadro complexo uma vez que resulta de um
conjunto de vises no necessariamente semelhantes. Cada sujeito social tem
conhecimento do que , uma noo do que pretende que pensem dele, e de
como no pretende ser visto. Trata-se de uma opinio ideolgica que resulta
do que a organizao /situao actual (plano real); as perspectivas, o
imediato e o projectual.
Comunicao Corporativa:
A Comunicao Corporativa um conjunto de mensagens efectivamente
emitidas. Consciente ou inconscientemente, voluntria ou involuntariamente,
pois basta que exista uma entidade percepcionvel, para que a sua
envolvente receba comunicaes. No portanto, o mesmo que Comunicao
da Identidade Corporativa.
De todas as mensagens emitidas, apenas algumas se referem directamente
e especificamente identidade (publicidade, declaraes pblicas sobre a
organizao, documentos e memrias descritivos; etc). No entanto, o
processo de comunicao no se esgota nestas mensagens.
A comunicao da identidade no um tipo de comunicao concreta, mas
uma dimenso de todo o acto de comunicao; pois ainda que existam
mensagens com a funo directa de aludir identidade, todas as restantes
acabam por o fazer de forma indirecta.
A identidade um contedo semntico anexado a todo o tipo de
significantes e que circula, directa ou indirectamente, por todos os canais de
comunicao prprios da organizao.
So suportes da identidade, a prpria organizao no seu conjunto, ou
seja, a totalidade de factos materiais e humanos. Como refere Norberto
Chaves (1988, p.25), deste ponto de vista, a instituio um
territrio significante que fala de si mesmo, que se auto-
simboliza atravs de todas e cada uma das suas regies, como
pode ser exemplo o s mbolo ou logtipo.
Imagem Corporativa:
A Imagem Corporativa o objectivo final do projecto de design de
comunicao.
34
A imagem Corporativa o registo pblico dos atributos identificatrios e
por vezes identitrios da organizao. a interpretao espontnea ou
intencional feita pela sociedade, de cada grupo, sector ou colectivo, acerca
da organizao.
Para uma maior aproximao ao conceito de imagem corporativa ser
necessrio encar-lo para alm da sua componente grfica e entender a sua
designao enquanto atribuio de carcter de uma representao colectiva
de um discurso imaginrio colectivo.
2.15- Rel aes ent r e component es cor por at i vos
(r eal i dade; i dent i dade; comuni cao; i magem):
Os elementos corporativos apresentados no constituem objectos emp ricos
diferentes, mas dimenses anal ticas de uma uni dade i ndi vi s vel , onde
qualquer alterao individual se reflecte no todo (pelo que faz todo o sentido
verificar as suas interaces).
A Realidade e a Comunicao Corporativa pertencem ao plano objectivo e
factual, exteriores conscincia de que deles se tem, enquanto a Identidade
e a Imagem Corporativa so construes ou representaes idealizadas
pertencentes ao campo da subjectividade do que se cr que sejam.
1- Realidade Corporativa/Identidade Corporativa
Na linguagem profissional existe alguma tendncia para confundir estas
duas realidades, quando a primeira pertence ao plano factual e a segunda
um sistema de representaes um mundo simblico. Por outro lado, a auto-
representao no um reflexo perfeito da realidade, pois tendo em conta o
grande nmero de dados, apenas alguns passam a figurar como referncias.
Por serem oriundos dos rgos da gesto, os dados da identidade integram
informaes idealistas como expectativas e intenes em resultado de uma
seleco.
Partindo da mesma realidade distintos sectores internos fazem leituras
diferentes, o que faz com que a identidade corporativa no seja homognea.
A identidade ter de nascer do fruto de uma negociao de vises. desta
crise de identidade, que normalmente resultam as encomendas para
interveno sobre a imagem.
2- Realidade Corporativa/Comunicao Corporativa
Neste caso ambas so duas realidades objectivas e como referido, a
comunicao corporativa refere-se ao sistema de mensagens expl citas, mas
35
tambm totalidade de significaes, denotadas ou conotada, verbais ou no
verbais, que remetem para a identidade.
A realidade corporativa um corpo semitico que comunica
constantemente, enquanto que a comunicao uma dimenso intencional
dessa realidade.
3- Identidade Corporativa/ Comunicao Corporativa
Trata-se de uma representao ideolgica e de um sistema de peas
significantes, que lamentavelmente so frequentemente confundidos.
H que distinguir, pois se um composto pelos factos comunicacionais
concretos (Comunicao Corporativa), o outro (Identidade Corporativa) so os
seus cont edos ref erenci ai s. Ou seja, um a mensagem e outro o contedo
da mensagem.
O duplo erro, refere-se ao perigo real de limitar a identidade ao conjunto de
mensagens efectivamente emitidas e percebidas.
O fenmeno do segredo empresarial um facto corporativo fundamental
para marcar a diferena entre identidade e comunicao, uma vez que nas
mensagens efectivas existe um contedo ideolgico que encerra alguma
opacidade ou seleco da informao.
A confuso entre Identidade e Comunicao Corporativa leva a dois erros
essenciais, que quando acumulados, acabam por gerar problemas de imagem:
o primeiro a acreditar que uma mera gesto correcta, por si emite os
cdigos comunicacionais identificadores igualmente correctos; o segundo erro
pensar que a comunicao corporativa esgota os contedos semnticos da
organizao e que por isso o sistema de comunicao a identidade.
Ambos conceitos, ainda que diferentes, esto interligados numa ptica
cultural. Qualquer acto comunicacional um intercmbio de mensagens
identificativas, como todo discurso da identidade serve para ser comunicado
ou ainda, que todo o sistema de mensagens comunicao da identidade.
Na sua realidade semitica, a realidade corporativa opera como mensagem
alusiva identidade.
4- Identidade Corporativa/Imagem Corporativa
Como referido, a i dent i dade auto-representa a organizao, e a i magem, as
formas de representao desenvolvidas pelos seus pblicos-alvo. Ambos
conceitos so opinies geradas, embora o primeiro seja interno e o segundo
externo.
A linguagem profissional confunde estes dois termos, sobretudo ao
designar o sistema de signos identificadores da organizao, pelo que muito
36
frequente encontrar escrito Manual de i dent i dade corporat i va ou Manual de
I magem Cor porat i va.
5- Comunicao Corporativa / Imagem Corporativa
Qualquer comunicao implica uma mensagem emitida e reproduzida. Mas
uma vez que todos os receptores recriam as mensagens recebidas, existe
sempre um desfasamento entre Comunicao e Imagem Corporativa, ou seja,
ent r e a mensagem emi t i da e o seu pr ocessament o ou i nt egrao pel o
dest i nat r i o.
H uma inevitvel recodificao das mensagens recebidas, que quando
combinadas com a inrcia dos processos de identificao pblica (imagem)
podem causar um desequil brio.
6- Imagem Corporativa/Realidade Corporativa
Embora os dois conceitos se confundam, a imagem corporativa um estado
de opinio, enquanto a realidade se refere a factos reais.
Por definio, a funo da imagem produzir um efeito ilusrio da
realidade (mundo simblico), criando no receptor, um estado de convico do
que ele cr que seja o real. A representao assume o papel de realidade,
pelo que ambos conceitos (embora diferentes) devem caminhar para o
mimetismo.
37
3- ANTECEDENTES HISTRICOS DA IDENTIDADE
CORPORATIVA
Como se observa neste trabalho, no faz sentido abordar o tema da gesto
de identidade corporativa, sem conhecer a origem de tais preocupaes,
quando a marca passa a assumir um papel relevante. No entanto, no
poss vel realizar um estudo exaustivo sobre a histria da marca, sob pena de
no dar resposta questo levantada na presente tese.
Embora, ningum ouse afirmar uma data para o nascimento da marca, os
achados arqueolgicos e os estudos histricos tm revelado bastante
informao sobre as suas diferentes funes e usos e ser poss vel mostrar
alguns dos seus antecedentes.
Tendo em conta as alteraes funcionais, utilitrias e semiticas da marca,
o autor J oan Costa (2004), considera quatro nascimentos diferentes.
24
Por
outro lado Per Mollerup (1997, p.16)
25
prope uma abordagem histrica
baseada em trs vectores de utilidade da marca: identidade social (quem ou
quem diz); propriedade (de quem ); e origem (de onde vm). Referindo ainda
que uma suposio lgica que todas as marcas de identidade
social e todos os certificados de origem, resultam da
necessidade e do desejo. igualmente seguro, assumir que
marca de orelhas
26
, e as marcas de herdade foram quase
exclusivamente inspiradas pela necessidade.
A juno dos dois mtodos de estruturao foi considerada adequada
organizao da presente abordagem que, de forma sucinta, pretende retratar
os antecedentes histricos da identidade corporativa, no mundo e em
Portugal, analisando a marca numa perspectiva semitica onde se transita do
signo ao cdigo.
importante referir que, embora a estrutura seguida tenha base no
trabalho dos autores referidos, a recolha de informao fundamenta-se em
diversas publicaes.
Ao longo das quatro fases, em que se dividiu esta abordagem histrica,
encontram-se contempladas alguns dos muitos factores que contribu ram para
o surgimento da Identidade Corporativa ou universo simblico da marca, cuja
complexidade tem vindo a aumentar.
24
As mar c as , nas c er am no c ont ext o c omer c i al . E ai nda que par e a um par adoxo, no
nas c er am c om os pr odut os de i nt er c mbi o e de c ons umo. Nas c er am c om os s eus
r ec i pi ent es . A f un o de s i gni f i c ar uni a- s e, j des de o i n c i o, de i dent i f i c ar .
Ai nda hoj e, i dent i dade e s i gni f i c ado f az em a s i ngul ar i dade das mar c as . Vej amos
c omo nas c er am e r enas c er am at r avs dos t empos . J oan Costa (2004, p. 27) La i magen de
marca.
25
Mol lerup, P er - Mar ks of excel l ence: The hi st or y and t axonomy of t r ademar ks. Londres: P hai don
P ress, 1997.
26
Marca ou si nal nas orel has de ani mais domsticos
38
3.1- Pr i mei r o nasci ment o da mar ca a mar ca par a
i dent i f i car
3. 1. 1- A pr -hi st r i a da mar ca
A necessidade de registo parece ter sido uma das primeiras manifestaes
humanas. Carlos de Sousa Rocha (1995, p.16) escreve que o Homem
talvez tenha comeado a ter conscincia da possibilidade de
comunicar graficamente quando pela primeira vez se deu conta
da sua sombra ou da sombra dos outros seres e objectos
projectadas pelo cho, ou antes, por ser mais sugestiva, na
parede de uma caverna luz tremente de uma fogueira.
27
O registo no se ter limitado s cavernas, servindo-se o Homem de
objectos de menor dimenso que permitiam o transporte da informao, como
sejam ossos, pele de animais, madeira, ou por exemplo o barro que ter
permitido o desenvolvimento do sistema de escrita cuneiforme dos Ass rios e
Persas, em placas de argila (utilizao do cunho) e mais tarde em pedra
28
cerca do ano 3100 a. C. no Sul da Mesopotmia.
A ideia de distinguir a identidade, a autoria e a propriedade justificar a
denominao de um signo como marca (como so exemplo sinetes pessoais
ou os marcos de propriedade, cujo uso se prolongou at actualidade).
Conforme Clotilde Perez (2004, p.6)
29
antes da escrita j existiriam nomes
(designao verbal) permitindo a sua identificao un voca. Segundo a
autora, a assinatura ter surgido com os povos nmadas para assinalar
propriedade do gado e de objectos, adiantando que foram descobertos
vest gios de assinaturas em barro, procedentes da Idade da pedra.
Segundo Frutiger (1981, p.236) a denominao verbal individualizadora da
pessoa (o nome) encontra as suas ra zes na pr-histria, bem anteriores a
qualquer escrita (Figura 13). Para o autor, a assinatura deve ter comeado
com os povos nmadas enquanto forma de distinguir bens materiais (Figura
14) e poder ter influenciado ou mesmo passado a integrar alfabetos.
27
Carl os de Sousa Rocha, Desi gn Grfi co - P anormica das Artes Grfi cas I I , P l tano Edi tora, 1 Ed. ,
Lisboa, 1995.
28
P ara al m da contabil i dade, os Sumri os comearam tambm a util izar a sua descoberta noutro tipo
de textos, como l egisl ao, narraes histri cas e rel atos picos, de que so exempl o o famoso cdigo
de Hammurabi e o poema de Gi lgamesh, estes gravados no em argil a mas em pedra (Carlos P i nhei ro).
29
Si gnos da Marca, Expressi vidade e Sensorial idade, So P aulo: Brasil, P ionei ra Thomson Learning.
39
Figura 13
Fonte: Marcas em vasilhas Neol ticas, Frutiger (1981, p:236)
Figura 14
Fonte: Ferros de marcar de povos nmadas, Frutiger (1981, p:236)
Os escritos proto-elamitas (entre 3200 e 2500 a.C) da zona do actual Iro,
conhecida anteriormente por Elam, (so apenas ligeiramente posteriores aos
mesopotmicos mais antigos), cuja primeira fase pictrica e de natureza
administrativa
30
.
Localizado entre a ndia e o Paquisto, o Vale do Indo ter sido o cenrio
para o surgimento de um dos primeiros sistemas de escrita, cerca do ano de
2.500 a.C, ainda por descodificar.
As escavaes de Harappa e Mohenjo Daro, por exemplo, continuaram a
revelar dados sobre este povo dividido entre uma cultura urbana e o comrcio
internacional desenvolvido. Os seus signos sugerem uma rede
consideravelmente extensa de comrcio antigo, centrado nos limites do Golfo
Prsico.
A histria das marcas encontra-se intimamente relacionada com a da
escrita. H mesmo quem associe as inscries r ni cas
31
utilizadas pelas tribos
germnicas do sc. III e IV (Figura 15), com a marca da identidade dos
canteiros. Porm, no se trata de um conjunto de marcas autnomas, mas sim
de um alfabeto com o carcter discursivo das inscries textuais,
normalmente gravadas sobre objectos de madeira, mas tambm em rochas ou
tmulos (que se conservaram melhor) (J oan Costa, 2004).
30
A escrita no mundo. P avi l ho do Conhecimento Cincia Vi va. Acedido em 15 de Maro de 2005 em:
http://www. pavconheci mento. pt/exposicoes/modul os/i ndex. asp? accao=showmodulo&i d_ exp_ modulo=403
&i d_ exposicao=15
31
Escrita desenvol vi da nas regi es mais frias dos bosques da Europa, no primeiro sc. a. C. (Adrian
F rutiger, 1981, p:94); Alfabeto ou conj unto de s mbolos formal mente pareci dos com os signos sil bicos
i bricos util izados h 4. 400 anos a. C. no sul de Espanha e com os cortadores de pedra no Egipto e na
Grci a (J oan Costa, 2004, p:31).
40
Figura 15
Fonte: Detalhe de gravura sobre madeira, em letras rnicas (J oan Costa, 2004: 31)
Na Pen nsula Ibrica, estelas epigrafadas e outros achados arqueolgicos
mostram que durante a 1 Idade do Ferro, alguns povos (tidos como pr-indo-
europeus) que habitavam o sul de Portugal entre os sc. VIII e VI a.C. e que
as fontes clssicas identificaram com os Cnios
32
, utilizavam uma escrita de
estrutura alfabtica. Segundo o Mrio Varela Gomes
33
, a escrita do sudoeste
34
a mais antiga da Pen nsula Ibrica e das mais recuadas do Ocidente
Europeu Figura 16).
Figura 16
Fonte: 1- Estela da 1 I dade do Ferro do Sudoeste P eninsular, (Mrio Varela Gomes,
1990, p: 32); 2- P ormenor de uma sequncia da ep grafe de S. Martinho (Am lcar Guerra,
Revista P ortuguesa de Arqueologia. volume 5.nmero 2.2002, p.227).
32
Cnios (ou Kounoi) so correntemente si tuados no sul de P ortugal embora J orge de Al arco aponte
a sua l ocal izao para o val e mdio do Guadi ana, em territrio actualmente espanhol. ALARCO, J orge
de Novas perspecti vas sobre os Lusi tanos (e outros mundos), Revista de Arqueol ogia, Vol. 4, n. 2,
2001. p: 335 338.
33
GOMES, Mrio Varel a O Ori ente no Oci dente: Testemunhos I conogrfi cos na P roto- Histri a do sul
de P ortugal, Smi ti ng Gods ou Deuses Ameaadores. Lisboa: I nstituto Oriental, 1990. Estudos Ori entai s
I : P resenas Ori ental izantes em P ortugal. Da P r- Histria ao P er odo Romano.
34
Ai nda por deci frar
41
Parece seguro afirmar que o Homem sentiu a necessidade de comunicar a
posse de objectos ou propriedade (diferenciando-os) em bordados, tapetes
dos povos nmadas do oriente
35
, atravs da tempor marcao de animais no
Egipto e na Grcia. Ou mesmo para diferenciar fam lias e linhagens, atravs
da herldica, utilizando brases que certificam a nobreza e conferem um t tulo
nobilirquico.
Nos primrdios da histria, eg pcios e sumrios j utilizariam os elementos
fundamentais de uma arquitectura art stica. Em palcios e templos, os
babilnios, hititas e persas tero levado a arquitectura a um n vel
monumental, mas devero ter sido os gregos a superaram a arte do Oriente e
Mdio Oriente com um gnio criador que at hoje pode ser admirado no
Partnon de Atenas e em outros vest gios.
Quanto s marcas de identidade, segundo J oan Costa (2004, p.32), estas
aparecem em grande nmero de signos, nos primeiros edif cios eg pcios
36
e
na Grcia Micnica (cerca de 1600 a.C.), Persas e Caldeus (SOUSA, J . M.
Cordeiro, 1929)
37
, onde eram gravadas nas pedras para a construo dos
templos, marcadas pelos pedreiros (Figura 17).
Figura 17
Fonte: 1, 2 e 3 Trs signos eg pcios sobre blocos de pedra, no tmulo que o fara Sahur
dbusir mandou constru rem a norte da cidade de Memphis.
4 Marca localizada em Mallia, norte de Creta.
5 a 16 Gravaes sobre pedra, cidade P haestos, Civilizao Minoica (civilizao que
floresce em Creta desde o ano 2000 a.C.).
(J oan Costa, 2004: 32)
35
OLI VEI RA, F . Baptista de, Hi stri a e tcnica dos tapetes de Arraiolos, Fundao Cal ouste
Gulbenkian
36
Os eg pci os foram pioneiros das grandes construes da Antigui dade. Os pri meiros edif cios,
construes domsticas ou tumulares, eram de tij ol o. No I V mi lni o, a pedra comeou a ser uti lizada
nas construes rel i gi osas. A pri mei ra pi rmi de foi a do Fara Zoser, da I I I dinasti a, constru da em
degraus na regi o de Sakkarah. P rojecto do arquitecto I mhotep, era uma mastaba (tmul o), sobre a
qual se constru ram outras em tamanho decrescente.
37
Refere SOUSA, J . M. Cordeiro de, Marcas de Cantei ro. Lisboa : I mprensa Nacional. Sep. :
Arquelogo portugus, n 27, p: 49.
42
medida que as construes exigiam mais sofisticao tcnica a
interveno dos canteiros ter comeado a ganhar importncia.
Nas antigas construes encontraram-se marcas tcnicas, cuja funo ter
sido indicar a posio ou encaixe das pedras, bem diferente do objectivo das
marcas de identidade que na Idade Mdia ganharam destaque com o
corporativismo (SOUSA, J . M. Cordeiro, 1928).
3. 1. 2- Monogr amas A mar ca como assi nat ur a
A forma das marcas parece estar condicionada pelos materiais nos quais
trabalhada, cermica, pedra, papel, prata ou madeira, etc., mas tambm pela
necessidade, desejo e cultura dos marcadores.
Frutiger (1981) menciona que os monogramas esto sobretudo ligados a
nomes de indiv duos de classe alta, dominadores, governantes ou l deres
espirituais, que os usavam para certificar documentos. Segundo o autor, os
monogramas figuravam com frequncia nas moedas e selos dos governantes,
que os limitaram ao plano bidimensional e ao uso de iniciais ou abreviatura
mais o t tulo social.
Por seu turno, Per Mollerup (1997, p.24)
38
esclarece que o significado
grego original do termo monograma linha nica,
compreendido como algo escrito ou desenhado em contornos.
Actualmente a palavra normalmente usada para indicar um
sinal (signo desenhado) feito a partir das iniciais do nome
de uma pessoa.
Porm, ser conveniente relembrar, como o faz Frutiger (1981), que as
assinaturas se relacionam com a literacia (ou iliteracia) do indiv duo assim
como com o espao ocupado (normalmente de dimenso centralizada e no
comprida como o nome completo). A isso se refere Mollerup (1997) ao referir
que os monogramas so caracterizados pela sua funo de economia
comunicacional do signo, enquanto assinatura ou s ntese de identificao.
Como se poder observar na figura seguinte os monogramas reais que
podiam incluir um R para Rex (rei ou cabea de estado) ou Regi na
(rainha), por exemplo EI I R, El i zabet h Regi na I I (Figura 18).
Figura 18
38
Marks of excel l ence: The hi story and taxonomy of trademarks. Londres: I ngl aterra, P hai don P ress.
43
Fonte: Mollerup, p: 25
Mollerup (1997) refere que alguns reis subscreviam com um monograma
(Figura 19), como exemplo o imperador romano J ustino I (sc. I d.C.) e os
reis franceses Thierry III (673-690) e Pepin le Bref (751-768) que
corroboravam com uma cruz. O mesmo ter ocorrido com o povo francs na
Idade Mdia, pelo que um nico documento poderia ter uma fila de cruzes.
Em Frana, alguns livros de registo, j teriam uma linha, feita pelos
notrios, para facilitar a assinatura em cruz.
Figura 19
Fonte: De Carlos Magno at Filipe I V, os monarcas franceses assinavam com um
monograma, com base numa cruz com um losango na interseco. (Mollerup, pp:24)
As ditas rubricas eram facilmente lidas mas de dif cil identificao e ter
sido no sc. IV, que o orador e cnsul romano Symmacus sugeriu que mais do
que leg veis os monogramas deveriam facilitar o reconhecimento (Mollerup,
1997).
Tambm em Portugal o uso de monogramas ou emblemas seria frequente
entre os membros da nobreza e do clero, que os utilizavam como chancela de
documentos oficiais portugueses (Figura 20).
Curiosamente, parece que os monogramas familiares teriam influncia
sobre a descendncia, pelo que frequentemente exemplares de diferentes
geraes apresentam semelhanas (Afonso VI, Conde D. Raimundo e Rainha
D. Urraca ou D. Henriques com D. Afonso I, figura 20), porm um mesmo
indiv duo pode alterar o seu sinal identificador ao longo dos anos (Ex.: D.
Teresa ou D. Afonso I na figura 20).
J os Mattoso (1993)
39
refere que enquanto nos monogramas de Afonso VI,
conde D. Raimundo e rainha D. Urraca consta apenas o nome e o t tulo, os de
39
Histri a de P ortugal A Monarqui a F eudal, Vol. 2, Editorial Estampa.
44
D. Afonso I at 1144 compem-se unicamente por Portugal, passando
depois a integrar os nomes dos membros da fam lia real. O emblema de D.
Sancho I apresenta as armas reais simplificadas (escudetes semeados de
besantes) com os nome do rei e da rainha e a indicao de Silves e
Algarve.
Figura 20
Fonte: J os Mattoso (1993, p:12 13). 1- I mperador Afonso VI , Conde D. Raimundo e
Rainha D. Urraca em documento de 1106; 2- Conde D. Henrique (1096); 3- Conde D.
Henrique (1110); 4- D. Teresa (1117); 5- D. Teresa (1126); 6- D. Teresa (1128); 7- D. Afonso
I (1129); 8- D. Afonso I (1132); 9- D. Afonso I (1134); 10- D. Afonso I (1142); 11- D. Afonso I
(1144); 12 D. Afonso I (1153); 13- D. Afonso I (1169); 14- D. Afonso I (1184); 15- D. Sancho
I .
3. 1. 3- A mar ca l abor al
O etnlogo Antnio dos Santos Graa (1982) realizou um estudo e
levantamento das marcas com que a comunidade piscatria da Pvoa do
Varzim se identificava (alfaias e tmulos).
Curiosamente, as ditas marcas podero relacionar-se aos hierglifos
eg pcios (por constitu rem imagens de objectos) ou mesmo herldica (uma
vez que vo ficando como herana de fam lia e obedecem a um cdigo pr-
estabelecido de relaes ou parentesco).
45
As marcas dos Poveiros tm uma grande importncia, conforme se
comprova pela proliferao das aplicaes (nas redes, velas, mastros, nos
paus de varar, nos boireis, nas mesas, cadeiras, lemes, alfaias piscatrias,
no peixe pescado, nos objectos pessoais, nas placas tumulares), enquanto
marcas do registo de propriedade. Trata-se de um cdigo bem dominado pela
comunidade, facilitando, desta forma, a sua utilizao como o sublinha A. dos
Santos Graa (1982, p.31) Os vendeiros analfabetos serviam-se
das marcas para saberem de quem era a conta fiada
Como poss vel observar na figura 21, cada fam lia tem a sua marca
prpria (Ex.: Os Canelas Meia pena e cruz no rabo; Os Pinheiras Calhorda
de cruz ao centro; Os trunfos O So Selimo; etc.) utilizada pelo pai, qual
consecutivamente, os filhos vo acrescentando piques, perpendiculares
cruzados ou em estrela (Figura 22).
Figura 21
Fonte: A. Santos Graa, O P oveiro, 2 Ed., 1982, p: 25.
Em contradio com a herldica, neste caso, o filho mais novo o herdeiro
da marca de fam lia, em geral semelhante que utilizava o pai.
Figura 22
46
Fonte: A. Santos Graa, O P oveiro, 2 Ed., 1982, p: 26.
No entanto, a transio da marca de fam lia nem sempre segue a regra,
notando-se algumas excepes. Com efeito na casa onde no h vares, o
genro adopta a marca do sogro. As marcas podem ser herdadas por mais de
uma via familiar, sendo registadas no momento do casamento Poveiro: O
Poveiro ao casar-se, registava a sua marca na mesa da
sacristia da Matriz, gravando-a com a faca que lhe servia
para aparar a cortia das redes. A mesa da sacristia da
velha igreja da Misericrdia, que serviu de Matriz at
1757
40
, tinha gravadas milhares de marcas, representado um
precioso documento para estes estudos (Graa, 1982, p.30-31).
As significaes dos Poveiros eram tambm utilizadas nos Mosteiros, para
marcar o cumprimento de uma promessa religiosa (Figura 23), para alm
destes afirmarem que os velhos poveiros analfabetos as utilizaram para
assinar documentos pblicos
41
.
Figura 23
40
A referi da mesa desapareceu com a demoli o desta I grej a, sem que restasse qual quer vest gi o, mas
poss vel observar al gumas destas gravaes nas mesas das sacristias da actual Matri z (I grej a
paroquial de Nossa Senhora da Conceio) e da I grej a da P arquia de Nossa Senhora da Lapa.
41
Dos poucos documentos que comprovam tal afirmao, apenas as actas da Associao Mar ti ma dos
P ovei ros.
47
Fonte: Marcas na porta da capela de Santa Cruz Balazar. A. Santos Graa, O P oveiro, 2
Ed., 1982, p: 33.
A utilizao das marcas dos Poveiros parece pretender dar provas do
conhecimento desta gente, para quem o analfabetismo seria um obstculo
quase ultrapassado.
Na pesca, o produto de cada rede pertence ao seu proprietrio, e ao chegar
a terra o peixe deve ser entregue mulher do respectivo dono. Ora a pesca
era normalmente feita em grupo, pelo que cada barco tinha determinadas
marcas (que no eram as de fam lia) que serviam cada parceiro durante o
tempo em que tripulante. Quando o tripulante muda de barco, recebe outra
marca (Figura 26)
Como se pode observar na figura seguinte (Fig. 24), a marcao do peixe
consistia em dar pequenos golpes (em diferentes pontos dos peixes),
permitindo a sua identificao (Ex: Barba golpe por baixo do beio; Olho
golpe por cima do olho; coroa golpe por cima da cabea; etc.).
Figura 24
Fonte: A. Santos Graa, O P oveiro, 2 Ed., 1982, p: 35. No quadrado da figura, poss vel
ver as marcas que se usavam no caso do pescado.
48
Segundo Gr aa ( 1982, p.36) as balizas e divisas so, como as
marcas de pertena das famlias e herdadas pelos filhos
porque, em geral, filho de mestre Lancha passa a mestre
lancho ( f i gura 25). E quando tal no ocorria, e a Lancha passava ao
companheiro, essas balizas e divisas passavam a outra fam lia.
Figura 25
Fonte: A. Santos Graa, O P oveiro, 2 Ed., 1982, p: 36.
Figura 26
49
Fonte: A. Santos Graa, O P oveiro, 2 Ed., 1982, p: 39.
Mencionam os autores Otl Aicher e Martin Krampen (1979)
42
, que em
Hamburgo
43
, por volta do ano de 1700, arenques de diferentes qualidades
eram marcados com signos com diferentes caracter sticas (Figura 27),
provavelmente num sistema prximo ao da Pvoa do Varzim, embora os
autores no indiquem a sua complexidade nem o mtodo de cedncia
genealgica.
Os mesmos autores relatam que com o desenvolvimento do
comrcio da Alta Idade Mdia, sobre as bases do excedente
agrcola, o florescimento do artesanato e o crescimento das
cidades, que deu lugar aos transportes terrestres e
martimos, apareceu tambm a necessidade de distinguir
tonis, embalagens e armazns de mercadoria, de onde tero
42
AI CHER , Otl, KRAMP EN, Martin - Sistemas de signos en la comunicacin vi sual . Barcel ona:
Editori al Gustavo Gil i, 1979.
43
As ori gens de Hamburgo tero estado num afl uente do rio Elba, o Alster ou na sua margem (na
l ngua saxnica anti ga: "ham") onde no scul o 8 ter surgi do a pri mei ra povoao perto da foz do
pequeno ri o com o Elba. Cr- se que a construo de Hammaburgo ocorreu cerca do ano de 950 e que
ter recebido o pri vi l gi o de cobrar uma portagem no El ba em 1189 (concedi do pel o imperador
Barbarossa), passando a ci dade li vre.
No Norte da Europa ter si do criada uma associ ao mercantil medieval de cidades: a Li ga Hansetica.
E Hamburgo ter- se- transformado no porto do Mar do Norte (o mais i mportante da referi da Liga), que
servi ria de ponto de transbordo para cereais, teci dos, peles, arenques, especi arias, madei ra e metais.
50
resultado marcas de importadores, fabricantes e expedidores (Otl Aicher e
Martin Krampen, 1979, p.34).
Figura 27
Fonte: AI CHER , Otl e Martin Krampen, Sistemas de signos en la comunicacin visual,
Editorial Gustavo P ili, Barcelona, 1979. p: 34
Com base nos signos poveiros e de Hamburgo pode concluir-se que a
marca foi utilizada como identificador de bens em actividades laborais,
resultantes do esforo individual e como garantia de uma diviso ou
pagamento justos.
Um sistema identificao semelhante, embora utilizado num outro sector de
actividade, (Frutiger, 1981, p.237) surge na Finlndia no sc. XVII, onde
diversos trabalhadores de uma herdade (provavelmente a exemplo dos
restantes) usavam um tabuleiro de anotaes onde cada um tinha desenhado
a sua marca (Figura 28) e que servia para assegurar a jorna. Ao terminar
cada dia ou semana, junto sua marca, cada trabalhador realizava um orif cio
com um prego.
A relao formal das marcas que constam no tabuleiro poder relacionar-se
com o parentesco ou com igual ocupao profissional dos trabalhadores.
Figura 28
Fonte: Adrian Frutiger (1981, p:237)
3. 1. 4- As mar cas dos cant ei r os
Para Frutiger (1981) os signos de canteiro so assinaturas de autor, cuja
origem se encontra relacionada com as estruturas sociais da Idade Mdia,
uma vez que ao contrrio do que ocorria nos tempos primitivos (trabalho de
escravos), os obreiros trabalhavam por pagamento pecunirio. Frutiger (1981)
51
refere que nos tempos primitivos a marca era rara, pois o trabalho era
realizado por lei ou por gloria a Deus (irmos leigos), em troca de comida e
do cu e, ter sido com o comeo das cruzadas que o pagamento da jorna foi
institu do, o qual era assegurado pelo signo de canteiro identificando na
pedra (que progressivamente se ter tornado mais abstracto).
Os pedreiros medievais seriam excelentes construtores, detendo
conhecimentos de arquitectura, engenharia e construo, os quais a exemplo
de outras profisses durante a Idade Mdia, se tero agrupado em
corporaes e ruas (Ex.: Rua dos oleiros; Rua do Ouro, etc.) podendo
beneficiar de condies especiais (tribunais especiais , franquias, de onde
surge o termo f rancs- maons pedreiros/construtores franquiados),
dependendo do seu estatuto social hierrquico
44
.
Pedro Dias (1995)
45
descreve que na Idade Mdia, a hierarquia laboral se
regia pelas regras mesteirais onde o aprendiz subia devagar na escala
socioprofissional, muitas vezes tendo de abandonar o estaleiro de origem em
busca de uma empreitada autnoma, uma vez que com frequncia o mestre
era substitu do pelo prprio filho. Antnio dos Santos Pereira (2003)
46
, refere
que a r gida hierarquia corporativa impunha a vontade dos mestres sobre
oficiais e aprendizes, por vezes serviais e escravos.
Dias (1995) exemplifica a organizao laboral das grandes obras, com o
caso do Mosteiro da Batalha, onde o vedor e o juiz de obras estavam no topo
da pirmide (que se ocupavam dos foros e privilgios jur dicos), depois
poderia seguir-se o provedor das obras (que zelava pelos contedos
temticos decorativos), os escrives gerais de nomeao rgia (que se
ocupavam da contabilidade), o almoxarife (escrivo ou recebedor das sisas);
os homens de obra (os burocratas administrativos), o mestre geral (ocupava o
topo da pirmide relativa construo); os mestres de especialidade
(vidreiros, pintores, ladrilhadores, etc.); e na base os cabouqueiros
(pedreiros, aparelhadores, assentadores, etc.) os quais eram servidos por
outros mesteirais como padeiros, barbeiros, alfaiates, etc.
Da considerao social dos mesteirais dependiam benef cios legais e
econmicos, que por sua vez decorria do lugar de exerc cio do of cio, das
dimenses da oficina e habitao, da largueza, da clientela, da destreza ou
44
Na I dade Mdi a, es t es c ons t r ut or es de c at edr ai s e de pal c i os benef i c i ar am- s e,
por par t e das aut or i dades ec l es i s t i c as e s ec ul ar es , de numer os os pr i vi l gi os ,
ent r e el es t r i bunai s es pec i ai s , ext ens es e f r anqui as , de onde s ur gi u o nome de
f r anc s - ma ons ou f r anc ma ons ( l i t er al ment e: ma ons f r anqui ados ) , par a o qual
havi am s i do des i gnados . Rec or de- s e que em f r anc s , ma on s i gni f i c a pedr ei r o,
c ons t r ut or (J oan Costa, 2004, p. 36).
45
DI AS, P edro A vi agem das F ormas. Lisboa: Editorial Estampa, 1995.
46
P EREI RA, Antnio dos Santos. P ortugal, O I mpri o Urgente (1475- 1525): Os espaos, os Homens e
os produtos, Vol. I , Lisboa: I mprensa Nacional- Casa da Moeda, 2003.
52
talento individual e do material trabalhado (Pereira, 2003). No topo da
hierarquia encontravam-se os ourives e, aqueles que dirigiam o principal
equipamento produtivo do reino (armas, roupas, etc.), e era em funo do seu
estatuto social que cada corporao de mester ocupava um lugar de maior ou
menor destaque nas procisses do Cor pus Cr i st i
47
.
Sousa (1965, p.48), que se dedicou ao estudo das marcas de canteiro
inicialmente estava convicto de que estas tinham como objectivo a indicao
do trabalho para o pagamento da J orna - Como geralmente sabido,
foi Voillet-le-Duc o primeiro a indicar-nos a sua verdadeira
significao, critrio que Possidnio da Silva seguiu e
confirmou num trabalho publicado em 1868. At ento, era
opinio unnime seguida que esses misteriosos desenhos
gravados nas pedras carcomidas dos velhos edifcios da Meia-
Idade, eram um secreto meio de comunicao entre os
iniciados nas associaes manicas (Bauhutten) a que
pertenciam as multides de operrios empregadas nas grandes
construes. Opinio que mais tarde colocaria em causa, com base em
novas descobertas Na construo da referida igreja de Santa
Maria do Carmo, a que durante largos anos dediquei a minha
ateno, sabemos, porque no-lo conta frei Jos Pereira de
Santa Ana, na sua Crnica dos Carmelitas, que os operrios
trabalhavam por jorna. Mas entretanto so ali numerosssimas
as marcas a que me refiro, mesmo na cabeceira do templo, por
onde foi comeada a edificao, como refere o cronista
carmelitano e era prtica observada.
Logo no pode garantir-se que tais marcas denunciassem
trabalho feito por empreitada, opinio que em tempos
partilhei. A nica afirmao razovel que a marca era
utilizada, fosse para que fosse, antes da colocao
definitiva da pedra em que fora inscrita, dada a variedade
da sua posio (Sousa, 1965, p.101), embora quanto jorna poderia
haver na contabilizao individual, um processo de gesto da obra.
Diferentes autores parecem concordar que a marca de canteiro pertencia a
uma corporao ou a um mestre sob cuja responsabilidade trabalhava um
grupo de operrios ou trabalhadores pagos jorna ou pea, no
se percebendo muito bem quando se optava por um sistema ou
por outro (Pedro Dias, 1995, p.28). provvel que numa s construo
(de uma grande obra) trabalhasse mais do que uma companhia, cada uma
47
F esta institu da para toda a Cristandade por Urbano I V em 1264, para honrar publ icamente o
Sant ssi mo Sacramento da Eucari sti a, desconhecendo- se a data em concreto da sua entrada em
P ortugal.
53
com o seu mestre (sob a responsabilidade de um mestre geral da obra), que
por sua vez podiam ser pagos pea, podendo aqui residir a justificao da
quantidade de marcas presentes na igreja de Santa Maria do Carmo.
Otl Aicher e Martin Krampen (1979) referem que a corporao de
construo era uma forma de organizao laboral em que se agrupavam
aqueles que colaboravam nas edificaes sob as ordens de um mestre e de
um capataz. O mestre assumiria a direco art stica e tcnica da obra,
enquanto o capataz ficaria encarregue do abastecimento de matria-prima e
da mo-de-obra.
Segundo J oan Costa (2004), os mestres pedreiros escolhiam pedras das
suas obras onde esculpiam a sua marca (Figura 29) e no deixa de ser
curioso que embora ditos signos, como j referido, se encontrem em edif cios
eg pcios, gregos micnicos, persas e caldeus, seja contudo nos
edifcios romnicos que as marcas de canteiro nos aparecem
com mais frequncia, principalmente durante e depois do sc.
XII (Sousa, 1965, p.48-49). Possivelmente, as marcas primitivas na S de
Lisboa so disso exemplo (Figura 30).
Figura 29
Fonte: J oan Costa, 2004,p. 34
Figura 30
Fonte: SOUSA, J . M. Cordeiro de, 1965, p. 49
Com a extenso da indstria de construo medieval e o crescimento das
cidades, os obreiros uniram-se em corporaes ou irmandades radicadas em
localidades espec ficas (Estrasburgo, Colnia, Viena, Berna seriam das mais
importantes) e que segundo Frutiger (1981) a pertena a uma dessas
companhias estava patente no signo de canteiro, como refere o autor Franz
54
Rziha (1883)
48
que desenvolveu a teoria de que os pedreiros constru am as
suas marcas partindo de grelhas de ret cula quadrada (Figura 31),
triangulares e circulares, as quais fariam parte da St ei nmet z- Gr und, uma
suposta base geomtrica secreta (cedida pela corporao), a partir da qual os
pedreiros construiriam os seus edif cios. No seu estudo, Rziha (1883) analisa
9.000 marcas de canteiro, que eventualmente induzem em cerca de 24
grelhas base, e que cada corporao possu a uma, a qual era objecto de
grande secretismo e apenas confiada aos mestres. Porm Frutiger (1981)
alerta para o facto de que a utilizao de ditas grelhas estar confirmada
apenas no ps-renascimento (quando comeam a ser mais abstractas e
quando o estatuto do artista estava em mudana), referindo o seu improvvel
uso temporo.
Figura 31
Fonte: Marcas de Canteiro da Catedral de Viena, Mollerup, 1997, p. 34.
J oan Costa (2004) d um exemplo de uma chave matemtica na base do
desenho das marcas de canteiro (Figura 32), que se supe que fossem
utilizadas pelos bizantinos (476 a 1456). Sugerindo ainda que diversas
oficinas teriam um signo, que serviria de base construo das marcas
individuais.
Figura 32
48
Escreveu um li vro i ntitulado St udi en ber St ei nmet z- Zei chen (Estudo das marcas franco- manicas)
55
Fonte: Adaptado de J oan Costa, 2004, pp:37.
Segundo Otl Aicher e Martin Krampen (1979), os signos eram concedidos
aos canteiros pelas corporaes, para identificao da obra ou de parte desta
(Figura 33). A marca de canteiro seria responsabilidade da companhia, e
atravs dela seria poss vel analisar a sua origem colectiva.
de destacar a notvel relao entre os signos referidos por Otl Aicher e
Martin Krampen (1979) e aqueles exemplificados por Franz Rziha e J oan
Costa.
Figura 33
Fonte: Adaptado de AI CHER , Otl, KRAMP EN, Martin, 1979, p.35.
Quanto forma da marca de canteiro, Cordeiro de Sousa (1965) refere que
para evitar a demora, era esculpida a pouca profundidade e na face mais lisa
da pedra e que provavelmente, a rea a ficar oculta, no seria esculpida.
Para Sousa (1965, p.54) no poss vel contextualizar as marcas num per odo
de tempo, uma vez que Um artista medieval no representa,
evidentemente, uma figura humana como um seu antepassado das
pocas pr-histricas, por outro lado, h algumas que so adoptadas
ao longo de diferentes sculos, como exemplo a cruz sustica
49
(ver figura
34).
49
poss vel encontrar a cruz sustica na S de Lisboa, em Odi velas, no Carmo, entre outros l ocais.
56
Figura 34
Fonte: SOUSA, J . M. Cordeiro de, 1965, p.54.
Tendo em conta que na Idade Mdia o mestre marcava ou assinava a obra
e que era prtica que o seu cargo fosse ocupado pelo seu herdeiro e uma vez
que a construo poderia levar sculos poss vel supor que como a
empreitada, as marcas permaneceriam como herana familiar (Pereira, 2003).
Cordeiro de Sousa (1965) refere ainda que a representao da marca no
era rigorosa, talvez dependendo do tempo, pelo que a rapidez levaria a
variaes da mesma (figura 35).
Figura 35
Fonte: SOUSA, J . M. Cordeiro de, 1965, 53.
Caso a marca se utilizasse para assegurar o pagamento da jorna, poderia
ocorrer que um operrio no a conservasse para toda a vida, optando
casualmente por uma durante determinada obra, abandonando-a no final, a
exemplo do que ocorreu com no barco poveiro.
A marca seria em geral uma abreviatura de um nome ou alcunha (Figura
36), o que lhe conferia uma certa vulgaridade, dificultando a identificao,
como ocorre com a representao de objectos, que se repetem ou sofrem
ligeiras alteraes (Figura 37).
Figura 36
Fonte: Marca de Loureno Afonso e a que se cr ser do Mestre Gomes Martins. SOUSA, J .
M. Cordeiro de, 1965, p: 98.
Figura 37
57
Fonte: SOUSA, J . M. Cordeiro de, 1965, p.101.
Frutiger (1981) menciona que ainda que as primeiras marcas de canteiro
fossem figuras referentes a objectos e envolvente ou abreviaturas do nome,
com o tempo e medida que o seu uso se foi tornando mais frequente,
passaram a ser mais abstractas (embora encerrando a forma das pedras com
que se trabalhava).
Mollerup (1997, p.34) relata que os pedreiros alemes acreditavam
no desenvolvimento pessoal, que crescia do domnio da
tcnica, da construo e do estilo: da habilidade ao
conhecimento, criao. As trs disciplinas correspondiam
aos trs graus do desenvolvimento do pedreiro. .
A exemplo de historiadores, Mollerup (1997, p.34) aponta diversas razes
para o surgimento da marca dos pedreiros medievais talvez para se
imortalizarem, talvez para mostrarem orgulho pessoal, e
provavelmente para identificar o seu trabalho para serem
correctamente pagos, pedreiros do sc. XII e durante os seis
sculos seguintes, talhavam a sua marca pessoal em pedra.
Enquanto que muitas marcas de cermica na antiguidade tinham
algum contedo lingustico, as marcas dos pedreiros eram
geralmente no alfabticas. A razo principal para isto era
provavelmente a iliteracia medieval, talvez reforada pelo
requerimento de secretismo. Provavelmente por essa razo, algumas
marcas representem instrumentos ou conceitos de preciso (Figura 38).
Figura 38
Fonte: Adaptado de J oan Costa, 2004, p.36.
58
Frutiger (1981) acrescenta que os canteiros e os camponeses da Idade
Mdia eram analfabetos, razo pela qual a base temtica das suas marcas se
baseava no seu trabalho (ferramentas) e na religio (a cruz). Segundo o
autor, o sentimento de pertena seria tal que a marca era transmitida ao
longo de geraes, embora sofrendo alteraes em funo da personalizao
de cada indiv duo.
Durante a Idade Mdia e de forma quase paralela ao desenvolvimento dos
signos de canteiro, surgiram marcas de fam lia desenvolvidas por camponeses
e burgueses para diferenciarem os seus bens (Frutiger, 1981).
3. 1. 6- As mar cas de gado
O conceito de marca sempre esteve relacionado com a necessidade de
diferenciao. Ainda hoje, os ganadeiros marcam o seu gado, com um ferro
em brasa (Figura 39), para o distinguir de outras manadas. Da antiguidade de
tal prtica, poder atestar a opinio do brasileiro Virg lio Maia
50
(2004), que
se tem dedicado ao estudo desta temtica, referindo que tal costume provm
do Antigo Egipto, como consta em pinturas da poca (Figura 40).
Figura 39
Fonte: Ferro de marcar ou ferrete. J oan Costa, 2004, p.41.
Figura 40
50
MAI A, Vi rg li o, Rudes e Brases Ferro e F ogo das marcas avoengas, Ateli Editori al, 2004, Brasil.
59
Fonte: Virg lio Maia, 2004, p. 5.
J anteriormente Per Mollerup referia que a marcao de gado tem sido
feita h pelo menos 5000 anos, sendo que no Egipto, em pedras tumulares
datadas de 3000 a.C tm animais representados com marcas.
Tambm refere o autor, que no tmulo fara Khemuheted (tmulo n. 3), em
Beni Hassan 1900 a.C., h uma pintura de um homem que leva um boi por
uma corda, o qual tem uma marca com hierglifos com cerca de 30 cm
2
(Figura 41).
Figura 41
Fonte: Marca de Gado no Egipto, h 4.000 anos, P er Mollerup, 1997, p.27.
Segundo Maia (2004), versos e escritos de poetas gregos mostram como o
uso das marcas de ferro nos bovinos e cavalos passou do Egipto Grcia e
da a Roma.
Ter sido da Roma de Virgilius que as marcas de ferro seguiram para a
Pen nsula Ibrica, onde ainda permanecem actualmente (Portugal e Espanha)
ou por via dos fen cios que comercializavam com os eg pcios.
Do uso da marca de gado em Portugal (figura 42), testemunha o relato do
baro Leo de Rosmithal
51
(citado por Maia, 2004, p.10), em 1466, quando diz
51
Turista quatrocentista que escreveu um rel ato sobre a sua vi agem a Espanha e P ortugal.
19
F rancisco Al ves de Andrade e Castro Marcas de F erro a F ogo usadas no Cear.
60
que o gado no f i ca per t o das cas a poi s os s eus donos l he
col ocam um s i nal e o l ar gam nas s el vas e des er t os
Figura 42
Fonte: Marcas de gado portuguesas (da esquerda para a direita): Ganadaria de Victoriano
Froe, 1899, Setbal; antiga Ganadaria do Marqus d Rio Maior, actual Sociedade Agr cola da
P erescuma, S.a; Conde de Mura, antiga Ganadaria de Clemente Tassara, actualmente de
J orge Maria de Sousa, Ribatejo. Adaptado de Catlogo da Unin de Criadores de Toros de
L dia, temporada de 2004.
Segundo informaes institucionais, a Coudelaria de Alter do Cho a
mais antiga no mundo com funcionamento ininterrupto, teve assento primitivo
em 1748, especificamente vocacionada produo de cavalos de sela para a
Picaria Real, sendo criada por Ordem da J unta da Casa de Bragana de 9 de
Dezembro de 1948, emitida pelo Rei D. J oo V na qualidade de administrador
dos bens de seu filho o Pr ncipe Dom J os Duque de Bragana (Figura 43).
Figura 43.
Legenda: evoluo dos ferros da Coudelaria de Alter do Cho desde 1748
Eduardo de Noronha, no seu livro Histria das Toiradas
52
publicado em
1900, descreve um episdio em que, El Rei de Portugal faz uma visita a uma
das suas quintas, a fim de ver ferrar o gado (Figura 44).
Figura 44
52
Noronha, Eduardo de Histria das Toiradas. Lisboa: Seco Editori al da Companhi a Naci onal
Editora, 1900.
61
Fonte: Ferra dos bois, P ortugal em finais do sc. XI X. Eduardo de Noronha, 1900, p.373.
Quanto a Espanha, em 1499, foi implementada uma lei que obrigava todos
os ganadeiros a marcarem todo o gado com a sua marca
53
.
Foi tambm em Espanha que foi criada La Mesta
54
, que se assemelhava a
uma corporao de criadores cuj os r ebanhos pas t avam l i vr ement e
por t oda a Es panha, s ol t a, cons t i t ui ndo- s e numa es pci e de
r ei no f eudal mvel Virg lio Maia (2004, p. 10)
55
.
Ter sido depois com as viagens mar timas dos descobrimentos, que o
costume de marcar o gado se ter estendido a outros pontos do mundo De
l, da Espanha e de Portugal, o uso das marcas empreendeu
nova viagem, transatlntica desta vez, para este continente
que recebeu depois o nome de Amrica. Por aqui espraiou-se,
da Argentina Amrica do Norte se ferra gado, ns no meio,
mesmo porque o ncleo, o fundamento do Brasil ibrico
Desta forma, Virg lio Maia (2004, p. 10) faz a restante parte do recorrido das
marcas de gado, fazendo ainda aluses presena Portuguesa no Brasil ao
citar Ariano Saussuna
56
.
Evidenciando a passagem das marcas de gado da Pen nsula Ibrica para a
Amrica, est o caso da acta lavrada na capitania de So Vicente
aos 27 de Maio de 1576 d conta de que ali j se cuidava,
naquele tempo, do registo das marcas de gado. L se
54
Em 1273, t odos os c r i ador es de gado e pas t or es c ons t i t u am uma s j unt a,
c ons el ho ou i r mandade, denomi nada mai s t ar de Honr ado Cons el ho da mes t a ao qual
Af ons o X c onc edeu, nes s a dat a, i mpor t ant es pr i vi l gi os . CORTAZAR, J . A. Garci a de,
Hi stri a de Espaa Al faguara I I : La poca medi eval , Al i anza Edi tori al .
55
Vi rg li o Maia (2004, p. 10), que cita Luciano Raposo, no seu texto anal tico Marcas de Escravos,
1989.
56
A pedra do Rei no. 1974
62
encontra, de entre outras, a marca do famoso Brs Cubas
57
,
fundador de Santos, naquela cidade litornea paulista Virg lio
Maia (2004, p. 11)
58
.
O uso das marcas de gado no Brasil ter proliferado, passando dos colonos
para algumas tribus, como so exemplo os ndios cavaleiros Guaicurus (figura
45).
Figura 45
Fonte: na coxa do cavalo encontra-se uma marca e contra-marca. Virg lio Maia, p: 3.
talvez mais meditica a marca de gado no Oeste americano, embora esta
prtica tenha ocorrido largos anos depois da utilizao do ferro Ibrico
(Figura 46).
Figura 46
57
Em 1576, Br s Cubas j t i nha o seu f er r o r egi st ado em Por t ugal , onde j se pr at i cava havi a scul os.
58
MAI A, Vi rg li o, Rudes e Brases Ferro e F ogo das marcas avoengas, Ateli Editori al, 2004, Brasil.
63
Fonte: Detalhe do quadro J erked Down, do norte-americano Charles M. Russel, datado de
1908. na anca de um dos cavalos e na coxa de outro, encontram-se as marcas. Virg lio Maia,
p: 17
So vrias as opinies acerca da forma como o costume de marcar gado
alcanou o territrio dos actuais Estados Unidos. A propsito Virg lio Maia
(2004) desconhece se foi levado pelos ingleses ou pelos espanhis que
colonizaram o que hoje quase todo o Oeste americano Apontando a
segunda hiptese, a dos espanhis, como a mais plaus vel, uma vez que a
rea norte-americana que se estende da actual fronteira mexicana at quase
a do Canad, foi tomada do Mxico (que se tinha tornado independente da
Espanha havia pouco mais de uma dcada), bala, em meados do sculo XIX
e onde o uso da marca de gado era frequente (ver figura 47).
Pelos Estados Unidos ter ficado a topon mia de l ngua espanhola, que
lembram os antigos donos da terra, Montana, El Paso, San Diego, Califrnia,
entre outros, e palavras como por exemplo l ar i at ou um lao de amarrar que
vem do espanhol de l a r eat a (em portugus arreata).
O Vice-Rei mexicano Martins Henriquez
59
, que ter decretado umas
ordenanas que possibilitavam apenas aos Homens livres a ferra do gado, ou
talvez de terem propriedade.
Figura 47
59
ni nguno que si r ve t enga hi er r o ao que acrescentou, que ni nguno que haya ser vi do quat r o aos
pueda her r ar ganado or ej ano.
64
Fonte: Marcas Mexicanas. J uan Manuel Rosas, David Canabarro, Bento Gonalves.
Virg lio Maia, p: 14
A venda de gado no se limitava s periferias dos locais onde se criavam,
sendo o seu transporte, por longas distncias, uma prtica frequente.
esclarecedora a existncia e legislao que obriga a que nesses casos
existam passes contendo o nmero de cabeas e respectivas marcas. Talvez
evitando as falsificaes ou roubos So tambm esses passes que
evidenciam a ampla utilizao geogrfica da marca de gado (Figura 48)
basta exibir estes dois passes, um do Rio Grande do Sul, to
a sul, e outro do Estado norte-americano de Montana, to a
norte, e dizer que este tipo de documento teve existncia
tambm no Nordeste brasileiro, se constituindo s vezes em
exigncia legar, qual, por exemplo, a contida no artigo 4 da
lei provincial cearense n69, de 12 de Setembro de 1837,
(Virg lio Maia, 2004, p. 16).
60
Figura 48
Fonte: esquerda, passe de gado do Montana, EUA, 1886. direita passe do Rio Grande
do Sul, datado de 2 de Fevereiro de 1905. Virg lio Maia, 2004, p.18.
A utilizao das marcas de gado ganhou um significado de utilidade e de
pertena para os ganadeiros. So prova as suas inmeras aplicaes,
presentes nos mais variados objectos quotidianos, herdades (figura 49),
porcelanas, estandartes e bandeiras (figura 50), cartazes (figura 51), moedas
60
Segundo Virg l i o Maia (2004, p. 16) a Cmara Munici pal de I c, estabel eceu que todos os
marchantes que trouxeram gado de fora para vender, devero trazer bilhetes
declarando neles o nmero de cabeas compradas, seu ferro e qualidades .
65
(figura 58), azulejo e mais recentemente no Brasil, nas mais diversas formas
de arte (esculturas, quadros, etc.).
Figura 49
Font e: Na par ede, a mar ca do mest r e Oswal do. Virg lio Maia, 2004 p.204.
Figura 50
Font e: t r s bandei r as de or i gem mongl i ca, com mar cas de f er r o est ampadas, com as
quai s os mongi s mar cavam os caval os. Em ci ma, a bandei r a de Sar ay, capi t al da Hor da de
Our o, t empo de Monj ke Ti mur ( 1267) a Ozbegkhan ( 1313- 1341) ; Ao cent r o bandei r a dos
Tr t ar os da Cr i mi a, adopt ada em 28 de Junho de 1991. Virg lio Maia, 2004, p.222.
Refere Mollerup (1997) que no sc. XVI, os holandeses, que emigraram
para a ilha dinamarquesa Amager, usavam a mesma marca para identificar o
gado e os seus pertences, das quais algumas ainda estavam em uso no in cio
do sc. XX, como so exemplo os presuntos enviados para o fumeiro.
No claro se a marca pertencia inicialmente quinta ou queles que l
viviam: algumas fam lias compravam uma quinta e uma marca, enquanto que
outras levavam a sua marca ao deixar a herdade.
Ao que parece, a marca de ferro tambm seria herdada pelos descendentes
ganadeiros, constituindo um encadeamento semelhante ao da herldica, como
referido por Mollerup (1997, p.27) As regras de marcao so em
alguns aspectos paralelas s da herldica. Um bom exemplo
o sistema para mostrar a herana familiar da marca.
Figura 51
66
Font e: Fer r os l usi t anos. Tal vez os f er r os sej am gr andes ou os bezer r os f er r ados com
semanas apenas. Virg lio Maia, 2004 p. 216.
No se dever ficar com a noo de que a marca de gado apenas se
destinava ao gado bovino, o que seria muito limitador.
Embora talvez pela punio social de tais factos, a bibliografia seja
escassa, h registos que indicam a marcao a ferro quente de escravos,
quando estes eram comercializados como gado.
Tambm no Brasil, a marcao se estende mais do que aos cavalos e
bovinos, quando a aquisio de Dromedrios passa a acontecer no Nordeste
(Figura 35). Como testemunha o Dr. Frederico Leopoldo Cezar Burlamaqui, da
sociedade auxiliadora da indstria Nacional (citado por Virg lio Maia, 2004),
quando em 1837 escreve no seu trabalho sobre a Aclimao do Dromedrio
nos sertes do Norte do Brasil na primavera do anno seguinte o
tosqueio outra vez, e desde ento comea a sua educao,
principiando por marc-lo, o que os rabes fazem a todos os
seus Dromedrios, com um ferro em braza. Cada tribu, cada
famlia tem a sua marca particular, que geralmente
aplicada sobre a espdua esquerda.
Figura 52
Fonte: Dois arados que se cruzam. O dromedrio tem uma marca, em forma de elipse, na
coxa. Virg lio Maia, 2004, p.213.
Nos Estados Unidos, tambm marcavam o gado nas orelhas (Ear marks -
marcas de orelha) e com tatuagens. Muito do gado marcado com ferro em
brasa, tambm est marcado na orelha. A dupla marcao um meio de
67
segurana. A marcao na orelha mais facilmente identificvel tanto no
Inverno, quando as marcas de ferro esto cobertas pelo plo dos animais,
como no Vero quando esto cobertas pelo p (Figura 53).
Figura 53
Fonte: P er Mollerup, 1997, p.20.
3. 1. 7- A mar ca na moeda
A inveno da moeda encontrar-se- intimamente ligada s necessidades
comerciais que, por sua vez, tero contribu do para o surgimento da marca
comercial.
Antes da moeda, os intercmbios seriam feitos com base na troca directa
de bens, muitas vezes gado, que nem sempre possibilitaria uma troca justa e
prtica, pois obrigava a maior disponibilidade, capacidade de armazenamento,
transporte e que trazia maiores riscos de perda.
No terceiro milnio antes de Cristo, o ouro servia de
moeda no Egipto, e a prata que competia com a cevada na
troca -na Mesopotmia (J oan Costa, 2004, p.39) e ter sido em finais do
segundo milnio antes de Cristo, que a moeda regulamentar fez a sua
apario nos extremos da sia (na China e em Anatlia).
Com base em outros estudos, refere J oan Costa (2004, p.39) que durante
uma incurso dos hititas na Babilnia, cerca de 1530 a.C.,
estes descobriram o uso das moedas de conta mesopotmicas, e
que de vol t a a Anat l i a t er o expl or ado os mi nr i os e comeado a pagar as
suas cont as em met al .
Os hititas marcariam lingotes variveis com o peso e t tulo para facilitar as
transaces, embora se creia que no dominavam a estandardizao do
processo. Tero sido os seus vizinhos l dios a conseguir cunhar peas
iguais umas s outras. Estudiosos, consideram o Rei Giges da L dia, como o
inventor da moeda ocidental (segundo J oan Costa, entre 687 e 650 a.C.)
68
Antnio Coelho (1972, p.23)
61
aponta uma data diferente, explicando que os
Ldios ou Gregos jnios fizeram a primeira cunhagem
Electron
62
; cerca de 700 c. C, contendo a marca do moedeiro (Figura
54).
Figura 54
Fonte: Da esquerda para a direita: 1 Moeda L dia Electron; 2 Moeda de um leo em frente
de um touro, sem inscrio; 3 moeda de prata com caracteres araicos gregos onde est
escrito Eu sou a moedalha de Fanes. Quem era Fanes no se sabe.COELHO, Antnio
Domingos Simes, NVMRI A da Lusitnia, Lisboa, 1972, P ag. 23
No per odo de 545 a 494 a. C, ter sido o per odo em que se fabricaram
mais moedas pelo processo de puno, com a Marca do moedeiro inclusa no
reverso conforme na figura 55 (Antnio Coelho, 1972).
Figura 55
Fonte: Da esquerda para a direita: 1 Moeda com a figura de um javali voador e no verso a
marca do moedeiro, cerca de 545 e 494 a. C; 2 Moeda de gina (Golfo de Saronicona
sudeste de Atenas) com a figura de uma tartaruga e no verso a marca do moedeiro, cerca de
600 e 580 a. C; 3 - (Em baixo) Moeda da Macednia, com a figura de ninfas e stiros em
cenas amorosas e no verso a marca do moedeiro, cerca de 594 e 560 a. C;
COELHO, Antnio Domingos Simes, NVMRI A da Lusitnia, Lisboa, 1972, P ag. 24.
Antnio Coelho (1972, p.24) refere que em 480 a. C, os Gregos
fabricavam moedas de grande valor artstico, quando ter surgido
a clebre moeda do mocho de Atenas t et r adr acma ( f i gura 56).
61
COELHO, Antnio Domi ngos Si mes NVMRI A da Lusitnia, Lisboa: Edio compartici pada e
revi sta pel o Dr. Leonel Ri beiro, 1972.
62
Uma mistura de ouro e prata, que no era uma li ga perfei ta e cuj o peso era i rregular.
69
Figura 56
Fonte: Antnio Coelho, 1972, p. 24.
Sobre a forma como a moeda se ter difundido pelo mundo, encontrar-se-
sintetizada e expl cita nas palavras de Antnio Coelho (1972, p.30) Na
moedagem, os Romanos imitariam os Gregos e o mundo tem
imitado os Romanos.
A moeda ter alterado e facilitado a comercializao entre regies
distanciadas e por sua vez alterado a funo da marca. Para J oan Costa
(2004, p.40), desde a Grcia e Prsia, as moedas metlicas
dispersar-se-iam, com o auge do comrcio, pela Mesopotmia,
Egipto e especialmente por todo o Mediterrneocom o
nascimento da moeda, a actividade comercial v-se
consolidada e, no sculo VIII a.C, internacionalizam-se as
transaces, o intercmbio de produtos por dinheiro.
Em relao cunhagem da moeda, no seria por acaso que os motivos de
algumas das primeiras moedas fossem com frequncia gado bovino, caprino e
cavalar, uma vez que esses seriam alguns dos bens mais valiosos utilizados
na troca comercial
63
(Figura 57), da a importncia de os marcar para evitar
roubos ou extravios (Maia, 2004, p.6).
Figura 57
Fonte: duas moedas gregas, uma celta, e a ltima de Cartago. Virg lio Maia, p. 6 e 7.
Com o surgimento da moeda, a cunhagem das pr i mei ras moedas, prest ou
homenagem aos ani mai s, t al vez como met f or a do seu val or . Como explica
Cleber Gonalves (casa da Moeda do Brasil e citado por Maia, 2004, p.6),
quando refere que o gado substituiu diversos objectos que
funcionavam como moedas, pela vantagem de ser grandemente
63
Como exempl o o boi, uma vez que fornece carne, leite, pele, fora motriz, ossos e estrume
70
aceito e de aumentar com a reproduo. Tratando-se,
entretanto, de mercadoria muito volumosa, difcil de
transportar e perecvel, surgiu a ideia de se representar o
boi por pequenina pea, gravando-se nela a figura do animal.
Opinio tambm defendida por Virg lio Maia (2004), que se socorre da
etimologia para melhor esclarecimento, quando d o exemplo das palavras
peculador, peculatrio, peculato, peculiar, peclio, pecnio e pecunioso,
todas elas derivadas de pecus, que significa gado ou rebanho, que foi em
tempos a base das fortunas. Ainda na l ngua espanhola, a palavra ganado
(que difere do portugus gado apenas por um n), significa gado e ganho
em simultneo.
Por ltimo, existem casos em que a marca de gado est cunhada na
moeda, porventura em sistemas monetrios regionais fechados (Figura 58).
Figura 58
Fonte: Moeda de estncia, da regio do Uruguai, em Cobre, sem data e sem reverso.
Cerca de 1920. Virg lio Maia, p: 229.
3. 1. 8- Mar cas na cer mi ca Os cdi gos de i dent i dade das
nf or as e das t gul as
Mollerup (1997, p.16) diz que os pr i mei r os ar t f i ces , em mui t os
negci os , demons t r avam or gul ho e r es pons abi l i dade ao mar car
os s eus pr odut os . Esta tradio que ter sido continuada, nas primeiras
indstrias das artes e of cios.
Contrariamente a outros materiais orgnicos (como a pele e a madeira), a
cermica conserva-se com maior resistncia deteriorao, pelo que constitui
um excelente meio de estudo para arquelogos e historiadores.
Para o presente estudo, ser importante fazer uma abordagem acerca do
estudo das nf or as e das t gul as, uma vez que com frequncia nesses
objectos so encontradas marcas de oleiros.
71
O nome nfora deriva do grego amphi phor ens ou aphor ens, que segundo
J oan Costa (2004), se encontra escrito nas tabletas de argila do per odo
micnico.
As nforas eram contentores que serviriam para transportar (adaptando-se
a forma ao produto), em boas condies, um volume considervel de
alimentos perec veis, desde os seus lugares de origem at aos armazns e
contentores pblicos ou privados (grandes silos, tinalhas, etc). As mais
abundantes so as destinadas ao transporte de vinho (calcula-se que por
encomenda de Roma, no sc. I d. C), embora tambm fosse muito habitual a
exportao de azeite, fundamental na alimentao romana.
Segundo J oan Cosa, num tmulo eg pcio do sc. XIV a. C encontra-se um
baixo-relevo onde se representam armazenistas do fara, realizando o
transporte de nforas sem asas, dentro de uma rede. Enquanto que algumas
das nforas do mundo grego antigo, transportadas mo, teriam o extremo
inferior mais estreito e em forma cnica, para permitir que estas se pudessem
auto-sustentar, quando afixadas sobre areia.
Em alguns dos centros de fabrico, os produtos regionais ditavam o tipo de
nfora a produzir. este o caso de uma srie de vilas agr colas das comarcas
de Camp de Tarragona, do Peneds e da Ribera d'Ebre, onde se
documentaram arqueologicamente restos de fornos que produziam sobretudo
nforas vin colas, que imitavam tipologias italianas. Por outro lado,
importavam-se nforas de diferentes lugares produtores, do sul da Pen nsula
Ibrica, do Norte de frica e do Mediterrneo Oriental (inicialmente, tambm
de Itlia), contendo grandes quantidades de vinho, azeite, conservas,
salmoura, frutas, etc.
Os diversos achados arqueolgicos tero possibilitado a classificao das
nforas, segundo a sua forma, relacionando-a com o produto transportado ou
centro produtor de origem (figura 59). Analisando a forma, as propores do
gargalo, as asas, a base a cor do barro. Por exemplo, achados em Atenas,
possibilitaram datar e seguir a evoluo de grupos de nforas de diferentes
classes. Destaca-se uma srie de nforas procedentes de Uios, cuja forma foi
mudando atravs dos tempos, a qual ter sido fielmente registada nas
moedas desse estado.
Figura 59
72
Fonte: adaptado, de J oan Costa, 2004, p.45.
As nforas tinham um cdigo de identidade que comeava na sua prpria
forma, pela sua cor e pelas asas, que variavam conforme o contedo a que se
destinavam e pela simbologia atribu da, que era cunhada nas asas antes de
as cozer. Continham simbologia do seu lugar de origem ou mesmo do seu
proprietrio (ver figura 60). Por si mesmas as nforas, declaravam
a sua origem, fosse pela sua forma caracterstica, pela sua
cor, pela forma das asas ou, sobre tudo, de forma mais
intencional e explcita, pelas marcas fsicas que se
cunhavam nas asas, antes de as cozer ( Joan Cost a, 2004, p. 48) .
Figura 60
Fonte: adaptado, de J oan Costa, La imagen de marca, p: 49.
Refere tambm o mesmo autor (J oan Costa, 2004) que as nforas
encontradas em Espanha, em Toscana ou Guadalhorce, em Mlaga e Huelva,
so ticas ou SOS
64
, pela figura que apresentam.
Os autores Otl Aicher e Martin Krampen (1979) referem que os oleiros
mesopotmios dos sculos V e VI a. C. marcavam as suas peas atravs de
incises rectas de idntica longitude, na argila branda. Com a combinao de
tais incises, formar-se-ia uma variedade de poss veis marcas, cujo objectivo
seria identificar o proprietrio (ver figura 61).
Figura 61
64
As nforas encontram- se classificadas por classes, dependendo da sua forma, do materi al, da cor e
principal mente das asas.
73
Fonte: AI CHER , Otl e Martin Krampen, Sistemas de signos en la comunicacin visual,
Editorial Gustavo P ili, Barcelona, 1979, p:34.
Quanto a Portugal, de referir sobretudo Tria (Setbal), Coni mbr i ga e o
Algarve, por se encontrarem ai estaes arqueolgicas de referncia com
destaque para o per odo romano, que para A.M. Dias Diogo e A. Cavaleiro
Paixo (2001)
65
o per odo mais paradigmtico ao n vel da diversidade e
quantidade de nforas.
Tria encontrava-se localizada numa zona arenosa. Sem recursos
agr colas, ou outros como a madeira, a pedra e o barro, que lhe dessem auto-
suficincia, baseava a sua actividade na pesca intensiva e na salga.
Uma estrutura algo frgil, que levaria sua decadncia e ao abandono
depois da ruptura dos circuitos comerciais.
No que diz respeito nforas, em Tria, encontraram-se 471 fragmentos
que conservam vest gios do bordo (apenas esses foram contabilizados), dos
quais 85,8% so de origem Lusitnia; 7,2% de frica Bizacena, 6,6% Btica;
com 0,2% cada, Glia Narbonense e Mediterrneo Oriental.
Foram encontradas 12 asas de nforas marcadas, das quais trs pertencem
ao tipo Dressel 20 F (nfora vinria de asas muito estreitas, longas,
ligeiramente arqueadas, bilobadas e de ombros alados), e as restantes nove,
ao tipo Lusitnia 5b (tambm nforas vinrias, com asa ovalada, pasta bege
rosada, dura e fina), cujas marcas pertencem a trs Oleiros, j conhecidos de
outros s tios arqueolgicos: L.E.V.GEN(ialis); ANN.GENIA(L)IS; e PHARALI.
Segundo Diogo e Paixo (2001), as nforas Lusitanas L.3, mais
representadas nos achados, parecem ter-se iniciado nos finais do sc. I,
in cio do sc. II.
Figura 62
65
DI OGO, A. M. Di as; P AI XO, A. Caval ei ro - nforas de escavaes no povoado i ndustri al romano de
Tria, Setbal. Revista portuguesa de arqueologi a. Vol4, n. 1, 2001.
74
Fonte: Fragmentos de asas contendo marcas, a primeira tipo Dressel 20 F e a segunda
tipo L.5b. Diogo e P aixo, 2001, p.139.
Figura 63
Fonte: A primeira tipo Dressel 28, a segunda Dressel 20 F (Diogo e P aixo, 2001, 134).
A terceira, fragmento de nfora lusitana tipo L.5b (Diogo, Cardoso e Reiner, 2000, p.110).
Como foi poss vel observar, as nforas tiveram grande importncia nas
transaces comerciais, pelo que chegam mesmo a figurar nas moedas (como
exemplo Ui os). Alguns achados arqueolgicos de nforas, demonstram
correntes comerciais entre Roma, Egipto e Grcia, com outras regies do
norte da Europa e do Oriente prximo.
A partir do sc. II, o transporte de vinho ter comeado a ser feito em
barris, por serem mais prticos (mais leves e resistentes), embora as nforas
continuassem a ser utilizadas para outros produtos.
Maria Pereira
66
(1974, p.245)
67
, refere como os materiais romanos do
Algarve em que esto inscritos nomes de fabricantes so
materiais de construo, tgulas e nforas.
Segundo Maria Pereira (1974,), as investigaes mais aprofundadas,
surgiram na Alemanha no sc. XIX, incidindo sobre as tgulas legionrias,
que no sc. XX, tero continuidade com o trabalho de Keune (acerca das
tgulas da XXII legio romana).
Alfons Kolling (citado por Maria Pereira, 2004, p.245)
68
define fabricos
privados e oficiais (a tgula legionria tem dimenses maiores que a civil),
indica marcas de oleiro, tipos de carimbo, nomes e lugares e as linhas de
difuso comercial encontradas junto aos rios Mosel e Reno.
67
Maria Lu sa Vei ga Si l va P erei ra, Marcas de Oleiros Al garvi os do per odo romano, O arqul ogo
portugus, sri e I I I , Vol . VI I /I X, 1974/1977.
68
Zur Verbrei tung Gestempel ter Romi cher Ziegel und der Saar. Archeol ogi sches Korrespondenz bl att,
4, 1974, p. 81- 87.
75
O francs J ean Chauffin (citado por Maria Pereira, 2004, p.245)
69
realizou
um estudo morfolgico sobre uma infinidade de telhas do Bas-Dauphin
atendendo a caracter sticas formais e materiais, que conclui por exemplo que
quanto maior o rebordo, mais antiga a tgula.
Em Portugal, Maria Pereira (1974) refere que o primeiro estudo foi
realizado por Manuel Maia
70
, na Beira Alta, no concelho de Figueira de
Castelo Rodrigo.
Tambm Pedro Salvado
71
realiza um estudo na estao arqueolgica do
chamado Tr i ngul o Sr de Mr cul es, Sant ana e S. Mar t i nho, no concelho
de Castelo Branco. Com base em cinco marcas, das quais quatro so
propriedade do Museu Regional, que j haviam constitu do interesse de
Tavares Proena J nior.
Todos os estudos nacionais apontam para a falta de investigao
aprofundada sobre as t gul as, os seus circuitos comerciais e as zonas de
produo.
Nos vasos gregos
72
, encontram-se marcas nem sempre fceis de distinguir
uma vez que podem ser de mercadores, de oleiros, o nome da pea ou at
preos (Mollerup, 1997).
Os elementos de construo romana, tais como telhas e tijolos, por vezes,
tm marcas embutidas atravs de cunhos (ver figura 64), normalmente de
bronze ou carvalho. Segundo Mollerup (1997, p.32) estas podem indicar o
empreiteiro, o fabricante, a origem do barro, ou o nome do
cnsul, imperador ou membro da famlia imperial ( Fi gur a 65).
Figura 64
Fonte: Carimbo de bronze romano, do sc. I d.C. (Mollerup, 1997, p.32).
Figura 65
69
Les tui l les Gal l o- Romaines du Bas- Duphi n, Gall ia, tome XI V, P aris, 1956, p. 81- 82.
70
Manuel Mari a da F onseca Andrade Mai a, Subs dios para o estudo da Carta Arqueolgi ca do
Concel ho de F iguei ra de Castel o Rodrigo, dissertao de licenciatura. Lisboa, 1971, I Vol . , pp. 185- 188.
71
SALVADO, P edro, Marcas de ol ei ro em tgul as romanas da estao arqueolgica do Trngul o Sr
de Mrcul es, santana e S. Martinho, Museu de Tavares P roena J nior, Castelo Branco.
72 Os vasos gregos tinham uma marca feita de caneta ou pincel, chamadas dipinti ou marcas incisivas, chamadas graffiti.
76
Fonte: Marca de telha cermica (Mollerup, 1997, p.32).
Marcas incisivas so encontradas nas lamparinas (ou f i r mal ampen)
romanas, feitas primariamente no norte de Itlia, mas tambm na Itlia
central, nos trs primeiros sculos depois de Cristo. Mollerup (1997, p.32)
expe que Desde o sc. XVI, objectos de cermica, incluindo
os de majolica
73
, faiana, pedra e porcelana, tm sido
marcados com letras, figuras e sinais pictricos. Algumas
marcas estabelecem claramente a marca do artfice e o ano de
manufactura ( Fi gura 66) .
Figura 66
Fonte: Lamparinas romanas do sc. I I d.C. (Mollerup, 1997, p.32).
Como refere Mollerup (1997, p.33), algumas marcas cermicas, incluem
elementos tipicamente herldicos, como coroas e cercaduras.
Outras marcas mostram brases; a marca de porcelana de
Florena, mostra as seis bezantes da famlia Medici, e a
porcelana Meissen identifica as espadas cruzadas do Duque da
Saxnia (ver figura 67).
Figura 67
73 Loua fina de Itlia
77
Fonte: Marcas de porcelana italiana (Mollerup, 1997, p.33).
As marcas de cermica tm sido imitadas e usadas por outros fabricantes,
como exemplo as espadas cruzadas de Meissen que foram utilizadas por
fbricas inglesas (ver figura 68).
Conforme consta dos Painis do Museu Vista Alegre, Em 1824, Jos
Ferreira Pinto Basto apresenta uma petio ao rei de
Portugal para erigir para estabelecimento de todos os seus
filhos, huma fbrica de Loua, porcelana, vidraria, e
processos chimicos na sua Quinta chamada Vista-Alegre da
Ermida, ao que D. J oo VI acede favoravelmente
74
(Figura 69).
Figura 68
74
Al var Rgi o de 1 de J unho de 1824.
78
Fonte: Marcas francesas de porcelana com motivos herldicos e imitaes das primeiras
(Mollerup, 1997, p.33).
Figura 69
Fonte: Algumas das marcas Vista-Alegre, que se foram alterando muitas vezes at
conforme o desejo dos directores em verem nela um trao pessoal ou para assinalar uma
comemorao. A primeira de 1824 e a ltima a actual (de 2004, comemorao dos 180 anos).
I magens adaptadas, e cedidas pela Vista Alegre.
J ohn Murphy e Michael Rowe (1989)
75
referem que nos sculos XVII e XVIII,
quando comeou a fabricao de porcelana numa escala considervel, os
mveis e as tapearias na Frana e na Blgica, as marcas eram utilizadas
como garantia de origem, enquanto os Estados ditavam regras mais
inflex veis para o mercado da prata e do ouro.
75
MURP HY , J ohn; ROWE Mi chael - Como disear marcas y l ogotipos. Mxi co: Edici ones Gustavo P i li ,
1989. Manual es de diseo.
79
3.2- O segundo nasci ment o da mar ca A mar ca
obr i gat r i a e a mi l i t ar
3. 2. 1- O si st ema cor por at i vo medi eval
Enquanto na Antiguidade o intercmbio comercial tinha por base os
produtos da cultura agrria, da pecuria e da pesca, na Idade Mdia, a
actividade econmica centrou-se no artesanato, nos of cios e nas indstrias
manufactureiras. Transitou-se de uma aristocracia militar para uma fidalguia
rural ou agr cola.
Como refere Armando Castro (1980)
76
, toda a sociedade assenta a sua
existncia e personalidade, nas regras que regem o comportamento dos
indiv duos, organizaes e grupos. Estas regras referem-se actividade
produtiva de materiais destinados ao consumo humano, s condies da sua
distribuio e ao estatuto social que conferem, mas tambm sua correlao
com o sistema pol tico, econmico, jur dico, filosfico e art stico, onde o
direito de propriedade ser importante.
A. H. de Oliveira Marques (1997)
77
, menciona que a sociedade feudal ou
medieval era um sistema ou organizao baseado na atribuio de terras em
troca de servios (normalmente rendas, proteco militar e divina, e outras
formas de rendimento como agricultura e criao de gado) em que o rei fazia
doaes aos nobres do reino que em troca prometiam a defesa do reino e a
glria de Deus com as suas tropas. Na base desta organizao social
encontravam-se os servos, que trabalhavam as terras com base num
aforamento, arrendamento ou na esperana de alcanarem um t tulo de
propriedade. No campo, o servo mais do que um terreno alcanava um
estatuto prximo ao do escravo (pois trabalhava a terra do senhor, pagando-
lhe com parte da produo e muitas vezes ficariam endividados) e era na
cidade onde tinha alguma liberdade e maiores possibilidades.
Os art fices, os criados de casa e os camponeses eram teoricamente livres
embora estivessem presos por contratos ou salrios baixos dos quais
dependiam. Porm a escravatura nunca desapareceu durante a Idade Mdia
(Marques, 1997).
Aquele que adquiria terra e dinheiro para um cavalo e indumentria militar
passava a cavaleiro-vilo, enquanto os restantes eram remetidos para o
militar peo (Marques, 1997).
Outro dado importante, que a industrializao artesanal ter provocado
uma extenso do direito de propriedade sobre os bens materiais de uso
76
CASTRO, Armando Histria Econmica de P ortugal , 1 Vol, 2 Ed. , Lisboa: Editori al Cami nho, 1980
77
MARQUES, A. H. de Ol i vei ra Histria de P ortugal: Das Origens ao Renasci mento, Vol . I , Li sboa:
Editori al P resena, 1997.
80
quotidiano ou produtivos, aproximando-se do que viria a ser o capitalismo
(J oan Costa, 2004, p.58). Mas refere ainda o autor, que A sociedade
medieval ficou assente sobre a propriedade individual, mas
compensou a extenso do seu campo, com a restrio da
liberdade dos contratos, que seriam controlados pelo aparato
estatal, deixando de obedecer a um capitalismo puro, para satisfazer as
exigncias e objectivos das corporaes mesteirais europeias.
no sculo XI, que surge a sociedade mercantil, cujas corporaes
(grmios, guilda e oficinas medievais), marcam a passagem de um sistema
feudo-rural, para uma actividade artesanal policiada (pelo juiz de of cio). Uma
vez que na Idade Mdia, o sistema econmico estava sujeito a um rigoroso
controlo que exigia a marca col ect i va em todos os objectos manipulados,
que a princ pio, condicionava a concorrncia (garantindo o monoplio das
vendas) A marca comeou a ser garantia de origem, de produo,
autenticidade e qualidade (J oan Costa, 2004).
Refere Chaves e Belluccia (2003, p.19)
78
que um mecanismo clssico de
identificao comercial, foi e a adopo de um cone prprio da actividade
em geral, como seu distintivo, exemplificando, a chave para o serralheiro, o
jarro de cerveja para o bar, a roda dentada para a indstria mecnica, etc.
(ver figura 70 e 71), ao que acrescenta Este sistema foi utilizado
durante a Idade Mdia, para identificar a loja dos
artesos e comerciantes com um carcter de puro sinal,
tpico de um mercado baseado na procura e em grande parte
analfabeto. E sobrevive hoje, em plena actividade, nos
pictogramas dos sistemas de sinalizao.
Figura 70
Legenda: P laca de talho em P ompeia, h 2000 anos (Room, 1992: p.13)
78
CHAVEs, Norberto; BELLUCCI A Ral - La marca Corporati va: Gesti n y diseo de s mbolos y
l ogotipos. Buenos Ai res: P aids, 2003.
81
Figura 71
Fonte: Antnio dos Santos P ereira, p: 200 e 201. 1- P edreiro J oo do Tojal, Tomar em
1498; 2- Tecelo Brs Fernandes, Tomar em 1517; 3- Ferrador Gonalo Rodrigues, Setbal
1510; 4- Barbeiro Anto Fernandes, rendeiro dos moinhos e azenhas do convento de Tomar
e, 1522.
Escreve Marques (1997, p.160)
79
que o sistema corporativo no surgiu em
Portugal antes de finais da Idade Mdia devido forte interferncia e controle
do rei e dos concelhos, bem como dos camponeses e pequenos proprietrios,
obrigando os art fices a criarem associaes r udi ment ar es como confrarias
religiosas e os arruamentos por profisso, mas que s sc. XIV ter surgido
em Lisboa o primeiro esboo de uma corporao at que na dcada de
Quatrocentos se criaram efectivamente.
Segundo Arnold Hauser (1955)
80
, os pedreiros, artistas e art fices dos
sculos XII e XIII estavam organizados cooperativamente em Lodges sob a
direco art stica e administrativa de pessoas aprovadas ou escolhidas por
quem encomendava a obra. A funo de administrador (magi st er operi s,
mestre de obra) era o de fornecer materiais e trabalho, o mestre pedreiro
(magi st er l api dum) tinha a responsabilidade art stica e podia acumular a
distribuio das tarefas e a coordenao de trabalho. Equipas de trabalho
com elementos mais ou menos constantes, embora fossem criadas em funo
das dimenso da obra e que dependendo do trabalho estavam em constante
mobilidade.
Refere Hauser (1955), que medida que o trabalho assim o justificava,
primeiro os artistas e art fices e nos finais do sc. XV os pedreiros iam-se
fixando e criando gui l das
81
, protegendo-se dessa forma da concorrncia vinda
de fora. No sc. XVIII os regulamentos das gui l das tero passado a proteger
82
os interesses corporativos e simultaneamente os dos consumidores, embora
limitassem a livre concorrncia e porque estabeleciam n veis de qualidade
m nima que serviam os prprios propsitos de ambas partes. Para assegurar
o cumprimento obrigatrio das normas, e dos direitos das restantes
79
MARQUES, A. H. de Ol i vei ra de Histri a de P ortugal: Das Ori gens ao Renasci mento, Vol . I , Li sboa:
Editori al P resena, 1997.
80
HAUSER, Arnol d. Histri a Soci al da Arte e da Cultura. Lisboa: J ornal do F or. Vol. 2. Cap. 5
81
Associaes de Aux li o Mtuo constitu das na I dade Mdi a entre corporaes de operrios, artesos,
negoci antes ou arti stas. F uci onavam de forma semel hante aos sindi catos profi ssionai s actuai s.
82
F requentemente em di versas profisses e per odos da histria, foram criadas corporaes para
defender e garantir interesses do grupo.
82
corporaes, uma vez que a concorrncia era proibida e punida, os produtos
deveriam ser identificados com a marca corporativa (da guilda).
Obedecendo a um controlo realizado pelo juiz de of cio, a marca
corporativa garantia a qualidade dos produtos (ao n vel dos materiais e dos
processos empregues) e o respeito pelas competncias das demais oficinas
(Figura 72).
Figura 72
Fonte: Estela funerria com sinais de of cios, sc. XV. (Marques, 1997, p.160).
Independente da marca corporativa, a do arteso (mais discreta) era sinal
de origem ou de autoria (Figura 73), que actuava como garantia em caso de
reclamao. No caso de um objecto que passasse por vrios artesos, ia-se
incluindo a respectiva marca, mais a do controlo da oficina.
Figura 73
Fonte: Marca de Bartl J annitzer, membro de uma clebre fam lia de Ourives Nuremberga,
cerca de 1575 (J oan Costa, 2004, p.60).
83
As marcas das guildas, muitas vezes apostas em simultneo com as
individuais, tinham como funo controlar a quantidade e garantir a qualidade
dos produtos comercializados pelos oficiais da corporao. Numa funo em
tudo idntica das actuais denominaes de origem ou certificaes de
qualidade.
Para alm das marcas ordinrias, existiam ainda as das manufacturas reais
distinguidas com a carta de provedor oficial.
Os mercadores que efectuariam as vendas fora dos mercados locais,
marcariam os produtos comercializados (junto da marca fabricante), para
atestar a sua propriedade durante o armazenamento e o transporte,
protegendo-se dos falsificadores (Figura 74). Conta-se que um tal de Ephraim
How se fazia chamar Now, lanando tal rumor, para se precaver das
falsificaes (J oan Costa, 2004). No entanto, os procedimentos alfandegrios
tambm auxiliariam neste controlo de qualidade.
Figura 74
Fonte: Marca de mercadores e navio mercante do sc. XI V (Nataf, 1981, p.296).
Tendo em conta o direito de propriedade vigente, muitas sociedades
mercantis, estabeleciam-se com a esperana de obterem reconhecimento
jur dico tendo em vista privilgios posteriores. Primeiro os mercadores
mar timos, empreendedores de transportes, seguidos pelos pedreiros,
talhantes e oleiros.
Em 1268, tienne Boileau ter apresentado o l i vr o dos of ci os em Par s,
que aliciava todas as comunidades profissionais a dotarem-se de estatuto
social e que segundo J oan Costa (2004), se tornou em documento oficial.
Comunidades profissionais ter-se-o fundado com o objectivo do bem-estar
e do contributo social, onde o trabalho no era o agr cola, mas o da
transformao de materiais em bens de uso e intercmbio.
A coexistncia na sociedade entre primeiros of cios e o poder no ter sido
fcil e a agitao popular acabaria por se insurgir em vrias regies italianas,
84
francesas, belgas, e alems e ter sido este contexto scio-pol tico e
econmico a manter-se at ao Liberalismo do sc. XVIII.
Ao longo da Histria, somaram-se as reivindicaes dos artistas, para
obterem o reconhecimento da sua importncia social com um estatuto
condigno.
Segundo os historiadores, o Arquitecto liderou o movimento humanista
italiano quatrocentista, nos finais da Idade Mdia, que atravs de manifestos,
greves, peties, etc., conduziu obteno do estatuto social de nobi l i t .
Ter sido no sc. XV, pouco antes do Renascimento. Por exemplo Pedro Dias
(1995, p.15), refere que desde o in cio at meados do sc. XV que
projectistas e executantes de obras de arquitectura
percorreram um rduo caminho, para alcanar um novo estatuto
social e libertar-se das teias entretecidas, durante a Idade
Mdia.
V tor Serro (1983)
83
explica que como na Antiguidade, na Idade Mdia,
desprezava-se todo aquele que trabalhasse com as mos, da mesma forma,
os art fices das artes e of cios foram invariavelmente considerados of i ci ai s
mecni cos, sem direitos sociais para alm daqueles obtidos na corporao.
Ao contrrio de advogados e notrios cujo produto era considerado como
superior em resultado e intelecto, fruto de homens livres; os restantes artistas
estariam adstritos ao mundo inferior dos que trabalhavam com as mos,
desde a Antiguidade, entendidos como plebeus e ignorantes, quase escravos
e muitas vezes subordinados ao hermetismo r gido das corporaes sem
individualidade criadora referem V tor Ferro (1996)
84
e Hauser (1955).
A sociedade da Idade Mdia viveu um tempo virado para o culto da Igreja e
da espiritualidade crist, do qual a arquitectura foi um bom exemplo; os
mestres pedreiros ou magi st er oper i s, seriam art fices colectivos, que
dominavam a tecnologia da construo e dirigiam equipas de empreitada e as
plantas e os alados estariam algumas vezes sobre a alada das ordens
religiosas (Serro, 1996).
A diviso de estratos sociais da Idade Mdia ter constitu do importantes
focos de tenses sociais que, catalisados por uma conjuntura econmica
recessiva desde meados do sculo XIV, ter culminado com a afirmao dos
of cios, nuns casos, e noutros com o reforo do patriciado.
no sc. XV, que o esp rito renascimentista italiano, junto com o crescente
respeito pelas artes perante as autoridades citadinas, ter iniciado a
alterao do estatuto do artista (V tor Ferro, 1996).
83
SERRO, V tor, O Manei ri smo e o Estatuto Soci al dos P intores P ortugueses, I mprensa
Naci onal/Casa da Moeda, Lisboa, 1983.
84
Anl ise da evol uo do estatuto do artista desde mecnico das corporaes medi evai s para artista
i ndi vi dual izado e l i vre no deal bar da I dade Moderna: Conquista da Li berdade. Lisboa: F aculdade de
Letras da Uni versidade de Lisboa. P ol icopiado.
85
Fillipo Villani
85
um dos primeiros letrados a lutar contra o estatuto de
inferior das Belas Artes, procurando mostrar que tambm eles usavam e
cultivavam a geometria ou a gramtica. Com a mesma inteno, segue-lhe os
passos o arquitecto Leon Battista Alberti, que no seu tratado Del l a
Archi t et t ura, de ressai bos vi t ruvi anos, afirma que a geometria a me de
todas as artes (V tor Ferro, 1996). Tambm Leonardo da Vinci, nos seus
escritos retoma os mesmos argumentos, ao abordar a questo da perspectiva.
O duque Urbino Frederico
86
e Poggio Bracciolini
87
tero sido das primeiras
entidades a defender a alterao do estatuto do artista, mas seguidos por
muitos, provavelmente, anunciando o in cio do liberalismo profissional e
comercial.
O triunfo da liberdade em Itlia do sc. XV, ter sido seguido em muitos
pa ses, espalhando-se ao longo do sc. XVI pelo Ocidente cristo.
Em Portugal, todo o processo ter sido mais tardio, mas ter-se- alterado a
posio social do artista nos finais do sc. XVI e ao longo do sc. XVII(V tor
Ferro, 1996).
Pedro Dias (1995) refere que em Portugal, o novo estatuto tambm teve
defensores, dos quais se destacou Francisco de Holanda com os seus
tratados da Pi nt ur a Ant i ga e Di l ogos em Roma (1548), ou outros posteriores
como Da Ci nci a do Desenho, Do Ti rar Pl o Nat ural e Da Fabr i ca Que Fal ece
Ci dade de Li sboa enalteceu a nobreza da profisso que considerava como
arte liberal de cariz intelectual (o arquitecto terico). Porm, existiram
opositores mudana de estatuto, como Sylvie Destarte (citado por Pedro
Dias, 1995), que defendiam a permanncia do mestre-de-obras de tradio
medieva.
Ser de referir que o processo de transio no foi repentino, assim
exemplifica Mollerup (1997), com o que ocorreu em Frana e na Dinamarca,
entre 1751 e 1791 (Paris), com a extino das guildas e dos seus privilgios,
a assinatura (com o nome do produtor) do objecto de mobilirio tornou-se
obrigatria por decreto (figura 75). No entanto, refere o autor, que apesar de
decretado, muitos mveis deste per odo no tm marca, provavelmente
porque o seu produtor no pertenceria corporao ou a qualidade do
produto seria inferior, o que ter levado a que o Estado aumentasse o
controlo.
85
Li bri de origine ci vi tatis F lorentiae, de 1404.
86
Em 1468, escreve um texto onde louva a quali dade da arquitectura como arte l iberal, que uti liza a
geometri a e a aritmtica.
87
Solicita a desvi ncul ao legal do artista, do aparelho mesteral.
86
Figura 75
Fonte: P er Mollerup, 1997, p.41.
Acrescenta Mollerup (1997), que na Dinamarca, durante o per odo de 1813
a 1841, a marcao do mobilirio com o nome do produtor, apenas estava
reservada aos membros da Guilda de produtores de cadeiras de Copenhaga,
at que, aps 1841, tero passado a usar a marca corporativa. Enquanto que
os fabricantes de armrios tero iniciado a marcao do signo da Guilda
entre1837 e 1842 (Figura 76).
Figura 76
Fonte: P er Mollerup, 1997, p.41.
No sculo XIX, alguns dos fabricantes de armrios tero comeado a
marcar voluntariamente os seus mobilirios, utilizando rtulos de papel,
graficamente pouco individualizados (figura 77).
Figura 77
Fonte: P er Mollerup, 1997, p.41.
87
Tambm nos Estados Unidos, as comunidades Shakers, tero utilizado
decalques para marcar o seu mobilirio, cujo exemplo mais antigo, conhecido,
data de 1873 (figura 78, Monte L bano, Nova Iorque)
Figura 78
Fonte: P er Mollerup, 1997, p.42.
3. 2. 2- A her l di ca
A utilizao militar dos escudos de defesa (caracter sticos de uma regio
ou povo), utilizados desde a Antiguidade pelos gregos, romanos, japoneses,
chineses, ndios americanos, germanos entre outros, poder estar na origem
da herldica. No ser por acaso que na sua abordagem histrica da marca,
Per Mollerup (1997, p.16), comea por dizer que talvez a primeira
marca de identificao grfica, tenha sido a marca de um
proprietrio. Poder ter sido um simples sinal para mostrar
que a arma pertencia a um homem em particular, lembrando o autor
que a diferenciao da propriedade era importante, embora como se ver, a
prpria forma do escudo tinha objectivos identitrios.
Esclarece F. P. de Almeida Langhans (1966, p.3) que No vale a pena
remontar s hierticas estilizaes, de to tocante beleza,
dos egpcios, nem s violncias estilsticas dos baixos-
relevos dos assrios e caldeus. Basta saber que j na Grcia
apareceram emblemas herldicos nos escudos redondos dos
hoplitas conforme testemunham as decoraes figurativas de
nforas e de vasos historiados de elegantssima cermica
helnica. Cabeas de leo, lees passantes, ces, touros e
muitas outras figuras do mesmo gnero ornamentavam os
88
escudos, como se pode ver na gravura do trombeteiro
88
(ver
figura 79).
Figura 79
Fonte: Almeida de Langhans, 1966, p.5.
Entre as figuras naturais herldicas, o leo e a guia so muito frequentes,
atribuindo-se provavelmente ao primeiro o culto esttico e simblico, que se
encontra nas culturas eg pcias e persas ou nos escudos gregos (Figura 80).
Figura 80
Fonte: Almeida de Langhans, 1966, p.103.
Como se refere anteriormente, a guia muito frequente, desde a
Antiguidade, usada por Sumrios, Ass rios, Caldeus e Persas (Figura 81).
Segundo F. P. de Almeida Langhans (1966, p.4), a figura da guia aparece
no topo das insgnias das legies do senado e do Povo
Romano, provavelmente, herdada de outros povos. Porm, devido ao
pragmatismo romano, seria representada de forma realista.
Figura 81
88
LANGHANS, F . P . de Al meida, Herl dica : cinci a de temas vi vos, Lisboa : F undao Nacional para a
Al egri a no Trabalho, 1966.
89
Fonte: Almeida de Langhans, 1966, p.108.
J a guia bicfala poder ter surgido quando o imprio romano se tornou
uma diarquia repartida por dois Csares (um com assento na cidade eterna e
outro em Constantinopla). Ao que relembra Langhans (1966, p.4) que No
deve, em todo o caso, passar sem meno o facto dos
exemplares mais antigos que se conhecem de guias bicfalas,
virem todos da sia Menor e Bizncio e que do Santo Imprio
aquela figura quimrica passou ao Imprio dos Czares, ao
Austro-Hungaro e a outros Estados.
Cont a Langhans que com a dissoluo do Imprio Romano do Ocidente, a
se instalaram os ancestrais germnicos, que tero realizado feitos hericos,
os quais representavam nos seus escudos.
A presena das cores nos escudos e brases, parece ter sido motivo de
reflexo de alguns estudiosos. Algumas hipteses apontavam para razes
decorativas, enquanto que a maioria, talvez as mais cred veis, para a funo
de identificao e reconhecimento.
A esse propsito, diz J oan Costa (2004, p.55) que De facto, nestas
armadas feudais onde nada distinguia sistematicamente o
amigo do inimigo, era com efeito muito importante, fazer-se
reconhecer, e os sinais cromticos foram o modo mais eficaz,
facilitando a identificao imediata.
No entanto, a identificao e reconhecimento, seriam feitos apenas com
base nos cdigos cromticos, pois frequentemente, a forma dos escudos
relacionava-se com a origem geogrfica, obedecendo a um cdigo formal,
simblico (Figura 82), reforado pelas ins gnias ou figuras que neles eram
pintadas.
Figura 82
Fonte: Baseado em, Armando Mattos (1961, p.28) e Almeida Langhans (1966, p.52).
90
1- Escudo Clssico portugus; 2- Escudo portugus; 3- Escudo elipsoidal ou Ovado, de
origem italiana e actualmente usado pelo clero; 4- Lisonja, criada para receber as armas
femininas; 5- Escudo Francs; 6- Escudo I ngls; 7- Escudo Alemo; 8- Escudo I taliano.
Em Portugal e um pouco por toda a Europa, no per odo antecedente
herldica, aproximadamente do ano 1130, por vantagem blica e semitica
considerou-se que a emblemtica da bandeira, dos selos de validao e dos
escudos deveria ser igual (Norton, 1987).
Durante as batalhas, os escudos tero sido combinados com outros meios
de comunicao, como so exemplo o toque de batalha, o pendo e a
decorao especial do escudo do chefe do grupo.
Langhans (1966, p.5) refere que a Herldica nasceu nos campos de
batalha. Depois que passou, cheia de pompas, para os
festivos campos de torneio e portanto, tero sido duas as principais
razes para o surgimento de uma simbologia ordenada. A primeira,
relacionada com a necessidade de distinguir vrios grupos de Homens de
armas, certamente annimos dada a falta de uniformes militares ou ainda
pelos elmos que ocultavam o rosto, como refere Per Mollerup (1997, p.17)
Como os cavaleiros estavam frequentemente cobertos por
armaduras, as marcas de herldica no escudo, roupa, elmo e
cavalo ajudavam a identificar o combatente. Porm, tambm o
enorme e crescente esp rito de estirpe, levaria a que fosse indicada a
provenincia e a chefia.
Era volta da ins gnia que os combatentes se agrupavam, em sinal de
fidelidade ao chefe, cujo sinal impunha ordem e disciplina nas formaes (ver
figura 83).
Figura 83
91
Fonte Um grupo de combatentes luta em redor de um chefe, cuja ins gnia uma caldeira.
Almeida de Langhans (1966, p.7).
A segunda razo oriunda da prtica de justas e torneios (Figura 84) onde
eram exibidas as faanhas pessoais ou familiares atravs dos ornamentos
distintivos, certamente oriundos das batalhas, que permitiam a identificao
dos cavaleiros anunciados pelos arautos. A esse propsito diz Almeida
Langhans (1966, p.6) que Como a concorrncia de cavaleiros a
estes festivais fosse grande, houve a necessidade de
regulamentar os sinais de identificao, marcando-se as
cores, as parties dos escudos, as peas, a sua composio
e o seu nmero.
Figura 84
Fonte: Cavaleiro portugus da fam lia Coutinho, derruba o seu adversrio. Fonte: Almeida
de Langhans, 1966, p.8.
92
A mesma opinio de Almeida Langhans (1966) partilhada por Armando de
Mattos (citado por Langhans, 1966), que diz que As figuras e emblemas
que os cavaleiros usavam pr nos escudos e nos elmos, e,
ainda, nas gualdrapas das montadas a fim de serem
reconhecidos nas justas, duelos e torneios, to em voga na
Idade Mdia, que deram origem ao aparecimento da
herldica, que nas cruzadas encontrou a sua sistematizao e
ordenao.
As armas mais antigas de que h memria na Europa, so as
de Rui de Beaumont, de 1087-1110. data, pois, a herldica
documentalmente, do final do sculo XI, princpios do sculo
XII
89
.
Opinio que poder ainda, ser reforada pelas elaes de alguns
historiadores, citadas por Per Mollerur (1997, p.17) A herldica tem a
sua origem em meados do sc. XII. Foi sugerido, que as
marcas de herldica foram usadas pela primeira vez pelos
cruzados que responderam ao apelo Papal de 1095 para
participao nas Cruzadas (1096-1270) combatendo muulmanos
na Palestina. Marcas de herldica nas roupas, escudos e
bandeiras, ajudavam os cruzados a reconhecerem-se. Alguns
historiadores referem que o contacto visual com a cultura de
Este, resultou numa influncia oriental na Herldica.
Segundo Manuel Artur Norton (1987)
90
, na baixa Idade Mdia, a
necessidade de aperfeioar a organizao militar em tempo de paz levou
multiplicao de justas e torneios de cavalaria, actividade ainda no
regulamentada em termos de regras de interveno que contribu ssem para a
disciplina e prest gio dos eventos. As nor mas dever i am s er acei t es
por par t i ci pant es e r econheci das em t oda a Eur opa cr i s t ,
l evando ao s ur gi ment o dos Of i ci ai s de Ar mas ou os ant i gos
Ar aut os
91
, cuj as r egr as or i gi nar am a her l di ca a pr i nc pi os
do s c. XI I , embor a em Por t ugal apenas s ej am ci t ados des de o
s c. XI I I
92
(Norton, 1987 p.135).
Durante as justas, a identificao dos cavaleiros era feita pelos arautos
heraldos que faziam a identificao dos brases. De onde vem a prtica das
armas brasonadas, do germnico br asen, que significa tocar instrumentos de
sopro, ou porventura as trombetas usadas para chamar a ateno da
89
Manual de Herldica P ortuguesa
90
A Herl di ca em P ortugal , Vol . I , Li sboa: P ortugal, Disl i vro Histrica
91
Herl dica a arte dos arautos ou heraldos, os mensageiros dos bel i gerantes, que anunci avam com
trompetas (br asen) mensagens de paz ou trguas parlamentares (os seus conheci mentos dos sinais
tambm eram usados para observar movi mentaes i nimigas) (Langhans, 1966).
92
F oi neste scul o que os Arautos passaram a ter suporte jur dico (Norton, 1987, p. 140. ).
93
assistncia. Segundo Almeida Langhans (1966) Os araut os e os passavant es
dependi am de cer t os of i ci ai s r gi os os r ei s de ar mas que t i nham por of ci o
o est udo dos brases e do seu di rei t o
93
.
Com o aparecimento da armadura e do elmo, os cavaleiros tornaram-se
totalmente annimos, pelo que se exigia uma marca distintiva que
assegurasse o reconhecimento dos contingentes. Ainda que a utilidade
diferenciadora do escudo fosse importante, o seu valor defensivo era cada
vez mais desnecessrio, provocando a sua reduo de tamanho at cair em
desuso no final do sc. XIV.
Novos signos substitu ram o escudo, como estandartes, emblemas,
penachos, escudos pintados, quimeras, at ao surgimento do uniforme militar
no sc. XVIII e aos penachos e faixas que originaram as ins gnias de
graduaes (Figura 85).
Figura 85
Fonte: adaptado de J oan Costa (2004), pp.57
Perdida a funo sinalizadora militar do escudo, este ter sido convertido
pelos monarcas feudais em s mbolos do seu nome prprio perante a
sociedade de posse e situao genealgica.
A partir do sculo XI, a herldica expande-se por toda a Europa como
prtica de expressar figurativamente a identidade pessoal e familiar. Face
generalizada iliteracia da poca, a expresso ideogrfica ou pictogrfica do
nome surge como forma de oficializar documentos.
93
F oram estes funcionri os do reino, a organi zar os catl ogos das armas fami li ares os Armori ais
que em P ortugal apareceram no final do sc. XV, sc. VI .
94
Comeando a herldica por ser utilizada durante o feudalismo militar, foi
retomada para descrever relaes genealgicas entre fam lias nobres, at
chegar finalmente aos of cios e corporaes.
Para realar um feito familiar havia quem associasse elementos
nominativos ao braso, como o caso do nome ou da legenda herldica
(divisa), em tudo equivalente ao actual slogan (Figura 86).
Figura 86
A capacidade de diferenciao ter-se- tornado dif cil, dado o carcter
abstracto das figuras dos brases, levando ao surgimento de figuras naturais
animais; figuras naturais, como flores, plantas, rios, astros e frutos; figuras
artificiais, como rodas-dentadas, castelos, hlices e outros; e a figura humana
armas falantes (sc. XIX) assim, o esclarece Almeida Langhans (1966,
p.99) Esgotadas todas as combinaes por meio do elemento
puramente abstracto e geomtrico, que o racionalismo
filosfico dos sculo XIII e XIV justificavam atravs dos
seus esquemas mentais, a inventiva herldica teve de
recorrer a outras fontes. Voltou-se para a natureza visvel
e palpvel e comeou a povoar o brasonrio de figuras
capazes de exprimirem os motivos que se expunham faculdade
comparativa e analgica desses poetas dos smbolos que foram
os arautos e os passantes, porm por detrs dessa prtica estariam
tambm factores financeiros relacionados com a aquisio de brases.
Segundo Almeida Langhans (1966), inicialmente, para obter um braso,
cada um podia escolher o que lhe aprouvesse (uso de armas assumidas), mas
mais tarde, a herldica tornou-se mais complexa e a forma de obter as armas,
passou a residir na herana familiar ou na louvada concesso do soberano (o
rei atravs de carta de armas).
Em alguns pa ses do norte da Europa, o uso de armas adoptadas ter
continuado. Principalmente os artistas e os oficiais mecnicos das grandes
95
cidades manufactureiras, utilizavam siglas e monogramas com configuraes
herldicas (antepassados das marcas comerciais).
Por exemplo, em Portugal, o uso de armas escolhidas pelos interessados,
no foi muito praticado, pois excepo das corporaes ou instituies
religiosas, a sua fonte era hereditria ou concedida pelo monarca
94
.
Porm, ao tornar-se hereditrio, o escudo de armas conferia maior
prest gio, razo pela qual, segundo Norton (1987), os vassalos e os novos
armigerados muitas vezes tinham como base o braso dos seus senhores, o
que originaria confuso e mesmo a julgamentos em tribunal.
No final da idade mdia, o poder real comea a regulamentar o uso do
braso, restringindo-o s fam lias nobres ou nobilitadas, definindo regras de
concepo em funo da linhagem, e tornando a sua concesso numa fonte
de rendimento para os cofres do estado. A herldica nobre (representando
uma pessoa e consequentemente conferindo status social) fecha-se num
apertado formalismo de normas, enquanto a herldica burguesa
(representando um negcio ou produtor) evolui para as formas dos logtipos e
dos s mbolos (figura 87), como se poder comprovar pelas palavras de
Almeida Langhans (1966, p.317) No chegou a formar-se, entre ns,
uma Herldica burguesa ou popular. A razo disto simples:
desde que se atingia certo grau de cultura e de abastana,
as famlias ascendiam, com relativa facilidade Nobreza,
com todos os direitos e deveres inerentes ao novo estado
95
.
Figura 87
Legenda: 1- Olaria de Coimbra de 1744; 2- Filigrama de 1868, usada por J oaquim de S
Couto; 3- Marca de prata do contraste de vora Lu s Nunes, registada em 1738.
Per Mollerup (1997, p.20) refere que as armas falantes tm um
relevo especial no assunto das marcas comerciais, pois so
um braso que faz uma combinao visual sobre o apelido do
94
P ara se ter acesso carta de nobreza era necessri o fazer prova de que no havi a nos
i nteressados, sangue rabe ou judeu, da o val or da anti gui dade do braso, embora Langhans (1966,
p. 262)) refi ra que se concediam muitas vezes, cartas de braso e eram nelas
reconhecidas, como boa e bem provada, uma linhagem sem antiguidade, s para
atribuir ao titular o direito a braso reconhecido de famlia vetusta.
95
Em P ortugal, com a d vi da acumulada pela fam l ia real que ultrapassava l argamente as suas
capaci dades fi nancei ras, o rei D. Lu s concedeu t tul os grande burguesia, como forma de conquistar o
apoi o de que necessi tava. Mas eram t tul os concedi dos na general i dade por uma vi da ou duas, vol tando
casa real para disposio do rei.
96
proprietrio, ou por significado literal ou pelo som do
nome. Implicam que o nome exista antes das armas. No
entanto, a relao causal foi algumas vezes ao contrrio: o
portador escolheu o seu apelido pelas suas armas. Quando o
rei dinamarqus, Frederico I, em 1526 decidiu que a nobreza
deveria adoptar apelidos, alguns nobres simplesmente
escolheram a descrio das suas armas. Rosenkrantz,
dinamarqus para grinalda de rosas, um exemplo de um
nome descritivo (Figura 88).
Figura 88
Fonte: 1- Bells Whisky, Mollerup (1997, p. 20); 2- Marca dos Falces residents em
P ortugal e oriundos de Berlim Almeida Langhans (1966, p.316).
Quanto s corporaes, serve para galardoar os actos j praticados, a
concesso do direito de uso de braso de armas, que em Portugal, no caso
das corporaes, conferido pelo Estado
96
, demonstrando o n vel hierrquico
das corporaes
97
.
Uma vez que a corporao representa mais do que uma actividades, o
s mbolo dever representar o denominador comum, que no deve contrariar
as regras herldicas (Figura 89).
96
Decreto- Lei n. 42955, de 27 de Abri l de 1960.
97
Tal prtica ainda hoj e subsiste, embora toda a l gica herl dica tenha grandes relaes arte mil itar.
Nos anos 50 em P ortugal, parece ter havi do uma exaltao da I dade Mdi a, numa procura do ori gi nal
ou genu no que l evou a que munic pios e corporaes adoptassem brases.
97
Figura 89
Fonte: Almeida Langhans (1966, p.73).
Segundo Per Mollerup (1997, p.20), por entre as ideias teis a reter, est o
conceito da simplicidade, inicialmente ter caracterizado a herldica medieval
da guerra, que quando se tornou parte da vida civil ficaria mais elaborada e
esotrica. Considerando ainda que, na herldica moderna, a simplicidade
preferida na composio e na execuo tcnica, atravs de um estilo
contemporneo graficamente mais poderoso que o elaborado estilo de muitas
armas do Renascimento Boa herldica herldica simples;
omite o no essencial.
3.2.2.1- A herldica portuguesa
Segundo Armando Mattos (1961) a herldica portuguesa apresenta trs
fases: a primitiva, a dos descobrimentos e conquistas e a contempornea.
A primeira fase subdivide-se em duas, uma relativa origem da herldica
(militar) e outra com influncias externas.
Inserem-se aqui as fam lias oriundas da Galiza, Frana, Leo, Castela,
Flandres, Inglaterra, Itlia, cujas armas so constitu das conforme o pa s de
origem.
Diz Armando Mattos (1961) que, depois de Aljubarrota, comea a surgir a
nobreza de origem nacional, que adopta iconografia mais complexa que a das
fam lias da Idade Mdia.
Na segunda fase, o per odo ureo da herldica nacional, a representao
figurativa das armas, ter sido influenciada pelo Renascimento, chegando
depois a uma acentuao do pormenor durante o sc. XVI, com os feitos na
ndia.
A ltima fase vem do sc. XVIII at actualidade, representando um clara
decadncia em que os brases deixam de ser privativos e nicos. Fam lias
98
diferentes, que partilham o mesmo apelido, recebem o mesmo braso, ao qual
nalguns casos, juntam uma pequena nota identificadora. ainda de referir
que h quem continue a seguir o critrio rigoroso que vigorava at esta ltima
fase.
Refere ainda o autor (Armando Mattos, 1961, p.16), que Como no podia
deixar de ser, atentas as relaes que Portugal tinha com a
Frana, tambm entre ns surgiu a herldica, e no prprio
sc. XII. O primeiro documento herldico de que tenho
conhecimento, isto , usado j bem dentro desse sentido, ,
inquestionavelmente, o sinal rodado de D. Afonso Henriques,
aposto em documento em 1183
( Fi gura 90) .
Figura 90
Fonte: Armando de Matos (1961, p.16).
Segundo Armando Mattos (1961, p.173), quando a herldica chegou a
Portugal no passava de uma criao do norte da Europa, da
Flandres e da Alemanha e o seu desenvolvimento em terras portuguesas
foi reformado pelo rei de armas Arrieta, um ingls que chegou com a comitiva
da rainha D. Filipa de Lencastre (1387), cuja principal obra conhecida foi a
alterao das armas reais de D. J oo I. Porm, a organizao de um servio
de Herldica portuguesa surge no sc. XIV com D. Afonso V, num cap tulo de
uma obra do legislador Bartolomeu de Sassoferrato
98
. Carta que de forma
indirecta comprova que em Portugal o uso de escudos de armas no estava
restringido aristocracia de sangue, mas tambm poderia ser acedido pelos
plebeus, as quais no eram hereditrias, mas vital cias ou temporrias
(Norton, 1987) e concedidas por acto do monarca (Langhans, 1966).
Para Norton (1987) a Herldica de carcter aristocrtico comeou
oficialmente no reinado de D. Manuel I, quando este enviou bolseiros para o
estrangeiro para que trouxessem maiores conhecimentos a Portugal.
Ao conjunto herldico (escudo e elementos internos e externos: braso,
elmos, coroas, timbres, suportes e divisas) d-se o nome de escudo de armas
98
No se conhecem armori ais portugueses dos sc. XI I - XI V em pergaminho, o mais anti go registo de
escudos de armas naci onais estava na j ru da gal i do mosteiro benedicto de Santa Maria de
P ombeiro, em Ri basi l va de P ombei ro Felgueiras.
99
ou simplesmente armas, as quais podem ser avaliadas pela sua natureza,
ordenao e elementos constituintes. Considera-se Braso o conjunto de
elementos simblicos ordenados e escudo o plano e limite onde se ordenam
os componentes (Langhans, 1966).
Quanto sua natureza as armas (Armando Mattos, 1961) podem ser
assumidas (obtidas por algum que partida no teria direito a us-las);
difamadas (alteradas na ordenao para evidenciar uma desonra); falsas (no
respeitam as leis herldicas); Inquirentes (so propositadamente contrrias s
leis herldicas); falantes completas (os s mbolos descrevem um apelido ou
alcunha) ou falantes incompletas (os s mbolos representam um nome e
contm outro significado).
Relativamente ordenao, as armas podem ser simples/plenas (quando
dizem respeito apenas ao chefe da linhagem) ou compostas (estabelecem
diversos graus de ligao ou parentesco).
Na composio, uma vez que o escudo provm da arte militar, a herldica
mantm o seu formato em funo do seu contexto (Figura 82, pag. 85). Por
essa mesma razo, os escudos tm medidas determinadas e rigorosas a
respeitar para o equil brio do conjunto (Figura 91).
Figura 91
Fonte: Armando Mattos (1961, p.29-30).
As formas bsicas (Almeida Langhans, 1966) dos escudos derivam
sobretudo do quadrado (Figura 92), cnon de propores dos campos
herldicos, que se impem pela sobriedade e expressividade dos limites. Do
quadrado resultam os escudos Lisonja, Peninsular ou portugus, Oval,
Clssico portugus e o circular (usado em Inglaterra), porm existem formas
estilizadas sem base no quadrado, como o francs e assimtricas como o
alemo (Figura 82, pag. 85).
Figura 92
100
Fonte: Armando de Mattos, (1961, p.47).
Para compreender a organizao do braso necessrio conhecer a
topografia do campo do escudo da qual constam principalmente nove pontos
ou lugares conforme na figura 93:
Figura 93
Fonte: Armando de Mattos, (1961, p.31).
Tendo em conta a pr-funo militar do escudo, em herldica para referir a
direita (dextra) ou esquerda (sinistra) considera-se a posio do guerreiro e
no a do observador. Assim, no topo do escudo encontra-se a zona do chefe
(Figura 94, A), os lados (flancos) uma dextra (Figura 94, B) e outro a
sinistra (Figura 94, C), em baixo o contra chefe (Figura 94, D), dois cantes
superiores (Figura 94, E, F) e dois inferiores (Figura 94, G, H). Ao centro
encontra-se o ponto de convergncia designado por corao ou abismo
(Figura 94, J ) e entre este e o meio do topo do chefe o ponto de honra (Figura
94, I) e o umbigo (Figura 94, K) na parte superior do contra-chefe (Armando
Mattos, 1961).
Figura 94
101
Fonte: Almeida Langhans (1966, p.70).
Frequentemente o campo do escudo tem de ser fraccionado (Armando
Mattos, 1961), pelo que se encontram quatro pontos principais ou golpes de
espada normalmente em linha recta (horizontal, vertical e diagonal), embora
possa existir a linha ondulada ou mais raramente em arco (Figura 95).
Da combinao dos quatro principais golpes obtm-se sub parties cujos
traos podem ser usados em duplicado como por exemplo o terciado em
mantel (Figura 96, 1). Partindo do chefe um trao pode seguir at ao centro
onde se subdivide em dois que se afastam em arco at tocarem no bordo
inferior do escudo dextra e sinistra (Figura 96, 2).
Figura 95
Fonte: Armando de Mattos (1961, p.31).
Figura 96
Fonte: Armando de Matos, Manual de Herldica P ortuguesa, p.31.
Embora descrita grande parte da organizao do campo do escudo com
seus s mbolos e sinais no campo, a herldica compreende ainda o bom
ordenamento de s mbolos (Almeida Langhans, 1966) que servem de reforos
102
exteriores ao braso ou como meros acessrios decorativos. Em funo do
grau de hierarquia insere-se um elmo de frente com viseira aberta (armas
reais), de frente com viseira fechada gradeada (grades t tulos at ao
marqus), a trs quartos virado a dextra (usado na maioria dos casos), de
perfil para dextra (para simples cavaleiros ou oficiais de ordens), de perfil
para sinistra (usado pelos filhos bastardos), os quais podem assumir diversos
materiais (ouro, prata, liras, adamascados) seguindo o mesmo princ pio da
linhagem e ornados ou no (Figura 97).
Figura 97
Fonte: F. P . de Almeida Langhans, Herldica, cincia de temas vivos, p.47.
O elmo tem dois elementos, o virol ou rolete, uma espcie de rolo circular
(remata o vu que defendia o cavaleiro dos raios do sol e actualmente serve
de base para o timbre) e o paquife (ornamento externo constiruido por oito
tiras de estofo os lambrequins), podendo este ltimo ser substitu do por um
mantel ou mantelete (pequeno vu ou manto curto) os quais obedecem a
propores definidas (Figura 98).
Figura 98
Fonte: Esquema de propores entre elmo e timbre: a altura do elmo igual largura do
escudo; a altura do timbre igual do elmo, que est guarnecido com virol e paquife. F. P .
de Almeida Langhans, Herldica, cincia de temas vivos, p.169.
O timbre a parte mais nobre, distinta e caracter stica das armas
(Armando de Matos, 1961, p.62), um reforo simblico dos sinais do escudo
tornando-os mais vis veis e salientes o que tambm pode ser feito com pelos
103
tenentes (figuras humanas) ou suportes (figuras animais ou quimricas)
colocadas de cada lado. Pode ainda ser complementado com divisas (palavras
ou frases).
Dado que as armas so transmiss veis pelos membros familiares, recebem
graus de diferena (Figura 99), conforme a pessoa que os usa, no existindo
uma mesma linhagem com escudos iguais (seja fam lia real ou no).
Figura 99
Fonte: Armando de Mattos (1961, p.73).
Por exemplo nas armas reais, enquanto as do rei tm a coroa, andam
direitas (no aparecem inclinadas ou em balon) e nem tm diferenas, nem
so misturadas com outras, as da rainha so partidas para receberem as di
rei e de seu pai.
Nas armas no reais o chefe de gerao (de linhagem) usa as armas
limpas, direitas ou inteiras e se for chefe de duas ou mais linhagens,
combina-as num escudo partindo-o, cortando-o ou esquartelando-o. Para que
o filho mais velho use as armas aps a morte do pai, este deve mistur-las
com as maternas ou mudar-lhes a cor do campo, alterar a posio ou nmero
de sinais e figuras ou empregar uma bordadura, embora para isso necessite
de alterao do rei (Armando Mattos, 1961).
Uma vez que as armas podem ser herdadas com origem em qualquer um
dos quatro avs do armigerado, recebem-se diferenas especiais bem
definidas das quais algumas so exemplificadas na figura 100.
Figura 100
Fonte: Armando de Matos (1961, p.76).
Matos (1961, p.78), refere que no sc. XIX as diferenas foram usadas para
distinguir fam lias nobilitadas de outras antigas que j tinham armas e que
partilhavam o mesmo sobrenome.
104
Dada a extenso do assunto e por uma questo de pertinncia, as leis
herldicas relativas ao uso da cor, s figuras, s bandeiras, cruzes, colares e
selos no so descritas, embora deva ficar clara a sua existncia.
3. 2. 3- Mar cas de cont r ast e e de our i ves ou punes
No sector da ourivesaria, a partir de 1886, o artefacto de metal precioso
diz-se legalmente marcado quando tem apostas duas marcas de puno. A
primeira o puno de fabrico ou equivalente (por vezes dito puno de
responsabilidade), que reproduz uma marca que inclui, num per metro, a letra
inicial do nome do industrial, importador ou firma, e um s mbolo
personalizado, no confund vel com os outros existentes e no pertencente ao
reino animal.
A segunda o puno de Contrastaria, que reproduz uma marca legal, cujo
per metro definido, sendo irregular nas marcas da Contrastaria de Lisboa e
octogonal irregular nas marcas da Contrastaria do Porto (Figura 101 e 102). O
s mbolo varia conforme o metal e em todas se apresenta o toque
correspondente (em milsimas) na parte inferior.
No puno de Contrastaria do ouro, encontra-se uma cabea de veado para
os toques iguais ou superiores a 800 milsimas e uma andorinha em voo para
os toques inferiores a 800 milsimas. Na prata, uma cabea de uma guia
(voltada para a esquerda nos toques legais iguais ou superiores a 925
milsimas e para a direita nos toques legais iguais ou inferiores a 835
milsimas) e na platina, uma cabea de papagaio.
Os punes das Contrastarias Portuguesas informam, simultaneamente,
quem fabricou/importou, o que fabricou (metal e toques) e quem controlou a
conformidade e marcou (que Contrastaria).
Figura 101
Contrastaria P latina. Marcas legais das Contrastarias de Lisboa e do P orto
Figura 102
105
Contrastaria de Ouro. Marcas legais das Contrastarias de Lisboa e do P orto
Porm, a marcao dos materiais preciosos no ter sido sempre legislada,
ou pelo menos com o rigor que tido actualmente (o que dificulta tambm o
seu estudo) - Anteriormente a 1886, data da fundao das
actuais contrastarias, dependentes da Casa da Moeda, as
funes de contraste eram exercidas por membros da
Corporao dos Ourives escolhidos entre os mais competentes
e conceituados. Competia-lhes verificar o toque das obras
apresentadas pelos fabricantes e apor-lhes a marca de
garantia, cobrando por esse servio, determinado emolumento
(Manuel Vidal e Fernando de Almeida)
99
.
Segundo os autores Manuel Gonalves Vidal e Fernando Moitinho de
Almeida (1996), aps 1696
100
, para poderem ser legalmente usadas, as
marcas deveriam ser registadas previamente nas Cmaras Municipais, o que
muitas vezes no ocorria. Podendo ainda, de forma independente, ser feito na
respectiva corporao (denominada Confraria de Santo Eli) ou nos arquivos
dos contrastes locais, submetendo a exame os artefactos, aos quais se
aplicava a marca de garantia, caso acusassem o devido toque
101
.
As marcas deveriam deter informaes sobre a localidade, a espcie e o
toque, embora na globalidade, a informao rigorosa e normalizada, tenha
surgido depois de 1886. A inexistncia de um organismo central de registo,
levaria existncia de marcas iguais pertencentes a diferentes fabricantes,
ou em paralelo com diferentes punes de um s proprietrio (Figura 103).
Figura 103
99
Manuel Gonal ves Vi dal e F ernando Moiti nho de Al meida, Marcas de contrastes e ouri ves
portugueses, 4 Ed. , Vol. I sc. XV a 1887), I mprensa Nacional casa da Moeda, 1996.
100
D. P edro I I determina o punci onamento das obras de ouri vesari a.
101
Embora a falta de i nformao fi dedigna, sabe- se que existiam contrastes munici pais em Lisboa,
P orto, Braga, Guimares, vora, Coi mbra, Setbal, Bej a, e certamente em Santarm.
106
Fonte: Marca das barras do Contraste de Lisboa J oaquim Antnio Soares, segunda metade
do sc. XI X; Variante menor do mesmo contraste e marca de outro do mesmo. Manuel
Gonalves Vidal e Fernando Moitinho de Almeida, (1996).
Provavelmente, existiriam marcas rigorosamente informativas em paralelo
com outras menos criteriosas, ilaes que se podero retirar das palavras de
Manuel Vidal e Fernando Almeida (1996, p.5) Tais marcas,
evidentemente, deveriam possuir caracterscticas especiais
de smbolo, indicativo do contraste, da localidade, da
espcie e do toque, que permitissem o fcil reconhecimento
das ligas e das procedncias dos trabalhos. Mas s aps a
fundao das actuais contrastarias se criaram punes com
todos esses atributos informativos.
Os antigos contrastes adoptaram, para a prata, uma inicial
geralmente coroada, da localidade onde exerciam a sua
actividade. Assim, a letra L para Lisboa, P para o Porto, B
para Braga, etc. sem qualquer ndice de toque (Figura 104).
As marcas de ouro eram normalmente constitudas pelas letras
X ou I, coroadas ou encimadas por granitos em lugar de
coroas. No se conhecendo fundamento de tais smbolos, de
presumir que o X pretendesse evidenciar o toque de 10
dinheiros, tendo-se em alguns casos, convertido em I por
juno vertical das hastes reduzindo o esforo da gravura.
Mas como referido, no seria regra.
Figura 104
Fonte: Da esquerda para a direita Marca de contraste de Lisboa, fins do sc. XVI I ;
contraste de Coimbra, Francisco de Assis Ferreira, 1789; contraste de vora, Lu s Nunes,
1738. Manuel Gonalves Vidal e Fernando Moitinho de Almeida, (1996).
Margarida Ribeiro (1972, p.3)
102
ter achado curiosa a sugesto de
utens lios nos punes do ourives, que constituiam uma tentativa de
originalidade ou diferenciao identitria (procurarando encontrar a sua
prpria marca) Efectivamente, os ourives portugueses, de 1887
a 1950, com a decadncia do formalismo clssico que os
regimentos impuseram aos artistas do ouro e da prata,
102
A Ol ari a nos punes ou marcas de ouri ves, Gui mares, Sep. do Vol . LXXXI I , Revi sta de
Guimares, 1972.
107
libertaram-se de convencionalismos e de preconceitos
tradicionais, imprimindo nas suas marcas certo cunho pessoal
e alguns apontamentos da sua vida material e da sua poca,
numa notvel tentativa de originalidade.
Entre 1887 e 1950, os punes de ourives denunciam as representaes de
monogramas, rosetas (normalmente confinadas ao granito), e frequentemente,
objectos quotidianos, como so exemplo, objectos de barro (ver figura 105).
Figura 105
Fonte: adaptado de Margarida Ribeiro (1972, p.8).
3. 2. 4- Mar cas de i mpr ensa
O registo escrito da informao parece ocupar um lugar principal na
comunicao entre geraes a que se designa por histria. Poder prov-lo o
engenho humano, empenhado em criar formas de preservar e explicar os
resultados do seu intelecto, de que so exemplo a escrita, a imprensa e o
prprio suporte, cujas evolues evidenciam um esforo pelo
aperfeioamento.
Frutos de sucessivas evolues tcnicas e culturais, a imprensa e o
suporte papel tero permitido a globalizao do conhecimento ou pelo menos,
iniciado a sua liberalizao at ai restrita s elites.
Enquanto contedo, suporte, tcnica e meio de comunicao, a imprensa e
o suporte de papel, tambm so relevantes ao presente estudo pelo lugar que
tero ocupado na histria das marcas. So disso exemplo claro as palavras
de Mollerup (1997, p.36) quando escreve que Quase imediatamente aps
Johan Gutenberg ter inventado a arte de imprimir com
caracteres mveis, em meados do sculo XV, os impressores
comearam a marcar os seus produtos. As marcas de
108
impressores dos sculos XV e XVI, demonstravam variedade na
concepo e qualidade artstica varivel na execuo.
O mesmo autor, Mollerup (1997) refere que as primeiras marcas de
impressores tinham um molde em madeira ou metal, que permitia a impresso
em papel. Normalmente poderia aparecer na pgina do t tulo ou no final do
livro, a preto ou vermelho.
Tambm Douglas C. McMurttrie (1997)
103
afirma que logo depois da
inveno da tipografia, os impressores criaram o costume de indicar a sua
aco na composio do livro colocando nele o seu signo identitrio, algo que
raramente ocorria nos manuscritos, embora muitas vezes se assinalasse a
posse. Portanto, os impressores devero ter reconhecido que os livros
impressos eram diferentes dos manuscritos, por isso a marca garantia o
fabrico (McMurttrie, 1997). Porm em Portugal, existiriam rigorosas normas na
autorizao das edies.
Aquela que a marca de impressor mais antiga conhecida foi regista pela
primeira vez em 1457
104
, trata-se do duplo escudo de Fust e Schoffer (Figura
106), sobre o qual quase tudo se desconhece porque os autores no o
usavam em todas as obras (McMurttrie, 1997). Esta marca viria influenciar a
marca de outros impressores como J an Veldener, Lovaina, Holanda 1445
(Figura 107).
Figura 106
Fonte: McMurttrie (1997, p.310)
Figura 107
103
MCMURTTRI E, Dougl as C. O l i vro: I mpresso e F abrico, 3Ed. , Lisboa: F undao Cal ouste
Gulbenkian, 1997.
104
No famoso Sal tri o de 1457, Bi bl ioteca Nacional de Vi ena.
109
Fonte: McMurttrie (1997, p.312)
Segundo Mollerup (1997) as primeiras marcas poderiam consistir num
emblema frequentemente incluindo um c rculo e a cruz, ou c rculo e um
motivo de quatro cruzes, simbolizando o mundo e a f crist, entendido com
ornamentao ou divisa, possivelmente com iniciais, nomes completos ou
trocadilhos. Eventualmente, estas poderiam ser substitu das por ilustraes
(figura 108 e 109). Para McMurttrie (1997), a simbologia dos signos dos
primeiros impressores divide-se em: imitaes ou verdadeiros brases (por
exemplo o impressor do rei Richard Pynson, em Inglaterra de 1509 a 1525);
representaes dos seus nomes (Gilles Couteau que representava facas); o
globo e a cruz cujo simbolismo nunca foi explicado consistentemente (J oo de
Colnia); instrumentos ou apetrechos de impresso (J osse Bade um outro
nome de J odocus Badis Ascensius, Lio e Paris, 1507); e outros motivos se
aproximavam de ilustraes (aves, serpentes, rvores, flores, figura humana,
firura 108). No sc. XV ter-se-o pintado ou desenhado 1500 marcas de
impressor.
Figura 108
Fonte: McMurttrie (1997). 1-Gilles Couteau (p.313); 2-variante de signos com globo e
cruz (p.314); 3- Cristopher P lantin, Anturpia (p.323).
110
O primeiro impressor Ingls foi William Caxton, 1478 (Figura 109), embora
a primeira marca tenha surgido no pa s em 1483 pela oficina de Santo Albano
(Figura 110).
Figura 109
Fonte: Mollerup, (1997, p.36).
Figura 110
Fonte:trade marks of excellence. 1-Marca de Gui Marchant, P ais 1483 (Mollerup (1997, p:
37); 2- Marca do impressor William Caxton (McMurttrie (1997, p: 315); 3- Marca da Oficina
Santo Albano (McMurttrie (1997, p.317).
Richard Pynson alcanou o t tulo de impressor do rei e trabalhou em
Londres no final do sc. XV in cio do sc. XVI per odo em que usou seis
marcas mais ou menos semelhantes (McMurttrie, 1997).
Uma outra marca de impressor inglesa tida como referncia pela sua
qualidade grfica a de J ohn Siberch, primeiro impressor de Cambridge que
aparece no livro De Temperamentis, em 1521 (Figura 111).
Figura 111
111
Fonte: McMurttrie (1997, p: 312)
Na Alemanha, Reinhard Beck impressor de Estrasburgo em finais do sc.
XVI utiliza a figura de um homem rude, enquanto Valentim Kobian que
imprimiu em Hagenau no segundo quartel do sc. XVI utilizou um pavo sobre
um galo e um leo.
Sixtus Riessinger foi o primeiro impressor romano a adoptar uma marca,
reproduz-se a de Antnio Blado (Figura 112) que consta no tratado de
caligrafia de Palatino, impresso nessa cidade em 1548, mas outros se lhe
seguiram como Aldo Mancio em Veneza, 1494 (McMurttrie, 1997).
Figura 112
Fonte: McMurttrie (1997, p: 320)
McMurttrie (1997) refere que as marcas teriam algum objectivo econmico
til aos impressores, que actualmente se tornou desnecessria, embora
constem em muitas capas.
Relativamente a Portugal, a tipografia ter sido introduzida por impressores
alemes apoiados no desenvolvimento da comunidade judaica, relacionado
com livros e documentos impressos (McMurttrie, 1997).
No ter sido fcil aos portugueses, aprenderem a arte da impresso, uma
vez que por interesses corporativos os impressores alemes procuravam no
abrir mo dos seus conhecimentos, atitude que ter mudado ligeiramente face
necessidade de terem ajudantes pelo menos para tarefas menores.
112
Em 1497 surge Rodrigo Alves como o primeiro impressor portugus,
editando nesse ano as constituies que fez ho Senhor dom Diogo de Sousa
e os Evangel hos e ep s t ol as com as s uas expos i es en r omce.
Porm, quanto s casas de impresso, segundo Arnaldo Faria de Ata de e
Melo (1926)
105
sabe-se que em 1470 ou mais certamente em 1474 em Leiria j
existia uma oficina tipogrfica
106
.
Segundo Antnio Ribeiro dos Santos (1745-1818)
107
Valentim Fernandes
(1495-1516), tipgrafo de origem germnica (Morvia) ter-se- estabelecido
em Portugal a partir de 1495 como escudeiro da Casa da Rainha D. Leonor na
Of f i ci na Typogr af i ca em Li sboa. Ter exercido a arte da impresso em
sociedade, como por exemplo com o seu compatriota Nicolau de Saxnia, com
J oo Pedro de Cremona (ou Buonhomini), com Hermo de Campos (ou
Herman de Kempos) ou com Nicolau Gazini do Piomonte. Por ordem da
Rainha D. Leonor, Valentim Fernandes ter impresso, logo em 1495, em
parceria com Nicolau da Saxnia a "Vita Christi" de Ludolfo de Saxnia.
qual se tero seguido outras edies, das quais se destaca em 1510, uma
verso portuguesa dos "Evangelhos e Ep stolas", textos compilados por
Guilherme de Paris e dirigidos ao clero. Em 1518 Valentim Fernandes ter
publicado o que se julga ser o seu ltimo trabalho - o "Reportrio dos
Tempos". Provavelmente, Valentim Fernandes, utilizaria uma marca diferente,
dependendo do trabalho em equipa ou no (figura 113).
Figura 113
Fonte: P rimeiro, Sinal pblico de Valentim Fernandes; segundo, a marca dos impressores
Nicolau da saxnia e Valentim Fernandes, 1495.
P aulo P ereira, A simblica Manuelina. Razo, Celebrao, Segredo, p.125 e 148,
respectivamente.
105
O papel como el emento de identificao, Li sboa: P ortugal , Bibl ioteca Naci onal
106
Antes desta data, j outras ti pografi as trasportadas de cidade para ci dade em funo das
necessi dades e dos cl i entes.
107
Memoria sobre as origens da typografi a em portugal no seculo XV
113
Alguma herldica surge tambm como signo de identidade do impressor ou
do patrocinador
108
(110, 1), embora em geral, a marca de imprensa
frequentemente, chegasse a ter vrias variantes ou mesmo a representar mais
do que um s.
Ainda que a inveno da impresso por caracteres mveis tenha
contribu do para facilitar a comunicao humana no foi suficiente s por mas
foi de fundamental importncia a evoluo tcnica e o incremento de
qualidade no que diz respeito ao suporte papel. Primeiro porque outros
suportes como o papiro e o pergaminho implicariam processos de fabrico mais
dispendiosos e morosos e depois, por razes de comportamento do material.
Resumidamente, a estes factos se refere Mollerup (1997, p.39) quando afirma
que A produo de bom papel para impresso, foi to
importante para o desenvolvimento moderno da indstria da
impresso, como a inveno dos caracteres mveis.
Fabricantes de papel de boa qualidade, estavam inteirados do
facto e queriam por a sua marca no produto final. Eles
faziam isso atravs de marcas de gua, permanentes,
negativadas, impressas no papel, enquanto ainda estava na
forma.
Al m de cert i f i cados de or i gem, as marcas de gua, t ambm er am usadas
par a i ndi car em a qual i dade e o t amanho do papel .
O mesmo autor, alude que os antigos tamanhos de papel ingls (pot;
Foolscap; post; crown; e elephant), tinham o seu nome a partir das marcas de
gua que indicavam o tamanho e a qualidade do papel.
Mollerup (1997) conta que a primeira marca de gua conhecida, data do
sc. XIII em Itlia
109
, cujas marcas, como se poder observar, viriam a
influenciar os filigramas portugueses, no entanto, o mesmo parece ter
ocorrido em outros pa ses (ver figura 114).
Figura: 114
108
Quase todos os l i vros da poca eram patrocinados por um nobre ou cl ri go.
109
Uma antologia, Les f i l i gr anes , mostra mai s de 18000 marcas de gua, organizadas por moti vos
como cordeiro, gui a, ncora, anjo e anel.
114
Fonte: do canto superior esquerdo para o inferior direito Marca de gua da Ljubljana,
Eslovnia, 1532; Alexandria, Egipto, 1513; Veneza I tlia, 1491; Gnova, I tlia, 1339;
Florena, I tlia, 1375/7; Reggio dEmilia, I tlia, 1439; Ferrara, I tlia, 1392; Ferrara, I tlia,
1449; Reggio dEmilia, I tlia, 1429; Antoin, Frana, 1400; Troyes, Frana, 1412; Ferrara,
I tlia, 1506; Ferrara, I tlia, 1395; Montua, I tlia, 1482. P er Mollerup (1997, p.39).
Maria J os Ferreira dos Santos (1997)
110
menciona que as primeiras marcas
de gua
111
ou filigramas, surgidas na Europa (finais sc. XIII), seriam pouco
inovadoras e dbeis ao n vel da composio. Regra geral, consistindo por
exemplo em cruzes, letras, flores de liz, coraes, coroas, balanas entre
outros, evidenciando uma curiosa relao com as marcas dos impressores.
A mesma autora, indica que a partir do sc. XIV, os filigramas ter-se-o
vulgarizado, e que entre o sculo XV e XVI, o trao ter-se- tornado mais
preciso, passando a ocupar uma rea maior da folha e que influenciada pelo
Humanismo Renascentista, a marca de gua comea a individualizar-se e os
s mbolos abstractos comeariam a dar lugar a escudos e brases.
Ao n vel tcnico, a marca de gua no ter sofrido grandes alteraes ao
longo do tempo. Essencialmente, o filigrama produzido sobre o fundo de
uma forma, constitu do por uma trama metlica de bronze muito fino, formada
por fios dispostos horizontalmente, chamados vergat ur as, sustentados por
fileiras verticais, designados de pont usai s; sobre essa forma era cozida uma
figura em arame que retirava material do papel atribuindo-lhe a transparncia.
Refere a autora Santos (1997) que a colocao da marca de gua no era
arbitrria at meados do scul o XVI I I , o seu posi ci onament o na f ol ha de
papel obedeci a a regras, resul t ando desse posi ci onament o a respect i va
cl assi f i cao dos l i vros.
Aquela que conhecida como a primeira marca de gua portuguesa, data
de 1536, embora Maria dos Santos (1997) refira que provvel que no tenha
sido a primeira.
Refere a autora que no decurso do sculo XVII, a temtica da composio
ter ganho uma nova preocupao, relacionada com a individualizao e um
certo gosto barroco. No sc. XIX alguns aristocratas tero usado o seu braso
como filigrama.
As primeiras grandes marcas de papel em Portugal, seriam
maioritariamente importadas (como exemplo a de Giorgio Magnani), tendo
este facto, na opinio de diversos autores, influenciado os primeiros
filigramas nacionais (o que se manteve at meados do sc. XIX). Chegando
110
SANTOS, Mari a J os F errei ra dos A i ndstria do papel em paos de Brando e Terras de Santa
Mari a (scul os XVI I I e XI X). Santa Mari a da Fei ra: Cmara Muni cipal de Santa Mari a da Fei ra, 1997.
111
O estudo dos fil igramas ou marcas de gua encontra- se di rectamente associ ado ao propri etri o e
histria da fbrica, cuj o estudo se torna di f ci l dada o escasso costume de datao.
115
mesmo a originar cpias descaradamente semelhantes (Figura 115). So
esclarecedoras as palavras de Maria dos Santos (1997).sem dvida, as
marcas italianas foram as que, pela sua divulgao em
Portugal, mais influenciaram os nossos fabricantes. At
porque no papel italiano difcil no encontrar o nome de
quem o fabricou.
Figura 115
Fonte: Da esquerda para a direita, a marca de gua de Giorgio Magnani e dois plgios
desta a Fbrica de Vizela e a Fbrica de Castelo de P aiva. Maria dos Santos (1997, p.174).
O facto de alguns dos novos fabricantes serem oriundos de uma classe no
privilegiada fez surgir a necessidade de construir uma identidade para o
papel.
A influncia das marcas italianas ter levado a cpias muito fiis, imitaes
camufladas pela alterao de pormenores ou pela mudana do nome, (em
alguns casos apenas este mudava), provavelmente para tirar proveito
comercial da confuso (figuras 116 e 117) como uma estratgia de Marketing
assumida. Opinio partilhada pela autora Maria dos Santos (1997, p.201), que
acrescenta que a n vel formal, constatamos, depois de analisadas
dezenas de diferentes marcas de gua, que a sua maior ou
menor complexidade tem a ver com o nvel de alfabetizao e
cultura dos diferentes fabricantes.
Figura 116
Fonte: Maria dos Santos (1997, p.183 e p.195 respectivamente).
Figura 117
116
Fonte: Maria dos Santos (1997, p.196 e p.197 respectivamente).
Mas no ter sido apenas o processo de criao do filigrama a manter-se
quase inalterado at actualidade, pois no contexto de produo actual, a
marca de gua encarada como uma prova de qualidade.
117
3.3- O t er cei r o nasci ment o da mar ca a mar ca
moder na
3. 3. 1- A l i ber dade comer ci al e a mar ca
No sculo XVII com a liberdade concorrencial e a crescente indstria, as
corporaes e os seus signos distintivos da idade Mdia foram suprimidos.
A liberdade comercial e industrial ter levado ao surgimento de marcas
individuais, de carcter facultativo no regulamentadas, cujo objectivo era
garantir ou informar sobre a origem, permitindo a identificao do comerciante
(garantindo clientela).
A marca deixou de ter qualquer garantia jur dica, possibilitando a qualquer
comerciante que, sob um mesmo signo identitrio, vendesse produtos de alta
e baixa qualidade.
Neste novo contexto de livre concorrncia e de livre arb trio, criavam-se
novas marcas e com elas, fracas imitaes.
3. 3. 2- O i ndust r i al i smo e a mar ca moder na
A revoluo industrial ter alterado todo o sistema de produo por ventura
causando uma reduo da produo artesanal familiar e a generalizao da
produo em srie.
Dada a taxa de produo, as empresas comeam a sentir dificuldades em
escoar os seus produtos nas proximidades, levando-as a procurar novos
mercados, muitas vezes recorrendo a intermedirios.
A necessidade de vender cada vez mais longe, ter acentuado os
intercmbios comerciais em lugares distantes, numa prtica crescente, desde
a Idade Mdia e nesse caso, a marca seria a nica forma do fabricante manter
algum contacto com o cliente.
As patentes tero sido criadas na Inglaterra, durante o per odo da
Revoluo Industrial, entre 1740 e 1830, consistindo numa espcie de
contrato em que o inventor, ou quem ele autorizasse, tinha o monoplio para
produzir o invento (o custo de produo deveria incentivar o trabalho do
inventor), certamente decorrendo de uma produo e profundas alteraes
tecnolgicas a ritmos acelerados.
Como no final da idade mdia, o poder real regulamentou o uso do braso
familiar, tambm no final da idade moderna se assiste progressiva
regulamentao estatal, no sentido da proteco (contra a cpia, imitao ou
falsificao) do uso da marca registada (Figura 118) ou pela
responsabilizao social e contribuio de impostos. Num mundo em via da
globalizao, a regulamentao alcana o n vel de tratado internacional com a
118
Conveno de Paris em 1883 e a criao da Organizao Mundial da
Propriedade Intelectual OMPI (Costa, 2004).
Figura 118
Fonte: Marca registada. J oan Costa (2004), p:78
3. 3. 3- A publ i ci dade (o car t az mar ca de 1900) e a cr escent e
aut onomi a das mar cas
Desde a Antiguidade que os produtos eram vendidos avulso, mas no in cio
do sc. XIX os comerciantes do sector alimentar tero tomado a iniciativa de
os apresentar embalados, aos clientes, ultrapassando assim os grossistas. Os
produtos tero passado a ser embalados, pesados, conseguindo boas
condies higinicas garantidas com uma marca impressa na embalagem.
Segundo Rui Estrela (2004)
112
o cartaz tem origem no sc. XV, aps a
inveno da tipografia, quando foi impresso o primeiro exemplo conhecido o
Grande Perdo de Nossa Senhora, 1492 mas s depois de 1798 com a
inveno da Litografia (Senefelder) e os avanos tcnicos de 1826
113
a
imagem passa a ter a funo principal de atrair o viandante.
Enquanto J oan Costa (2004)
114
refere que desde o in cio do sc. XVIII, que
nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Frana (1825 publicidade da
seguradora Phni x; 1831, lmpadas L t oi ne; 1840 gua Bot ot ), surgiam as
primeiras iniciativas publicitrias por meio de cartazes.
Nos pa ses referidos anteriormente, ter-se-o seguido o anncio, o folheto,
a imprensa, os correios e a divulgao por este meio, e mais tarde a rdio e o
cinema, que teriam um papel muito importante no desenvolvimento das
marcas, pois permitiam aumentar a sua notoriedade, atravs da sua maior e
mais rpida difuso. No entanto, durante o sc. XVIII e XIX, a promoo das
marcas no era frequente e talvez nem existente, pois esta tinha funo de
112
ESTRELA, Rui A P ublici dade no Estado Novo. Lisboa: Si mpl esmente Comunicando Edies de
Revi stas. Vol . I (1932- 1959) n1, Col eco Comunicando.
113
At i nveno da l itografia, a reproduo do cartaz no era totalmente aceitvel pois li mitava
uti lizao do preto e branco. em 1826 que o processo de i mpresso permi te a reproduo de texto e
i magem a cores.
114
J oan Costa cita J os Lu s Moreno, que ter afirmado que a pri mei ra publ ici dade, teri a sido a de
Nabisco, onde um l oj ista dorme enquanto os ratos comem bolachas avulsas. F azendo uma comparao
com os produtos embalados.
119
selo ou assinatura do comerciante, sem que se procurasse vende-la, pois o
objectivo estava centrado nos produtos.
Refere Estrela (2004) que em Portugal a primeira publicidade surgiu
sobretudo ligadas aos jornais
115
, embora essa associao nem sempre tenha
sido pac fica
116
e aps a revoluo liberal de 1820 com a abolio da
censura (eclesistica e pol tica) que se desenvolve a imprensa e em 1827
surge o primeiro jornal de classificados O per i di co dos Annci os, na cidade
do Porto.
Ter sido William Hesketh Lever, fundador da Lever (empresa dedicada aos
produtos do lar), um dos primeiros a iniciar a era da promoo das marcas,
em vez dos produtos (Inglaterra entre 1880 e 1900).
Contrariamente prtica corrente da poca, o empresrio Lever ter
lanado no mercado uma marca registada o sabo Sunl i ght atravs de
uma forte campanha de publicidade, que procurava converter um sabo
tradicionalmente vendido em barras desiguais, num produto de qualidade
diferenciada e constante (Costa, 2004).
Lever ter criado o nami ng do sabo Sunl i ght (Figura 119), de modo que
fosse simples e fcil de memorizar, inserindo-o posteriormente numa
embalagem e com um grafismo prprio, e com todo o processo de divulgao,
suportado por publicidade.
Cristopher Thomas, concorrente de Lever, no acreditaria ser poss vel
diferenciar um produto pela publicidade, uma vez que as suas caracter sticas
intr nsecas pouco o faziam. Na verdade, o tempo provou que Thomas estava
errado e em alguns anos a marca Sunl i ght era conhecida em toda Inglaterra e
as vendas passaram de 3.000 (1886) para 60.000 (1910), o que levou Lever a
criar novas marcas como: Li f ebuoy, Monkey Brand, Vi m e Pl ant ol .
Figura 119
Fonte: J oan Costa (2004, p.80).
115
O pri mei ro jornal portugus surge em 1641 com o nome Gazeta e dura 6 anos.
116
Segui ndo o exempl o da imprensa internacional de renome, o J ornal de Not ci as foi o pri mei ro em
P ortugal a assumir a publ icidade como pri ncipal fonte de receitas, embora al guns leitores
considerassem que tal incluso era perda de credibi li dade.
120
Desde essa poca, algumas marcas, adquiriram valores altos em muito
superiores ao valor imvel. A marca de automveis Dodge ter sido vendida
por 74 milhes de dlares (1924) e o valor da Camel foi avaliado em 10
milhes de dlares na mesma poca.
Escreve J oan Costa (2004) que, nesta poca, alguns executivos chegariam
a apontar regras para investir na publicidade, dadas como infal veis (embora
algumas marcas que deixaram de investir em publicidade no apresentassem
sinais de queda).
O progresso tcnico ter coincidido com o surgimento do Marketing. Novos
produtos tero sido lanados no mercado e junto com eles, as suas marcas,
cujas publicidades procuravam criar novas necessidades.
Em geral, as marcas do sculo XIX seriam um misto de ilustrao e texto
(Figura 120), onde a ilustrao era a marca ou vice-versa (Figura 121),
seguindo (a n vel formal) o gosto realista figurativo. Quando uma embalagem
ou um rtulo tinha sucesso, convertia-se com frequncia na marca da
empresa, generalizando-se a toda a gama de produtos.
Figura 120
Rtulo Azeite Gallo em que a marca ilustrao.
Figura 121
Fonte: Adaptado de J oan Costa (2004, p.85).
121
Progressivamente, as marcas tero sido simplificadas, seguindo o gosto da
poca, pelo que se viram desprovidas dos seus acessrios ou detalhes
secundrios e passaram a responder a novas exigncias ou necessidades
(Figura 122).
As embalagens, os rtulos e o cartaz foram os principais meios de difuso
das marcas de produto ou empresa e repetindo a mensagem de forma
associativa (Costa, 2004).
Figura 122
Legenda: Cartazes e embalagem das guas do Luso
Nomes de fam lia como os de Friederich Bayer, Henry Ford ou Henri Nestl
tornam-se conhecidos pelo mundo e os seus emblemas, assinaturas ou
s mbolos, transformam-se em marcas grficas globais. A evoluo do logtipo
da BAYER marca claramente a ruptura no ano de 1900 entre a lgica
herldica e a de um moderno monograma (figura 123).
Figura 123
Fases da marca grfica da Bayer, respectivamente: 1861, 1900 e 1929. (adaptao de
Mollerup, 1997, p. 201).
A NESTL e a FORD so exemplos de continuidade de conceito e formas.
Em alemo, NESTL quer dizer pequeno ninho (Figura 124), que o
s mbolo da fam lia e que se simplificou formalmente.
122
Figura 124
O logtipo da FORD, mais recente e originrio do Novo Mundo, parte da
simplificao da assinatura do fundador, sofrendo algumas alteraes formais
(Figura 125) a exemplo de muitas outras empresas que tm vindo a simplificar
formalmente as suas marcas grficas, muitas vezes partindo de um braso
(126 e 127).
Figura 125
Figura 126
Legenda: Companhia Unio Fabril P ortuense das Fbricas de Cerveja e Bebidas
Refrigerantes Sociedade Annima de Responsabilidade Limitada, conhecida pela sigla
CUFP , criada em 1890 como resultado da fuso de sete fbricas de cerveja, seis no P orto e
uma em P onte da Barca.
Figura 127
123
Em 1910 surge no Porto uma das primeiras empresas publicitrias do
pa s
117
a produzir cartazes de grande formato, tratava-se da Raul de
Caldevilla
118
- Empresa Tcnica de Publicidade conhecida pela sigla ETP
119
e
que foi pioneira na comunicao de exterior (Figura 128), tendo patenteado os
primeiros out doors ou t abul et as, sobretudo em percursos ferrovirios entre
Porto e Braga ou mesmo Lisboa
120
(Teresa Lobo, 2001, p.6)
121
.
Figura 128
Fonte: Cartazes de Raul de Caldevilla. Rui Estrela (2004, p. 63).
Em 1916, Caldevilla fundou a Raul de Caldevilla Companhia Limitada, em
parceria com Antnio de Oliveira calem, cuja mesma designao em 1919 deu
origem a uma outra sociedade com vrios accionistas de onde se destaca
Ramos Pinto e que passou para o Palcio do Bolho.
A Participao de Ramos Pinto como accionista da ETP Companhia
originou campanhas de comunicao englobando embalagens, rtulos, brindes
e a definio de uma imagem associada ao consumidor e ao produto vin cola
Ramos Pi nt o. Segundo Estrela (2004) o primeiro quartel do sc. XX em
117
Em Lisboa ter si do cri ada a Agncia Uni versal de Anncios de Thomaz de Mel lo (Av), tal vez a
mais antiga na P en nsul a I brica e que tinha o excl usi vo da afi xao de cartazes em Lisboa, em
estaes de comboio e em alguns l ugares da prov nci a (provavel mente no ter sido registada
l egal mente). Thomaz de Mello, F alando do Of ci o, p. 29, 1986.
118
Raul Caldevi l la frequentou o Curso Superior de Comrcio no I nsti tuto Comerci al do P orto e
P ubl ici dade na Escola de Al tos Estudos Comerci ai s em P ari s.
119
S em 1914 Cal devi l l a registou a empresa como ETP Empresa Tcnica de P ubl ici dade.
120
P ara esta empresa real izavam trabal ho outros artistas grficos como o escultor Di ogo de Macedo e
o pintor F rancisco Val ena com os seus cartazes humoristas.
121
LOBO, Teresa Cartazes P ubl icitri os: Empresa do Bol ho. Lisboa: Mdi ali vros, 2001
124
Portugal, a empresa Adriano Ramos Pinto foi a principal anunciante por meio
do cartaz, cuja elevada produo justificou a criao da litografia Ramos
Pinto e obrigou tambm os concorrentes vin colas a recorrerem a esta forma
de comunicao (Figura 129).
Figura 129
Fonte: Rui Estrela (2004, p: 59 e 60). 1- Cartazes da A. Ramos P into. 2- Empresa Correia
& Alves, anos 20. 3- Real Vin cola, in cio do sc. XX.
Em 1920, foi constitu da a Empresa Tcnica Publicitria Film Grfica
Caldevilla (que adquiriu a anterior como vinha a acontecer sucessivamente),
da qual por incompatibilidades com outros accionistas Caldevilla se demite
em Maro de 1923, motivo pelo qual no participou no novo projecto da
Empresa do Bolho
122
aps aquisio da ETP que passou a funcionar nas
traseiras do Palcio do Bolho.
Tanto as empresas de Caldevilla como a Empresa do Bolho contribu ram
para o destaque do cartaz que deixava sucessivamente de ter um carcter de
edital, para ser considerado como elemento privilegiado de comunicao com
as massas (sobretudo num pa s com tal taxa de analfabetismo), razo que em
1934 leva Antnio Ferro a trazer a Portugal o famoso cartazista francs Paul
Colin.
Em 1927, Fred Kradolfer
123
chegou a Portugal e introduziu um novo gosto
ligado ao expressi oni smo geomt r i co ger mni co associado conscincia do
objecto visual onde elementos suprfluos so eliminados e h equil brio entre
imagem e palavra, que acabou por influenciar os artistas grficos nacionais
(Teresa Lobo, 2001).
J os Rocha em 1936 funda a agncia de publicidade ETP Estudos
Tcnicos de Publicidade (Figura 130), que curiosamente partilhava da mesma
122
A empresa ou grfica do Bolho recorria ao trabal ho de col aboradores como Emmrico Nunes,
Antnio Soares.
123
Sem experincia profissi onal , possu a formao acadmica enriqueci da por vri as fontes de ensi no
125
sigla que a empresa de Caldevilla e que viria a ganhar bastante notoriedade
124
tornando-se numa das maiores do pa s. Mas muitos outros participaram no
mundo da comunicao corporativa fazendo cartazes e logtipos entre outros
elementos, como so exemplo Martins Barata, Oflia e Bernardo Marques,
Carlos Botelho, Carlos Rocha, Amrico Nunes, Roque Gameiro, Roberto
Arajo, Maria Keil, Almada Negreiros, Thomaz de Mello (Tom), Fernando
Azevedo, Victor Palla, Lima de Freitas, Octvio Clrigo e Sebastio Rodrigues
(Teresa Lobo, 2001).
Figura 130
1- Empresa do Bolho; 2- Fred Kradolfer e J os Rocha; 3- Fred Kradolfer; 4- J os Rocha; 5-
Carlos Rocha.
Escreve Estrela (2004) que o comrcio automvel dos anos 20 provocou um
aumento de anunciantes e foi cerca dos anos 30 que a Vacuum Oil Company
que detinha o monoplio dos combust veis em Portugal, se torna no maior
investidor de publicidade exterior, como foram exemplo as primeiras placas de
sinalizao rodoviria nacional, que eram patrocinadas
125
(Figura 131).
Figura 131
Fonte: Rui Estrela (2004, p: 62)
Como refere Estrela (2004) a precria situao econmica durante o
per odo da Segunda Guerra Mundial levou a que a produo de cartazes em
Portugal fosse to escassa como na Europa.
124
Nos anos 20 e 30 em Lisboa surgiram vrias empresas e nem todas el as registadas, como a UP , a
AP A a Belarte, o Marti ns da Hora, o Atel ier Arta e a Agncia Central de P ubl ici dade.
125
O aumento do nmero de carros nas estradas, l evou a que o estado em 1928 resol vesse
regulamentar o trnsito obri gando ci rcul ao na fai xa da direita e afi xando pl acas de si nalizao.
126
No ps-guerra, em Portugal embora o jornal continuasse a ser o principal
meio de veiculao de mensagens, o cartaz acompanha o desenvolvimento da
actividade publicitria em especial na dcada de 50. Porm, no so os
grandes anunciantes mas antes os locais a preferirem o cartaz (Estrela,
2004).
Estrela (2004) afirma que uma das empresas que mais investiu no cartaz da
dcada de 50 foi a Sandeman, que se encontravam em quase todas as
grandes cidades portuguesas e principais estradas, e que como ocorreu com
Ramos Pinto nos anos 20, obrigava os concorrentes a fazerem o mesmo
(Figura 132).
Figura 132
Fonte: Rui Estrela (2004, p: 181)
No que diz respeito promoo da marca com base na publicidade, e
embora com um desfasamento de cerca de 74 anos, ser poss vel estabelecer
um paralelo entre a Lever e o Licor Beiro. Ser tambm de referir, que o
Licor Beiro j existia, quando comeou a sua publicidade, sem que este facto
retire valor ao exemplo, uma vez que ter sido o cartaz, o grande responsvel
pelo aumento da sua dimenso de marca (da regionalidade ao internacional).
O Licor Beiro, tem na sua frmula original (ainda hoje se mantm), uma
bebida medicinal indicada para problemas de estmago, que no final do
sculo XIX j era produzida nas traseiras da Farmcia Serrano, na Vila da
Lous.
Refere um artigo do J ornal de Economia
126
que foi a partir de 1940, que
J os Carranca Redondo comprou a destilaria, que em poucos anos cresceria
expandindo-se aos mercados da Europa e do Ultramar.
126
J os Carranca Redondo: 70 anos a fazer li cor. J ornal de Econom a, 22 de Setembro de 1998
127
Encontra-se no referido artigo do J ornal Economia, a citao de J os
Carranca Redondo, onde afirma que ter sido em 1946 quando surgiu a ideia
de promover o licor com cartazes contribuindo para a reputao da marca,
acabando por chegar aos Estados Unidos e ao Brasil no ps 25 de Abril de
1974.
Os cartazes tero sido afixados ao lado das estradas em locais
estratgicos e em curvas perigosas, cujo sucesso ter levado ao surgimento
de uma empresa de gesto de meios. Tero sido os conhecimentos de J os
Carranca Redondo da geografia do interior, e o sucesso dos seus cartazes, a
originar solicitaes para afixao de cartazes de marcas como a Mabor,
Philips, Autosil, Nitratos do Chile ou a Omo.
Enquanto afixava os cartazes do Licor Beiro (figura 133 e 134), J os
Carranca Redondo, colocaria as publicidades dos seus clientes, uma vez que
os ateliers que as concebiam maioritariamente se situavam nos centros
urbanos (desconhecendo o resto do pa s), detendo durante 10 anos o
monoplio da gesto de meios out door nas estradas portuguesas.
Figura 133
Fonte: cedido pelo Licor Beiro. direita, o cartaz mais emblemtico do Licor Beiro,
produzido em 1947.
Em 1959 publicada uma lei portuguesa que proibia a afixao de
publicidade junto das estradas
127
.
Intimado pela Direco de Estradas do Distrito de Coimbra, fez J os
Carranca Redondo ter-se- negado a desistir, iniciando a pintura de painis
abstractos, com tinta reflectora que o tero levado a responder em tribunal
por 92 processos, dos quais ganhou a maioria
128
, o que ter levantado o
interesse dos jornais.
127
Esta proi bio baseava- se num estudo reali zado em I nglaterra, Dinamarca e Noruega, que atri bu a
aos cartazes, a responsabi lidade de mui tos aci dentes de vi ao.
128
P erdeu 10 processos, representado por um advogado, tendo decidi do representar- se a si prpri o,
vi ndo a ganhar os 82 restantes. Com base em dados do I nstituto Naci onal de Estat sti ca, provou que
128
Segundo a Revista Pblica
129
em 1961, quando estalou a guerra em Angola,
a Cmara Municipal de Coimbra, ter ordenado a J os Carranca Redondo que
retirasse os cartazes com a frase Angola Portugal (assinado pelo Licor
Beiro), pelo que ter sido acusada, pelos jornais, de falta de patriotismo.
J os Carranca Redondo parece ter aproveitado todas as oportunidades que
detectou. O licor ter recebido o nome actual (Licor Beiro), aquando da
realizao do Congresso Beiro, em Castelo Branco no ano de 1929.
A seleco dos slogans parece ter sido tambm fundamental, para o xito
da marca onde se destacam O beiro de quem todos gostam
130
; Que Licor,
Senhor Doutor; Que Licor Feliz, Senhor J uiz; de bom gosto servi-lo, de
bom gosto beb-lo (figura 134), como o material promocional que oferecia
aos clientes (por exemplo rguas em madeira) ou a publicidade nos wc s.
Figura 134
Fonte: cedido pelo Licor Beiro. de destacar a irreverncia da imagem do cartaz ao
centro. direita, uma readaptao do cartaz mais emblemtico do Licor Beiro.
3. 3. 4- Da mar ca i dent i dade cor por at i va (AEG)
No mesmo ano em que Henry Ford implementou a diviso do trabalho e em
linha, de forma inslita, em 1908, Peter Behrens e Otto Neurath, constituindo
a primeira equipa de consultores de imagem, colaboraram juntos com a firma
alem AEG (1908). Este trabalho resultou num programa completo constitu do
por projectos de edif cios, fbricas, oficinas, estabelecimentos comerciais,
produtos, lmpadas industriais, servios de che criaram marcas, logtipos,
cartazes, folhetos, anncios publicitrios, catlogos (Figura 135), etc
depois de retirados os seus cartazes das curvas peri gosas, se havi a registado um aumento de
aci dentes.
129
Um homem e o seu l icor: o beiro de que todos gostam. Revi sta P blica, 06 de Mai o de 2001.
130
Que fazia referncia s origens beirs de Ol i veira Sal azar
129
contribuindo no s para uma comunicao coerente, mas tambm para uma
forte cultura de empresa.
Contribu ram para a imagem coerente e global da AEG, e constitu ram o
paradigma histrico da identidade corporativa e hoje embrio
do que chamamos imagem global. (J oan Costa, 1992, p.25)
Figura 135
Fonte: Adaptado de J oan Costa (2004, p.87).
3. 3. 5- O desi gn no per odo da I I Guer r a Mundi al
Segundo o autor Adrian Frutiger
131
(2002, p.86), a guerra de 1939-1945 ter
paralisado qualquer impulso criativo na Europa, e fora do conflito,
a Suia seguia o seu curso nestes dom nios.
Nas escolas de Artes de Basileia e Zurique, desenvolvia-se o design a par
de uma clara rejeio do construtivismo.
Steiner em Zurique e Hoffmann em Basileia, tero sido iniciadores de uma
nova direco no campo do design grfico, em que Eidenbenz, Falle, Piali e
outros reformaram a concepo dos cartazes e Emil Ruder, a concepo
tipogrfica (Adrian Frutiger, 2002).
Nos s mbolos, ter-se- abandonado a representao figurativa a favor da
simplificao ou s ntese grfica onde o desenho se limitaria ao contraste
branco-negro ou forma-fundo (ver figura 136). Os signos lineares, tero
ganho maior relao formal, apresentando uma espessura constante (figura
137).
131
F RUTI GER, Adri an - En torno de l a tipografia. Barcel ona: Editori al Gustavo Gi ll i, 2002
130
Figura 136
Fonte: Adrian Frutiger (2002, p.86)
Figura 137
Fonte: Adrian Frutiger (2002, p.86)
Num primeiro per odo, o signo pretender-se-ia claramente reconhec vel.
Enquanto que numa fase seguinte, a abstraco e a geometria parecem
predominar no grafismo. Disso so exemplo a serpente quadrada e a sugesto
do olho, como se exemplifica na figura 138 ( Adr i an f rut i ger , 2001, p. 86)
Ao n vel da tipografia, esta ter passado a ser compreendida para alm do
conjunto, onde a letra isolada em si abstracta, e por isso, um meio para
desenhar logtipos.
Figura 138
Fonte: Adrian Frutiger (2002, p.86)
3. 3. 6- O desi gn do Ps-Guer r a
Refere J oan Costa (2001)
132
que em 1928 Camillo Olivetti, na empresa que
recebeu seu nome (Olivetti), abriu um servio de publicidade (situado em
132
COSTA, J oan - I magen Corporati va en el sigl o XXI . Buenos Ai res: La Cruj a Edici ones, 2001
131
Ivrea) que trs anos mais tarde, passaria a Departamento de Desenvolvimento
e Publicidade.
No ps-guerra (1946), ter-se- reorganizado em Milo a Oficina Tcnica de
Publicidade gerida por Giovanni Pintori. Em 1957 o departamento de
publicidade da Olivetti, muda-se de Ivrea para Milo, sob a direco de
Ricardo Muratti e a direco de imagem corporativa (posterior) ter passado a
desempenhar um papel fundamental no design e nas actividades em geral da
empresa passando a coordenar a comunicao, a publicidade, as actividades
de promoo, as relaes pblicas, o departamento e a implementao de
projectos de expanso.
No ps-guerra com o nascimento e expanso de uma indstria vocacionada
para o consumismo responsvel por uma posterior uma saturao de
mercado, o design ter assumido um papel relevante ao n vel socio-
econmico.
O st yl i ng surgiu nos Estados Unidos da Amrica, nos anos 30, com um
objectivo essencialmente comercial: o de aumentar as vendas. Formas
aerodinmicas so adoptadas e com uma lgica industrial moderna.
O francs Raymond Loewy desenvolveu nos EUA, as suas ideias sobre
esttica de design industrial e grfico, sob a convico de que o f ei o vende
mal , onde sugeria uma fuso entre as duas reas do design, considerando
indissocivel a ligao entre marketing e produo; filosofia rapidamente
aceite pela indstria de orientao consumista, a comunicao de massas
passa a ter importncia significativa. So exemplo os automveis Ford ou MG
e Renault ou a identidade corporativa das linhas areas como KLM (projecto
de F.H.K. Henrion, anos 50).
Refere J oan Costa (2001) que o alemo Walter Landor partiu para os EUA,
levando consigo as ideias de Behrens, Neurath e Olivetti e da filosofia da
Bauhaus, que transformaria redutoramente. Ainda que no tenham sido estes
dois autores (Walter Landor, Raymond Loewy), os responsveis pela
associao redutora de que design de Identidade Corporativa apenas um
conjunto de objectos com grafismo, tero seguramente contribu do para o
reforo dessa ideia.
3. 3. 7- Escol a de Ul m (1953-1968)
A Escola Superior da Forma (Hochschul e Fr Gest al t ung) em Ulm
(Alemanha, 1953 - 1968), considerada por muitos herdeira da Bauhaus do
ps-guerra, foi a tentativa mais significativa de restabelecer a ligao
tradio do Design alemo, destacando-se pela concepo moderna e prpria.
132
Fundada em 1953 por Inge Scholl, Otl Aicher e Max Bill, e iniciando
oficialmente actividade em 1955, com Max Bill, no cargo de director. Max Bill,
encarava a Escola Superior da Forma, como uma sucessora da Bauhaus,
pelos seus mtodos, programas de ensino e ideais pol ticos, mas tambm por
acreditar que o design tinha um importante papel social a desempenhar.
Na escola de Ulm, o ensino no estaria orientado para reas em particular,
mas para a interdisciplinaridade, dividindo-se em quatro departamentos:
design do produto, design de comunicao, construo, informao, e mais
tarde, um de cinema.
Num primeiro momento, a Escola Superior da Forma seguindo um modelo
prximo da Bauhaus, de que se afasta progressivamente, orienta-se para uma
educao mais cient fica, tecnolgica e para a implementao de uma
metodologia do Design.
Alguns dos professores da escola de Ulm, rejeitaram liminarmente o papel
da Arte no design, nomeadamente Maldonado, o que ter criado conflitos
internos que levariam Max Bill resignao do cargo de director.
Toms Maldonado ter ocupado o cargo de director, implementando um
novo programa centrado na resoluo de problemas tcnicos sobretudo
relacionados com o design de informao, em detrimento do de produto.
Maldonado, consideraria que o factor esttico deveria apenas ser mais um
factor entre outros, com os quais o designer opera, mas no o predominante.
Ter mesmo, manifestado a sua oposio ao Styling americano e a Raymond
Loewy, um dos seus principais mentores.
Nos seus ltimos anos, sob a direco de Herbert Ohl (1966/68), a escola
ter colaborado com empresas como a Kodak e a Braun, numa tentativa de
criar uma forte orientao prtica ao ensino. Mas as disputas pela liderana
da escola e o crescimento do movimento de contra-cultura (com auge em Maio
de 1968, criticando o papel do Design enquanto auxiliar da industria e
promotor de uma sociedade consumista), tero levado a um progressivo corte
de fundos, que ditariam o fim do projecto.
O esp rito da escola parece no entanto continuar presente, influenciando
antigos alunos e professores como exemplificam a Lufthansa e os comboios
ICE.
133
3.4- O quar t o nasci ment o da mar ca O cdi go
3. 4. 1- O cont ext o e a mar ca como um si st ema vi vo
Como foi poss vel observar ao longo desta abordagem histrica, e como
refere o autor J oan Costa, (2004, p.105), Os ci cl os econmi cos e os
pr ogr es s os t ecnol gi cos af ect am pr of undament e o manus eament o
das mar cas .
A revoluo tecnolgica ter possibilitado o surgimento de novos meios de
comunicao e a globalizao, onde muitas fronteiras terrestres desaparecem
e aumenta a acessibilidade aos novos media.
J ohn Murphy e Michael Rowe (1989, p.10), referem que a verdadeira
expl os o das mar cas ocor r eu nos l t i mos 30 anos , em gr ande
par t e devi do t el evi s o, s i nds t r i as s ecundr i as e de
s er vi os . Ser pos s vel s upor que t endo em cont a al t er aes
t cni cas , cul t ur ai s , pol t i cas e s oci ai s que s e s uceder am
es t ar o a decor r er novas mudanas nas mar cas (Figura 132).
J oan Costa, (2004), considera que desde a segunda metade do sculo
passado a economia da informao substitui sucessivamente a economia de
produo. Sendo que um dos eixos principais da economia da informao a
cultura do servio.
Refere o mesmo autor, que a marca ter comeado por ser um signo
(Antiguidade), depois um discurso (Idade Mdia), um sistema de memorizao
(economia industrial) e actualmente todos os anteriores e mais, constituindo
um sistema vivo e complexo de inter-relaes (economia da informao).
Para J oan Costa, (2004), a marca um sistema vivo e complexo, porque
actualmente j no algo que apenas se agrega ao produto e porque no
esttica, dela faro parte vrios n veis de inter-relao organizados em
grupos e sub grupos dinmicos (grupos: funo, razo, emoo; subgrupos:
produtos, banca, edif cios, etc.), constituindo o processo de passagem do
signo ao s mbolo.
Os autores J oan Costa (2004), Norberto Chaves (1988) e Davies, G. [et. Al]
(2001), partilham do mesmo ponto de vista, considerando que o design
(mesmo englobando todas as suas reas) fundamental para a definio da
marca, mas no basta por si s. Segundo os autores referidos, para entender
o fenmeno da marca, necessrio compreender o imaginrio social,
relacionado com o processo de tomada de deciso e com a imagem mental
que resulta das nossas percepes.
J oan Costa (2004) refere que perante uma nova marca, o potencial
comprador forma uma opinio baseada no olhar, dando origem a uma pr-
134
imagem mental do produto, mas que ser o resultado da experincia real com
o produto ou servio a ditar futuras compras.
O autor considera que o actual fenmeno da marca constitui um arco entre
o signo e o s mbolo, relacionado com a pirmide de motivaes de Maslow
133
(Figura 1, pag. 6), onde as necessidades se sucedem na pirmide medida
que as anteriores so satisfeitas.
Para o autor J oan Costa (2004), a relao entre marca e utilizador, regista-
se num crescimento progressivo ou passagem da marca/funo
marca/emoo (Figura 139).
Figura 139
Fonte: Adaptado de J oan Costa (2004) p: 116.
Na revista Marketeer, em diferentes nmeros, encontram-se vrios artigos
referentes importncia das emoes na tomada de deciso. Num deles
134
poss vel ler que num congresso realizado em Lisboa
135
, Ant ni o Dams i o
pr ovou de f or ma ci ent f i ca que os s ent i ment os i nt er agem na
deci s o, apoiando a sua investigao na anlise de crebros humanos com
leses ou malformaes congnitas que afectavam apenas a regio
responsvel pelas emoes (lobo frontal).
Os estudos e testes comportamentais tero mostrado que os indiv duos
eram capazes de manter n veis de coerncia, inteligncia, humor e
conhecimento perfeito sobre o mundo, no afectando a sua actividade
profissional desde que no implique tomada de deciso. Nesses casos mesmo
perante a tomada de decises elementares, devido s leses e distrbios
emocionais advenientes, os indiv duos revelam comportamentos
irresponsveis o que se transforma numa carga de risco elevada.
133
MASLOW, Abraham. (1992). Vi si ones del f ut ur o. Barcelona: Kai rs
134
As emoes e a tomada de deciso, Marketeer, Maro de 2000, p: 82e 83.
135
Congresso inti tulado As emoes e a tomada de deciso, organizado em 2000, pela ConferF orum.
135
Num outro artigo da mesma revista pode ler-se
136
que o processo de
deciso de compra largamente influenciado pela experincia do consumidor
em relao ao produto. Que mais do que o processo de deciso racional que
pressupe vrios estdios: reconhecimento da necessidade;
procura da informao; avaliao de alternativas; compra e
consumo, o consumidor motivado emocionalmente Os produtos
deixam de ser percebidos como bens ou servios e passam a
ser como um conjunto de experincias distintas, memorizveis
e individualizadas. Quanto mais distintas forem, mais os
clientes estaro dispostos a pagar um preo superior.
Esta influncia emocional ser largamente influenciada pelos sentidos,
razo que possivelmente se justificar o surgimento de marcas sonoras (sons
associados, melodias, gingles), como refere Pedro Pires do grupo Brandia
Network (2000)
137
, quando refere que a marca influencia-nos de
muitas formas e manifesta-se numa srie de reas. Temos de
ocupar todos os espaos sensoriais para que a marca exista
na sua dimenso total. necessrio uma abordagem
multisensorial para envolver o consumidor em toda a sua
dimenso ou Edson Atayde, que citado no mesmo artigo refere que uma
as s i nat ur a mus i cal pode ajudar memorizao, o que
muito til quando a marca tem um nome estranho.
Se bem adequada, gerida e implementada, a interaco entre marca e
consumidor atravs do est mulo dos sentidos parece contribuir para uma
experincia nica. Talvez seja essa a razo pela qual se tem registado o
interesse pelas diferentes perspectivas da marca, seja sonora, aromtica ou
comportamental privilegiando o contacto directo entre empresa e cliente final.
O olfacto o sentido mais difcil de controlar e de
racionalizar mas, em contrapartida, o mais fcil de
guardar na memria, de despertar sentimentos e de criar
emoes Assim comea o artigo Margarida Henriques (2000)
138
, que refere
que o aroma pode estar associado a diferentes suportes ou mesmo criar
ambientes corporativos (reforando os seus valores), que podero ajudar na
fidelizao de clientes. Ao n vel do produto, exemplificado o caso de uma
gama de tintas Barbot, que contm perfume de ma na sua composio, mas
ainda tantos outros como o Skip, a Renova ou a Henkel . No que se refere ao
aroma da marca corporativa e nos pontos de venda, referenciada a
136
Marketi ng de experinci as, Marketeer, n39, Setembro de 1999, p: 70 72.
137
L ogt i pos e mar c as c om s om. Lisboa: Mar ket eer , Fever ei r o de 2000, p. 62.
138
HENRI QUES, Mar gar i da I dent i dade Ol f ac t i va: O Mar ket i ng es t no ar . Li sboa:
Mar ket eer , Mai o de 2000, p. 28- 30.
136
utilizao desta prtica sobretudo no J apo, nos Estados Unidos e na
Alemanha (Por exemplo a BP e a Mannesmann telecomunicaes.).
Refere o mesmo artigo, que em Portugal, a Galpgest j ter realizado
experincias no sentido de implementar aromas corporativos, os quais no
tero avanado devido aos custos e s caracter sticas arquitectnicas dos
seus espaos. J o Centro Vasco da Gama, ter iniciado a prtica dos
ambientes aromticos, para aumentar o tempo de permanncia dos
consumidores, individualizar o espao, comunicar valores corporativos e
neutralizar maus odores, opinio de Carlos Paredes
139
, citada no referido
artigo.
Quanto ao contacto directo entre empresa e cliente final, este parece
tender a ser reforado, verificando-se a presena de colaboradores ou pontos
de promoo, em reas de consumo ou lazer, como sejam cinemas ou centros
comerciais. Refere Margarida Henriques
140
num outro artigo, que alm de
conseguirem uma relao mais prxima com o pblico-alvo, h
tambm outras vantagens neste tipo de aces promocionais.
Entre elas contam-se no s o efeito surpresa mas tambm a
disponibilidade que as pessoas tm para qualquer mensagem
publicitria, uma vez que esto num momento de lazer. Parecem
no entanto, existir outras razes, as quais ficam claras na citao de J oo
Carmeira
141
ao referir que a publicidade nos cinemas de qualidade superior
em termos sonoros e grficos, e relacionando-a com uma memorizao mais
fcil por estar dispon vel num momento de lazer. Mas que tambm uma aco
promocional no foyer de um cinema ou num hipermercado pode trazer ptimos
resultados, uma vez que haver uma relao quase directa entre
publicidade e o acto de compra.
3. 4. 2- Per sonal i zao e adapt ao s necessi dades do
cl i ent e
Tseng e Piller (2003), no seu livro The cust umer cent r i c ent r er pr i se
142
,
referem como as novas alteraes do mercado, justificam modificaes na
arquitectura das empresas, pelo reforo da sua vocao para satisfazer os
139
Scio gerente da Aromi x, empresa dedicada ao Marketing Aromtico e responsvel pelos casos
portugueses ci tados.
140
HENRI QUES, Mar gar i da P romoes: P orque vo as marcas ao ci nema, Lisboa: Marketeer,
Dezembro de 2000, p. 36- 38.
141
Di rector geral da RMB, que tem a concesso das salas da Lusomundo, Warner e AMC.
142
TSENG, Mi tchel l M; P I LLER, F rank T. - The custumer centric entrerprise: advances i n Mass
Customization and P ersonal izati on, Nova Y ork /Berli m: Sringer, 2003.
137
desejos do cliente, com valor acrescentado e individual atravs dos processos
de Mass Cust omi zat i on (fabrico em massa adaptado medida do cliente) e
personalizao de produtos.
Niels Y. Vink (2003)
143
, refere no caso da Mass Cust omi zat i on, os
consumidores fornecem as suas preferncias (encomendam) e o produto
produzido depois, de acordo com as especificaes. Permitindo aos clientes,
criar o seu produto nico, no qual expressa o seu gosto e estilo pessoal.
Miguel Fonseca (2000, p.28)
144
, refere que os anos noventa
representam a formao no marketing personalizado, em que o
conhecimento sobre os clientes individuais usado para
conduzir experincias estratgias altamente focalizadas de
marketing. Considerando que a mudana se deve a diversas circunstancias,
tais como a maior utilizao dos processos de comunicao; a globalizao
da economia; o aumento da concorrncia; a crescente fragmentao do
mercado; e o aumento dos padres de exigncia do consumidor, assim como
a sua rpida mudana.
Fonseca (2000, p.38) considera que todas estas alteraes e a evoluo da
tecnologia, esto a revolucionar todas as indstrias e as formas de
comercializao, as quais implicaro outras formas de comunicar a
identidade. Todos os sectores o sentem, desde o bancrio,
produo, publicidade, s publicaes, educao, etc
Toda esta presso das novas tecnologias combinando com o
aumento das exigncias dos clientes (flexibilidade,
convenincia, customizao, servio, etc.) e hyper-
competio (mercados globais, diminuio do ciclo de vida
dos produtos, aumento dos riscos, mudanas rpidas) requer
que as e-Empresas redefinam as suas estratgias, os produtos
e processos.
No que se refere s potencialidades da utilizao da novas tecnologias,
para comunicar os valores da identidade e vender produtos, Fonseca (2000,
p.54) refere que na Internet no h uma avaliao da dimenso
fsica das e-Empresas, mas sim do que oferecem, algumas
empresas podem criar imagens na Internet que lhes vo
permitir competir com as grandes e-Empresas. Por outro lado,
refere que a Internet em particular, tem a vantagem de comercializar produtos
e aumentar o nmero de negcios, uma vez que disponibiliza os servios a
qualquer hora, servindo ao horrio de convenincia de cada cliente. Na sua
143
VI NK, Ni el s Y . Customi zati on Choi ces: Consumer product Deci sions i n Mass Customization
Envi ronments, 2003.
144
F ONSECA, Miguel e- Marketing. P orto: Edi es I P AM, 2000.
138
opinio, na Internet o Marketing deveria ser One-to-One e no massivo,
adaptando-se ao perfil de cada cliente, o que direccionaria os recursos com
menor risco e poderia ter como consequncia a satisfao e fidelizao do
cliente.
Don Peppers e Martha Rogers (1998)
145
referem que o futuro passa pela
segmentao individual onde os produtos so individualizados e as
estratgias de comunicao criadas para um s cliente. Um cenrio onde a
comunicao e o feedback entre empresa e cliente parece ser fundamental e
onde alcanar a satisfao do segundo o mais importante. O que na opinio
de Fonseca (2000) impe s empresas que se capacitem para a obteno de
bases de dados; meios de interactividade do cliente com a empresa; e
tecnologia para suportar os anteriores capacidades referidas e disponibilizar
o produto ou servio.
Scott M. Davis e Michael Dum (2002)
146
referem que os ambientes virtuais
de marca, so um ve culo de experincia de compra tornados dispon veis pela
exploso da Internet nos finais dos anos 90 que continuaro a desenvolver-se
e que embora ainda na sua infncia, j est a remodelar as relaes entre
marca e consumidor.
Segundo Davis e Dum (2002), a fora dos ambientes virtuais de marca,
reside no controlo que os consumidores assumem, na facilidade de uso, na
riqueza de informao, na agregao de mercados, na eficincia e na
flexibilidade. Ainda, que a empresa tenha sua disposio a escolha (ou no)
de um site vocacionado para o consumidor, numa lgica de adaptao,
dirigida criao de experincias diferenciadas e novas oportunidades de
negcio.
No entanto, Davis e Dum (2002) referem que necessrio definir qual o
papel do site em relao marca: 1- ir isto substituir outras experincias de
compra? 2- Ser utilizado como ve culo de compra complementar em
conjugao com outras experincias de compra? 3- Ir variar por segmentos
espec ficos de consumidores em redor de cenrios de uso espec fico? 4- De
que forma se pode aperfeioar para cumprir com a promessa de marca?
Tambm Davis e Dum (2002) consideram que os consumidores
aprenderam a servirem-se com base no seu calendrio e ao seu
ritmo.
A experincia que o site customizado possibilita, depende largamente do
seu carcter intuitivo, da velocidade
147
, da disponibilidade
148
e da
145
P EP P ERS, Don; Roger, Martha Entrerpri se One- to- One. Londres: P i atkus Books, 1998.
146
DAVI S, Scott M. ; Mi chael Dum - Bui l di ng the Brand Dri ven Business, Nova Y ork: J ossey Bass, 2002.
147
F aci li dade ou rapi dez de acesso, rel aci onando- se com a capaci dade de comunicao da informao
e do sistema.
139
usabilidade
149
. Pontos que segundo Davis e Dum (2002), contribuem para a
concretizao da eficcia da comunicao.
3. 4. 3- O eDesi gn e a mar ca on-l i ne
Dever ser seguro afirmar que as ditas novas tecnologias, tm tido e
certamente tero, um profundo impacto sobre os negcios e os
comportamentos corporativos.
Embora diversos autores refiram que os negcios por Internet ainda se
encontram em constante redefinio com crescimentos e recuos, ter uma
presena on-line da empresa quase passou a ser uma obrigatoriedade.
Por outro lado, na Internet no h fronteiras f sicas, pelo que a empresa
comunica e pode entender o mundo enquanto mercado potencial. Neste
contexto, como refere J oan Costa (2003)
150
, eBusi ness define-se como a
ut i l i zao de t ecnol ogi a i novador a para cri ar r el aes e comrci o
gl obal ment e.
J oan Costa (2003) introduz o conceito de eDesi gn, que entende como a
nova linguagem grfica espec fica, que surge a par do eBusi ness, emergentes
de uma r evol uo t ecnoeconmi ca (Figura 140).
Figura 140
Fonte: COSTA, J oan, (2003), p:139
Segundo J oan Costa (2003), mais que o produto, ou a estratgia comercial
e publicitria, o problema do eBusi ness a inovao comunicacional que
implica o dom nio da nova linguagem interactiva.
Refere o autor, que para vender na Internet no basta conhecer o
consumidor, mas tambm entender o comportamento do ci ber naut a
151
(o que
estar relacionado com a interface).
Se Phil Carpenter (citado na Marketeer n51, p:21), autor do Livro
eBrands, refere que o mercado on-line caracterizado por um nmero
148
Rel aci ona- se com o acesso ao servi o, aproxi mando- se das necessidades do uti lizador.
149
Usabil idade refere- se facil i dade de util izao, de um site, uma apl icao informtica ou qual quer
outro sistema que i nteraj a com o util izador.
150
COSTA, J oan, Di sear para l os ojos, Grupo Editori al Design, 2 Edi o, La P az, Bol i vi a, 2003
151
I ndi v duo que navega na I nternet.
140
excessivo de opes, em que os clientes indecisos e perplexos optaro pelo
que lhes for familiar e acabaro por estabelecer relaes com
algumas marcas da internet, fazendo negcios repetidamente
com elas. Diferentes autores referem que a satisfao do cliente um
factor importante para o fidelizar marca. J oan Costa (2003) cr que a
satisfao apenas se realiza misturando o contedo da oferta com servios de
valor acrescentado, que estrategicamente so a melhor oportunidade de
aproximar a marca ao cliente. Ao n vel on-line, far com que o cliente
regresse ao site. Opinio partilhada por J os Tavares do Shopi ng Di r ect
(citado na Marketeer
152
) que afirma que na internet, no se aplica a lgica do
negcio baseado no produto uma vez que o seu lugar passou a ser
ocupado pela lgica do negcio baseado no servio e em que a
informao a matria-prima de cada marca online.
Para J oan Costa (2003), a satisfao do i nt er naut a, resultar em primeiro
lugar de sinergias entre a estruturao eficaz dos contedos de comunicao
mediante a linguagem tcnica espec fica do eDesign (o autor refere que
estudos comprovam que o primeiro impacto visual da pgina fundamental
para o seu abandono ou no); Em segundo lugar, nas estratgias de
eMarketing baseadas na inovao, no valor acrescentado e na
personalizao.
Na ptica do eMarketing a Internet dever ser encarada como um novo
ponto de atendimento, no qual a marca dever ser transformada num
prestador excelente de servios.
Na internet o valor acrescentado ser a informao, o servio
personalizado e os media, que devero criar uma experincia positiva, que
motive o regresso do cibernauta.
Tambm a linguagem da internet difere dos restantes media, uma vez que
como refere J oan Costa (2003, p.147) bidireccional, pessoal,
coloquial, dialogal, comunicacional e o indivduo um acto,
no um receptor passivo.
Para o referido autor, o eDesign ser um servio com quatro condies
fundamentais: 1- No causar perdas de tempo ao internauta, evitando a
sobrecarga de informao, a inconsistncia grfica e a falta de hierarquia e
organizao; 2- Garantir a individualidade de cada utilizador, tratando-o de
forma diferenciada e correspondendo s suas expectativas; 3- O servio no
termina no acto da venda, mas deve continuar a resolver problemas ao
cliente, como por exemplo assistncias ps venda (Ex: Centro de apoio ao
yogurte, da Danone); 4- Criar comunidades ou fruns de discusso livre entre
clientes.
152
Revi sta Marketeer, n51, Setembro de 2000, p:18 22.
141
3. 4. 4- A mar ca emoci onal na er a di gi t al
No seu livro
153
, Daryl Travis (2000) entende a marca contempornea
essencialmente como uma relao com o cliente, que cada vez mais se
desloca do campo da lgica para o das emoes (e cujo final uma imagem
ou reputao mental).
Para Travis (2000), a marca no depende apenas de um programa visual
onde se define um nome e um logtipo, e a normalizao da sua apresentao
ao mundo. Mas sobretudo o seu significado simblico e os sentimentos que as
suas associaes conseguem despertar nos outros criam o capital - marca.
Refere Travis (2000, p.15), que uma marca no uma fbrica,
maquinaria, inventrio, tecnologia, uma patente, um
fundador, copyright, um logo ou um slogan. No entanto o teu
produto a tua marca (como referi anteriormente, um produto
feito na fbrica e uma marca na tua cabea).
Para Travis (2000), a gesto de identidade corporativa em grande medida
a monitorizao da relao marca-cliente. Neste contexto, como um indiv duo,
cada marca tem uma identidade, que se transmite de todas as formas (directa
ou indirectamente, seja fisicamente, por comportamentos, pelo status social,
pala metodologia do negcio, etc.), a qual influenciar as decises de
compra. Actualmente, a marca inteligente transformou-se em
nada mais do que dotar um produto com os valores sociais que
os consumidores pretendem (Daryl Travis, 2000, p.16-17).
O autor Daryl Travis (2000, p.25) est convicto de que uma resposta
emocional para com uma boa marca tem como consequncia bons benef cios.
Considerando que uma marca ocupa um territrio racional e outro emocional
do crebro humano, de onde resulta a opo de escolha, mas onde as
emoes ocupam lugar privilegiado para a diferenciao. Uma marca no
marca enquanto no desenvolver uma ligao emocional
contigo.
Como Travis (2000) e J oan Costa (2003), Naomi Klein (2002) no seu
controverso livro
154
No Logo o poder das marcas
155
, tambm refere uma
crescente importncia da Internet para a corporao.
153
TRAVI S, Daryl Emoti onal Brandi ng: How Successful Brands Gai n the I rrati onal Edge. Cal i frni a:
P rima Venture, 2000.
154
A autora procura denunci ar o poder das marcas, que segundo a mesma, se sobrepe aos i nteresses
sci o- humani stas.
155
KLEI N, Naomi No Logo: o poder das marcas. Lisboa: Rel gio Dgua Editores. J ulho de 2002.
142
Para Naomi Klein (2002, p.66), as verses on-line das marcas, cada vez
mais apresentam um misto entre publicidade e contedo editorial ou
informativo (o que aumentar a sua eficcia persuasiva). A este propsito, a
autora d o exemplo da MTV, que ter funcionado como um anncio de vinte e
quatro horas para a prpria estao. A primeira estao televisiva que
realmente funciona como marca, o que segundo a autora reside no
simples facto dos telespectadores no verem programas
individuais, de simplesmente verem a MTV.
Para Naomi Klein (2002, p.72) as marcas em geral pretendem uma
integrao no corao da cultura, onde sero aceites como arte e no como
publicidade. Ter sido esta razo a provocar uma fuso entre as estrelas do
cinema ou da msica e a marca, onde a figura do patrocinador se funde com
a da organizao e cuja reputao chega mesmo a competir com as das
estrelas (aponta exemplos como a Nike; Coca-Cola; Gap; Tommy Hilfinger)
Mas quando as marcas e as estrelas so a mesma coisa, elas
so tambm, por vezes, competidoras nas altas paradas da
disputa para dar a conhecer a marca. Exemplo bem conhecido da
populao portuguesa ser o caso do grupo musical EZ Speci al , que
cresceu com as publicidades da Vodafone (que por sua vez se associaram a
uma msica do grupo), os quais funcionam como associaes rec procas.
Para Travis (2000), a transio de uma economia de produo em massa
para a customizao de massas vem alterar por completo a estrutura de
negcio. Ainda actualmente poss vel que a marca comunique com o seu
cliente numa lgica de one- t o-one.
Travis (2000, p.127) refere que ao n vel da Internet, existem sites onde o
consumidor pode customizar e/ou personalizar ambientes, produtos e servios
escolhendo num menu que lhe disponibilizado. Neste sentido, o cliente
torna-se co-cri ador do contedo e o produto deixa de ser um artefacto para
se transformar numa experincia Do ponto de vista da marca, a
personalizao faz dos clientes parte da sua competncia.
A existncia de um histrico e um perfil de cliente possibilitam, a exemplo
da Amazon.com, que a marca armazene informao das pesquisas anteriores
e sugira publicaes relacionadas. Mas como refere Travis (2000), o mais
importante ser que com a tcnica one- t o- one a marca no necessita
questionar os seus clientes sobre os seus desejos, pois so eles que o dizem.
Desta forma a marca corre menos riscos de investir em produtos que podem
no satisfazer as necessidades e desejos dos clientes.
Por outro lado, refere Travis (2000) que na Internet as marcas so mais
transparentes, uma vez que o cliente tem acesso a inmeras informaes
143
juntas (relatrios de contas, historial, servios e produtos, contactos, etc.) e
pode compara-las com as concorrentes.
3.5- Concl uses sobr e os nasci ment os da mar ca
Ao longo do terceiro cap tulo da presente dissertao notria a forma
como as alteraes culturais, sociais, econmicas e tecnolgicas vo
alterando a funo simblica da marca.
1- Numa primeira fase ou nascimento, a marca ter tido como funo a
i dent i f i cao da aut or i a, devido ao orgulho do criador ou por necessidades
utilitrias relacionadas com a remunerao laboral ou a posse de bens, so
disso exemplo monogramas, signos poveiros, marcas de canteiro e de gado,
entre outras.
Por outro lado, o sistema econmico parece ter grande influncia sobre a
marca, cuja utilizao se vai fazendo ao ritmo das necessidades comerciais.
Assim se pode concluir ao analisar o sistema de identidade das nforas, cuja
complexidade de sistema aumenta em funo das correntes comerciais, da
quantidade de produtos dispon veis para venda e da necessidade de
identificar locais de produo.
2- Embora por vezes sem fronteiras claramente definidas, o segundo
nascimento da marca refere-se a um novo contexto no qual a marca se insere
a marca obri gat r i a, militar e de status social. Um contexto repleto de
alteraes culturais, com implicaes directas sobre a liberdade individual,
144
comercial e corporativa, caracterizado pela obrigatoriedade aos of cios na
constituio das corporaes, cuja conduta era fiscalizada.
Por outro lado, a herldica, que faz a transio do primeiro para o segundo
nascimento da marca, comeando pela funo de diferenciao num campo de
batalha ou torneio, para a distino do estatuto ou linhagem social e familiar.
Ser importante referir que existem semelhanas entre diferentes sistemas
de identidade, unidos por exemplo pela relativa partilha do mtodo de
cedncia da marca (Signos poveiros, marca gado e herldica) ou na
proximidade formal (monogramas, signos poveiros, marcas de canteiro,
marcas de cermica). A tcnica e o material suporte, parecem ocupar tambm
o seu papel no que diz respeito influncia formal sobre a marca, so disso
exemplo as marcas de canteiro dependentes do tempo de execuo e do
dom nio tcnico e das propriedades da pedra; as marcas de cermica que
frequentemente so incises ou cunhos sobre argila; as marcas de gua
resultantes de filamentos utilizados no fabrico do papel; ou os signos
poveiros, que variam em conformidade com o suporte diferenciando-se (sobre
papel, madeira, nos peixes ou nos barcos, etc.).
3- O terceiro nascimento da marca decorre directamente de alteraes
sociais, tcnicas e culturais onde a l i berdade concorrenci al poss vel, o
aumento de conscincia do indiv duo com o Humanismo e o Renascimento
entre os sculos XV e XIX e os avanos tecnolgicos que permitiriam produzir
quantidades a ritmos nunca antes conhecidos.
Os avanos tcnicos permitiriam produzir mais a menor custo e com
qualidade aceitvel, e que apesar de movimentos contrrios indstria (Arts
and Grafts), foram imparveis. Escolas como a Bauhaus (vocacionada mais
para o produto) e Ulm (mais vocacionada para a comunicao), viraram-se
para a indstria, aliando tecnologia, tcnicas art sticas e conhecimentos de
engenharia, para obter melhores resultados.
O aument o da produo ter saturado os mercados locais, obrigando as
empresas a produzir e vender para largas distncias a consumidores que
desconheceriam os produtores. As empresas comeariam a necessitar da
marca como representante distante (embaixador).
Por outro lado, o desaparecimento da fiscalizao sobre a marca, facilita a
cpi a e a f al si f i cao, justificando o surgimento de novas formas de prot eco
como o regi st o.
Os conflitos militares escala mundial, tiveram tambm a sua influncia
sobre a marca, ao desviarem os esforos de desenvolvimento econmico e
cultural dos pa ses implicados, para a produo de armamento e perseguio
de outras ideologias.
145
Afastadas do conflito militar mundial, escolas su as tero continuado o
seu normal desenvolvimento intelectual e cientifico na rea da identidade
corporativa enquanto que por exemplo na Alemanha a Bauhaus fechada.
O projecto da AEG, onde o design encarado de forma global e integrada,
a implementao da diviso do trabalho em linha por Henry Ford e o
surgimento da publicidade tero marcado uma poca de viragem e o in cio da
marca moderna, embora esta seja apenas esporadicamente considerada como
fundamental, pois todo o negcio se baseia na produo.
O conceito de Identidade Corporativa ter-se- alargado ao mundo, embora
normalmente confinado a um plano estritamente grfico.
4- O quarto nascimento da marca ter resultado da queda das f ront ei ras
t er rest res, da gl obal i zao acent uada pel a I nt ernet e pela melhoria das vias
de comunicao e comercializao, possibilitando o surgimento da economia
da informao e que como refere Wally Olins (1995) levam a que cada vez
mais a identidade corporativa seja internacional e comunique para o mundo.
O consumidor destinatrio da identidade corporativa est cada vez mais
informado, o produto ou servio cada vez mais perec vel e o crescimento
concorrencial aumentam o leque de oferta, dificultando a fidelidade marca e
que em igual medida implicam maiores esforos das empresas.
As empresas confrontam-se com a necessidade de aumentarem a sua
flexibilidade estratgica, produtiva e comunicativa (customizao de massas),
onde o servio passa a ser o centro do negcio, na tentativa de se
aproximarem dos seus pblicos cada vez mais individualizados.
Tambm por factores de ordem estratgica, pode justificar-se que as
empresas contemporneas pretendam melhorar a forma como so vistas pelo
(s) pblico (s), adaptando-se aos seus desejos e necessidades e controlando
o sistema de signos da marca. Ora como foi visto no cap tulo 2, com base no
sistema de signos recebidos, cada indiv duo pode construir a sua prpria
realidade simblica que culmina na imagem mental colectiva e, neste ponto
que comea a dificuldade de controlo e a desarticulao da marca.
Neste contexto, a marca deixa de ser material (signo visual) para ser um
fenmeno social, uma representao mental ou opinio de um grupo ou
pblicos sobre a empresa (cdigo ou mundo simblico).
Ao longo da histria, a marca vai aumentando a sua complexidade
sistmica partindo do signo (marca para assinalar a propriedade) para chegar
mundo simblico (o significado da marca resulta de um contexto e de
sistemas de signos com suas relaes e seu entendimento o cdigo). A
marca de canteiro um bom exemplo dessa transio, uma vez que comeou
por ser signo de identidade do mestre para se tornar num sistema ou cdigo
146
(a marca de canteiro constru da sobre uma base geomtrica comum), talvez
resultado de uma prtica mais erudita, que resulta num mundo simblico
(cdigo) partilhado principalmente pelos canteiros.
Por outro lado, em funo dos circuitos e necessidades comerciais, dos
avanos tecnolgicos entre outros, a comunicao dos emissores (art fices,
empresas, etc.) passou a ter um universo populacional de receptores cada
vez maior o que poder ter aumentado a dificuldade de controlo sobre a
descodificao.
H tambm uma diferena substancial ao n vel da quantidade de
informaes (sistemas de signos) com influncia na descodificao da marca
e seu discurso (cdigo) entre o primeiro e o quarto nascimento.
147
4- A ESTRUTURA DA IDENTIDADE CORPORATIVA
Frequentemente pensa-se que a i dent i dade corpor at i va trata de s mbolos,
logtipos, cores, tipografia e mesmo de produtos, edif cios, mveis, aparncia
visual, o que segundo Wally Olins (1990) verdadeiro
Porm para Olins (1990), a identidade corporativa tambm se relaciona
com o imaginrio colectivo do pblico da empresa, evidenciando a
organizao de uma empresa, ao indicar se esta descentralizada ou
centralizada, quais as suas divises, reas de negcio ou a que reas se
dedica. Desta forma a informao transmitida ao pblico torna-se clara e
concordante com os objectivos da empresa.
Wally Olins (1990) considera que a identidade corporativa se pode separar
em trs categorias: Monol tica (a organizao usa um nico nome e
est lovisual), Endossada (Uma organizao tem um grupo de actividades ou
empresas dependentes do nome e identidade do grupo) e de marca (a
empresa opera atravs de um grupo de marcas relacionadas ou no entre si e
com o grupo).
Per Mollerup (1997), apresenta uma proposta e mais detalhada que a de
Olins (1990), considerando que a organizao pode ter: uma identidade
organizacional (a empresa ou grupo baseia-se num ou mais departamentos,
empresas ou reas de negcio) ou identidade de marca (a organizao
baseia-se na identidade de um ou mais produtos).
Na proposta de Mollerup (1997), a organizao pode estruturar a identidade
(Figura 141) em: mon stica (apenas uma); endossada (uma suportada por
outra); ou pluralista (vrias operam lado a lado).
Figura 141
Organi zao
Mon stica
Monol ti ca
Organi zao
Endossada
Endossada
Organi zao
Pl uralista
Imagem
Mon stica
Imagem
Endossada
Imagem
Pl urali sta
Imagem
Organi zaci onal
I magem
de Marca
Marca
Mon stica
Marca
endossada
Marca
Pluralista
mul ti marcas
Fonte: Cruzamento das estruturas de identidade corporativa de Mollerup e Olins (em
itlico). Mollerup, (1997, p. 58).
148
I dent i dade Or gani zac i onal Mon s t i c a: A empresa possui uma nica
Imagem Corporativa que a representa a si mesma e os produtos tm apenas
designaes, contendo sempre a Marca Grfica (Figura 142).
Figura 142
I dent i dade de Mar c a Mon s t i c a: A empresa apresenta um ou mais
produtos sob uma nica marca (Figura 143).
Figura 143
Legenda: 1- A empresa Beiersdorf uma empresa alem, pouco conhecida, mas os seus
produtos so conhecidos em grande parte do mundo. A sua marca N vea; 2- A Mimosa
pertence Lactogal; 3- Diese, marca da F. Lima S.A.
I dent i dade Or gani zac i onal Endos s ada: uma empresa depende da outra
para funcionar e se promover (Figura 144).
Figura 144
Fonte: 1- A Diners Club (empresa Escandinava) dependeu at 1994 da Scandinavian
Airlines, Mollerup, 1997; 2- As diversas reas de negcio da Galp esto dependentes da
marca Galp Energia.
149
I dent i dade de Mar c a Endos s ada: uma marca suporta toda a classe de
produtos.
Por exemplo o sector automvel (marca e modelo) ou a MacDonalds
(BigMac, MacFeast, etc.) conforme figura 145.
Figura 145
I dent i dade Or gani zac i onal Pl ur al i s t a: cada empresa tem a sua imagem
baseada nos seus prprios atributos e aparentemente no esto relacionadas
(Figura 146 e 147).
Figura 146
O grupo Nutrinveste abriga trs indstrias sectoriais que por sua vez se subdividem em
diversas marcas.
150
Figura 147
I dent i dade de Mar c a Pl ur al i s t a: A empresa produtora a mesma, mas as
marcas so diferentes e no se relacionam (Figura 148 e 149).
Figura 148
Legenda: A Lactogal nasceu em 1996 quando trs cooperativas Agros, Lacticoop - Unio de
Cooperativas e P roleite Mimosa - Distribuio e Comercializao, SA. decidiram proceder
fuso das suas estruturas comerciais e industriais.
151
Figura 149
A CUFP nasceu em 1890, resultado da fuso de sete fbricas de cerveja, seis no P orto e uma
em P onte da Barca. Em 1977 criaram-se duas empresas pblicas para o sector cervejeiro a
Copeja (1972) e a I mperial (1973) que sofreram um processo de a Unicer Unio
Cervejeira E.P . que em 2000 passou a designar-se por Unicer Bebidas de P ortugal, S.A.
com actividade complementar noutros segmentos do mercado das bebidas para alm da
cerveja.
Es t r ut ur a mi s t a
Dependendo da empresa, produto ou servio em causa, pode existir uma
estrutura mista, relacionando-os por n veis de interesse estratgico (Figura
150 e 151).
Figura 150
152
Figura 151
Fonte: Yvez Zimmermann, 1993, p.50
153
4.1 - Consi der aes acer ca da ar qui t ect ur a da mar ca.
Segundo Olins (1990), ainda que tradicionalmente cada categoria de
identidade esteja associada com um tipo de negcio (por exemplo a
identidade monol tica associada aos bancos, companhias areas e
petrol feras), todas tm vantagens e desvantagens e o que apropriado para
uma empresa, pode no ser para outra.
Para Olins (1990) e Mollerup, em geral as empresas sentem dificuldade em
rever a sua prpria identidade, pois no gostam da mudana e porque so
conservadoras, mas sobretudo por implicar mudanas profundas no sistema
de gesto da organizao. Como afirma, a identidade corporativa mai s do
que apenas uma f or ma de at r i bui r nomes s coi sas, mas um compr omi sso
prof undo de uma f or ma par t i cul ar de f azer negci o.
Olins (1990) refere que caso os valores corporativos sejam expressos
claramente e coerentemente, a estrutura monol tica traz grandes vantagens,
permitindo empresa, manter o mesmo nome e identidade em diferentes
mercados. A estrutura monol tica poder poupar recursos e ser significativa
para o staff, fidelizando-o e facilitando o reconhecimento uma vez que
independentemente da base social, cultural e religiosa do pblico, este ir
identificar a organizao. O mesmo acontecer com outros colaboradores,
como fornecedores, jornalistas, distribuidores, governo local entre outros.
A estrutura monol tica (mon stica) tem normalmente maior longevidade
(sofrendo modificaes ao n vel da marca grfica) e permitem que a marca
oferea o mesmo tipo de produto ao mesmo tipo de cliente em qualquer lugar
(caso a marca grfica seja simblica ou no descritiva). Esta uma ptima
oportunidade para lanar novos produtos, mesmo em outros sectores, os
quais recebem a marca com a sua reputao, como exemplo a Mitsubishi,
que j produziu carros, avies, enlatados (salmo, atum e caranguejo) e tem
o seu prprio banco.
Geralmente, a estrutura endossada decorre do crescimento de uma
organizao, pela evoluo de departamentos para empresas ou por
aquisies de concorrentes, parceiros, fornecedores ou distribuidores no caso
de aquisio, tendem a ser benevolentes com a identidade das empresas
adquirida, e em simultneo desejam implementar a sua forma de gerir.
So correntemente empresas multisectoriais que operam em diversos pa ses,
onde a sua imagem varia. Olins (1990) considera que uma organizao com
uma estrutura endossada, que utilize diferentes nomes e identidades,
necessita de encontrar a individualidade de cada parte e a sua relao no
grupo. Os prprios empregados de cada empresa, necessitam de sentir os
valores da sua empresa e so menos sens veis ao grupo.
154
Nas organizaes pluralistas, cada nome ou identidade comunicado
individualmente sem meno dos restantes. Como na estrutura endossada, o
crescimento da organizao tambm decorre de fuses, aquisies ou da
expanso de reas de negcio, mas a individualidade de cada unidade
frequentemente considerada como importante e para manter.
No caso da identidade de marcas de produtos ou servios, com frequncia
desconhece-se o fabricante, e todo o esforo de promoo vai no sentido da
notoriedade do objecto e da sua venda.
155
5- MODELOS CONCEPTUAIS DE GESTO DE IDENTIDADE
CORPORATIVA
5.1- Enquadr ament o
A dificuldade da empresa para criar uma identidade que a individualize da
forma pretendida, estar em criar factores diferenciadores que aparentemente
dependem mais de terceiros do que de si prpria (pblico, distribuidores,
etc.), no entanto, vrios autores apontam formas poss veis de controlar e
estruturar estratgias de comunicao, direccionando-os e personalizando-os
atravs do design criando a marca.
Mas como nascem as marcas? Que metodologias se aplicam na sua
concepo? Quem as faz? Que processos se utilizam?
No Manual de Gesto de Design
156
, refere-se que as marcas parecem
nascer de um plano organizativo e interdisciplinar, criado pelas empresas,
onde parece fazer sentido que o design, a engenharia, as operaes, a gesto
e marketing, trabalhem em parceria e pelos mesmos objectivos, que so a
promoo dos bens e produtos com vista ao desenvolvimento da organizao.
O designer parece ter o papel de potenciar na marca a imagem
empresarial, e materializ-la em elementos grficos que facilitem a sua
leitura, identificao, associao aos restantes produtos, e a associao a
determinados valores aceitveis pelo pblico-alvo.
Assumindo que no h duas empresas iguais, parece ser lgico que devem
ser adoptadas medidas adequadas a cada realidade/contexto e segundo um
conjunto de variveis relativas natureza corporativa: 1- Filosofia e cultura
corporativa; 2-A sua actividade: sectores de consumo ou industriais; 3-
Natureza do produto: bens ou servios; 4- Grau de competncia; 5-
Dinamismo no mercado; 6- I&D - Inovao e Desenvolvimento; etc.
Caracter sticas, que iro do produto sua utilizao, publicidade,
embalagem, ao rtulo e s mbolo e/ou logtipo, f or mando um t odo que passa a
ser a marca, entendida num sentido amplo e que identifica de modo rpido, a
propriedade e os produtos da empresa. Uma marca assim entendida
representa toda a organizao e produto.
No quinto cap tulo desta dissertao, so explanados modelos conceptuais
que procuram controlar o processo de descodificao da marca (e
consequentemente o tipo de imagem mental) em funo dos objectivos
corporativos, propondo e agindo sobre os diferentes sistemas semiticos
provenientes (directa ou indirectamente) da organizao.
156
Manual de Gesto de Desi gn. Lisboa: Centro P ortugus de Design, 1997.
156
5.2- Mt odos de gest o de i dent i dade cor por at i va
Diversos autores, referem que uma estratgia s bem sucedida se for
bem compreendida e gerida de forma consistente pela empresa. Com o
objectivo de auxiliar os gestores de design a compreender a complexidade e
as oportunidades que resultam das aces empreendidas pela empresa, foram
analisados diferentes modelos conceptuais de gesto de identidade
corporativa.
Neste estudo, foram seleccionados um total de sete modelos conceptuais
de gesto de identidade corporativa, dos quais cinco dizem respeito aos
autores: David A. Aaker
157
, Kevin Lane Keller
158
, Scott M. Davis
159
, J oan
Costa
160
e Norberto Chaves
161
.
Entendeu-se ainda importante, confrontar modelos conceptuais de autoria,
com a proposta da Brandia Network
162
, e de uma instituio de ensino
analisando o Corpor at e Reput at i on and Compet i t i veness da Manchest er
Busi ness School
163
, que uma tentativa de quantificao.
157
Davi d A. Aaker reconheci do como um dos mai ores entendi dos do mundo em Br and Equi t y. D
palestras e presta consultoria em empresas um pouco por todo o mundo, vice- presi dente do conselho
da P rophet Brand Strategy e professor emri to de Marketing na Haas School of Business na
Uni versidade da California, em Berkeley.
158
Kevi n Lane Kel ler, tambm reconhecido a n vel i nternacional, como um especi al ista no estudo
sobre a i ntegrao do Marketing com a comunicao e gesto estratgica de marcas. membro do
departamento de Marketi ng da F acul dade de Standford Business School e professor de Marketi ng da
Amos Tuck School of Business no Dartmouth Coll ege.
159
Scott M. Davis reconhecido pel a sua consultoria em empresas que desej am maxi mizar o valor
acti vo das suas marcas. membro da di reco do escritri o de Chicago da P rophet Brand Strategy e
professor adj unto da J . L. Kel l ogg Graduate School of Management at Northwestern University.
160
J oan Costa catedrtico em Desi gn Grfico e Comunicao Visual na Uni versidad
I beroamericana (Mxico) e col abora com diferentes uni versidades espanholas. P rofessor do Master em
Di reco de Comunicao da Uneversid Autnoma de Barcel ona, presi dente da Asoci aci n
I beroamericana de Comunicacin Estratgica e autor de mais de trinta l ivros.
161
Norberto Chaves foi professor de semi ol ogi a, teoria da comunicao e do design na F aculdad de
Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires e na Escuel a de Diseo EI NA de Barcelona onde reside
desde 1977. Cri ou um gabi nete de consultori a de i magem e comunicao, especi alizado na i magem
i nstituci onal, em soci edade com Ori ol P i bernat e col abora com outros designers como Y ves Zimmerman,
Arcadi Moradell e Amrica Snchez.
162
A Brandia Network o maior grupo de comunicao e gesto de marcas a operar em P ortugal,
contando com 267 colaboradores e 44 reas de especi ali dade (i n brandia portfli o). Brandia Network
resulta da fuso de 14 empresas, i ncl uindo a Novo Design, di vi di ndo as suas reas de especi al idade
em Consul t i ng, Cr eat i ng; e Mar ket i ng Logi st i cs .
163
Gary Davi es professor de Reputao Corporati va na Manchester Busisess School onde gere o
Corporate Reputation I nstitute; Rosa Chun da categori a da Reputao Corporati va, membro do
Corporate Reputation I nstitute, e d aul as de Gesto de Reputao e de estratgi a de negci o; Rui
Vi nhas da Si l va Doutor em Management pel a Manchester Business School, Rei no Unido, onde
professor, como na Uni v. de So P aulo (Brasi l) e no I NDEG/I SCTE. Membro do Corporate Reputation
I nstitut e Ensina Gesto de Reputao e Marketi ng na MBS; Stuart Roper snior Lecturer em
Marketi ng na Machester Metropolitan Uni versity.
157
5. 2. 1- Model o de Kevi n Lane Kel l er (1998) Est r at gi a de
Mar ca Baseada no Consumi dor
Res umo
O modelo denominado Estratgia de Marca Baseada no Consumidor foi
concebido por Kevin Lane Keller (1998).
Este modelo parte do conhecimento e conscincia da marca no consumidor
(destinatrio) e de como este avalia a i magem da empr esa, para construir um
conjunto de objectivos e ferramentas capazes de influenciar o comportamento
do destinatrio face identidade corporativa.
Para o autor, o relacionamento da marca com o consumidor fundamental
e as marcas mais fortes conseguem oferecer positivamente, os benef cios que
o destinatrio deseja, o qual fica menos sens vel aos preos.
Para que a marca permanea consistente ao longo do tempo, dever ter um
posicionamento
164
adequado e dever existir uma lgica dentro do portflio de
poss veis submarcas, mas ainda, possuir um leque de ferramentas capazes de
criar, gerir e medir o Brand Equi t y (capital - marca)
165
.
O modelo de Keller (1998) mostra as linhas de orientao necessrias para
a construo, medio e gesto do capital - marca.
O autor (Keller, 1998) parte do princ pio de que se a experincia do
consumidor com o universo corporativo for positiva, ento a sua percepo
sobre a marca vai ser concordante (fica fidelizado). Porm Keller (1998)
considera fundamental uma interaco entre corporao (remetente) e
consumidor (destinatrio) onde o remetente define selectivamente todas as
formas de comunicar (realidade, comunicao ou identidade corporativa) e as
vai reformulando em funo das necessidades e desejos do seu destinatrio
(cujo resultado ser a imagem mental de marca).
164
O posicionamento uma afirmao da empresa, produto ou marca de di ferenci ao face aos
concorrentes, procurando encontrar um espao vazio, um nicho no preenchido que
corresponda s expectativas dos consumidores e que no esteja ameaado de
imediato pelos concorrentes .
165
Segundo os autores Aaker e Lendrevi e O Capital Marca (Brand Equity) desenvolve-se
em torno de cinco grandes dimenses: notoriedade, qualidade percebida, imagem de
marca, fidelidade marca e outros activos da marca. BROCHAND, Bernard, [et al . ]
Publicitor. 1 Ed. Lisboa: Publicaes D. Quixote. 1999. Coleco Gesto e Inovao: Cincias da Gesto. P.177.
158
Conforme a Figura 152, Keller (1998) prope que se comecem por definir
elementos base de comunicao, sua integrao na estratgia empresarial e
respectivas associaes (construo do capital - marca); de seguida o
planeamento e a previso da retrica a manter ao longo dos anos (Gesto do
capital - marca); e ao longo deste processo, desenvolver meios que permitam
conhecer a imagem mental, e colectiva da marca (Medio do capital -
marca).
Figura 152
Fonte: Modelo de Gesto Estratgica de marca, de Kevin Lane Keller (1998).
Cons t r u o de c api t al mar c a
A construo do capital marca baseado no consumidor (Figura 153),
implica uma marca na qual os consumidores acreditam e com a qual mantm
uma relao forte, favorvel, nica e capaz de influenciar as decises de
aquisio. Segundo Keller (1998) esta construo depende de trs factores:
159
1 - da seleco dos elementos base da comunicao;
2 - da integrao da gesto de marca na estratgia empresarial;
3 - das associaes derivadas do contexto onde se insere a marca.
Figura 153
(1) Sel eco dos el ement os base da comuni cao
Nome
Smbolo
Grafismo ou imagemassociada
Embalagem
Slogan
(2) I nt egrao da gest o de mar ca
na est rat gia empr esari al
Produto
Preo
Canais de distribuio
Comunicaes
(3) associ aes der ivadas do cont ext o
onde se insere a marca
Corporao
Pas deorigem
Canal de distribuio
Outras marcas
Endossos
Eventos
Fcil de recordar
Com significado
Transfervel
De fcil adaptao
Passvel de proteger
Atributos e benefcios
Percepo de valor
Controle
Fixao
Proporcionar consistncia
Enriquecer o significado
Aumentar aactuao
Consci ncia de mar ca
Profundidade
(Lembrana, Reconhecimento)
Abrangncia
(Consumo, Aquisio)
Imagem de marca
Forte
(Relevante,Consistente)
Favorvel
(Aceitvel,Desejvel)
nica
(Diferente,Singular)
Fonte: Construo do Capital marca baseada no consumidor, de Kevin Lane Keller
(1998).
1 - Seleco dos elementos base da comunicao
Um elemento base da comunicao uma informao visual ou verbal que
identifica e diferencia um produto/servio, sendo os mais comuns: o nome, o
s mbolo/logotipo, gi ngl e ou melodia, grafismo associado, embalagem ou
sl ogan. O objectivo principal destes elementos garantir o reconhecimento da
marca.
Existem cinco critrios bsicos a considerar na escolha dos elementos base
da comunicao, com objectivo de aumentar a conscincia e a formao de
associaes seguras, favorveis e nicas da marca na mente do consumidor
(Keller, 1998): 1- a facilidade de memorizao, reconhecimento e recordao
da marca; 2- a percepo do conjunto de significados pelo consumidor, tais
como, a credibilidade, a sugesto e a capacidade de divertimento, ser
interessante e emotiva; 3- a capacidade de transferncia do nome para outros
produtos e para outros limites geogrficos ou culturais; 4- flexibilidade para
se tornar contempornea; 5- a possibilidade de ser registada.
160
Os dois primeiros critrios so responsveis pela construo da estrutura
de capital - marca. Os trs ltimos maximizam e protegem o valor da
estrutura. Cada critrio implica um conjunto de consideraes para que seja
mais efectivo como por exemplo o critrio a (facilidade de memorizao),
que dever ser associado a um nome simples, fcil de pronunciar, rico em
significado, inovador, distintivo e personalizado.
2 - Integrao da gesto de marca na estratgia empresarial
Embora a escolha adequada dos elementos base possam contribuir para o
capital - marca baseado no consumidor a integrao desta nas estratgias
do produto, do preo, na distribuio e na comunicao que permitir criar
associaes de uma marca forte, favorvel e nica.
Na produo ou na prestao de servios, importante que sejam criadas
associaes positivas de marca, para convencer os consumidores dos
atributos, benef cios funcionais, experincias e s mbolos que satisfaam
necessidades e desejos (Keller, 1998).
Fortes imagens so criadas na mente do consumidor, principalmente a
partir da percepo de qual i dade e pr eo prat i cados. por isso importante
que os gestores entendam e conheam a percepo de capital - marca dos
seus produtos e dos da concorrncia, para que, ao estabelecerem preos,
satisfaam os consumidores e garantam rentabilidade.
Do ponto de vista da marca, em relao distribuio, existem trs
consideraes importantes a fazer: 1- os consumidores em geral possuem
associaes mentais da qualidade do produto fornecido por diferentes
empresas e estabelecem um tipo de valor para marcas de prest gio exclusivas
e estabelecem um tipo de valor para marcas populares; 2- as aces dos
revendedores e distribuidores afectam a marca do produto vendido pois ao
exporem a marca, facilitam a tomada de conscincia desta junto dos
consumidores e ao fornecerem informaes a seu respeito, fortalecem e
reforam diferenas e similaridades da marca; 3- para conseguir maior
controlo e construir relaes fortes com o consumidor, as empresas
necessitam introduzir vrios canais de comercializao directos com os
clientes (Keller, 1998).
A estratgia de comunicao tem como papel contribuir para a f i xao do
capi t al - marca na memr i a do consumi dor . As diferentes opes de
comunicao (meios como televiso, rdio, jornal, revista, internet, outdoor,
cartaz, cinema, Merchandi si ng, marketing directo, promoes, patroc nio de
eventos, publicidade, etc.) afectam as vendas e ampliam a dimenso da
marca. Com diferentes metas cada opo ou conjunto escolhido, deve ser
coordenado com o grande objectivo de cr i ar uma i magem gl obal e consi st ent e.
161
3 - Associaes derivadas do contexto onde se insere a marca
As associaes secundrias so criadas a partir de uma comparao entre
os benef cios de diferentes marcas. Resultam de associaes a marcas com
atributos favorveis e j presentes na mente do consumidor, normalmente em
produtos ou servios de sectores diferentes do que se pretende atingir e que
contribuem para a interpretao.
Os atributos de uma marca espec fica podem ser utilizados para aumentar
o valor de uma nova, permitindo proporcionar conscincia, enriquecimento do
seu significado e aumentar a dimenso ou potencial de actuao. Transferem-
se atributos genricos como credibilidade ou atributos espec ficos
relacionados com o produto ou servio.
Medi o do c api t al mar c a
A escolha de elementos base da comunicao, a integrao nos programas
de gesto de empresa e o poder das associaes secundrias so meios de
proporcionar conscincia e conhecimento de marca ao consumidor e de se
criarem fontes de valor.
Para orientar as decises dos consumidores importante o
desenvolvimento de ferramentas que possibilitem verificar fontes de valor e
resultados alcanados.
Os dois principais mtodos utilizados na medio de resultados e
benef cios do capital marca so: 1- o mtodo comparativo, que avalia os
efeitos das estratgias empresariais sobre as percepes e preferncias do
consumidor; 2- o mtodo hol stico que quantifica o valor total da marca.
O mtodo de Keller estabelece um conjunto de procedimentos necessrios
quantificao do capital marca (Figura 154), disponibilizando
informaes oportunas e precisas que auxiliem a tomada de deciso na
escolha das melhores alternativas de aces estratgicas para a marca. Como
apresentado no quadro seguinte, os procedimentos de pesquisa so:
auditoria de marca; percurso da marca; sistema de gesto de capital
marca.
FIGURA 154
162
(1) auditoriadamarca
Inventrio de marca
Investigao de marca
Posicionamento de marca
(2) Percurso damarca
Rastreamento dasfontes
e resultados do capital marca
*3) Sistemade Gesto
do capital marca
Registos de capital marca
Relatrios de capital marca
Responsvel pela gesto
de marca
Fonte: Medio do Capital - marca, de Kevin Lane Keller (1998).
1- Auditoria da marca
um exame minucioso sobre a marca a partir da perspectiva do
consumidor e da empresa que avalia as fontes de valor da marca e sugere
melhorias como forma de aumentar o seu rendimento. Basicamente utiliza
inventrios da marca, investigao da marca e o posicionamento da marca.
O objectivo do inventrio fornecer um esquema actualizado de como
todos os produtos e servios fornecidos pela empresa so percebidos e
comercializados. Para cada produto devem ser identificados os elementos
base e o poder de associaes secundrias, embora seja um trabalho
essencialmente descritivo, podem ser feitas algumas anlises teis (Keller,
1998).
A investigao uma actividade de pesquisa objectiva que procura
identificar potencialidades para aumentar o valor da marca. Permite obter
informaes em profundidade sobre os consumidores (o que pensam e o que
sentem sobre a marca).
2- Percurso da Marca
Definido o posicionamento da marca poss vel desenvolver um plano de
comunicao para criar notoriedade da marca desejada e maximizar
benef cios. O posicionamento funciona como uma direco a seguir ou
objectivo a alcanar, mas s ser efectivo quando existir dessa forma na
mente do consumidor, pelo que se faz um estudo de rastreamento da marca
analisando o sucesso dos diversos planos ao longo do tempo (para aprender
e no repetir erros) e controlando a implementao da imagem corporativa
(Keller, 1998).
3- Sistema de gesto capital marca
Para que uma empresa possa usufruir da totalidade dos benef cios de uma
auditoria e de um percurso de marca necessrio que seja implementado um
sistema de gesto adequado. Esse sistema deve conter, pelo menos, trs
partes: um gestor de design; registos de capital marca; relatrios de
capital marca.
163
A viso da empresa deve ser registada num documento que contenha as
directrizes base que definam o conceito de valor, que explique o
posicionamento e as metas a alcanar.
Os resultados de pesquisas ou de outras actividades devem integrar um
relatrio a ser distribu do periodicamente (mensal, trimestral ou anualmente)
aos gestores. O objectivo obter e disponibilizar informao descritiva sobre
as aces, os seus resultados e porqu (Keller, 1998).
A ges t o do c api t al mar c a
Gerir o capital marca significa administrar aces a partir de uma viso
global, considerando as principais preocupaes da organizao e as
possibilidades/oportunidades de expanso.
Como se pode observar na figura 155, para uma gesto adequada,
necessrio: uma definio de estratgias que idealizem o capital marca a
desenvolver ao longo do tempo, estabelecendo argumentos geradores de
pertena.
Figura 155
Ajustar programas de branding em relao ao/:
Seleco de elementos de marca.
Naturezado suporte dos programasde marketing.
Poder das associaes secundrias.
Defi nio das est rat gias para gest o de mar ca
A hi erarqui a de marca
Definir o nmero
de nveis em utilizao:
Marcacorporativa
Marcafamiliar
Marcaindividual
Modalidade individual
Estabelecer anaturezada
conscinciae tiposde
associaes criadas em cada
nvel:
Relevncia das
associaes globais
Marcase Modalidades
diferenciadas
A mat ri z marca-produt o
Construir a relao produto-
marca:
Linhas e categorias
de extenso
Construir a relao marca-
produto:
Arquitectura
damarca.
Capi t al m ar ca a adopt ar ao longo do t empo
Reforar o significado da marcaem relao :
Inovao do projecto, produo ou
Forma de venda do produto.
Relevnciado utilizador e das imagens utilizadas.
Adaptar os programas de branding em relao ao/:
Reposicionamento damarca.
Revitalizao damarca
Ext enso do Capit al Marca par a alm dos limi tes da act uao
Identificar diferenas nos comportamentos dos consumidores:
Como so adquiridos os produtos.
O quesabem e sentem comparativamente adiferentes
marcas.
Fonte: Gesto do Capital marca baseada no consumidor elaborado com base no
modelo de keller (1998).
1 N vel Definies das estratgias
164
As estratgias estabelecem directrizes que permitem rentabilizar os
elementos base da comunicao do produto ou servio e como o disponibilizar
aos consumidores. As principais ferramentas para definir a estratgia da
marca so: a matriz e a hierarquia da marca.
A matriz da marca uma representao grfica da relao entre cada
marca e produtos vendidos pela empresa. As marcas ficam no eixo vertical e
os produtos no eixo horizontal.
A matriz representa a relao marca-produto e explica a estratgia de
extenso para cada conjunto. As colunas representam relaes produto/marca
e reflectem a estratgia do portflio da empresa (Keller, 1998).
A estratgia esquematiza o mix de produtos da empresa e assinala
prioridades de produo e de venda. Contm decises sobre o nmero de
linhas e tiragens do produto.
A hierarquia representa graficamente as marcas na sua totalidade e numa
relao de familiaridade e projecta a conscincia de marca e tipos de
associaes pretendidas para cada n vel.
2 N vel Capital - marca a adoptar ao longo do tempo
Uma gesto de marca adequada requer decises a longo prazo.
importante saber que a resposta dos consumidores s aces da empresa
dependem da dimenso da marca e que so as aces de curto prazo que
podem alterar o conhecimento positiva ou negativamente, ainda que este
impacto acontea a longo prazo. Assim, uma das dificuldades dos gestores
a capacidade de prever as alteraes do mercado e as implicaes que tero
as aces da empresa no geral e no particular.
Gerir o capital - marca implica reforar o conceito da empresa ou se
necessrio, revitaliz-lo. O conceito reforado pelas aces que comunicam
o que os produtos e servios representam, que benef cios disponibilizam e
que necessidades satisfazem. importante que a gesto seja global e
consistente para que reforce o significado do conceito.
Quando a imagem de marca depende de caracter sticas do produto ou
servio, a inovao do projecto (da produo ao ponto de venda) o ponto
cr tico para manter ou aumentar o capital - marca. Por outro lado, se a
imagem de marca assenta em benef cios simblicos e experincias, a
preocupao com a imagem e com o consumidor so pontos cr ticos. Na
gesto do capital - marca importante conhecer os t r ade-of f que existem
nas aces da empresa e que fortalecem, actualizam e impulsionam o
conceito ao longo do tempo, para conseguir benef cios financeiros a curto
165
prazo. Qualquer fracasso altera a dimenso da marca negativamente e
debilita a sua imagem.
De acordo com o modelo de (Keller, 1998), para revitalizar uma marca
necessrio identificar a fonte de valor ou estabelecer uma nova. Duas
propostas so poss veis: expandir e/ou aprofundar a conscincia de marca,
melhorando a sensao recordada e o reconhecimento da marca pelos
consumidores durante a aquisio; e alterar a singularidade das associaes
que compem a imagem. Ao revitalizar uma marca poss vel alcanar novos
mercados, ainda que a dificuldade seja construir valor sem destruir o
existente.
3 N vel Extenso do capital marca
Uma estratgia global deve implicar o conhecimento e a avaliao das
diferentes culturas, dos diferentes tipos de consumidores, dos diferentes
comportamentos de aquisio e uso bem como da imagem que os
consumidores tm da empresa, produto ou servio. Apenas depois da
compreenso das diferenas entre estes dados e as intenes da empresa,
poss vel ajustar os programas de brandi ng, principalmente na seleco os
elementos base da comunicao, meios a utilizar e associaes secundrias.
166
5. 2. 2- Model o de Gest o De Davi d A. Aaker
Res umo
O modelo de David A. Aaker (2001) parte de uma anlise estratgica dos
clientes, concorrentes e da corporao para definir os conceitos de identidade
da marca (como produto, organizao, com personalidade humana e seus
s mbolos, que por sua vez iro gerar valor e credibilidade), a sua proposta de
valor, passando depois implementao atravs do posicionamento, definio
dos meios e a monitorizao do processo. A proposta de Aaker (2001) baseia-
se no r el aci onament o empresa-cl i ent e e em cinco fontes categorias de valor
fixas (fidelidade marca; a notoriedade da marca; a qualidade percebida; a
imagem de marca; outros activos da marca).
Para David A. Aaker (2001) o sistema de identidade da marca (Figura
156)
166
tem dimenses ao redor de quatro perspectivas:
1- A marca como produto (mbito, atributos, qualidade/valor, tipos de uso,
utilizador, pa s produtor de origem).
Aaker (2001) refere que existem associaes entre a experincia de uso do
produto e o servio prestado. Para o autor, poss vel criar uma marca
associada a um estilo de vida em funo dos atributos do produto, como sero
exemplo benef cios com a reputao de um pa s ou regio (Ex.: a valorizao
de um produto computorizado por ser oriundo do J apo, associado robtica;
a Suia e os relgios, etc.).
2- A marca como organizao (atributos corporativos, regionalidade ou
globalidade).
Relaciona-se com a filosofia e cultura corporativa, so valores da
organizao que funcionam como associao marca (por exemplo uma
conduta ecolgica).
A marca pode posicionar-se para o mundo ou por regies (com diferentes
posicionamentos ou um mesmo), beneficiando em menor ou maior grau dessa
postura (Por exemplo a bebida Guaran Brasil, que se assume como
nacionalista e beneficia da conotao como tropical).
166
Aaker considera que I dentidade da marca o mundo si mblico pretendido, enquanto i magem da
marca corresponde actual idade (i magem mental col ecti va).
167
Figura 156
Anlise daconcorrncia
Imagem/identidade damarca
Potencialidades estratgicas
Vulnerabilidades
Auto-anlise
Imagemde marcaexistente
Tradio damarca
Capacidades
Valores corporativos
Anlise dos clientes
Tendncias
Motivaes
Necessidades no atendidas
Oportunidades
ANLISE ESTRATGICA DA MARCA
SISTEMA DE IDENTIDADE DE MARCA
IDENTIDADE DE MARCA
Expandida
Nuclear
(Essencial)
A marca
como pr odut o
1- mbito do produto
2- Atributos do produto
3- Qualidade/valor
4- Tipos de uso
5- Pas deorigem
A marca como or gani zao
7- Atributos daorganizao
(p.ex.inovao, preocupao
com o cliente,confiana, etc.).
8- Local versus global
A marca como pessoa
9- Personalidade
(p. ex. energtica,autntica,
jovem,etc.).
10- Relacionamento marcas
com clientes (p.ex.amiga,
conselheira, etc.).
A marca como smbol o
11- Imagens visuais e metforas
12- Tradio damarca
PROPOSTA DE CAPITAL - MARCA
Benefcios funcionais
Benefcios emocionais
Benefcios de auto-expresso
CREDIBILIDADE
Apoio aoutras marcas
RELACIONAMENTO MARCA-CLIENTE
SISTEMA DE IMPLEMENTAO DA IDENTIDADE DA MARCA
POSICIONAMENTO DA MARCA
Subconjunto daidentidade edaproposta de valor de marca
No pblico-alvo
Ser activamente comunicada
Promoo davantagem competitiva
EXECUO
Gerao de alternativas
Smbolose metfoas
Testes
ACOMPANHAMENTO
Fonte: Modelo de planeamento da identidade da marca. David A. Aaker, 2001, p.196.
168
3- A marca como pessoa (personalidade da marca e seu relacionamento
com o cliente).
A personificao da marca refere-se sua personalidade ou caracter sticas
humanas que lhe so associadas, esperando-se que esta funcione como dolo
a seguir ou familiar e amiga do cliente.
No modelo de Aaker (2001) caracter sticas do produto ou servio, tm
influncia sobre a personalidade da marca Um banco ou uma empresa de
segur os, por exempl o, t endero a assumi r a personal i dade est er eot i pada de
um banquei ro (compet ent e, sr i o, mascul i no, mai s vel ho e de cl asse al t a) . Da
mesma forma, para alm do produto existem outras associaes como sejam:
o pa s de origem; a imagem da empresa; o estilo publicitrio; celebridades
associadas; a identificao do director; etc.
A proposta de Aaker (1997), apresenta vrios tipos de carcter que a marca
pode assumir para definir a sua personalidade (escala da personalidade da
marca: sinceridade, entusiasmo, competncia, sofisticao, ruggedness -
robustez) que visam funcionar como factores de diferenciao corporativa
(Figura 157).
Figura 157
Sinceridade
Honesto
Sadio
Amigvel
Sincero
Entusiasmo
Ousado
Espirituoso
Imaginativo
Moderno
Competncia
Bem sucedido
Lder
Fivel
Inteligente
Sofisticao
Classe alta
Encantador
Bonito
Feminino
Ruggedness
Duro
Western
Aberto
Personalidade da marca
Fonte: P ersonalidade da marca, de Aaker ( 1997) . Revista Marketeer n.83, p.90.
4- A marca como s mbolo (imagens ou metforas visuais com as quais o
cliente se identifica ou onde se rev; a tradio).
Trata-se de uma representao simblica retirada do universo semitico da
marca e que sintetiza os seus valores corporativos que pode constituir um
grafismo, uma melodia, uma frase, etc.
Segundo Aaker (2001), a marca enquanto s mbolo refere-se a imagens,
metforas ou tradio, que podem ser memorveis e facilitando o
reconhecimento e a recordao (ex. o cowboy da Marlboro).
Aaker (2001) separa Identidade nuclear ou essencial, que se refere aos
valores e associaes constantes da marca, de Identidade expansiva
169
relacionada com componentes efmeros em funo das alteraes do
mercado (produtos, programas de comunicao, etc).
Figura 158
Fontes de capital marca
(Categorias)
Valor criado por categoria Sntese dos valores criados
Apoio ao sucesso comercial
Reduo nos custos de Marketing
Garantiade menor ameaa
concorrencial ao longo do tempo
Aumento do nmero de clientes
Maior vnculo com os clientes
Permite criar novas associaes
Tornaa marcafamiliar, simptica
e respeitvel.
Transportaamarca para o nvel
das preferidas.
Oferece umaforterazo de compra.
Criaumposicionamento diferenciado.
Permite fixar um preo mais elevado.
Atrai o interesse dos canais
de distribuio.
Permite alargar amarca.
Ajudaaprocessar umconjunto de factos
e especificaes.
Proporcionaum ponto de diferenciao
entre marcas.
Criaatitudes e sentimentos positivos.
base para extenso do portflio
de produtos.
Garante empresa,o valor criado
pelamarca.
Proporciona valor
empresaaumentando:
A eficinciae eficcia dos
programas de Marketing.
A Fidelidade marca.
Preos com margem
de lucro.
Extenses damarca.
O sucesso comercial.
A vantagem competitiva.
Proporcionavalor aos
clientes aumentando:
A interpretao
e o processamento
de informao.
A confianana deciso
de compra.
A satisfao do utilizador.
Fidelidade marca
Notoriedade
daMarca
Qualidade
percebida
Associaes
damarca
Outros activos
daempresa
relacionados
com amarca
Fonte: O Capital marca cria valor, de David A. Aaker (2001).
Tendo definido a identidade, a proposta de capital marca afirma-se em
benef cios funcionais (qualidade do produto, sabor, etc.), emocionais (servio,
experincia, etc.) e de auto-expresso (a marca e o produto como s mbolo de
auto-imagem ou status social) que proporcionam credibilidade. Espera-se que
desta forma se impulsione um bom relacionamento marca-cliente e portanto
se influenciem as decises de compra (Aaker, 2001).
O relacionamento com o cliente importante e baseia-se em cinco fontes
de capital - marca (fidelidade marca; a notoriedade da marca; a qualidade
percebida; a imagem de marca; outros activos da empresa ligados marca). A
170
implementao ir recair sobre a promessa da marca, seu posicionamento e a
forma como so comunicados, executados e acompanhados (Aaker, 2001).
Para o autor (Aaker, 2001), cada recurso cria valor de forma diferente que
somado aos outros (pelo receptor) e tm influncia tanto para o consumidor
final como para outros colaboradores da empresa (por exemplo
distribuidores), considerando ainda que tais ju zos e associaes secundrias
se devem reflectir na marca grfica (Figura 156 na p.160 e 157 na p.161).
Como se pode observar na figura 158, cada categoria est interligada com
as restantes e influenciam-se mutuamente.
Fi del i dade mar c a
A fidelidade marca uma ligao forte do consumidor para com a marca,
que embora no seja considerada por outros autores como um recurso, para
Aaker (1996) uma empresa depende de uma base de clientes leais que
garanta um fluxo de vendas mais ou menos fixo. J ustificando-se portanto os
programas que incentivam fidelidade, uma forma de proporcionar aos
consumidores uma recompensa directa e tang vel, mantendo continuamente o
compromisso assumido pela empresa (investimento em programas de
incentivo fidelidade como Carto J umbo, Carto Fam lia, Carto BP,
Carto Galp).
Segundo Aaker (1996) a fidelidade marca reduz a necessidade de
esforos de comunicao poi s conservar cl i ent es menos di spendi oso do que
conqui st ar novos, especialmente quando estes tm uma relao fortemente
baseada numa experincia agradvel.
medida que a lealdade aumenta, a vulnerabilidade dos consumidores face
presso dos concorrentes da empresa diminui, a qual fica desencorajada
para investir em recursos para atrair indiv duos satisfeitos.
Como se pode observar na figura 159, cada n vel exige uma aco
estratgica adequada, ou seja, o conhecimento contribui para o
desenvolvimento de estratgias que possibilitem ao longo do tempo aumentar
o nmero de clientes que no compram apenas com base no preo.
Fortalecendo v nculos e aumentar o nmero daqueles que esto dispostos a
pagar mais e a enfrentar inconvenincias para usar o produto ou servio.
Para o autor a fidelidade marca deve ser um ponto central na gesto da
empresa e transforma os consumidores num valor activo.
O posicionamento da marca a parcela de identidade e da proposta de
valor que activamente comunicada ao pblico, e que actua como
diferenciao (Aaker, 2001).
171
Figura 159
Fonte: P irmide da Fidelidade, de David A. Aaker (1998).
Not or i edade da mar c a
A notoriedade da marca refere-se imagem desta na mente dos
consumidores, que passa pelo reconhecimento (j houve contacto com a
marca), recordao ( lembrada entre vrias outras marcas da mesma classe)
at ao t op of mi nd (a marca como referncia).
A notoriedade importante pois os consumidores tendem a adquirir algo
que lhes familiar por lhes resultar mais fivel, uma vez que existe uma
experincia prvia (Aaker, 1998).
O reconhecimento da marca a lembrana de que j houve um contacto
anterior com a marca, independentemente do local, mas sabendo que permite
criar associaes ( marca) como por exemplo a um atributo do produto.
No caso da recordao, relaciona-se a marca com uma classe de produtos,
o que faz com que este n vel influencie bastante o consumidor durante o acto
da aquisio.
O modelo desenvolvido pela Young & Rubicam Europa (Figura 160) sob
orientao de J im Williams (Aaker, 2001) fornece evidncias de que a
r ecordao t o i mpor t ant e quant o o reconheci ment o. Este modelo foi
testado utilizando um conjunto de marcas pertencentes a uma mesma classe
de produtos e cujo resultado permitiu concluir que tendem a acompanhar a
curva desenhada. A recordao e o reconhecimento caminham juntos, e as
nicas excepes so as marcas com pequena dimenso pertencentes a
pequenos nichos de mercado ou em decl nio.
As marcas de pequena dimenso apenas so reconhecidas nesses
pequenos nichos de mercado, j aquelas em decl nio tm um elevado
reconhecimento mas so pouco recordadas no momento de aquisio (Aaker,
1998).
172
Figura 160
Reduzido
Recordao/r ecall
Elevado
Marca registada
Marca de Nicho
Reconheciment o
Elevado
Reduzido
Fonte: Reconhecimento versus recordao, modelo do cemitrio, de David A. Aaker
(2001).
O ltimo n vel de reconhecimento a preferncia da marca na mente dos
consumidores e ainda que este patamar seja muito cobiado exige cuidados
com a marca desde o in cio da sua existncia. Uma forte razo para esses
cuidados, evitar uma generalizao que impossibilite a proteco legal,
como aconteceu com o Cellophane, com o J eepe, com a Kodak (em Frana),
com a Gillette ou com a Aspirina.
O processo de gesto da identidade no deve procurar apenas notoriedade
mas sim a consci nci a das razes corr ect as pel as quai s l embr ada, ou seja
como refere Aaker (2001, p.27), as associaes mentais devem ser feitas a
factores positivos.
Qual i dade per c ebi da
A qualidade percebida um ju zo de valor em geral sobre a marca e que
varia conforme o grau de expectativa do consumidor. a f or ma ou opi ni o
f or mul ada pel o consumi dor sobr e as qual i dades do pr odut o, empresa ou
servio em relao concorrncia.
A percepo que o consumidor tem acerca da qualidade superior
comparativamente s alternativas de oferta, oferece uma forte razo de
compra e criam um posicionamento e diferenciao, que estabelecem o n vel
da fidelidade marca.
Conhecer o posicionamento da marca na mente dos consumidores,
possibilita definir os preos a praticar e que os distribuidores e revendedores
possam avaliar a ampliao dos canais de distribuio e da oferta.
Para compreender e gerir a qualidade percebida necessrio entender
quai s as di menses que det er mi nam os j u zos de val or em cada cont ext o para
o que Aaker sugere dois meios distintos (pertencentes a outros autores), o
primeiro para avaliar a qualidade dos produtos e outro a dos servios:
173
1- o primeiro da autoria de Garvin (1984) diz respeito qualidade do
produto e sugere a base em sete dimenses: 1- desempenho; 2
caracter sticas; 3 - conformidade com as necessidades; 4 confiana; 5
durabilidade; 6 - disponibilidade e morte do objecto.
2- o segundo diz respeito aos servios e da autoria de Suraman, Zeithaml
e Berry (1985) que sugerem diferentes dimenses: 1- tangibilidade; 3-
confiana; 4 competncia; 5 - tipo de atendimento e empatia.
O preo funciona como uma associao marca, por exemplo se for alto
pode ser lido como elevada qualidade. Este deve ser pensado em sintonia
com os restantes benef cios do produto (Aaker, 2001).
A qualidade percebida um dado impulsionador importante e estratgico
para a empresa, presente nos seus princ pios, valores, normas e marcas
grficas. Define tambm o ambiente competitivo e o posicionamento a ser
adoptado, o que especialmente relevante para as identidades corporativas
que investem numa nica marca que pretendem criar uma imagem global,
clara e coerente junto dos seus pblicos.
Para Aaker (1996) conhecer a qualidade percebida conhecer a reputao
da marca e fundamental gerir os pontos que influenciam essa percepo.
I magem de mar c a
importante para as organizaes, que as suas marcas si gni f i quem al go
de di st i nt i vo na ment e dos consumi dores.
A imagem de marca uma i magem ment al que se f or ma na memr i a dos
consumi dor es, dificilmente copiada pelos concorrentes.
A fora de uma imagem corporativa est relacionada com a quantidade de
experincias de uso (dos produtos ou servios) e das exposies s
comunicaes, refere o autor, que regra geral importante que todos os
elementos se relacionem coerentemente.
Out r os ac t i vos da empr es a
A importncia de cada activo depende da sua ligao a marca e no
empresa. Por exemplo, patentes, marcas registadas e relaes com os canais
de distribuio como a exclusividade.
174
5. 2. 3- Model o de Gest o de Scot t M. Davi s
Res umo
Scott M. Davis (2002) prope um modelo para maxi mi zar a di menso de
marca e mel horar os l ucros da empresa. Em contraste com os modelos de
Keller e Aaker, Davis defende que a marca no s uma forma de
implementar a estratgia corporativa, mas que i mpul si ona o seu aut o-
desenvol vi ment o, cuja avaliao depende do n vel de conscincia,
recordao, valor financeiro e posicionamento (da marca).
Em onze passos, Davis (2002) explica como determinar a imagem de marca
em funo do pblico-alvo, como a gerir em funo desse objectivo (atravs
do preo, posicionamento, canais, etc.), explicando tambm que importante
monitorizar resultados e criar uma cultura de marca internamente.
O modelo de Scott M. Davis divide-se em quatro fases (desenvolvimento da
viso de marca; determinar a fotografia da marca; desenvolver a estratgia de
gesto; desenvolver uma cultura da marca no interior da empresa) e dentro de
cada fase apresentam-se algumas questes, que esto aqui sistematizadas
num total de onze passos (figura 161).
1 Fas e: Des envol ver a vi s o de mar c a
Esta fase, procura def i ni r obj ect i vos e metas estratgicas e financeiras a
alcanar.
Que ligao entre viso de marca com a viso da empresa?
Que a perspectiva de crescimento de mercado?
A gesto concorda com os objectivos e metas da marca?
A marca vista como activo ou apenas como elemento de marketing?
Pr i mei r o pas s o: el ement os da vi s o de mar c a
A viso de marca define os esforos necessrios para atingir as metas da
empresa. Se a vi so de marca no est i ver de acordo com as met as e
obj ect i vos da empresa (a estratgia da marca deve estar de acordo com a da
empresa), di f ci l obt er sucesso, pois pode haver cortes oramentais ou
limitaes nas aces da marcrias.
A viso de marca deve partir da administrao e envolver toda a
organizao, para que se invista de forma consistente, gerindo e avaliando os
sucessos e insucessos da marca.
175
necessrio que a administrao realize uma reflexo, mas que
igualmente discuta e articule internamente as expectativas para marca, num
per odo compreendido entre os trs a cinco anos. Da resulta a viso de
marca, descrevendo-se os valores da marca, o pblico-alvo, benef cios
mtuos e a definio das melhores metas financeiras e estratgicas a seguir,
de forma detalhada quanto poss vel.
Figura 161
2 Fase - Det er minar a fot ogr afia da marca
4 Fase apoiar uma cult ur a de gest o do act ivo marca
3 Fase Desenvolver a est r at gia de gest o
1 Fase - Desenvolviment o da viso da marca
1 Passo
Elementos de uma viso de marca
10 Passo
Medir o retorno do investimento
sob a marca
3 Passo
Criar o contracto
da marca
4 Passo
Adaptar-se a um
modelo de ciente,
baseado na marca.
5 Passo
Posicionar a
marca para o
sucesso
6 Passo
Aumentar a
marca
7 Passo
Comunicar o
posicionamento
da marca
8 Passo
Reforar a marca
para aumentar a
influncia do
canal
9 Passo
Atribui marca,
um preo
premium
11 Passo
estabelecer uma cultura de marca
2 Passo
Determinar a imagem
de marca
Fonte: A viso sobre a gesto da marca como activo. Elaborado com base no modelo de
Davies (2000).
2 Fas e: Br and Pi c t ur e ( r et r at o r obot ou f ot ogr af i a da mar c a)
Trata-se de identificar as expectativas do pblico-alvo em relao marca,
relacionando-as com concorrentes. uma fase de definio de oportunidades.
O que representa a marca para o mercado? Quais os seus pontos fortes e
fracos? Qual o posicionamento da marca em relao concorrncia?
Qual a consistncia da imagem de marca nos diferentes segmentos de
mercado?
176
Qual a i magem que os pbl i cos-al vo pret endem para a marca? Que
compromissos/argumentos de marca so desejados? Como estabelecer uma
supply-chain
167
para disponibilizar dessa forma?
Quais so os pontos de interseco entre desejos e necessidades, que a
marca pode satisfazer com benef cio para a empresa, ao longo do tempo?
Segundo pas s o: def i ni r a Br and Pi c t ur e
Para definir a Brand Picture necessrio entender com detalhe o
posicionamento da imagem de marca na mente dos antigos, actuais e futuros
consumidores, descrevendo-a com adjectivos, advrbios ou frases.
Para ilustrar o poder da imagem de marca na conquista de valores e
benef cios que vo alm dos seus atributos, apresenta-se a pirmide de valor
(Brand Value Pyramid). A marca est na base da pirmide (Figura 162)
quando no apresenta diferenciao na mente dos consumidores, competindo
apenas pelo preo; enquanto que no topo da pirmide, so fortes e
diferenciadas pelo que podem apresentar um preo prest gio (preo
premium).
Figura 162
Fonte: P irmide do Capital marca, de Scott M. Davis (2000).
Uma marca tem os mesmos atributos que uma pessoa, ou seja, os
consumidores atribuem-lhe caracter sticas comportamentais humanas.
O conjunto de associaes da marca as suas caracter sticas/aces,
ajudam a posicionar a empresa, produto ou servio em relao
concorrncia.
Ter c ei r o pas s o: c ompr omi s s os / ar gument os de mar c a
167
Estrutura de negcio necessria para um produto ou servi o, desde a matri a- pri ma, passando pela
produo e parcerias estratgi cas at entrega/venda.
177
Trata-se de um conjunto de promessas que funcionam como
compromissos/argumentos utilizados para atrair e fidelizar novos
consumidores e que a empresa entende ser capaz de cumprir.
Estes argumentos devem ir de encontro aos desejos e necessidades dos
pblicos-alvo e devem implicar honestidade da marca/empresa.
Quar t o pas s o: def i ni r o pbl i c o- al vo da mar c a
A empresa deve conhecer as convices e comportamentos do pblico-alvo
que tm interesse na marca.
Como pensam e agem os consumidores actuais; porque tomam decises de
compra; como posicionam a marca face s restantes categorias de produto e
concorrentes; explicar quais as barreiras e oportunidades de expanso da
marca.
Ter c ei r a f as e: des envol ver a es t r at gi a de ges t o da mar c a
Definir como e que estratgias podem assegurar o cumprimento das metas
e objectivos da empresa.
Qual o melhor posicionamento de marca? O posicionamento singular,
cred vel, motivante, sustentvel e alinhado com as percepes internas e
externas?
Que estratgias podem levar ao crescimento do volume de negcio?
Que limitaes e potencialidades de extenso de marca existem? Que
oportunidades de novos produtos existem?
Que estratgias de distribuio e comunicao apoiam os objectivos da
marca? Como rentabilizar os canais?
Qual o valor/preo que os consumidores atribuem ao produto/servio?
Que estratgias de comunicao maximizam o valor da marca?
Qui nt o pas s o: Pos i c i onament o da mar c a
Para posicionar com sucesso uma marca necessrio def i ni r com
exact i do o negci o; o sector de actuao; definir o pblico-alvo e
estabelecer critrios de diferenciao e benef cios de aquisio.
Para que seja efectivo, um bom posicionamento implica cinco princ pios
base: 1 - actuar onde no h concorrentes; 2 - rentabilizar as propriedades da
marca; 3 - sustentar ao logo do tempo; 4 - obter credibilidade sendo honesto;
5 - evi denci ar benef ci os val or i zados pel os consumi dor es.
Sex t o pas s o: ex t ens o da mar c a
Trata-se de uma reflexo que revele o potencial de evoluo dentro de um
mercado, categoria de evoluo ou servio.
178
Pretende-se entender com a maior exactido poss vel, quais as
necessidades e desejos garantindo que so satisfeitos, uma vez que dessa
relao depende o retorno do investimento.
St i mo pas s o: c omuni c ar o pos i c i onament o
A estratgia de comunicao deve suportar o posicionamento, procurando o
melhor conjunto de ve culos comunicacionais, que permitam construir e
manter o relacionamento com a marca.
Cada ve culo comunicacional utilizado, deve conter metas espec ficas e
pensadas na globalidade: promoo (televiso, rdio, impressos, outdoor),
internet, relaes pblicas, promoes (pontos de compra, cupons,
reembolsos, concursos), marketing directo (mailings via fax, correio ou e-
mail), eventos de promoo, comunicaes internas, etc.
Oi t avo pas s o: r ef or ar a mar c a
Uma marca forte um valioso contributo num relacionamento equilibrado
com os distribuidores e revendedores.
a not or i edade da marca, que per mi t e que a empr esa cont rol e os seus
canai s de di st ri bui o, em vez de ser controlada por estes. Pelo que as
estratgias de distribuio, devem estar em funo dos objectivos marca.
Nono pas s o: o pr e o pr emi um
extremamente importante conseguir valorizar o produto face
concorrncia, o que depende do reconhecimento da Brand Picture.
A lista de Factores de Fidelidade Marca apresenta a importncia atribu da
pelo consumidor a cada factor de lealdade da marca. Os resultados obtidos
so importantes para que a empresa percepcione que o val or no est no
preo nem no cust o, mas na rel ao ent r e benef ci os f orneci dos e val or es
per cebi dos (Figura 163).
Para que o capital - marca passe a activo, o modelo prope oito formas: 1 -
posicionar a marca como pr emi um em relao concorrncia; 2 - lanar
novos produtos mais baratos que a concorrncia; 3 - recuperar rapidamente
os custos com desenvolvimento; 4 - reduzir custos de aquisio de novos
clientes; 5 - reconhecer os clientes fidelizados que continuam a pagar o preo
pr emi um; 6 - utilizar o preo premi um como factor de controlo sob os canais
de distribuio; 7 - utilizar a dimenso da marca para procurar parcerias e
oportunidades; 8 - aumentar a dimenso da marca sem diluir os atributos
conseguidos.
Figura 163
179
Fonte: Factores de Fidelidade marca, de Scott M. Davis (2000).
4 Fas e: Apoi ar a ges t o da mar c a c omo ac t i vo
Pretende-se determinar a forma como a empresa vai implementar e avaliar
as estratgias de marca estabelecidas, procurando responder s seguintes
questes:
Como se deve estruturar a organizao para maximizar o sucesso da
marca? Como acompanhar e recompensar os envolvidos no processo?
Como avaliar o desempenho da marca? Que decises podem afectar a
avaliao do processo?
Como sensibilizar e educar os colaboradores, sobre os benef cios da
gesto de identidade?
Como envolver directamente a administrao da empresa?
Dc i mo pas s o: Ret or no do i nves t i ment o na mar c a ( Ret ur n On Br and
I nves t i ment ROBI ) .
Durante muito tempo, para avaliar o desempenho da marca (Figura 164)
eram tidos em conta apenas dois critrios: conscincia e recordao. No
entanto, a experincia demonstrou ser insuficiente, e passaram-se a
considerar o conhecimento aprofundado sobre a parcela das vendas
correspondente conscincia da marca; o valor financeiro da marca; o
entendimento do posicionamento (Davies, 2000).
180
Para avaliar o desempenho da marca passaram a utilizar-se dezanove
critrios: 1- a fora da recordao e reconhecimento pelo consumidor; 2- n vel
do entendimento do posicionamento e das mensagens comunicacionais pelo
pblico-alvo ou segmento; 3- cumprimento dos compromissos de marca; 4-
grau de consistncia da personalidade da marca; 5- imagem de marca, na
pirmide de valor; 6- nmero de clientes conseguidos pela dimenso da
marca; 7- clientes perdidos para a concorrncia ou por mercados pouco
explorados; 8- a dimenso da participao no mercado; 9- nmero de
produtos/servios adicionais a serem vendidos considerando a dimenso da
marca; 10- anos de fidelidade do consumidor marca; 11- frequncia de
aquisies dentro de cada categoria; 12- percentagem de not cias positivas
sobre a marca; 13- afectividade dos clientes com a marca e o passa palavra;
14- percentagem de novos negcios oriundos da imagem de marca; 15-
percentagem de clientes satisfeitos com a marca; 16- valor financeiro da
marca no mercado; 17- percentagem de crescimento do preo pr emi um; 18-
retorno financeiro do investimento em comunicao; 19- percentagem de
clientes fidelizados.
Figura 164
Fonte: Avaliar o Capita marca: os oito ROBI . Elaborado com base no modelo de Davies
(2000).
181
Adoptar um sistema de avaliao do desempenho da marca querer saber
o desenvolvimento/comportamento da marca no mercado, permitindo que a
gesto ocorra em tempo til.
O modelo de gesto e avaliao da marca prope oito vectores (Figura 156)
qualitativos e quantitativos que apoiam a empresa a gerir a marca com
sucesso, com base em quatro pontos fundamentais: a diferena entre a
imagem desejada e os compromissos/argumentos de marca; o impacto dos
esforos da marca na memorizao e fidelidade marca; a habilidade para
atrair novos clientes; o entendimento do posicionamento por parte do mercado
(Davies, 2000).
Dc i mo pr i mei r o pas s o: es t abel ec er uma c ul t ur a bas eada na mar c a
A cultura de marca afecta e depende de todas as reas funcionais da
empresa, principalmente, da liderana e das comunicaes internas e
externas.
O ponto cr tico da implementao a conscincia ao longo do tempo. Pelo
que a direco da empresa deve estar empenhada e envolvida directamente,
pois as comunicaes devem ser frequentes e consistentes. O staf necessita
de formao e integrao nos valores corporativos, motivado e reconhecido
para que os resultados sejam conseguidos (Davies, 2000).
182
5. 2. 4- Model o de Joan Cost a
Res umo
Para J oan Costa (2004), a ef i cci a da marca depende em grande medi da da
cul t ur a cor porat i va, uma vez que i nf l uenci a di r ect ament e as aces
corpor at i vas.
O conceito de identidade corporativa de J oan Costa uma expresso inter
media que considera a empr esa como cent r o emi ssor e r ecept or (a cada
instante) de mensagens. Uma combinao organizada de cinco meios de
apelo com correspondncia aos canais sensoriais humanos: ouvido/fala;
viso/tacto; percepo espacial e experincia, aos quais em certos casos, se
acrescenta o olfacto e o gosto, cujo objectivo cr i ar uma experi nci a
mul t i sensor i al que conduz i magem de marca (mundo simblico colectivo).
Dos exemplos analisados, Costa (2001) o nico autor a referir a
i mpor t nci a de um gest or do pr oj ect o de i dent i dade cor por at i va.
J oan Costa (2004) considera que enquanto que no sc. XIX o pensamento
empresarial assentava nos vectores: o capital; a organizao; a produo; e a
administrao, actualmente uma clula numa rede do mundo de valores
emergentes, onde esses pilares deixaram de ser estratgicos e foram
remetidos para a componente interna da empresa (back-of f i ce) e no ser vem
para assegurar a sust ent abi l i dade do negci o.
O modelo de J oan Costa nasce de um sistema em cruzado (figura 157) que
evidencia ligaes na vertical, a est rat gi a ( como) t r ansf or ma e val or i za a
i dent i dade que culmina na imagem e se instala no imaginrio colectivo; na
horizontal a comuni cao at r avs da est rat gi a; e na interseco a cultura,
que o valor de diferenciao e d sentido gesto da comunicao em
forma de percepes que sero vivncias e experincias do consumidor.
Segundo Costa (2004) mais importante para a empresa do que fazer
como agir e por em prtica (depende da cultura), dessa forma que se
transforma a identidade, a comunicao, a aco, e a imagem em
personalidade corporativa, componentes qualitativos da imagem.
183
Figura 165
Fonte: J oan Costa (2004)
L eg en d a:
Quem (a empresa) equivale sua
identidade
O que faz expressa-se pelos seus actos,
decises e actuaes.
O que diz significa o que comunica.
O que para mim (a empresa) a imagem
de marca.
O passo central obrigatrio: o como
atravs do qual diz, faz, mostra a aco.
Com o objectivo de clarificar a explicao da figura 165, separam-se o eixo
vertical do horizontal, embora seja bom alertar para a interdependncia que
existe entre eles:
Considerar que a identidade uma simples questo de logtipos ou que
este concentra toda a imagem da marca um erro.
Fazendo uma anlise etimolgica, identidade provm de dem, que
significa idntico, mas idntico a si mesmo A identidade o ADN da
empresa, os cromossomas da sua gnese, que so a herana dos
caracteres do seu empreendedor fundador e que esto
inoculados nela e no acto de instituir no esprito
institucional da organizao (J oan Costa, 2001, p.214).
A identidade corporativa define-se por trs parmetros que constituem a
sua face objectiva:
1 O que a empresa (Estatuto legal, histrico do desenvolvimento
estratgico, direco actual, organigrama de actividades, filiais, estrutura do
capital, posses, designao social);
2 O que a empresa faz (A actividade principal que d sentido
organizao relacional e produtiva - preos, tcnica, resultados financeiros);
3 O que a empresa diz ser (por meio de mensagens, informaes,
promessas a diversos pblicos) e o que faz (com relao realidade, como o
pa s de origem por exemplo).
Desta forma, relacionam-se os vectores da Identidade, da Aco e da
Comunicao. A convergncia dos vectores para o como central, o
processo atravs do qual o pblico se relaciona com a condut a e a
per sonal i dade da empr esa e val or i za a exper i nci a f ei t a a par t i r das aces e
184
comuni caes, cuj o r esul t ado a f or mul ao uma i magem ment al (J oan
Costa, 2001).
Para J oan Costa (2001, p.218) a identidade corporativa um
sistema de comunicao que se incorpora estratgia global
da empresa e que se estende e est presente em todas as suas
manifestaes, produes, propriedades e actuaes. A
identidade apresenta-se assim em primeiro lugar, como a
unidade de estilo das comunicaes dentro da diversidade dos
seus componentes. A consistncia ou coerncia dos componentes que
integram o sistema da identidade e a sua valorizao, a base para a fixao
no imaginrio colectivo, que so sistematicamente utilizados ao longo do
tempo, nos suportes materiais Costa (2001).
A imagem do pblico uma s ntese de est mulos, experincias e ju zos de
valor feitos da relao com a empresa. Pelo que a estratgia de comunicao,
deve estar relacionada com as necessidades e expectativas dos seus pblicos
e interligada com a estratgia geral da empresa.
Atravs das suas condutas, a empresa projecta imagens que so
percebidas inconscientemente, oriundas de diversas fontes como seja um
produto, um rtulo, uma embalagem, um servio, do qual retiramos uma
sensao de conforto, elegncia, eficcia, etc.
Mas a imagem mental da marca no um resultado instantneo, uma
construo progressiva ao longo do tempo, feita de forma individual por cada
pessoa; o contexto em que decorrem as experincias do consumidor tm
extrema importncia, permitindo a comparao com a concorrncia, a
interferncia de opinies e da comunicao da empresa. Por isso, a imagem
de marca de natureza subjectiva, psicolgica, funcional e simultaneamente
emocional. Porm, Costa (2001) refere que o mais importante no conhecer
a sua imagem ou reputao em relao aos concorrentes, mas perceber
porque assim , pois ai reside a soluo ao problema.
A prpria marca grfica capaz de sintetizar valores corporativos atravs
da sua forma e cor, aos quais o pblico sens vel, porm tambm podem
ocorrer desvios entre a descodificao desejada e a real.
Para Costa (2001) a dimenso inter media
168
da identidade corporativa vai
alm da comunicao baseada em grafismos ou cores e procura ir
directamente ao indiv duo (principal actor que determina o resultado final),
atravs de uma experincia extrasensorial integrada. Utilizando-se quatro
168 I nter medi a rel acionando- se de li nguagens di versas i nterligadas, no uma adio de mei os como o
mul ti medi a. Par a Abr aham Mol es , a c r i at i vi dade i nt er medi a o us o c ons c i ent e do
poder di al c t i c o da c ompl ement ar i dade ent r e doi s ou mai s c anai s dos s ent i dos ,
i s t o , audi t i vo e vi s ual , vi s ual e t c t i l , vi s ual e ol f ac t i vo, et c (Abraham
Mol es, 1983).
185
grandes mbitos para a experincia da identidade: Mensagens visuais,
sonoras, audiovisuais; expresso cultural personalidade corporativa,
qualidade, relaes; objectos elementos de uso, suportes informativos;
Espaos lugares, ambientes, pontos de ateno, de venda e de servio.
A identidade corporativa inter media o resultado de sinergias entre partes
mediadoras, constituindo um fenmeno psicolgico (psicologia da forma) onde
o todo mais que a soma das partes.
Gerir a identidade indirectamente gerir a imagem (mental ou colectiva),
pois a segunda necessita de substncia real para ser formada. Gerindo as
mensagens emitidas pela conduta empresarial e pela comunicao intencional
e indirecta capazes de criar um estilo ou personalidade (aos olhos do pblico)
poss vel controlar a imagem corporativa.
Segundo J oan Costa (2001), a empresa no deve definir a sua imagem com
base em opinies ou ideias subjectivas para dar resposta a problemas
concretos como o Modelo de Identidade a Implementar. Para determinar o
melhor modelo de identidade, em funo do plano estratgico e dos objectivos
globais da empresa; em funo da imagem que existe no pblico, entendendo
como se formou; e tambm em funo das expectativas dos consumidores que
marcam a diferena da concorrncia e para isso prope o uso da Audi t ori a
est r at gi ca gl obal .
O nome Audi t or i a est r at gi ca gl obal nasce de vrias preocupaes do
autor. Relacionadas com a necessidade de uma ferramenta capaz de analisar
factos e comunicaes pois esto intrinsecamente interligados, e uma vez que
as j existentes auditorias de comunicao so redutoras e pouco elucidativas
A empresa e o seu contexto constituem um sistema e
funcionam como tal (J oan Costa, 2001, p.240). Para analisar um todo,
no basta analisar um componente como seja a imagem. Pelo que o autor
prope uma ferramenta capaz de analisar detalhadamente e globalmente,
descobrindo qual a imagem actua e porqu; comparar os dados anteriores
com a estratgia da empresa, avaliando coincidncias e desvios; diagnosticar
e estabelecer linhas de mudana e de controlo.
Um grande problema ter sido como estabelecer um mtodo cred vel e
capaz de definir o modelo de imagem futura, uma vez que assenta em
factores futuros e no conhecidos
169
.
169 A ideia de si mul ar o sistema parecia vl i da. Uma vez que o si mul acro uma cri ao produto de um
acto positi vo ou i maginrio e para isso, a esquemtica pareci a contri buir, uma vez que se trata da
representao de fenmenos sensoriais e psicolgicos por esquemas.
Mas representar uma real idade futura e prospecti va no tarefa fcil e ai nda no estava resol vi do
como seriam escol hi dos e materializados os val ores da i magem.
A resoluo fi nal do probl ema, foi poss vel com a anal ogi a (ana- l ogos), que deu a aproxi mao
correcta, por permi ti r estabelecer rel aes. Tendo trs vectores conhecidos (o plano estratgico e os
186
O modelo baseia-se na simulao de um fenmeno de aco futura, que
afecta duas grandes categorias: a simulao estrutural (estrutura atmica do
fenmeno mental) e a simulao funcional (as aces e interaces do
modelo com o Homem). Este processo feito com base em computadores que
permitem afinar o modelo e fazer rpidas operaes e combinaes,
estudando vrias possibilidades, alterando os parmetros.
Com o objectivo de alcanar a neutralidade na definio de um modelo de
imagem futura Costa (2001, p.251-256) imps-se algumas exigncias, tendo
em conta a lgica e funo do processo:
No partir apenas da viso da empresa e do seu plano
geral; Ter em conta as opinies e atitudes dos pbl i cos
est r at gi cos; Privilegiar a experincia dos clientes para
escutar as suas crticas e recomendaes, convertendo-os
assim, em aliados do projecto; Atender a factos do passado,
que tenham sido relevantes (positiva ou negativamente) para
os pblicos;
Valorizar os aspectos competitivos mais fortes e
diferenciadores e integr-los no sistema de imagem; Incluir
o geral mapa social dos actores: empregados, accionistas,
instituies, lderes de opinio, meios de comunicao,
associaes de consumidores e utilizadores, etc;
Valorizar a importncia da comunicao oral e a
comunicao no verbal nas relaes interpessoais; Que o
modelo seja um reflexo perfeito dos valores diferenciados da
empresa;
Que o modelo seja flexvel para que admita adaptaes a
novas oportunidades em termos de imagem; Que o modelo seja
quantificvel nos elementos que o integram e nas interaces
entre eles; Que o modelo seja ele mesmo a referncia para as
investigaes sucessivas e para controlar o processo de
implementao da imagem.
A implementao e gesto da imagem corporativa passa em grande medida
por um processo de planificao, cuja sequncia depende da natureza de
cada projecto, mas que ser apresentada como esquema geral, em dez
passos (Figura 166): 1- So os pontos fundamentais que estaro presentes
objecti vos globais e pontuais; a i magem exi stente, as expectati vas e cr ticas do pbl ico; e as causas
que havi am causado tal i magem), era poss vel determi nar um quarto.
P ara al m do resultado anterior, foi i mportante a fil osofia do como se de Hans Vai hi nger (1852- 1933)
que refere que unicamente graas s fices que o esp rito humano foi capaz de construir um uni verso
habitvel e de l he dar senti do, base que possibil itou a J oan Costa (2001) de acreditar poss vel si mular
um fenmeno ou aco futura em forma de model o, pass vel de ser ensaiado, manuseado, modificado
como se fosse reali dade e do qual se obtm um model o realizvel.
187
em todo o processo: o plano estratgico da empresa e o modelo da imagem a
implementar, cuja relao resulta numa interseco que resulta dos
interesses da empresa com os do mercado; Caso o director de comunicao
no esteja no processo desde in cio, neste momento que se ir designar a
pessoa para o cargo, embora participar desde in cio seja muito importante; 2-
O dispositivo necessrio para os aspectos fundamentais da gesto e controlo
da imagem corporativa, as estratgias e as tcticas; 3- Reformulao dos
objectivos globais anteriores Auditoria Estratgica Global, atravs de
entrevistas com a direco e com a presidncia. Definio de objectivos
pontuais a cada departamento e a aplicao da comunicao por objectivos;
4- O director de comunicao (Di rcom) transforma os dados do ponto dois,
num Plano Estratgico de Comunicao Integral, que com base nos objectivos
globais do modelo, provindo em especial da Identidade e da Cultura. Os
valores da identidade e imagem, que sero inseridos em todas as
comunicaes da empresa, incluindo elementos da cultura comunicacional
que far previses de atitudes a adoptar na mudana do cenrio: fuses,
crises ou outros problemas pass veis de influenciar a reputao e a imagem.
Figura 166
188
Fonte: I mplementao e gesto da imagem. J oan Costa, 2001, p.255
189
O Di rcom elabora o livro de estilo, um auxiliar da cultura corporativa,
expresso em actos e que racionaliza a cultura sem esquecer os valores; 5-
Um balano relacionado com a log stica, procurando atingir um equilibrio
entre as aces previstas e os recursos dispon veis, resultando uma
planificao detalhada e oramentada; 6- Dependendo das necessidades da
empresa, passa-se a uma ou a um conjunto de situaes das seguintes:
criao do sistema de identidade corporativa; ao seu rejuvenescimento do
sistema de identidade corporativa; criao de sistemas de relaes de
mercado; ao in cio da alterao cultural e dos sistemas de comunicao.
Assim, em cada um dos casos, criam-se os materiais pblico a pblico,
dependendo das necessidades comerciais e de mercado (promoes,
campanhas, etc.); 7- Quando conveniente, avaliar (por investigadores) como
esto a ser percebidas e interpretadas as mensagens; 8- Implementao do
Modelo de Imagem, com os instrumentos anteriores (embora a sequncia no
seja obrigatoriamente esta, pois depende do projecto); 9- Acompanhamento e
controlo da implementao, tendo em conta o Modelo; 10- Movimento circular
interactivo, capaz de redefinir ou corrigir o Modelo, atravs de uma anlise de
correspondncias e desvios dos objectivos.
Costa (2001, p.258), aponta ainda algumas causas capazes de levar o
projecto ao insucesso, so elas: 1- Des pr opor o ent r e mei os e
obj ect i vos ; r es i s t nci as ps i col gi cas s al t er aes ; 2-
i nopor t uni dade das deci s es ; 3- er r os de cl cul o e
i mpr evi s t os ; 4- i ns uf i ci nci a ou exces s o de i nf or mao bas e;
5- des at eno ou i ndi f er ena opi ni o dos pbl i cos ; 6-
des mot i vao dos i mpl i cados ; 7- er r os de execuo das
aces ; 8- i nexi s t nci a de um cont r ol o ef i ci ent e do
pr oces s o; 9- i nexi s t nci a de um di s pos i t i vo cent r al de
ges t o e cont r ol o do pr oces s o, com um r es pons vel das
comuni caes .
Um outro factor de insucesso dos projectos corporativos apontado pelo
autor , a insegurana ou receio de alguns gestores em apostar na inovao,
procurando antes processos j testadas raramente so diferenciadoras.
J oan Costa considera que a eficcia de um projecto de gesto de
identidade corporativa depende de um cargo ocupado pelo Di rcom, que se
justifica no contexto empresarial contemporneo onde as empresas so
centros emissores e receptores de sinais, informaes, mensagens,
comunicaes e das fontes mais diversas a um ritmo imposs vel de parar e
que tende para a desordem. Assim sendo, J oan Costa (2001) considera que o
per f i l do Di rcom, dever ser o de um gener al i st a pol i val ent e, est r at ego,
comuni cador, gest or de comuni caes e da i magem corpor at i va.
190
Para Costa (2001), uma vantagem do seu Modelo a flexibilidade em se
adaptar a qualquer estrutura, independentemente da sua dimenso, seja uma
multinacional ou uma PME.
191
5. 2. 5- Model o de Nor ber t o Chaves
Res umo
Os programas de imagem corporativa so uma interveno consciente,
sobre a prpria conduta da organizao, de forma a evitar a existncia de
mensagens divergentes aos objectivos (Chaves, 1988).
Norberto Chaves (1998) compreende a empresa como um sistema
semitico que comunica a todo instante atravs da interligao da Identidade
Corporativa, Realidade Corporativa, Imagem Corporativa e Comunicao
Corporativa.
O cont r ol o da i magem da mar ca f az- se sobret udo agi ndo sobre o si st ema e
menos sobr e as mensagens.
Segundo Chaves (1998), na semiografia corporativa (termo do autor para
sistema semitico corporativo), h sempre processos conscientes e
inconscientes de emisso de signos da identidade, fuga de mensagens
identificatrias, automticas, conotadas e no controlveis muitas vezes
contraditrias.
Sabendo que o termo imagem no se refere ao cone nem ao sistema de
signos icnicos, mas sim um fenmeno de opinio social, evidente que o
processo de representao no projectado nos programas de imagem
corporativa.
Neste sentido, deve entender-se por pr ogr amas de i magem cor porat i va, a
redaco das mensagens de identidade, determinados para incidir sobre
uma imagem pblica da mesma.
O objectivo de qualquer programa de interveno de identificao
corporativa, no apenas modificar a imagem, mas tambm alterar a
semiografia corporativa, manipulando os objectivos da realidade e
comunicao corporativas.
Refere Chaves (1998) que uma i nt er veno mer ament e semi t i ca r ef l ect i r -
se-i a apenas no campo comuni caci onal , pelo que necessrio que a prpria
estrutura da organizao sofra alteraes (Figura 167).
O design de discursos semiticos no opera sobre mensagens, mas sobre
os seus sistemas (Chaves, 1998).
Em design de comunicao, pode dizer-se que existe um sistema quando
existem n veis de relao entre mensagens, pel o si gni f i cado e, no apenas
pel a ret ri ca vi sual .
Figura 167
192
Fonte: Norberto Chaves (1988, p.35)
Norberto Chaves (1988, p:37), refere a unidade
170
que deve ser dada aos
contedos semnticos (contedos) e retricos (estilos), comuns em
mensagens que circulam por vrios canais. A eficcia do sistema de
identificao corporativo no reside tanto na qualidade de cada mensagem,
mas sobretudo na capaci dade dest as se l egi t i mar em r eci pr ocament e.
Para o autor, ao design de comunicao importa controlar a totalidade do
cdigo, da linguagem (ou conjunto), que operam sobre determinada
comunicao. E isso faz-se controlando a redaco de todas as comunicaes
de forma intelig vel e coerente em funo do sistema.
Et apas do pr oc es s o:
Entre a deteco da necessidade e a interveno h um processo de
programao do projecto. Um processo de identificao da organizao, que
incide em vrios factores, tais como: n vel de complexidade do organismo; a
gravidade do seu problema de identificao; condicionantes administrativas
gesto da interveno; condicionantes oramentais ou temporais.
Para garantir uma interveno eficaz necessrio desenhar um model o
oper at i vo medi da de cada caso, embora existam etapas do processo que se
repetem (e do origem ao modelo do autor Figura 168).
De forma geral, o processo divide-se em duas grandes fases, que se
subdividem: uma predominantemente anal t i ca e outra nor mat i va. Na etapa
anal tica, procura-se conhecer aprofundadamente a organizao no seu
170
Embora em certos casos a incoernci a entre elementos de comunicao faa senti do, na mai oria, o
prpri o conceito de corporao i deia requer um grau de organizao ou lgica e, portanto uma
questo conceito.
193
funcionamento normal, enquanto que na etapa normativa, se procura
caracterizar a interveno.
Figura 168
Fonte: adaptado de Norberto
Chaves (1988, p.109).
Fas e anal t i c a
194
A fase anal tica subdivide-se em quatro etapas: investigao; identificao;
sistematizao; diagnstico.
Conclu da a base informativa do projecto, passa-se s fases seguintes
onde se formalizam os modelos ideais no campo da representao (imagem e
identidade corporativas) e no campo emp rico (realidade e comunicao
corporativas).
Na investigao, procura-se fazer um levantamento da
situao/funcionamento dos quatro n veis do fenmeno corporativo: 1-
realidade corporativa (a infra-estrutura material e sistema de actividades); 2-
organigrama operativo; 3- compilao de documentos oficiais sobre a
instituio e seus projectos); 4-identidade corporativa (leitura da identidade
por parte dos seus agentes internos, das suas interpretaes e verses
acerca do desenvolvimento corporativo); 5-comunicao corporativa
(compilao da totalidade do material comunicacional e registo das
caracter sticas significativas do meio corporativo concreto envolvente,
recursos humanos etc.); 6- imagem corporativa (a imagem pblica corporativa
em geral e por segmentos, recorrendo recolha de dados mediante
investigaes tcnicas ou atravs de entrevistas a agentes internos ou
externos).
Tambm se faz uma anlise da envolvente da organizao, ainda que mais
genrica, uma vez que a concorrncia o paradigma corporativo, e ter que
se definir uma est rat gi a por semel hana ou por cont rast e. Anlise que
dever ser feita antes da obteno dos resultados do estudo interno,
elaborando-se um guio que oriente e evite uma consulta errada. A
funcionalidade deste i nput mede-se pela sua pertinncia, pela sua
abrangncia e pela possibilidade de recuperao (Chaves, 1988).
Na identificao, trabalha-se sobre o campo da representao, procurando
um repertrio de valores e caracter sticas estveis, com o objectivo de dar
forma a um discurso vlido e claro de identidade e imagem (texto de
identidade).
H trs fontes corporativas de condicionamento presentes em todo o
programa de imagem e comunicao (Figura 169): 1- o projecto corporativo
interno; 2- o paradigma corporativo externo; 3- e as condicionantes
particulares de imagem corporativa (anlise feita pelo pblico).
Estes trs parmetros permitem a seleco e processamento dos atributos
da organizao, gerando-se os seguintes passos de definio do discurso de
identidade: 1- da investigao seleccionam-se todas as caracter sticas ou
atributos identificativos teis aos objectivos da estratgia empresarial; 2- a
anlise de identidades concorrentes, que permite ordenar o material anterior,
definir atributos genricos e espec ficos; 3- o ltimo passo contm as
195
condicionantes efectivas de comunicao com o seu pblico real, incluindo o
que ser a imagem ideal poss vel.
Figura 169
Fonte: adaptado de Norberto Chaves (1988, p.120).
O discurso resultante vai indicar a necessidade ou no do seu
desdobramento por diferentes n veis de aproximao: a organizao
indivis vel, global, de uma ptica neutra como se v distncia ou mais
prxima, com actividades, co-actores e interlocutores, interesses e pticas
espec ficas ou diferenciadas (Chaves, 1988).
Na sistematizao, define-se uma linha de gesto e funcionamento geral
com reflexo na comunicao e nos meios (matriz de comunicao).
A sistematizao e a identificao esto intimamente ligadas e do
desenvolvimento de uma depende o da outra. Para definir comunicaes e
meios importante conhecer os conceitos tambm dependem da fase
seguinte.
Tendo j um texto de identidade, poss vel or denar raci onal ment e o campo
de i nt erveno atravs de matrizes classificatrias (contedos e sistema
operativo) que garantam que o conjunto de intervenes resulte convergente
com o objectivo.
Deve-se partir do pressuposto de que a organizao na sua totalidade (a
sua estrutura f sica, os seus recursos materiais, os seus recursos tcnicos,
conhecimentos, recursos humanos e mecanismos operativos) um sistema
complexo e que todo ele comunica. Por isso, para o estudar, melhor orden-
lo em sistemas autnomos ou separados.
Dificilmente uma organizao deve ter um nico discurso, mas sim diversos
n veis de comunicao que incidem em diferentes pontos relacionados
directamente com o tipo de receptor. O que determina os n veis de
especificidade a prpria organizao, no entanto, existem alguns comuns a
todos os projectos: 1- n vel externo espec fico (conjunto de relaes
materializadas nas aces regulares concretas e relacionadas com os
destinatrios directos da actividade da empresa); 2- n vel interno (materializa-
196
se nos prprios intervenientes da empresa, as diferentes reas,
departamentos ou seces e os membros que as integram); 3- n vel i nt er -
corpor at i vo (a relao mantida com outras organizaes, concorrncia, etc.).
A aplicao dos conhecimentos anteriores cria condies a uma
aproximao aos suportes significantes reais: 1- comunicaes propriamente
ditas (conjunto de peas que constituem e do suporte a mensagens
apontamentos, documentos escritos, objectos visuais, audiovisuais, sonoros
ou icnicos, como por exemplo o sistema de sinalizao, etc.); 2- a
envolvente (o habitat corporativo edif cios, espaos exteriores, interiores e
equipamento); 3- aces (seleco dos responsveis de relaes pblicas,
capacitao de quadros, etc.).
Supor t es si gni f i cant es per t encent es a out ros si st emas, que quando
considerados, so assumidos como meras extenses (ou aplicaes no
grficas) da imagem grfica (Chaves, 1988).
A c ompl ex i dade do s l i do da i magem
Trata-se dos trs sistemas emp ricos ou reas de identificao, por sua
vez participam, de todos os modos de significao e de todos os n veis de
comunicao (Figura 170).
Figura 170
Fonte: adaptado de Norberto Chaves, 1988, p. 136.
Observar-se- que, a respeito da terceira segmentao, que o primeiro
sistema se instala nas franjas A e B com predom nio do lingu stico; que no
segundo sistema se instala no C e D com uma relao equilibrada entre
funo e semitica; e que o terceiro sistema se instala na franja B. (Norberto
Chaves, 1988, p.136).
197
Na aplicao cruzada dos parmetros anteriores constri-se uma matriz de
dupla entrada (Figura 171), onde a totalidade das mensagens corporativas
ficam ordenadas por reas (tipos de significantes) e n veis de comunicao
(retricas).
Figura 171
Fonte: adaptado de Norberto Chaves (1988, p.137).
No diagnstico, uma vez que j se dispe de um texto de identidade e de
um organigrama ou matriz de comunicao, poss vel fazer: um diagnstico
geral s quatro instncias corporativas; um diagnstico particular
comunicao em cada um dos sistemas internos; e um final que estuda a
articulao entre os anteriores e orienta a determinao para um estado ideal.
O diagnstico (Figura 172) contm as concluses gerais conduzem s
zonas problemticas, que incidem na imagem e comunicao (directa ou
indirectamente).
Neste momento, a pol tica de imagem ter uma ideologia comunicacional
concreta para os contedos e uma gesto de imagem que define critrios
temporais e de interaco de meios. A sua elaborao ser uma alternativa
para terminar os desajustes detectados no campo comunicacional e os seus
contedos so basicamente prescries: de ideologia comunicacional geral
nos seus aspectos semnticos e retricos; e as linhas gerais de gesto de
imagem e comunicao (Chaves, 1988).
Figura 172
198
Fonte: adaptado de Norberto Chaves (1988, p. 139).
Fas e nor mat i va
Enquanto que a fase a anterior puramente anal tica, esta normativa e
caracteriza-se em trs etapas de interveno: 1- Na formulao da estratgia
geral de interveno, no se dever definir um critrio de actuao sobre o
campo comunicacional, mas sim dever estipular em que campo se si t ua a
interveno. Em traos gerais, dever determinar se a interveno inside
exclusivamente na comunicao, no sistema operativo de departamentos, na
gesto em geral ou num conjunto.
A variante mista deveria ser predominante, uma vez que pouco provvel
que uma organizao, ao implementar um programa integral de identificao
corporativa, no necessite de algum tipo de restruturao interna.
2- No design da interveno geral, elabora-se o plano geral que articula e
que analisa todas as formas de actuao pertinentes em cada campo. Este
plano dever incluir as seguintes definies: 1- a listagem completa de reas
em que se dividir aco tcnica; 2- a caracterizao de cada rea pelas suas
condies tcnicas, prioridades e lgica, etc.; 3- as linhas de gesto da
interveno global como o plano de trabalho ou critrio de gesto externa,
etc.
Podero detectar-se intervenes cuj os ef ei t os sobre a i magem os t or nam
domi nant es e condicionadores dos restantes (Figura 173).
Figura 173
199
Pr o g r ama Eficcia P ersuasiva de
leitura
P oder de
condicionamento
P rioridade
A Muito Alto Muito Alto 1
B Mdio Baixo 6
C Muito Alto Alto 2
D Alto Mdio 4
E Alto Baixo 5
F Mdio Baixo 7
Etc. Alto Alto 3
Fonte: adaptado de Norberto Chaves (1988, p.160).
3- Na elaborao de programas particulares, definem-se as normativas s
quais se devem ajustar os distintos projectos: objectivos particulares; campo
emp rico de interveno; contedos ideolgicos; mecanismos de
implementao do programa, entre outros, explicando requisitos de cada
interveno em particular, ou seja, elaborando programas de actuao
tcnica.
As fases no so necessariamente sequenciais e podem sofrer derrapagens
ou deslizamentos dependendo das necessidades, mas poss vel apresentar
um modelo sequencial que constitui um esqueleto da planificao e evita um
mtodo espontneo (Figura 174).
Refere Chaves (1998) que o mtodo espontneo acumula todas as fases do
processo numa nica, o que faz com que com frequncia, seja necessrio
repensar totalidade dos problemas. Por outro lado, a estratgia do programa
planificado, exige um alto empenho da gesto.
O processo de programao elabora instrumentos normativos e cria a
sequncia progressiva de participao dos responsveis pela instituio: a
gesto de tempos e trabalho para cada elemento interno e a sua relao com
a equipa de gestores; a sucesso dos produtos por parte da direco
(Chaves, 1988).
A co-gesto do programa ser complementada com o f eed- back da
direco, que vai produzindo pontos conclusivos de cada fase, no entanto,
poder variar dependendo do tipo de gesto corporativa.
Os resultados das etapas de identificao, diagnstico e estratgia geral
de interveno necessitam de confirmao pol tica (da direco), pois so as
que mais comprometem a gesto e o alcance estratgico.
Os produtos concretos de cada fase de programao tm uma funo
normativa e formativa, pois devem fornecer dados indispensveis realizao
da interveno tcnica e ainda as fundamentaes e instrumentos tericos
para um desenvolvimento da capacidade da gesto da identificao
corporativa (Chaves, 1988).
Figura 174
200
Fonte: adaptado de Norberto Chaves, 1988, p:174.
201
5.2.6- Escal a da Reput ao Cor por at i va - Manchest er
Busi ness School
Res umo
A Escala da Reputao Corporativa procura estabelecer um mt odo
quant i t at i vo de anl i se da r eput ao.
Davies, G. [et. Al] (2003) consideram que diversos St akehol ders podem
ter distintas imagens (mentais) da marca em funo da sua experincia com a
organizao.
Para os autores, uma vez que a reputao resulta de pontos de vista,
expectativas, satisfaes e experincia de diferentes St akehol ders,
controlando a componente interna (identidade), agindo sobre a definio dos
valores corporativos e sobre a satisfao do staff, garantir-se- uma
experincia nica ao cliente, tornando-se poss vel controlar a imagem
(externa) e o conjunto da sua reputao.
Os autores da MBS (Davies, G. [et. Al], 2003) dedicaram-se ao estudo de
uma abordagem para a medio do conceito de reputao corporativa.
Segundo os autores, a orientao do negcio deve ter em conta as
expectativas, satisfaes e perspectivas dos diferentes St akehol ders
171
, pois
o sucesso da organizao prende-se com esta interdependncia.
Podem ser definidas duas categorias de St akehol ders, os que esto
prximos da organizao e podem ser muito e imediatamente afectados,
incluem os clientes, o staff, os fornecedores, que interagem com a
organizao e entre si. A segunda categoria inclui aqueles mais dificilmente
afectados, os media, os concorrentes e a populao em geral, cujo
envolvimento normalmente ocasional (Davies, G. [et. Al], 2003).
Para os autores (Davies, G. [et. Al], 2003), uma organizao orientada para
o lucro ter o problema de saber onde estabelecer uma fronteira, entre ser
membro estimado de uma comunidade local ou o prest gio junto de
organizaes ou mercados exteriores, uma questo central que vai ditar a sua
reputao. Ou seja, uma empresa produtora que lana os seus afluentes ao
rio da regio onde se encontra ter de encontrar um equil brio entre o que lhe
mais importante: produzir em larga escala com lucro mximo, poluindo o rio
e prejudicando a populao em geral e o st af f , transformando-se numa
171 Compreenda- se por Stakehol der, qualquer indi v duo ou grupo que possa benefici ar ou ser
prej udicado pel as aces da organizao.
202
empresa de referncia competitiva ou investir no tratamento de res duos que
poder implicar produo gradual e a diminuio do lucro.
Segundo Davies, G. [et. Al] (2003) existem mltiplos St akehol ders, que
interagem entre si. A r eput ao encarada como uma evol uo do concei t o
de r el aes pbl i cas (que tradicionalmente se ocupa das comunicao para o
exterior) e que passa a ter em conta o st af f e outros colaboradores
importantes ao desempenho da organizao (Figura 175).
Figura, 175
Populao internacional;
Grupos de presso;
Populao nacional;
Concorrentes;
Mercados Financeiros;
Governo nacional e regional
Fornecedores;
Gesto;Empregados;
Comunidades Locais;
Conselho de administrao
organizao
Fonte: O modelo organizacional de St akehol der s , segundo a MBS. (Davies, G. [et. Al],
2003, p.59).
Partindo do princ pio defendido por alguns autores (Brown, 1998, citado
pelos autores) de que a imagem da empresa se forma na mente de indiv duos
de diferentes grupos e que podero ter uma percepo diferente, ou ainda,
(Van Riel, 1998, citado pelos autores) a opinio de que no existe ainda um
mtodo capaz de medir todos os aspectos de corporate reputation, ser
prudente uma avaliao simultnea interna (staff) e externa (clientes) da
reputao corporativa.
A imagem influenciada pela experincia que os grupos
externos tm com a organizao enquanto que a identidade
similarmente induzida pelas experincias de empregados no
trabalho. Se a viso e a liderana da empresa forem
apropriadas, a imagem e a identidade sero coincidentes.
(Hatch e Shultz, 1997).
A proposta de Hatch e Shultz (1997) influenciou o modelo ou escala da
reputao da MBS (Davies, G. [et. Al], 2003), que assume que di f erent es
St akehol ders podem t er di f erent es exper i nci as e port ant o di st i nt as
per cepes da mar ca (Figura 176).
203
Figura 176
Identidade
da organizao
Cultura organizacional
Viso
e liderana
Imagem
da organizao
Experincias dos
Grupos externos
Experincias de trabalho
dos membros
Fonte: Cultura organizacional identidade e imagem: As Falhas na reputao. (Davies, G.
[et. Al], Marketeer n. 83, p:89.
Davies, G. [et. Al] (2003) referem que diferentes pontos de vista,
expectativas e satisfaes e experincia com a marca, podem corresponder a
di st i nt as di f er ent es i magens ( ment ai s) da organi zao. poss vel que uma
empresa tenha uma reputao diferente da que julga ter (Figura 177).
Figura 177
Fonte: As Falhas na reputao, segundo a MBS. (Davies, G. [et. Al], 2003, p.62).
Na figura 178, a perspectiva de Fombrum (1998) sumaria a perspectiva de
quatro St akehol der s. O desafio da aproximao da marca aos St akehol ders
o de encontrar pontos de convergncia entre grupos com diferentes
prioridades e pontos de vista, importante para a identificao da reputao,
mas meio fundamental para obter conhecimento que pode ser aplicado ao
negcio como um todo (Davies, G. [et. Al] 2003).
204
Figura178
Fonte: A perspectiva dos St akehol der s. (Davies, G. [et. Al], 2003, p.60).
Para Davies, G. [et. Al] (2003), alguns elos entre reputao e performance
financeira, nunca foram provados e continuam a ser defendidos sob uma base
intuitiva. Por outro lado, partindo do princ pio de que a reput ao af ect a a
per f or mance comerci al necessrio saber como conseguir desenvolv-la e
defend-la.
Bevis (1967, citado pelos autores) refere que a imagem corporativa resulta
da i nt eraco de t odas as exper i nci as, i mpresses, crenas, sent i ment os e
conheci ment os, que as pessoas t m acerca da empresa, enquanto Bernstein
(1984) desenvolveu um esquema que explica a complexidade do fenmeno da
reputao (Figura 179) como resultado da anlise das partes.
Figura 179
Fonte: Como se cria a reputao. (Davies, G. [et. Al], 2003, p.63).
Algumas empresas, j apresentam esquemas com o valor da sua reputao,
no relatrio anual de contas, porm segundo os autores, no basta fazer uma
205
avaliao financeira da organizao, importante considerar empregados,
consumidores e outros St akehol ders.
A percepo de uma organizao feita no primeiro contacto com os
elementos dispon veis, produtos, empregados ou locais o que pode demorar
apenas 20 segundos, facilitando uma leitura errada da organizao e embora
seja poss vel alterar uma percepo negativa, muito dif cil (Davies, G. [et.
Al] 2003).
Segundo Davies, G. [et. Al] (2003) a comunicao publicitria e o
posicionamento
172
, podem ter um papel importante, uma vez que daro um
ponto de vista favorvel, anterior experincia, diferenciando da
concorrncia, mas que devem ser confirmados no contacto (o pior que a
organizao pode fazer trair uma expectativa).
O papel do st af f fulcral para uma boa experincia do consumidor, uma
relao que depende largamente das condies de trabalho, do ambi ent e
l abor al dos empr egados e da opi ni o dest es sobr e a or gani zao, que
condi ci onam o at endi ment o.
Uma reputao tem valor e pode cativar melhores empregados e mant-los
mais anos, mas tambm levar a que os clientes fiquem menos sens veis ao
preo, assim como cativar fornecedores e distribuidores Davies, G. [et. Al]
(2003).
Rier e Baulmer sugerem que as organizaes podem gerir a sua imagem
externa (que referem como reputao) atravs da identidade corporativa mix
(comportamento dos empregados face a um cliente, comunicao corporativa,
e simbolismo tang veis e intang veis).
O tamanho da empresa, as estruturas, a cultura, os st andards, a
credibilidade so elementos tang veis e intang veis listados por alguns
autores, como interligados e influenciadores da percepo. Referem Davies,
G. [et. Al] (2003) que a estas abordagens, lhes falta uma comparao entre
identidade e imagem (Figura 180).
Figura 180
Resultados
Financeiro
HRM
Vendas
Mix da identidade
corporativa
Comportamento
Comunicaes
Simbolismo
Reputao Estratgia Histriadacultura
Ambiente
Fonte: I dentidade, reputao e resultados, segundo a MBS(Davies, G. [et. Al], 2003, p.67).
172
O posicionamento acontece na mente dos consumi dores (com base na concorrnci a) e no nas
i ntenes da empresa.
206
Partindo do princ pio de que a imagem (externa) est ligada identidade
(interna), os autores consideram que a gest o e cont r ol o da r eput ao se f az
de dent r o par a f or a da organi zao.
Explicam os autores que a reputao da empresa, decorre de uma
acumulao de todas as experincias pessoais e interaces, com relatos e
pontos de vista de outras pessoas acerca da reputao da identidade,
tambm condi ci onada por comuni caes del i beradas. Por outro lado referem
que a identidade (viso interna sobre a marca) influencia a imagem e o ponto
de vista dos empregados acerca da organizao, que por sua vez ajudam a
formar a percepo dos clientes (aumenta com o grau de contacto directo).
Assim, conforme a figura 176, o objectivo da marca que a experincia dos
St akehol ders contenha elementos emocionais e racionais capazes de
satisfazer clientes e st af f e embora nem sempre seja poss vel, espera-se que
ocorra na maioria dos casos, pois levar a uma reputao positiva (Davies, G.
[et. Al] 2003).
O desafio era encontrar um instrumento de medio generalizvel na
medio da imagem e da identidade de qualquer organizao, produto ou
servio, fazendo a anlise das percepes tidas do grau de satisfao, com a
empresa e avaliando o desempenho financeiro (Figura 181).
Figura 181
Fonte: A cadeia da reputao, segundo a MBS. (Davies, G. [et. Al], 2003, p.76).
A escala adoptada, a partir da personalidade humana similar proposta
de David Aaker (1997, Figura 157, pag. 161), procurando uma caracter stica
prpria e capaz de destinguir a organizao, e analisando os diferentes
pontos de vista dos St akehol ders.
A escala desenvolvida na Manchester Business School (MBS) teve como
base a literatura existente e pesquisa efectuada em vrios sectores de
actividade, e continua a ser desenvolvida embora as sete dimenses de
personalidade da marca se mantenham: Satisfao, Empreendimento;
Competncia; Rut hessness; Elegncia; Machismo e Informalidade.
207
Procurando um mtodo universal, aplicvel a qualquer organizao em
qualquer sector (Figura 182).
Figura 182
Personalidade
Sinceridade Competncia Sofisticao Rudggeness
Entusiasmo Arrogncia Simplicidade
Fonte: Escala desenvolvida na Manchester Business School. (Davies, G. [et. Al], 2003,
Marketeer n.83, p.90
Satisfao
Uma nfase na marca com responsabilidade social, honesta e fivel (Figura
183).
A responsabilidade social relaciona-se com satisfao clientes (Figura 159)
e indica que ser vista como socialmente responsvel algo que reala a
reputao corporativa cr i ando nos St akehol ders pr edi sposi o par a per doar
um erro.
A responsabilidade social um aspecto fundamental para a organizao,
pois est na escala associada a ser honesta, fivel e sincera, ou seja, d
uma viso de integridade.
Figura 183: Satisfao
Fonte: (Davies, G. [et. Al], 2003, p.153).
Empr eendi ment o
208
Relaciona-se com atributos como inovao e entusiasmo, sendo o primeiro
mencionado como indicador positivo da reputao corporativa (Figura 184).
A novidade ou a modernidade, podem levar a empresa pretender a
contratar empregados mais jovens, uma vez que estaro em contacto directo
com os clientes.
Figura 184: Empreendimento
Fonte: (Davies, G. [et. Al], 2003, p.153).
Compet nc i a
A dimenso da competncia semelhante proposta de Aaker (1997).
Esta dimenso to relevante para marcas corporativas e individuais,
assim como para a imagem e identidade (Figura 185).
Figura 185: Competncia
Fonte: (Davies, G. [et. Al], 2003, p.154).
Rut hes s nes s
209
a nica dimenso negativa, identificada e correlacionada com a
satisfao do staff e mais com a do cliente (Figura 186).
Os empregados relacionam as suas percepes com o tratamento que
recebem da administrao e os clientes relacionam com o atendimento dos
empregados.
Figura 186: Ruthessness.
Fonte: (Davies, G. [et. Al], 2003, p.154).
Chi c
Esta dimenso (Figura 187) est muito relacionada com a Sofisticao de
Aaker (1997).
Relaciona-se com sofisticao e com o prest gio da organizao, embora
esta associao no interesse a todos os empregados nem clientes, porque
podem ser vistos como snobs.
Figura 187: chic.
Fonte: (Davies, G. [et. Al], 2003, p.155).
Mac hi s mo e I nf or mal i dade
210
Ainda que no estejam fortemente definidas, nem expliquem a variao da
informao estas duas dimenses foram mantidas e ambas variam com a
cultura onde se encontra a organizao. Pequenos factores podem revelar-se
importantes em determinados contextos.
O machismo similar a Ruggedness de Aaker (1997). Quando a
organizao transmite uma i magem de i nf or mal i dade, pode l evar o cl i ent e a
pensar que mai s acess vel o cont act o (Figura 188).
O Machismo pode transmitir a imagem de um tipo de organizao muito
diferente, como por exemplo uma construtora civil.
Figura 188: informalidade e machismo.
Fonte: (Davies, G. [et. Al], 2003, p.157).
A escala contm os mesmos itens de avaliao para a identidade e para a
imagem, o que permite a comparao directa entre as duas.
Assim, se forem detectados problemas sobre a imagem e a identidade, os
gestores podem resolv-los.
O pr oc es s o:
Os autores da MBS, acreditam que identidade e imagem esto interligadas
e que deve existir harmonia entre elas (Davies, G. [et. Al] 2003).
Com o objectivo de diagnosticar uma organizao, feito um questionrio
relativo personalidade corporativa, aos empregados (apenas aos que tm
contacto directo com o cliente) e consumidores (aos habituais, com grande
conhecimento sobre a empresa e no aos potenciais). A partir do resultado
devero ser tomadas medidas para melhorar a performance financeira e a
satisfao do empregado e do cliente.
O estudo pretende descobrir as expect at i vas do desej o do cl i ent e em
r el ao empr esa que tipo de empresa pretende - para retirar partido
desses conhecimentos. Por outro lado, entender as expectativas do st af f , para
as poder satisfazer.
Conhecendo os desejos e necessidades do st af f e dos clientes, poss vel
traar um plano para as satisfazer. Um empregado satisfeito e consciente da
importncia do seu papel na empresa (pelo que podero ser desenvolvidas
211
formaes ou meios de comunicao sobre os valores da empresa), vai
receber bem o cliente que com base na experincia agradvel vai julgar a
organizao como amigvel e prestvel. Criam-se condies para a lealdade
do staff e do consumidor, cuj a consequnci a o aument o das vendas.
Os clientes leais fazem uma aquisio mais frequente dos produtos, por
exemplo no caso dos hipermercados, compram bens de primeira necessidade,
so normalmente aqueles que tm o carto cliente e os mais satisfeitos, que
preferem esses produtos aos da concorrncia.
Uma forma de criar lealdade do st af f a promoo, e a melhoria das
condies laborais/salariais.
A cadeia da reputao estabelece uma srie de elos entre staff e cliente,
atravs da imagem e da identidade, incluindo o desenvolvimento de uma
misso partilhada e da comunicao desses valores, para todos os
St akehol ders.
Segundo os aut ores da MBS, a identidade deveria ser encarada como a
forma como se sente a cultura, o que se valoriza ou no, no
meio como so executadas as coisas, o elo emocional
conduta (Davies, G. [et. Al] 2003, p.257). Ento dever ser poss vel geri-
las, pois ainda que no sejam exactamente o mesmo, esto relacionadas e
mudar uma implica alterar a outra.
Se por um lado existem aspectos de identidade no negociveis (valores
constantes), por outro poss vel modificar outros como a relao empregado
cliente, a identidade visual, e a pol tica de recrutamento.
O kit da reputao representa alguns dos pontos nos quais as empresas
podero investir para melhorar a sua reputao, no representando no
esquema, qualquer ordem ou exclusividade, pois depender do seu contacto
concorrencial (Figura 189).
Figura 189
Tan g v ei s (design de edif cios, seleco de cores, mobilirio, sinaltica)
Temp er amen t o (iluminao, som, cheiro, enquanto aquecimento)
Fo r ma o (especialmente para o contacto directo entre clientes e empregados)
Val o r es c o mu n i c ac i o n ai s (treino de induo, misso e viso, comunicao interna,
comunicao externa)
I d en t i d ad e c o r p o r at i v a (logotipo, cabealho, sinaltica)
Cu l t u r a d e g es t o (formao para que os gestores identifiquem micro-comportamentos
apropriados)
Rec r u t amen t o (pagamento extra ao pessoal disposto a aderir aos valores desejados).
Fonte: kit da reputao. (Davies, G. [et. Al], 2003, p.216).
Na opi ni o dos aut or es, a r eput ao no um pr odut o de i magem de mar ca
na ment e dos consumi dores, mas uma car act er st i ca da empr esa se uma
212
empresa diz ser socialmente responsvel, deve de procurar
s-lo realmente (Davies, G. [et. Al] 2003).
Ges t o da i dent i dade vi s ual
Os autores consideram que os clientes obtm pelos menos parte da
imagem da organizao, atravs da interaco com o staff que conhecem,
vem ou com quem falam, porm ambos grupos so influenciados pelo
ambiente (design, cores, cheiros, sons) da organizao. i mpor t ant e que os
empr egados est ej am sat i sf ei t os e mot i vados com a organi zao, para que o
atendimento ao cliente seja favorvel reputao.
Os autores da MBS usam o termo Identidade exclusivamente para referir
a forma como os empregados vem a reputao corporativa, que relacionaram
com a afirmao de Aldersey-Williams, 1994 (o visual e a atitude do carcter
de uma companhia) e Munari, 1999 (que explica que a marca pode exprimir
fora, durabilidade, delicadeza, desenvolvimento, flexibilidade, riqueza,
estabilidade e que cada qualidade tem um signo e cor apropriada, que formas
simples podem ser utilizadas para simbolizar diferentes atributos e ser
manipuladas para transmitir sensaes).
Segundo os autores, o logtipo pode ser muito poderoso, uma vez que
evoca a associao com uma organizao, marca ou com as experincias.
Pode ser uma forma de rpida identificao e reconhecimento por parte dos
consumidores (Figura 190).
Consideram tambm que a forma da tipografia um aspecto importante,
uma vez que tambm transmite sensaes e deve estar em harmonia formal
com os valores a transmitir e com o s mbolo ou restantes grafismos.
Figura 190
Sej a o r i g i n al (pesquise o mercado para se assegurar que o design e as cores no so
similares, para evitar confuso).
As s eg u r e a f l ex i b i l i d ad e (assegure-se que o logtipo se pode reproduzir a cores ou em
monocromia, e em qualquer media, imprensa, televiso, cinema, websites, outdoors, e que
possa ser reduzido e ampliado facilmente).
Ex p er i men t e o s i mb o l i s mo (apesar do cepticismo h certas associaes que podero ser
feitas com certas formas e cores).
As s eg u r e q u e o l o g t i p o n o r es t r i t i v o a c u l t u r as (se a empresa internacional, ou
uma hiptese durante a vida conceb vel do logtipo, ser que funcionar igualmente em
mercados diferentes?)
Fi s c al i ze p o s s v ei s s i mb o l i s mo s i n es p er ad o s (o que o novo logtipo pode representar,
caso algum o queira interpretar negativamente?).
Fonte: Como se cria a reputao, segundo a MBS. (Davies, G. [et. Al], 2003, p.226).
213
5. 2. 7- Model o da Br andi a Net wor k Fusi on Syst em
Res umo
O modelo da Brandia Network assenta na capaci dade para resol ver
cr i at i vament e um probl ema de comuni cao e de criar oportunidades de
mercado explorando a capacidade de resposta conceptual humana e usando o
modelo designado por Fusion System.
A Brandia Network desenvol ve e compr eende a marca como uma pessoa,
utilizando o design como meio de prospeco e materializao das fases do
Fusion System
173
, onde a preocupao relativa ao pblico constante
(comeando na recolha da informao at ao teste do projecto).
Para a Brandia Network, a marca um sistema orgnico que vive e sofre
muitas alteraes ao longo do tempo e que como um ser vi vo pode mor rer .
um sistema de comunicao que vai transmitindo valores e cdigos de uma
organizao, produto ou servio, que comunica indirectamente como seus
consumidores, mantendo um discurso coerente e uma relao cada vez mais
prxima entre ambas as partes.
Segundo a Brandia Network, a marca dever ter uma razo de ser, algo
para contar, flex vel para poder comunicar globalmente mas
personalizadamente e a vrios n veis de comunicao, dependendo dos seus
pblicos-alvo e procurando o capital - marca, combinando: 1- Percepo
(contraste, dimenso, cor e esttica); 2- Sensao (sensualidade,
sexualidade, reaces expontneas); 3- Emoo (sentimentos, emoes,
desejos, necessidades, interesse); 4- intelecto (conhecimento, linguagem,
humor, ego, lgica); 5-identificao (familiaridade); 6- Reverbao (histria,
tradio, natureza, verdade); 7- Espiritualidade (moralidade, integridade,
intuio, beleza e arte).
Fus i on Sys t em
O Fusion System compreende quatro subsistemas mais ou menos
complexos, que se vo desenvolvendo e cujos resultados convergem para a
resoluo do problema de design: 1- Gerao (Fusi on TAC e Fusi on St or m);
2- Formao ( Fusi on ADN - hi perespao); 3- Expresso ( Fusi on Posi t i oni ng
Posi ci onament o, nome, concept ual i zao) ; 4- Representao (Fusi on
Br andi ng - A mar ca; Br and Archi t ect ur e; Fusi on Br and Eval uat or ; Brand
Devel opment ) .
173
Nome dado ao mtodo da Brandia Network
214
1- Gerao (Fusi on TAC e Fusi on St or m):
Nesta fase procura-se compreender e interiorizar a orgnica de
funcionamento interna e externa do objecto, servio ou organizao.
Subdivide-se em introspeco, radiao e projeco.
- Durante a introspeco ( Fusi on TAC) so realizadas reunies com o
cliente, analisadas as razes pelas quais nasce o projecto, so definidos
objectivos e equacionadas as solues propostas pelo cliente.
Em seguida realizada a contextualizao ( Fusi on TAC) uma anlise dos
factores relevantes para o projecto, compreendendo o mercado, o tipo
consumidores, estudos j realizados, so definidos, executados e analisados
estudos.
- A radiao (Fusi on St or m) a primeira fase do processo criativo e onde
so gerados os conceitos e associaes, procurando dar resposta s
necessidades e exigncias do consumidor.
feito um estudo sobre as tendncias, uma anlise comportamental do
pblico alvo e so estudados conceitos relevantes e diferentes vises sobre
a marca.
- A definio do universo de referncias da marca no projecto, ocorre na
Projeco (Fusi on St or m), onde so estudadas referncias da marca, o
imaginrio da comunicao e expresso ou construo de vrias vises sobre
a marca.
2- A formao (Fusi on ADN):
Trata-se da esquematizao de todos os resultados obtidos anteriormente
em algo semelhante a um mapa de orientao relacionado com o
Hiperespao da marca, termo proveniente da aplicao da teoria geral de
sistemas Sociologia Organizacional, que a Brandia Network utiliza como
meio de ol har o proj ect o enquant o si st ema vi vo, dividido em planos de
existncia, que se complementam num todo.
- O Hiperespao (Figura 191) organiza-se atravs de cinco eixos, dois para
o plano tico, onde se definem os valores da estrutura que orienta o projecto;
e dois para o plano act anci al
174
que contm o histrico da marca e a definio
da identidade.
174
Grei mas, J . A. Semntica estructural (Editorial Gredos, 1978. p. 270- 277) prope o Model o
Actanci al M tico, cuj a si mpl i ci dade resi de no facto de estar i nteiramente centrado no obj ecto de desejo
perseguido pelo sujeito e situado como comunicao entre destinador e desti natri o, estando o desej o
do suj ei to modul ado em projeces de aj udante e oponente.
O modelo actanci al usado para defi ni r as foras de impli cao entre desti nador (actuante que faz
acontecer) e desti natri o (o que recebe) por um objecto (factor de unio dotado de val or).
Estabelecem- se diferentes rel aes: entre suj eito (aquel e que pratica a aco) e obj ecto de proj eco e
entre aj udante (agente que apoia a aco) e oponente (agente que i mpede a aco) de contradio.
215
Para a Brandia, a personalidade e a evoluo da marca funcionam como
cromossomas (da o ADN) e so det er mi nados pel o ei xo cent r al que
r epresent a a mi sso.
Figura 191
Fonte: www.novodesign.com
3- Expresso ( Fusi on Posi t i oni ng Posi ci onament o, nome,
concept ual i zao) :
- Em seguida, definido o posicionamento da marca associado promessa
a fazer ao mercado, transformando-se na relevncia do projecto.
- Relacionado com o posicionamento est a questo fundamental, da
definio do nome, que deve designar ou identificar.
Para atribuir um nome (nami ng), consideram fundamental a sua
interligao ao conceito base do projecto, s qualidades intr nsecas do
objecto de estudo e interligao com o pblico-alvo. Tm preocupaes a
diversos n veis como sejam a origem histrica, geogrfica ou funcional; a
actividade de negcio; a oportunidade; a fontica e a disrupo.
Uma vez que o nome deve se uma novidade no mercado onde actua,
podero ser realizados testes (que normalmente acabam por dar resultados
negativos) e devem ser feitos estudos prvios para testar a sua aceitao.
Com o objectivo de garantir um n vel aceitvel de qualidade, a Brandia
Network imps-se um conjunto de critrios a integrarem o nami ng:
materializar uma ideia; incomparvel; quebrar regras estabelecidas; contar
algo; passar a ideia do compromisso da marca; ser desejvel e confortvel
para o uso do consumidor.
216
- Na conceptualizao, procura-se estabelecer uma comunicao global
onde o discurso se mantm coerente e uno, pelo que se procuram definir
cenrios poss veis (atravs de moode boards, personalizaes, encenaes e
testes de execuo) at chegar a um que se aplique.
4- Representao ( Fusi on Br andi ng - A marca; Br and Archi t ect ure; Fusi on
Br and Eval uat or ; Brand Devel opment ) :
Durante a representao ( Fusi on Brandi ng) materializam-se
conceitos/valores e des gnios, planificando e estruturando para depois
determinar o grafismo.
A marca muito importante, pois dela depende a percepo da organizao
pelos clientes, quanto mais relacionada com o produto, maior ser a sua
definio.
Natureza do objecto de estudo, o objectivo final (redesign ou
reposicionamento), mensagem escolhida (promessa e contexto esttico,
cenrio) e o que faz a concorrncia, so questes fundamentais nesta fase.
- Antes de partir para a materializao dos valores da marca, necessrio
definir n veis de interligao entre produtos ou servios de uma empresa, mas
tambm decidir que tipo de marca ser criada Br and Archi t ect ure. Segundo
a Brandia Network, para qualquer marca necessrio decidir que tipo de
estrutura usar (Figura 192): monol tica (comum a vrios produtos/empresas ou
servios) ou multimarcas (desdobra-se em submarcas).
Figura 192
Estrutura Multimarcas
Dominantes
Geminadas 1
Geminadas 2
Endossadas
Abandonadas
Mistas
EstruturaMonolticas
Fonte: www.novodesign.com
Depois de um estudo realizado pela Brandia Network a 50 marcas
consideradas exemplares, foi desenvolvido o Fusi on Br and Eval uat or que
217
procura determinar o val or de uma mar ca, ou sej a, o n vel de envol vi ment o
dest a com os seus pbl i cos- al vo.
Trata-se de um diagrama de equil brio pentagonal, dividido em cinco planos
de existncia da marca, que correspondem a atributos (Figura 193).
Figura 193
Ambiental
Posicional
Conceptual
Comercial
Sciodemogrfico
MARCA
Comportamental
Espiritual
Futuro
Deus
Religio
Paz
Simblico
Fsico
Tipogrfico
Cromtico
Nome
Histrico
Raa
eorigem
Sociedade
Classes
Familia
Moral
Poltica
Sexo
Motivaes
Valores
Atitudes
Lifestyle
Demogrficos
Personalidade
Fonte: www.novodesign.com
Com base numa anlise de 1 a 10 pontos, avalia-se o valor e a
proposta/compromisso da marca para com o mercado, cujos resultados so
analisados em conjunto com outros dados provenientes de testes aos focus
groups, com base no mesmo diagrama, mas com a particularidade de serem
preenchidos pelos inquiridos.
Estes resultados (classificados de 1 a 10) so apresentados no diagrama
por atributo e plano; pontos fracos e fortes; grau de envolvimento geral
(contributo para o valor da marca).
Pretende-se portanto, tirar concluses relativamente relao entre a
imagem projectada e recebida; definio do grau de envolvimento; percepo
do plano onde se encontram os perigos; qual a imagem real percebida;
definio de oportunidades ao longo do tempo.
218
- A ltima fase estabelecer regras, prever, parametrizar e orientar a
estratgia de comunicao (Br and Devel opment , figura 194).
A definio da normalizao, que permite o alargamento do campo de
aco, garantindo a consistncia comunicacional fundamental e deve ser
detalhada para cada uma das reas.
Figura 194
Fonte: www.novodesign.com
5. 2. 8- Concl uses sobr e os model os
219
Entendendo a marca contempornea como resultado da interpretao de
sistemas de signos com suas relaes e, tendo em conta que as novas
tecnologias, alteraes scioculturais, politicas e econmicas provocam um
aumento de fontes emissoras e receptoras de mensagens, torna-se cada vez
mais dif cil saber como gerir a identidade corporativa.
Os sete modelos de gesto de identidade corporativa aqui apresentados,
procuram detectar e compreender fontes emissoras de mensagens (sistemas
de signos) e propem meios de controlo sobre as relaes sistmicas de
forma a obter o cdigo pretendido (imagem de marca) ou pelo menos ao
controlo de um meio favorvel (aumento do capital - marca).
No modelo proposto por Keller (1998) o capital - marca decorre do n vel da
conscincia e reputao desta na mente do consumidor, de forma a que lhe
fique fiel e menos sens vel ao preo. Para o autor, as fases de criao e
integrao dos elementos de expresso da marca so fundamentais,
considerando ainda, que as associaes secundrias so criadas para
aumentar a conscincia desta, sem esquecer o seu significado e
possibilitando a sua expanso.
Para Aaker (1995), o capital - marca depende do investimento e melhoria
cont nuos da empresa incidindo nas cinco fontes de valor apresentadas
(fidelidade, notoriedade, qualidade percebida, associaes e outros activos
da empresa ligados marca). Para este autor, a marca fundamental para o
desempenho da empresa a longo prazo (garantir um volume de vendas
estvel) e por isso uma boa relao empresa-cliente fulcral.
O modelo de Davis (2000), refere que o capital - marca se prende com a
implementao da viso estratgica, concebida em simultneo com a da
empresa. Para Davis (2000), o lucro da empresa depende largamente da
marca, pelo que dever ser gerida e maximizada.
O modelo de J oan Costa (2004), considera que o capital - marca se prende
com a capacidade desta se instalar no imaginrio colectivo. Para o autor, o
que a empresa faz no em si diferenciador, mas si m a f or ma como o f az,
considerando que o valor acrescentado que tem influncia na deciso do
consumidor.
Segundo Costa (2004), a imagem de marca pretendida resulta de uma
experincia multisensorial positiva, em consequncia de uma corporao
emissora e receptora de mensagens.
220
Para Norberto Chaves (1988), o capital - marca prende-se com a relao
comunicacional entre empresa e consumidor. Compreende a empresa como
um sistema complexo que em tudo comunica, considerando que a gesto de
identidade incide sobre quatro vectores corporativos (Identidade corporativa,
imagem corporativa, realidade corporativa comunicao corporativa) que
procuram evitar mensagens divergentes. Para este autor, dificilmente uma
organizao deve ter um nico discurso, devendo criar diferentes n veis de
relacionamento.
No modelo da MBS (Davies, G. [et. Al], 2003) o capital marca e a
competitividade dependem da reputao da empresa, a qual se prende com a
viso de todos os St akehol ders. Como os restantes, este modelo tem em
conta a satisfao das experincias, satisfaes e perspectivas dos pblicos,
fornecedores, colaboradores e os media externos, mas considera fundamental
a mesma ateno para a componente interna onde o staff ocupa lugar central.
A satisfao das necessidades do staff permitir reter os bons funcionrios e
melhorar a sua performance perante os clientes, contribuindo para uma boa
reputao (controlando a componente interna orienta-se a imagem mental e
no conjunto a reputao).
Para a Brandia Network o capital - marca depende da capacidade desta se
personificar. A marca pensada como um todo em funo das caracter sticas
da empresa, e de forma personalizada e nica combinando qualidades
estticas, sensaes, sentimentos, um discurso, uma relao com o
consumidor, a sua natureza e espiritualidade.
Os sete modelos de gesto de identidade corporativa so coincidentes em
trs pontos, considerados como fundamentais para a criao e gesto da
marca:
1- A viso estratgica da marca refere-se s questes da sua concepo,
integrao na estratgia da empresa, definio da imagem a adoptar, sistema
de signos e suas relaes, identificao dos pblicos, o posicionamento,
projeco de objectivos futuros, criao de hbitos de gesto do sistema.
2- Os elementos da marca dizem respeito s suas mensagens tang veis e
intangiveis das quais podem derivar as percepes (associaes,
descodificaes) que culminam na imagem mental no imaginrio colectivo
(cdigo).
3- Quanto s aces da marca, estas relacionam-se com a conduta, com a
notoriedade, a reputao e as associaes secundrias, que tm influncia
sobre a fidelidade do consumidor. Inserem-se neste ponto as relaes entre
sistemas de signos que conferem significado e condicionam a descodificao.
221
Os modelos de Keller (1998), Aaker (2001) e da Brandia Network propem
um sistema de signos em funo de stakeholders exteriores organizao.
Por outro lado, Davis (2002), Costa (2004), Chaves (1988) e os autores da
MBS (2001) vo mais longe, propondo que a componente interna da
organizao (recursos humanos ou f sicos) e a prpria forma de negociar
(decorrente da cultura) so componentes do sistema de signos da marca e
criam relaes e significado (entre signos).
222
5. 2. 9- Out r os model os concept uai s no apr of undados
Por razes objectivas e ordem temporal, outras propostas ou modelos de
gesto de identidade corporativa, no foram aprofundados. Porm entende-se
que alguns dos muitos existentes, devero ser brevemente referenciados,
servindo como sugesto para futuros estudos mais aprofundados.
O Quoci ent e de Reput ao Cor por at i va de Har r i s- Fombrun um mtodo
compreensivo de medida da reputao corporativa que foi criado
especificamente para capturar as percepes de qualquer grupo de
st akehol der corporativo tais como clientes, investidores, empregados ou
influncias chave. O instrumento proporciona pesquisa nas linhas de
orientao da reputao de uma companhia assim como comparaes de
reputao tanto no interior, como atravs das indstrias. Este modelo de
gesto de reputao tem os seguintes 6 linhas de orientao reputao
corporativa com 20 atributos subsequentes: Fazendo testes / verificaes
aleatorias, estes critrios em conjunto resultam em listas das companhias
mais reputadas (honrosas, estimveis) e/ou vis veis.
Refere Rui Vinhas da Silva da MBS (2004)
175
, que Fombrun faz
essencialmente duas perguntas, quais as duas empresas mais
"admiradas" e quais as duas menos, partindo para um conjunto
de vinte questes. Resulta o que chamam de visibilidade
positiva e negativa isto , uma empresa pode ter uma grande
notoriedade pelas razes erradas (Exxon, Enron, Worldcom) ou
certas (Johnson & Johnson). Decorrem daqui uma serie de
questes como a responsabilidade social gesto de crise
(Johnson & Johnson com a Tylennol por oposio a Exxon com o
Valdez por exemplo).
Fombrum (2000) prope uma alternativa derivada da literatura acadmica,
que acaba por se orientar apenas para a perspectiva externa, enquanto a
empresa Young & Rubicam utiliza o BAV (Brand Asset Evaluator), segundo o
qual, independentemente dos produtos, as marcas tendem a desenvolver-se
gradualmente, com as percepes dos clientes, assentando em quatro
dimenses sequenciais da marca: di f er enci ao, rel evnci a, est i ma e
f ami l i ar i dade. Consultoras como a Interbrand e a Ernest & Young
desenvolveram instrumentos de medio de marca. Todos estes instrumentos
so fortemente criticados por dependerem largamente de valores
contabil sticos.
175
Cortesi a do autor, vi a e- mail .
223
Fishbein e Ajzen (1996) desenvolveram um modelo que incide no
comportamento do consumidor, tendo como base atitudes afectivas; cognitivas
e comportamentais; que para os autores, variam em funo das crenas.
Muitos outras propostas ficam por ainda por referir, entre elas o
incontornvel Wally Olins (1995), autor de diversas publicaes e co-fundador
da Wolff Olins. Para o qual na era da globalizao as marcas passaram a
desempenhar regras fundamentais da sobrevivncia econmica dos pa ses.
224
225
CONCLUSO
Ao longo da dissertao so abordadas diferentes questes relacionadas
com o tema da Gesto de Identidade corporativa e nos diferentes cap tulos,
referidos aspectos que ajudam a compreender o funcionamento da marca e a
sua interdependncia com o seu contexto, bem como algumas formas da sua
gesto.
O s i s t ema s emi t i c o c or por at i v o
A marca como um todo um fenmeno mental que resulta de associaes
de significado, que o pblico vai acumulando atravs dos contactos directos e
indirectos com a organizao. Neste contexto, a organizao aparece como
um sistema semitico onde tudo significa (marca grfica, sonora ou olfactiva,
da embalagem, da arquitectura e estado dos edif cios e ambientes de
alojamento das organizaes, da qualidade dos produtos e dos servios, da
interface com os empregados, dos anncios e artigos de imprensa, da
comunicao institucional, das opinies de amigos, de inimigos e do pblico
em geral, de rumores, etc.), e contribui para a construo de uma imagem
mental de pass vel reconstruo constante. Neste sentido, a marca aparece
como um conceito, uma filosofia ou mundo simblico partilhado por um grupo
ou como refere Maria J oo Vasconcelos
176
, uma ideologia, uma
diferena, um ser vivo, uma comunidade e uma reinveno
constante.
Do s i gno ao c di go
A marca transita de signo a cdigo quando se transforma num sistema de
significados interrelacionados, com a organizao da empresa e com a cultura
da sociedade em causa.
Os antecedentes histricos da marca so disso evidncia, quando deixam
de cumprir uma funo de mera distino e ganham um significado mais
amplo a representao de um conceito ou ideal de vida.
A teoria de motivao de Abraham Maslow (1992) poder ajudar a
compreender porque que a produo e a marca deixaram de se centrar no
plano material (satisfao de necessidades essenciais f sicas diferenciao
material) para transitarem para o social e para o simblico (realizao e
176
14 de Novembro de 2004, em representao da Brandi a Network, Semana Nacional do Marketi ng:
Marcas o 5 P oder, da AP P M.
226
satisfao pessoal de ideias e mitos), onde a experincia assume um lugar de
destaque.
A lgica empresarial contempornea parece considerar que o consumidor
(oriundo da economia da produo) desaparece para dar lugar ao cliente
(economia da informao), cada vez mais informado e exigente. Da mesma
forma, as empresas passam a considerar novos pblicos ou mltiplos
stakeholders cujas necessidades, desejos e experincias devem ser
satisfeitos.
O produto contemporneo aparece cada vez mais como um servio e o
cliente, tem como requisitos m nimos de aceitao de um produto a qualidade
e a funcionalidade. O capital marca faz a diferena e parece ser mais
importante para a fidelidade do consumidor do que o produto em si, na
medida em que apela razo e aos sentimentos em simultneo.
As organizaes contemporneas surgem como centros emissores e
receptores de significados, que procuram criar valor no servio ao cliente
(colectivo e individual), de forma a obter um imagem de marca positiva
(imagem mental ou mundo simblico colectivo).
A mar c a gr f i c a
Entende-se que na sua totalidade a marca resulta de um sistema semitico,
do qual a marca grfica, a comunicao grfica e outras formas de
transmisso de significado fazem parte.
Uma vez que a marca grfica se encontra em quase todos os contactos que
a empresa estabelece com os seus interlocutores, rapidamente se lhe
outorgam os atributos corporativos (Chaves e Belluccia, 2003). Facto que
explica porque se costuma acreditar que a marca transmitir todos esses
atributos, mas tambm porque imposs vel que por si s consiga salvar uma
m estratgia de comunicao.
Os antecedentes histricos da marca mostram que a funo semntica dos
signos da identidade comeou por ser a de identificao ou referncia directa
ao produtor e que foi ganhando outras dependendo da forma como foram
sendo usados e associados. Neste caso, a marca grfica aparece como um
contentor dos valores corporativos, bem como da reputao corporativa, por
ser o elemento constante em tudo quanto representa ou da empresa.
Numa organizao nem tudo comunica, mas sempre significa (J oan Costa,
2003), e como tal, a marca grfica no diz tudo, mas antes uma parte
integrante do discurso e portadora dele em simultneo).
227
Ges t o da i dent i dade c or por at i va
Na passagem de signo a cdigo esto impl citas diversas questes,
sintetizadas na figura 195 que em seguida sero revistas. Porm, a grande
questo passa a ser como controlar a construo do mundo simblico
colectivo? E a resposta apenas pode ser: garantindo que as mensagens,
directa e indirectamente transmitidas, so coerentes ao n vel semntico e da
retrica (aplicao), de acordo com a inteno (des gnio), obtendo a imagem
corporativa e o feedback desejado (descodificao).
Todos os cap tulos da dissertao procuram diferentes formas de dar
resposta ou de integrao figura 195, mostrando como a marca est
correlacionada com o seu contexto e com os elementos que integram a sua
concepo.
Figura 195 do signo ao cdigo
O des gnio:
Ao n vel do des gnio encontra-se a estratgia como resultado de um
cruzamento de dados entre valores da identidade corporativa e os interesses
ou oportunidades de mercado.
Os autores estudados propem formas de gerir a construo do mundo
simblico (ou pelo menos de a tornar positiva aos interesses da empresa),
agindo sobre os sistemas e subsistemas de signos e suas associaes.
A satisfao do cliente pode gerar fidelizao que por sua vez garante
algum n vel de estabilidade no volume de vendas, na medida em que o
consumo repetido (pois a experincia positiva e nica). Porm, os
modelos de gesto de identidade so formas de compreender e gerir a
identidade e no meras receitas adaptveis a qualquer caso, so um meio de
reflexo e de posicionamento da prpria marca no negcio da empresa.
A interiorizao e a definio da personalidade da marca a criar
fundamental para a definio de uma estratgia corporativa correcta, porm
em igual medida dependente de um processo de design adequado que
228
permita que o pblico se aproprie desses valores corporativos. Ou seja, nem
sempre a inteno corresponde descodificao, pois falha a aplicao ou o
seu processo de implementao.
A aplicao:
Referem Chaves e Belluccia (2003, p.43) que a qualidade cultural
da componente grfica institucional opera como um dos
indicadores mais alusivos da qualidade da organizao. Neste
contexto, o design surge como um dos principais meios de materializao dos
valores corporativos.
Cabe ao designer interpretar e conhecer a personalidade corporativa e de
lhe conferir um sentido estratgico, atravs do discurso grfico que atribui
aos signos de identidade, garantindo a sua presena estvel e coerente com o
sistema de identidade.
Para transmitir os valores corporativos, o designer deve conhecer a
realidade e a identidade de cada empresa em espec fico, pois como
esclarecem Chaves e Belluccia (2003, p.48) para alm de cada organizao
ser nica, poucas podem reduzir a sua comunicao com os seus
interlocutores a uma nica linguagem: temticas e pblicos
distintos foram passagem do discurso corporativo para
vrias retricas. Porm, a marca grfica no uma publicidade e deve
manter-se sempre coerente com a identidade corporativa. Para aproximar uma
empresa a um segmento jovem, deve reforar-se a linguagem publicitria, a
oferta, o produto, o servio, em vez de alterar a marca grfica para que se
assemelhe de uma banda de msica.
A seleco dos elementos que compem a forma da marca grfica tem
influncia sobre a percepo ou descodificao do conjunto, Clotilde Perez
(2004, p.59) refere que linhas rectas e ngulos (vrtices) esto
associados rigidez, firmeza e masculinidade. Curvas e
ondulaes expressam dinamismo, sensualidade e feminilidade.
Linhas em ziguezague representam energia, clera, agitao e
podem causar sensao de choque. J linhas tracejadas esto
associadas a descontinuidade, nervosismo, indeciso e
fragmentao. As paralelas verticais representam apoio e
sustentao, e assim por diante, considerando ainda que a relao
entre elementos tambm importante como o ngulo, a simetria e a
proporo. Bem como o prprio suporte de aplicao pode alterar a retrica
da marca grfica, ou chegar mesmo a condicionar a sua representao formal,
como ocorria com as marcas de canteiro, nas nforas ou no caso das marcas
de gado.
229
Uma das formas clssicas para a seleco do signo de identificao
institucional um cone descritivo da actividade (a caneca de cerveja para o
bar, etc.), sistema utilizado com frequncia na Idade Mdia, t pico de um
mercado baseado na procura e num contexto de grande iliteracia. Mas que
actualmente ainda utilizado sobretudo por pequenas empresas ou por
sistemas de gesto improvisados uma prtica que Chaves e Belluccia (2003)
dizem carecer de sentido, pois o mesmo que pedir que os nomes das
pessoas descrevam a sua profisso. Porm, em determinados casos, a marca
grfica descritiva parece ter o mesmo sucesso e fazer todo o sentido como
signo natural, como o caso portugus de Santa Maria da Feira, mas no caso
das empresas, uma evoluo tecnolgica (uma empresa cujo s mbolo uma
disquete) ou uma ampliao de servios podem tornar obsoleto um signo
identificador descritivo de um produto ou servio.
A seleco dos signo de identificao no obedece a regras e tem uma
natureza arbitrria como est patente na metfora grfica da ma da Apple
ou no s mbolo da BP, mas que deve ser um reforo ou uma s ntese dos
valores corporativos a transmitir e nunca contrrio a estes.
Tambm a cor um signo da identidade se for usada de forma consistente
em vrios elementos comunicacionais ou pode inclusivamente ajudar a definir
diferentes linhas e subcategorias de produtos ou marcas (Clotilde Perez,
2004). Porm a cor tem a sua prpria retrica e semntica (conferidos pela
percepo que cada cor causa e pela sua simbologia), que no devem ser
incoerentes com a marca grfica onde vai ser aplicada o com os valores da
identidade ou interesse estratgico.
Assim, para que a comunicao e a marca grfica seja eficazes, o estilo
deve adaptar-se mensagem, reforando o sentido da retrica institucional.
A descodificao:
Os projectos de identidade grfica standard resultam em grande medida da
falta de capacidade dos gestores para gerir o design com critrios tcnicos e
conhecimento objectivo sobre o caso espec fico, levando-os com frequncia
imitao dos concorrentes (Chaves e Belluccia, 2003). O designer limita-se a
projectar os signos identitrios usando grafismos em voga, adequando-os
muitas vezes ao seu gosto, dos seus clientes ou do mercado, conferindo um
estilo em curso estiliza a marca grfica adaptando a mensagem ao estilo.
Neste caso confunde-se identificao com adequao moda, dois conceitos
que ao n vel da identidade corporativa so opostos.
Os projectos de identidade grfica de alta qualidade adaptam o estilo
mensagem, detectando o tipo de retrica mais adequado organizao em
causa (em funo da sua identidade e do seu posicionamento) e aplica-a ao
230
design da marca grfica (por exemplo atravs da forma e da arquitectura da
marca) e restantes signos. Como afirmam Chaves e Belluccia (2003, p.40) a
criatividade do design no reside, na mera originalidade da
forma do signo mas na resposta satisfatria a todas as
mltiplas exigncias objectivas do caso em concreto. O projecto
de identidade grfica de qualidade aquele que consegue que o pblico se
aproprie dos seus valores.
Independentemente da sua qualidade grfica, uma m comunicao da
identidade visual pode levar a erros na imagem corporativa (ver figura 196),
como ocorreu com a Opel, cuja marca global se esgotou num nico modelo
o Opel Corsa, contrariamente ao que ocorreu por exemplo com a Mercedes
Benz (J oan Costa, 2003). Neste caso tero falhado a diferenciao dos
discursos, ou seja o que o produto, a identidade e a sua comunicao, no
havendo problemas com a marca grfica.
Figura 196 Imagem corporativa pretendida e real
Segundo Chaves e Belluccia (2003) existem trs n veis de reconhecimento
de insero social de um signo de identificao institucional (marca grfica)
relacionados com o grau de aceitao social ou s mbolo partilhado:
implantao (simplesmente colocou-se a marca grfica em uso, a qual cumpre
a sua funo base - a identificao); naturalizao (a marca grfica foi
assumida como parte indissocivel da empresa, perdendo o carcter aleatrio
e passando a ser natural) e consagrao (a marca grfica foi assumida e
associada intimamente empresa, mas tem valor simblico prprio).
O primeiro n vel refere-se aos casos em que existe uma m implementao
dos seus signos de identidade, que pode dever-se a diferentes razes como
uma m gesto, a falta de coerncia e visibilidade, ou uma lgica de
aplicao desordenada que impossibilita a transmisso do cdigo. O segundo
o desejvel estrategicamente para qualquer empresa, pois consegue-se a
231
notoriedade da marca e o seu reconhecimento social, podendo-se-lhe
associar novos produtos ou submarcas com maiores garantias de sucesso. No
terceiro n vel a marca grfica passa a representar mais do que a prpria
empresa, em resultado da sua qualidade grfica intr nseca, da sua utilizao
constante, coerente e os valores m ticos associados a esta. Transforma-se a
marca em l der de identificao corporativa, como so exemplo a BMW,
Mercedes Benz associadas indstria alemo, ou a automveis de qualidade
e seguros.
O papel do des i gner e do des i gn na ges t o da i dent i dade c or por at i va
O trabalho do designer no um conjunto de decises de sequncia linear,
mas um sistema capaz de criar relaes de significado de influncia rec proca
em que por exemplo a retrica a semntica interagem (Chaves e Belluccia,
2003). A representao grfica de um mesmo conceito ou objecto pode
assumir diferentes estilos (rigoroso, realista, simples, irregular, expressivo,
sinttico, etc.) e com eles condicionar o contedo semntico. Neste caso a
retrica condiciona a semntica, evidenciando que o estilo posiciona o signo
no contexto referencial dos valores corporativos e descreve a sua
personalidade (Chaves e Belluccia, 2003).
Chaves e Belluccia (2003, p.42) consideram que a cultura grfica
composta por uma rede complexa de gneros e linguagens heterogneas
prprias da comunicao humana. Consideram que o projecto de identidade
grfica de qualidade aquele que consegue s el ecci onar a l i nguagem
ou as l i nguagens adequados a cada cas o e i nt er pr et - l as com
dom ni o abs ol ut os dos s eus pr i nc pi os , pois s desta forma se
conseguir a noo de pertena que diferente da posse.
O design de comunicao surge no apenas uma mera forma neutra de
materializar mensagens da identidade corporativa, mas como forma de as
optimizar estrategicamente em funo do seu pblico e de reforar o seu
significado atravs do estilo de representao grfica. Quando o projecto de
identidade grfica ou visual desenvolvido, implementado e gerido
correctamente, possibilita que o pblico se aproprie dos valores corporativos
correctos.
O des i gn i nt er dependent e do s eu c ont ex t o
Especificamente o processo do design influenciado pelas alteraes
sociais e econmicas, pelas alteraes e evolues tecnolgicas, pela gesto
das empresas e pelas mudanas culturais que se acentuaram com a
232
globalizao. O design no uma prtica isolada desses elementos mais
amplos, e frequentemente parece ser uma reaco resultante da conscincia
de que a mudana urgente (J ohn Heskett, 2005).
A prpria histria do design disso exemplo bem como a influncia da
tecnologia sobre a comunicao (ponto 3.4.4), por exemplo ao possibilitar que
um cliente personalize o seu produto a qualquer hora e desde o seu
computador pessoal, exigindo interfaces capazes de garantir uma experincia
agradvel.
A tecnologia altera os prprios mtodos do designer atravs do uso do
computador e das suas consequncias sobre o aspecto da marca grfica.
O prprio contexto onde se insere a marca ou a forma como apresentada
ao pblico vai ditar o seu sucesso, por razes que por vezes escapam a
qualquer estratgia ou s capacidades de previso do designer.
Em 1997, a British Airways (BA) apostou na mudana da sua identidade
visual para evidenciar qualidade de servios e se aproximar dos seus
diferentes pblicos, cujo lanamento desastrosamente coincidiu com greves
dos pilotos, que levaram ao cancelamento de voos (J ohn Heskett, 2005).
Porm, grande parte da polmica relacionava-se com a identidade visual que
se subdividiu em dois n veis de discurso, em que o primeiro corporativo (a
marca grfica aplicada na frente do avio), seguindo a associao
nacionalista em curso nas companhias areas e o segundo consistiu em
aplicar um motivo tnico na cauda do avio em funo do pa s para onde se
destina frequentemente. Os britnicos no entenderam que 60% dos
passageiros da BA so estrangeiros e que a companhia estabelecia dois tipos
de discurso, mantendo a sua afirmao nacionalista, e causaram uma
substituio gradual do elemento tnico por uma representao da bandeira
inglesa.
Um outro caso deu-se no ano 2000 quando a empresa BP (British
Petroleum) se deu conta de que a sua marca grfica no espelhava a nova
estratgia corporativa sob o slogan Para alm do petrleo, que procurava
demonstrar que a empresa tinha outros servios. A empresa adoptou o
s mbolo do sol numa forma aproximada a uma flor, mantendo a cromtica
corporativa (verde e amarelo).
A reaco dos ecologistas nova marca grfica e campanha de
lanamento que evidenciava novos servios foi bastante negativa.
Relativamente ao caso da BA, o contexto de localizao da empresa limitou
a sua actuao no mundo por imposio dos valores nacionalistas e
porventura por falta de esclarecimento pblico e prvio da estratgia seguida
pela empresa, criando uma situao de confronto.
233
A BP representa uma situao diferente, que evidencia a relao entre a
marca grfica e os valores da identidade corporativa. Porm, est em causa a
conduta da empresa e a sua inteno de futuro referente sua aproximao a
um mundo mais ecolgico evidenciado na sua marca grfica, que far a
diferena entre o que parece ser e o que , e que levanta o perigo do que
pode ocorrer caso no se alcance o pretendido. Esta uma discusso que se
tem mantido acesa entre os profissionais do design e que se refere
existncia de empresas que aparentam ser o que no so.
No entanto se o designer influenciado ao n vel terico, metodolgico e
representativo pelo mundo em que se insere, tambm influenciador do seu
contexto quando age como elemento pr-activo ao n vel cultural, social e
econmico, devolvendo representaes manipuladas do mundo.
A companhia Sony tem uma equipa de designers que estabelece poss veis
cenrios a seguir e que informa directamente o presidente. Neste caso, no
s os designers assumem funes executivas ao n vel estratgico, como
assumem que o design no apenas um conjunto de tcnicas
associadas a produtos e servios existentes mas tambm uma
forma de conhecimento independente, capaz de criar conceitos
de valor inteiramente novos (J ohn Heskett, 2005, p.193).
Assim, o design no apenas uma forma de materializar os valores
corporativos, mas tem influncia sobre eles e tem a capacidade de criar novas
valias atravs da prospeco e da inovao. Portanto faz sentido que a
gesto do design seja feita ao n vel da gesto de topo, possibilitando a sua
interveno em todos os momentos da empresa.
I nt er ac o ent r e Des i gn e Mar k et i ng na ges t o da i dent i dade
c or por at i v a
No contexto da gesto da identidade corporativa o marketing e o design
tm um papel relacionado, que passa pela reduo da incerteza.
Atravs do marketing poss vel obter alguns dados sobre o meio,
oportunidades e necessidades, mas tambm como preparar e organizar
globalmente ou especificamente tarefas ou estratgias.
Por outro lado o design possibilita a interpretao conceptual dos valores
corporativos, dos dados fornecidos pelo marketing, e a realizao de pesquisa
sobre os cdigos visuais dos concorrentes ou culturais dos pblicos-alvo.
tambm o design que cria as interfaces com o pblico-alvo, condicionando a
descodificao.
A definio da estratgia nasce da interseco de diferentes interesses e
condicionantes (Figura 197), tendo em conta as capacidades da empresa e a
234
sua identidade. A agregao dos valores corporativos ao design e sua
conduta faz com que deixem de ser meras formas vazias, que por sua vez
possibilitam que o pblico se aproprie dos significados.
Figura 197
O Marketing encontra-se profundamente ligado gesto e ao mercado,
constituindo uma pea chave na definio da estratgia de marca da empresa,
que estabelece relaes de significado (cdigo) entre diferentes signos (onde
actua o design).
Tal como a descodificao da mensagem depende largamente do cdigo e
dos signos utilizados, tambm a marca validada pelo Marketing e pelo
Design.
O i mpac t o da gl obal i za o e das novas t ec nol ogi as s obr e a Ges t o de
I dent i dade Cor por at i va
Atravs dos novos meios de comunicao na globalizao e com o
desaparecimento de fronteiras terrestres, a empresa tem a responsabilidade
de comunicar para pblicos cada vez mais informados, diversificados,
ocupados, exigentes e simultaneamente de forma individualizada.
As novas tecnologias tm o papel de interface na gesto da identidade
corporativa, na relao empresa cliente. Ao equipar a empresa com meios
para disponibilizar o seu produto (ou servio) medida de cada cliente,
recebendo simultaneamente as suas informaes antes e depois da venda.
Atravs da internet, o mercado da empresa contempornea passa a ser o
mundo (Olins (1995), porm diferentes culturas com valores opostos podem
235
cruzar-se num mesmo mercado, pondo em causa a descodificao da prpria
marca grfica.
J ohn Heskett (2005, p.126) referindo-se ao modo de vida da sociedade
actual refere que poss vel ser-se ao mesmo tempo membro da prpria
cultura e membro de mais subculturas que tenham pouco em comum com a de
maior dimenso. Por exemplo trata-se de pertencer a uma sociedade anfitri
onde se vive e atravs da internet ou mesmo de um profisso, pertencer a
uma subcultura com os seus prprios valores, princ pios e cdigos.
O discurso da identidade frequentemente adaptado em diferentes
retricas que procuram aceitao de grupos e sub grupos culturais, porm
podem ocorrer incompatibilidades entre estes ou mesmo a alterao do
contexto em que se insere o projecto de identidade visual em causa.
Nos anos oitenta no Reino Unido, a privatizao da British Telecom, que
pretendia afirmar-se como independente, levou substituio das tradicionais
cabines telefnicas vermelhas que povoavam todo o pa s e inclusivamente
apareciam nos postais como um atractivo tur stico e signo de identidade,
causando grande desagrado na populao. Esta nostalgia ou resistncia
mudana ocorre com alguma frequncia, pois esses elementos foram
apreendidos pelo pblico em geral e passaram consagrao, representando
mais do que a empresa, como exemplo a Torre Eiffel, para Paris ou a Torre
de Belm para Lisboa.
Um outro exemplo seria o da Macdonalds, que actua sobre o mote pensar
globalmente, agir localmente ou a Whirpool que segue uma estratgia com
enfoque global/local, adaptando os seus produtos cultura local (na ndia as
mquinas de lavar roupa tm a funo pr-lavagem, porque se cr que s
assim a roupa fica realmente lavada).
As alteraes tecnolgicas tm grandes influncias sobre as marcas, como
exemplo a IBM e a Apple. Desde cedo a IBM apostou no trabalho de
designers para melhorar o seus servios ou a sua identidade visual, dando-
lhes linhas orientadoras bastante claras para guiar o seu trabalho. A empresa
apostou numa normalizao bastante r gida que levava at adaptao dos
empregados a um cdigo de fardamento (J ohn Heskett, 2005).
No in cio dos anos oitenta a Apple assume um compromisso com o design
em todos os aspectos do seu negcio, vis vel na facilidade do uso do
equipamento e da interface, ou na embalagem que armazenava e que dava
claras instrues de montagem do Macintosh, criando problemas evidentes
IBM.
Atravs da internet poss vel criar ferramentas que acedam a um melhor
conhecimento dos pblicos, s suas necessidades e desejos, permitindo
aperfeioar e adaptar o servio e naturalmente contribuir para o capital
236
marca. Antes da internet as empresas procuravam conhecer os seus pblicos,
mas actualmente ocorre que so muitas vezes os stakeholders a estabelecer
contacto e a indicarem os seus dados. A internet surge no apenas como
ferramenta de apresentao, mas como um meio que alterou a prpria forma
de negociar, e de representar pela constante mutao de cdigos.
As novas tecnologias facilitam a consolidao da identidade e melhoraram
a imagem corporativa, porm para que ocorra, a identidade visual deve estar
coerente com a estratgia da empresa e suportada por esta. Em 1993 a
empresa Federal Express deparou-se com o problema de incompatibilidade
entre a sua marca grfica e a reputao corporativa conseguida pela rapidez
e fiabilidade do servio, que em 1994 se acentuou devido introduo de um
chip permite fazer a monitorizao dos produtos despachados. A alterao
grfica passou pela simplificao do nome para FedEx, depois de estudos
terem revelado que a empresa era assim conhecida e porque a abreviatura
transmitia a noo de velocidade, demonstrando tambm a importncia de que
a identidade grfica seja suportada pela conduta empresarial (e vice versa)
bem como de conhecer a percepo pblica. Para Walter Landor (citado por
J ohn Heskett, 2005, p.86) conhecer a percepo do consumidor sobre a
empresa to importante como saber como fabricar o produto.
Fut ur os es t udos
Ficar para estudos futuros o impacto das novas alteraes do contexto
sobre as marcas grficas e da imagem de marca, como se tm verificado ao
longo da histria.
Tambm o estudo sobre cada signo do sistema semitico corporativo ficar
para eventuais investigaes posteriores, partindo da sua afirmao
semntica, retrica e simblica em particular.
Por pertinncia esta dissertao compreende apenas as marcas comerciais
e de distino simblica ou social, pelo que ficam por estudar os signos de
origem religiosa cujo diversidade, e impacto scio-cultural sempre se fez
sentir, justificando um estudo exclusivo.
igualmente importante o estudo dos hbitos de aquisio e do
comportamento consumista relacionando-o com a valorizao do local de
origem e sua reputao. Avaliando por exemplo se o facto da introduo das
grandes superf cies de venda em Portugal ter poucos anos, tem alguma
relao com a generalizada desvalorizao dos produtos portugueses no seu
prprio pa s. Obrigando a que muitas empresas ocultem a origem do fabrico
ou criem nomes de marca com conotao estrangeira, criando a questo da
legitimidade de tal conduta.
237
Por ltimo, estudos futuros podero estudar a profundamente sistemas de
avaliao de marcas grficas, sem que se pretenda de forma alguma um
mtodo standard e aplicvel a todos os caso, mas antes um conjunto de
linhas orientadoras.
Cont r i but os da di s s er t a o par a a ges t o de i dent i dade c or por at i va
Um dos objectivos desta dissertao de mestrado foi o esclarecimento dos
principais conceitos na rea da identidade corporativa, facilitando a
comunicao entre profissionais. Porm, a explanao e interligao dos
conceitos, bem como processos de concepo e a gesto de marca foram
tidos como fundamentais para melhorar o exerc cio de tais funes.
Por detrs desta dissertao encontra-se a convico de que um projecto
de identidade visual exige um grande n vel de responsabilidade,
profissionalismo e de importncia vital para qualquer organizao. Ainda, que
a aposta na gesto da identidade corporativa deve representar maior
segurana para a empresa, facto que contrasta com processos emp ricos
praticados (ver figura 198).
Figura 198 O design e a gesto de marca
238
importante que o designer de comunicao entenda o funcionamento do
sistema semitico corporativo, para que possa desempenhar correctamente as
suas funes, procurando no desenvolver um trabalho apenas intuitivo.
Uma boa gesto de identidade corporativa passa pela interiorizao e
compreenso dos valores a transmitir, bem como da sua adequao ao
pblico-alvo.
Certamente ser importante que o gestor compreenda que para criar e gerir
uma marca no bastar desenvolver e aplicar um logtipo e um estacionrio,
cujo sucesso parece depender da conduta geral da empresa e da forma como
implementada a identidade grfica.
Assim, se cada organizao tem uma identidade corporativa que a torna
nica e imposs vel de copiar, deve ter um projecto de identidade visual que s
faa sentido se lhe estiver agregado e que ajude a comunicar eficazmente os
seus valores.
239
GLOSSRIO DE TERMOS
Ar mas : Ao conjunto herldico (escudo e elementos internos e externos:
braso, elmos, coroas, timbres, suportes e divisas) d-se o nome de escudo
de armas ou simplesmente armas, as quais podem ser avaliadas pela sua
natureza, ordenao e elementos constituintes (Langhans, 1966). Ver Pag.
94.
Ar qui t ec t ur a da Mar c a: estrutura organizativa de uma ou mais marcas,
estabelecendo graus de importncia e relao visual entre estas e com a
empresa ou grupo em funo dos interesses estratgicos corporativos. Ver
Pag. 140 ( ver t ambm Pag. 246) .
Br as o: Considera-se Braso o conjunto de elementos simblicos ordenados
e escudo o plano e limite onde se ordenam os componentes (Langhans,
1966). Ver Pag. 94.
240
Cdi go: Tecnicamente os semiticos consideram que um grupo de signos
um cdigo (Leeds-Hurwitz, 1993), um sistema, modelo ou rede (grupos de
signos). Trata-se de uma colocao e organizao dos signos no grupo,
conferindo-lhes significado (no apenas da relao significante e significado).
O cdigo implica no apenas agrupamentos, mas tambm regras de
organizao individual o cdigo como um conjunto de signos e regras para o
seu uso. Ver Pag. 22.
Comuni c a o Cor por at i va: A Comunicao Corporativa um conjunto de
mensagens efectivamente emitidas. Consciente ou inconscientemente,
voluntria ou involuntariamente, pois basta que exista uma entidade
percepcionvel, para que a sua envolvente receba comunicaes. No
portanto, o mesmo que Comunicao da Identidade Corporativa. Ver Pag.
32
Fi del i dade mar c a: A fidelidade marca uma ligao forte do consumidor
para com a marca, indicando preferncia mais ou menos exclusiva no decurso
de vrias compras sucessivas. Ver Pag. 163.
Fi l i gr ama ou mar c a de gua: marca de fabricante de papel aplicada no
produto criando zonas de transparncia aquando da sua produo. Ver Pag.
108.
Ges t o de Des i gn: gesto de recursos humanos e materiais tendo em conta o
desenvolvimento de produtos, servios ou comunicaes cujo processo de
criao multidisciplinar e interdependente da estratgia da empresa.
Gesto de Identidade Corporativa: A gesto de identidade corporativa procura
uniformizar todos os discursos (verbais e visuais), mas sobretudo agir sobre
as relaes entre sistemas de signos, criando um cdigo partilhado por um
grupo, capaz de reduzir o nmero de poss veis interpretaes, e conduzindo a
comunicao com maior segurana, para a imagem (ou imagens) desejada.
Ver Pag. 217
Ges t o de mar c a: Ver gesto de identidade corporativa.
Herldica: a cincia que estuda e interpreta as origens, evoluo,
significado social e simblico, filosofia prpria, valor documental e a
finalidade de representao icnica da nobreza, isto , dos escudos de
armas (Mattos, 1993, p.15). Ver Pag. 220.
241
I dent i dade Cor por at i va: Para Yves Zimmermann (1993), o projecto de
identidade corporativa sintetiza e confere coerncia em trs mbitos pblicos
e identitrios: 1- a comunicao (independentemente da sua classe); 2- a
envolvente (a presena pblica de qualquer dole - arquitectura, interiores,
sinaltica); 3- as suas actuaes (a filosofia de produtos ou servios que
oferece, o contacto directo com a empresa - atendimento telefnico, contacto
pessoal ou escrito, etc.). Enquanto para Davies, G. [et. Al] (2001) a
Identidade corporativa a vi s o i nt er na, que o s t af f t em da
empr es a . Segundo Albert e Whettens (1985, citado pelos autores
anteriores), trata-se da noo de Como nos vemos a ns pr pr i os .
Ver Pag. 30.
I dent i dade Vi s ual ou i magem gr f i c a: Cdigo visual formalmente coerente,
composto pelo discurso visual e escrito. Ver Pag. 29.
I magem Cor por at i va: A imagem mental que o pblico faz de uma empresa ou
organizao. Ver Pag. 29.
I nt er - medi a: diferentes tipos de mensagens relacionadas. Ver Pag. 216.
Logt i po: uma palavra projectada graficamente de forma nica. Uma juno
de letras numa matriz, geralmente do mesmo tipo, formando um grupo, sigla
ou palavra identificadora de uma organizao, produto ou servio (Rocha,
1995). Ver Pag. 29.
Mar c a gr f i c a: A marca grfica um signo visual que poder ser constitu do
por um logtipo, um sinal, cone ou s mbolo (individualmente ou em par),
podendo ainda somar-se o descritivo. Ver Pag. 28.
Mar c a: A marca consequncia de associaes decorrentes da experincia e
cultura do receptor, tendo em conta mensagens recebidas directa ou
indirectamente da organizao (os produtos ou servios, objectos grficos,
embalagens, a qualidade, a retrica, os preos, a imagem do staff, os
ambientes, entre outros), que funcionam como grupos e sistemas de signos e
que culminam no imaginrio social colectivo. Ver Pag. 26- 27.
Monogr ama: Per Mollerup (1997, p.24) esclarece que o s i gni f i cado
gr ego or i gi nal do t er mo monogr ama l i nha ni ca,
compr eendi do como al go es cr i t o ou des enhado em cont or nos .
Act ual ment e a pal avr a nor mal ment e us ada par a i ndi car um
242
s i nal ( s i gno des enhado) f ei t o a par t i r das i ni ci ai s do nome
de uma pes s oa . Ver Pag. 41.
Mundo Si mbl i c o: Interpretao individual ou colectiva sobre algo, em
resultado de uma ou mais experincias e tendo em conta a seleco de
informao em funo dos desejos, sentimentos e conhecimentos do
indiv duo. Ver Pag. 20.
Pun o de Cont r as t e: reproduz uma marca legal, cujo per metro definido,
sendo irregular nas marcas da Contrastaria de Lisboa e octogonal irregular
nas marcas da Contrastaria do Porto. O s mbolo varia conforme o metal e em
todas se apresenta o toque correspondente (em milsimas) na parte inferior.
Ver Pag. 99.
Pun o de f abr i c o ou equi val ent e ( por vezes di t o pun o de
r es pons abi l i dade): reproduz uma marca que inclui, num per metro, a letra
inicial do nome do industrial, importador ou firma, e um s mbolo
personalizado, no confund vel com os outros existentes e no pertencente ao
reino animal. Ver Pag. 99.
Real i dade Cor por at i va: Trata-se da entidade jur dica e do funcionamento
concreto da organizao; da estrutura organizativa e operativa; a realidade
econmico-financeira; a sua infra-estrutura e recursos materiais; a integrao
social interna; o sistema de relaes e condies de comunicao interna e
externa; entre outros. Ver Pag. 32.
Reput a o Cor por at i va: reputao resulta de pontos de vista, expectativas,
satisfaes e experincia de diferentes Stakeholders. Ver Pag. 192.
Semi t i c a: embora ao final dos anos 60 tenha sido adoptada a palavra
semitica como termo geral do territrio de investigaes nas tradies da
semiologia e da semitica geral" (Nth, 1995:26), ainda hoje se encontram
inclinaes entre a semiologia e a semitica. Ver Pag. 14.
Si gno: Pierce dividiu os signos de forma diferente, propondo uma tr ade: o
signo ou representante (equivale ao significante de Saussure, por exemplo a
marca); o objecto pelo qual permanece (ex.: a empresa); e o interpretante (a
imagem mental que decorre da visualizao da marca) e dividiu o significado
de Saussure em duas partes: o objecto (ao que se refere o representante) e o
interpretante (o significado transmitido pelo representante sobre o objecto,
243
tudo o que no era conhecido sobre ele mas foi transmitido) (Mollerup, 1997,
p: 78). Ver Pag. 18.
Si gno c one: tem uma relao de similaridade ou semelhana entre presente
e o ausente; (Ex.: Fotografia de um pssaro assemelha-se ao pssaro). Ver
Pag. 19.
Si gno ndi c e: tem a relao da contiguidade ou ligao; utiliza parte em
representao do todo. (Ex.: uma recordao; o topo do bolo de noiva
guardado para o primeiro aniversrio uma pea que fez parte de um
evento). Ver Pag. 19.
Si gno s mbol o: tem a relao da arbitrariedade; (Ex.: o vestido de noiva
branco, que tradicionalmente simboliza a virgindade). Ver Pag. 19.
Si s t ema de s i gnos : cdigo. Ver Pag. 22.
St ak ehol der s : Qualquer indiv duo ou grupo que possa beneficiar ou ser
prejudicado pelas aces da organizao, dos quais os clientes so os mais
importantes. Ver Pag. 30
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AAKER, David A.; J OACHIMSTHALER, Erich Mar c a f or t e c om m di a
al t er nat i va. So Paulo: HSM Management. N.5, ano 1, Nov./Dez. 1997.
AAKER, David A. Mar c as : br andy equi t y ger enc i ando o val or da mar c a.
Trad. Andr Andrade. So Paulo: Negcio, 1998.
AAKER, David A. Managi ng br andy equi t y. Nova York: Free Press, 1991.
ISBN: 0029001013.
AAKER, David A. Cr i ando e admi ni s t r ando mar c as de s uc es s o. Trad.
Eduardo Lasserre. 3 Ed. So Paulo: Futura, 2001.
AICHER, Otl; KRAMPEN, Martin Si s t emas de s i gnos en l a c omuni c ac i n
vi s ual . Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1979. ISBN: 968-887-174-5.
244
CAETANO, Maria Um Homem e o seu l i cor: O Bei r o de que t odos gost am.
Revista Pblica, 06 de Maio de 2001, p. 42-46.
CHAVES, Norberto La I magen Cor por at i va Teor i a e met odol og a de l a
i dent i f i c ac i n i ns t i t uc i onal . 1Ed. BarcelonaEditorial Gustavo Gili S.A.,
1988. ISBN: 84-252-1859-4.
CHAVES, Norberto, BELLUCCIA, Raul La mar c a Cor por at i va: Ges t i n y
di s eo de s mbol os y l ogot i pos , 1Ed. Buenos Aires: Paids, 2003. ISBN:
950-12-2717-0.
COELHO, Antnio Domingos Simes NVMRI A da Lusi t ni a, Lisboa: Edio
Comparticipada pelo DR. Leonel Ribeiro, 1972.
COSTA, J oan; DORFLES, Gillo; MAURECH, Alain I dent i dad c or por at i va y
es t r at egi a de empr es a. Barcelona: CEAC, 1992.
COSTA, J oan I magen Cor por at i va en el s i gl o XXI . 1 Ed. Buenos Aires: La
Cruj a Ediciones, 2001. ISBN: 987-97498-9-8.
COSTA, J oan Di s ear par a l os Oj os . 2 Ed. La Paz: Grupo Editorial
Design, 2003. p.137 154. ISBN: 99905-0-314-1.
COSTA, J oan La I magen de Mar c a. Barcelona: Paids Diseo, 2004. ISBN:
84-493-1531-X.
DAVIES, Gary, CHUN, Rosa, SILVA, Rui V. da Cor por at e Reput at i on
Compet i t i v enes s , 1 Ed. Nova York: Routledge, 2002. ISBN: 041528743X.
DAVIS, Scott M. e DUM, Michael Bui l di ng t he Br and Dr i ven Bus i nes s . San
Francisco: J ossey Bass, 2002. ISBN: 0-7879-6255-4.
DIAS, Pedro, A viagem das formas, Lisboa: Editorial Estampa, 1995. ISBN:
972-33-1152-6.
DIOGO, A. M. Dias, PAIXO, A. Cavaleiro nf or as de escavaes no
povoado i ndust r i al r omano de Tr i a, Set bal . Revista portuguesa de
arqueologia. Vol4, n 1, 2001. p.17-140.
245
ECO, Umberto O Si gno, Editorial Presena. 5 Ed. Lisboa: Editorial
Presena, 1997. ISBN: 9722312979.
ECO, Umberto Tr at ado Ger al de Semi t i c a, 4 Ed. So Paulo: Editora
Perspectiva, 2003. ISBN: 85-273-0120-2.
FONSECA, Miguel e- Mar k et i ng. Porto: Edies IPAM, 2000. ISBN: 972-
8641-00-1.
FRUTIGER, Adrian Si gnos , S mbol os , Mar c as , Seal es Elementos,
morfolog a, representacin, significacin, 1 Ed. Barcelona: Editorial Gustavo
Gilli, 1981. ISBN: 968-887-271-7.
FRUTIGER, Adrian En t or no de l a t i pogr af a. Barcelona: Editorial Gustavo
Gilli, 2002. p. 83 89. ISBN: 84-252-1916-7.
GRAA, A. Santos O Povei r o. Lisboa: Dom Quixote. 1995.
HENRIQUES, Margarida I dent i dade Audi t i va: Logt i pos e marcas com som,
Marketeer, Fevereiro de 2000, p.68-70.
HENRIQUES, Margarida I dent i dade Ol f act i va O Mar ket i ng est no ar,
Revista Marketeer, Maio de 2000, p. 28-30.
HESKETT, J ohn, El diseo en la vida cotidiana. 1 Ed. Barcelona: Editorial
Gustavo Gilli, 2005. ISBN: 84-252-1981-7.
Hi st r i a da i magem cor por at i va, Curso Prtico de Desenho Grfico por
computador, Madrid: Ediciones Gnesis, 1991. p.1- 20.ISBN: 84-87809-08X.
KELLER, Kevin Lane St r at egi c br and management : bui l di ng, meas ur i ng
and managi ng br and equi t y. New J ersey: Prentice Hall, 1998.
KELLER, Kevin Lane The br and r epor t c ar d. Boston: Harvard Business
Review, v.78, n.1, p.147-57, jan./fev. 2000.
LANGHANS, F. P. de Almeida Her l di c a: c i nc i a de t emas vi vos . Lisboa:
Fundao Nacional para a Alegria no Trabalho, 1966.
246
LEEDS-HURWITZ, Wendy Semiotics and Communi c at i on: s i gns , c odes ,
c ul t ur es . New J ersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1993. ISBN: 0-8058-
1140-0.
LPEZ, J uan Lu s Puente Fi r mando en l a Pi edr a - por l os maes t r os
c ant er os medi eval es . Len: Edilesa, 2001. ISNB: 84-8012-3303.
LOURO, Maria J oo Soares Mar ket i ng de exper i nci as, Revista Marketeer,
n 39, Setembro de 1999, p: 70-72.
MAIA, Manuel Mar cas em nf or as da f or ma DR/ 20, de Tr i a Set bal , O
Arquelogo Portugus, srie III, Vol. VII/IX, 1974/1977.
MAIA, Manuel Maria da Fonseca Andrade Subs di os par a o es t udo da
Car t a Ar queol gi c a do Conc el ho de Fi guei r a de Cas t el o Rodr i go:
dissertao de licenciatura. Lisboa, 1971, I Vol., pp. 185-188.
MAIA, Virg lio Rudes e Br as es : Fer r o e Fogo das mar c as avoengas .
2Ed. Brasil: Ateli Editorial, 2004. ISBN: 85-7480-254-9.
MARQUES, Mrio Gomes Hi s t r i a da Moeda medi eval Por t ugues a, Sintra:
Instituto de Sintra, 1996, ISBN: 972-9056-07-2. p.10-11.
MARTINS, J . A Nat ur eza Emoc i onal da Mar c a: Como es c ol her a i magem
que f or t al ec e a s ua mar c a. So Paulo: Negcio Editora, 1999. ISBN 85-860-
1433-8.
MATOS, Armando de Manual de Her l di c a Por t ugues a. Porto: Liv.
Fernando Machado, 1961.
MELO, Maria J oo de Market i ng das marcas. pt , Revista Marketeer, n51,
Set. 2000, p.18-22.
MOLES, Abraham Teor i a da I nf or ma o e Per c ep o Es t t i c a. 1 Ed. Rio
de J aneiro: Editora Tempo Brasileiro, 1969.
MOLLERUP, Per Mar k s of ex c el l enc e: The hi s t or y and t ax onomy of
t r ademar k s . Londres: Phaidon Press, 1997. ISBN: 0-7148-3838-1.
247
MURPHY, J ohn; ROWE Michael Como di s ear mar c as y l ogot i pos . 1Ed.
Mxico: Ediciones Gustavo Gili, 1989. p.6-15. Manuales de diseo. ISBN: 968-
887-132.
NORTON, Manuel Artur A Her l di c a em Por t ugal , Vol I, Lisboa: DisLivro,
2004. ISBN: 972-8604-85-8.
NP 405-1. 1994, Informao e Documentao: referncias bibliogrficas
documentos impressos Norma Portuguesa. Monte da Caparica: IPQ. 49 p.
OLINS, Wally Mak i ng Bus i nes s St r at egy Vi s i bl e t r ough Des i gn, Harvard
Business School Press, 1990. ISBN: 0-87584-368-9.
OLINS, Wally I magem Cor por at i va I nt er nac i onal . Barcelona: Editorial
Gustavo Gilli, 1995, ISBN: 84-252-1660-5.
OLIVEIRA, F. Baptista de Hi s t r i a e t c ni c a dos t apet es de Ar r ai ol os . 4
Ed. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1983.
PEPPERS, Don, ROGER, Martha Ent r er pr i s e One-t o- One, Piatkus Books,
1998.
PEREIRA, Maria Lu sa Veiga Silva Mar cas de Ol ei r os Al garvi os do per odo
r omano, O Arquelogo Portugus, srie III, Vol. VII/IX, 1974/1977. p. 243-268.
PEREZ, Clotilde Signos da Marca: Expressividade e Sensorialidade. So
Paulo: Pioneira Thomson Learning. ISBN: 85-221-0442-5.
PIERCE, Charles S. Semi t i c a. 3 Ed. So Paulo: Editora Perspectiva,
2003. ISBN: 85-273-0194-6.
Planejamento de Marketing, Harvard Business Review. Rio de J aneiro: Editora
campus, 2002. ISBN: 85-352-1020-2.
Revista informar, Ano II, n3, Abril de 2002.
RIBEIRO, Margarida A Ol ar i a nos pun es ou mar c as de our i v es .
Guimares, Sep. do Vol. LXXXII, Revista de Guimares, 1972.
248
ROCHA, Carlos de Sousa Teor i a do des i gn. 1 Ed., Lisboa: Pltano editora,
1986.
ROCHA, Carlos O mundo vai continuar a no ser como era! Directrio do
Centro Portugus de Design, 03/04. Lisboa: Centro Portugus de Design,
Outubro de 2003.
ROCHA, Carlos de Sousa Des i gn Gr f i c o: Panor mi c a das Ar t es Gr f i c as
I I . 1Ed. Lisboa: Pltano Editora, 1995. ISBN: 972-707-124-4.
SALVADO, Pedro Mar c as de ol ei r o em t gul as r omanas da es t a o
ar queol gi c a do Tr ngul o Sr de Mr c ul es , s ant ana e S. Mar t i nho.
Castelo Branco: Museu de Tavares Proena J nior.
SANTOS, Maria J os Ferreira dos A I nds t r i a do Papel : em Pa os de
Br ando e Ter r as de Sant a Mar i a ( Sc ul os XVI I I -XI X) , Ed. Cmara Municipal
de Santa Maria da Feira, 1997.
SOUSA, J . M. Cordeiro de Mar c as de Cant ei r os . O Arquelogo Portugus,
n. 27
SOUSA, J . M. Cordeiro de, 1886-1968 Novas obs er va es s obr e as
mar c as de c ant ei r o. Coimbra, Universidade 1965, Sep. De Conimbriga, V.4
TRAVIS, Daryl Emot i onal Br andi ng: How Suc c es s f ul Br ands Gai n t he
I r r at i onal Edge. Roseville, Califrnia: Prima Venture, 2000. ISBN: 0-7615-
2911-X.
TSENG, Mitchell M, e PILLER, Frank T. The c us t umer c ent r i c ent r er pr i s e:
advanc es i n Mas s Cus t omi zat i on and Per s onal i zat i on, Nova York /Berlim:
Sringer, 2003. ISBN: 3540024921.
VIDAL, Manuel Gonalves, ALMEIDA, Fernando Moitinho de Mar c as de
c ont r as t es e our i ves por t ugues es . 4 Ed., Vol.I (sc. XV a 1887). Lisboa:
Imprensa Nacional Casa da Moeda. ISBN: 972-27-0773-6.
VINK, Niels Y. Cus t omi zat i on Choi c es : Cons umer pr oduc t Dec i s i ons i n
Mas s Cus t omi zat i on Envi r onment s , 2003. ISBN: 90-9016751-X.
249
ZIMMERMANN, Yves Zi mmer mann As oc i ados , Barcelona: Gustavo Gilli,
S.A, 1993. ISBN: 84-252-1529-3.
250
BIBLIOGRAFIA
ALARCO, J ., ETIENE, R. Les Amphores, Fouilles de Conimbriga, Mission
Arqhologique franaise au Portugal, Paris, 1976.
BRANCO, J oo A i mpor t nc i a da I magem Coor denada Empr es ar i al .
Lisboa: C. P. D., p.13-14,1996. Cadernos de Design.
BRANCO, J oo (co-autoria), Gui a de Apoi o Cr i a o de Mar c as no
Sec t or Tx t i l . Lisboa: Centro Portugus de Design, 2001.
BROCHAND, Bernard, [et al.] Publicitor. 1 Ed. Lisboa: Publicaes D. Quixote, 1999.
Coleco Gesto e Inovao: Cincias da Gesto. ISBN: 972-20-1585-0
CEIA, Carlos Normas para apresentao de trabalhos cient ficos, 4 Ed.
Lisboa: Editorial Presena, 2003. ISNB: 972-23-1874-8.
Comunicao Empresarial. Revista da APCE Associao Portuguesa de
Comunicao de Empresa, n 19, Setembro/Dezembro 2001. ISSN: 0873-
1632.
COSTA, J oan Di r Com on- l i ne: El Mas t er en Di r ec c i n de Comuni c ac i n a
di s t anc i a. 1 Ed. La Paz: Grupo Editorial Design, 2004. ISBN: 99905-0-468-7.
ESCOREL, Ana Lu sa O ef ei t o mul t i pl i c ador do des i gn. So Paulo: Editora
SENAC, 2000. ISBN: 85-7359-108-0.
FISHEL, Catherine Como r ec r i ar a i magem c or por at i va: es t r at gi as de
des i gn bem- s uc edi das . Barcelona: Gustavo Gilli, 2003. ISBN: 84-252-1852-
7.
FREIRE, Mrio Silva Comuni c a o, c ompor t ament o humano e empr es a.
Escola Superior de Tecnologia e Gesto de Portalegre, 1999. ISBN: 2345-
78698-9876.
HELFER, J . P., ORSONI, J . Marketing. 1Ed. Lisboa: Edies S labo, 1996.
ISBN: 972-618-140-2
251
KAPFERER, J ean-Nol As mar c as a c api t al da empr es a: c r i ar e
des envol v er mar c as f or t es . 3Ed. Porto Alegre, 1998. ISBN: 2-7081-2145-6.
KLEIN, Naomi No Logo: o poder das mar c as . Lisboa: Relgio Dgua
Editores, 2002. ISBN: 972-708-673-X.
Manual de Gesto de Design. Porto: Centro Portugus de Design, 1997.
Coleco Design, Tecnologia e Gesto. ISBN: 972-9445-06-0.
MARQUES, A. H. de Oliveira Hi s t r i a da Ma onar i a em Por t ugal : Pol t i c a
e ma onar i a 1820-1869. 1 Parte, 1 Ed. Lisboa: Editorial Presena, 1966.
NORONHA, Eduardo Hi s t r i a das Toi r adas . Lisboa: Seco Editorial da
Companhia Nacional Editora, 1900.
REGOUBY, C. La COMUNI CACI ON GLOBAL: c mo c ons t r ui r l a i magen
de una empr es a? Barcelona: Ediciones Gestin, 2000.
SERRA, Elisabete Magalhes;GONZALEZ, J os A. Varela A mar c a:
Aval i a o e Ges t o Es t r at gi c a. Lisboa: Editorial Verbo, 1998. ISBN: 972-
22-1907-3.
VIEIRA, Rui I magem Coor denada de Empr es a. Cadernos de Design.
Lisboa: CPD, 1992, p. 52 55.
WILSON, Hilary Povo dos Far as , Mem Martins: Lyon Edies, 1997. ISBN:
972-8461-74-7.
Zona de Port ugal , Catlogo Temporada de 2004, Unin de Criadores de Toros
de L dia, Madrid, 2004. p.335-358.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- GESTÃO DO CONHECIMENTO & INOVAÇÃO: ESPAÇOS DE COLABORAÇÃO, CONFIANÇA E CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICAVon EverandGESTÃO DO CONHECIMENTO & INOVAÇÃO: ESPAÇOS DE COLABORAÇÃO, CONFIANÇA E CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICANoch keine Bewertungen
- Daniel Raposo Martins Gestão de Identidade Corporativa: Do Signo Ao CódigoDokument258 SeitenDaniel Raposo Martins Gestão de Identidade Corporativa: Do Signo Ao CódigoVaniaNoch keine Bewertungen
- UX estratégico: Design aplicado a ecossistema de produtosVon EverandUX estratégico: Design aplicado a ecossistema de produtosNoch keine Bewertungen
- Gestao de Identidade Corporativa Do Signo Ao CodigDokument45 SeitenGestao de Identidade Corporativa Do Signo Ao CodigSaymon Costa100% (1)
- Vera LuciaDokument242 SeitenVera LuciaCacau Claudia Regina MartinsNoch keine Bewertungen
- Excelência no secretariado: a importância da profissão nos processos decisórios como assessorar e atingir resultados corporativos e pessoais com competência e qualidadeVon EverandExcelência no secretariado: a importância da profissão nos processos decisórios como assessorar e atingir resultados corporativos e pessoais com competência e qualidadeNoch keine Bewertungen
- 2014 Leitao Lelis Mealha MarcasdinamicasDokument16 Seiten2014 Leitao Lelis Mealha MarcasdinamicasRaquel MoraisNoch keine Bewertungen
- Comunicação Organizacional no Serviço Público: utilizando a cultura organizacional para superar as barreiras de comunicação internaVon EverandComunicação Organizacional no Serviço Público: utilizando a cultura organizacional para superar as barreiras de comunicação internaNoch keine Bewertungen
- Estrutura OrganizacionalDokument206 SeitenEstrutura OrganizacionalItamar RodriguezNoch keine Bewertungen
- Gerência de Projetos aplicada à Gestão do ConhecimentoVon EverandGerência de Projetos aplicada à Gestão do ConhecimentoNoch keine Bewertungen
- PREVIODokument9 SeitenPREVIOBruno CoelhoNoch keine Bewertungen
- A sociedade do conhecimento e suas tecnologias: estudos em Ciências Exatas e Engenharias: Volume 5Von EverandA sociedade do conhecimento e suas tecnologias: estudos em Ciências Exatas e Engenharias: Volume 5Noch keine Bewertungen
- Tese Doutoramento Final Publicação Out 2014Dokument380 SeitenTese Doutoramento Final Publicação Out 2014Jay CoelhoNoch keine Bewertungen
- Gestão estratégica de pessoas: Evolução, teoria e críticaVon EverandGestão estratégica de pessoas: Evolução, teoria e críticaBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Exemplo de Espinha de Peixe Aplicada2Dokument64 SeitenExemplo de Espinha de Peixe Aplicada2ewalquíriaNoch keine Bewertungen
- CH - Modelo de Competencias - Doris FonsecaDokument226 SeitenCH - Modelo de Competencias - Doris FonsecafabaumNoch keine Bewertungen
- Excelência no secretariado: a importância da profissão nos processos decisóriosVon EverandExcelência no secretariado: a importância da profissão nos processos decisóriosBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Pgde0153 TDokument247 SeitenPgde0153 TGabriel MachadoNoch keine Bewertungen
- Beatriz 2018Dokument14 SeitenBeatriz 2018Cicero Welligton Inacio Da SilvaNoch keine Bewertungen
- Organização Do Conhecimento Contributos para A Representação Dos Sistemas EleitoriaisDokument61 SeitenOrganização Do Conhecimento Contributos para A Representação Dos Sistemas EleitoriaisAntónio Figueiredo MarquesNoch keine Bewertungen
- Ativos Tangiveis e Intangiveis PDFDokument223 SeitenAtivos Tangiveis e Intangiveis PDFRosaliaGuedelhaNoch keine Bewertungen
- A Comunicacao Organizacional Como Fator Determinante PDFDokument165 SeitenA Comunicacao Organizacional Como Fator Determinante PDFFabiano XavierNoch keine Bewertungen
- DISSERTAÇÃODokument123 SeitenDISSERTAÇÃOCláudio JohnsonNoch keine Bewertungen
- Análise e Resolução de Problemas ProfissionaisDokument46 SeitenAnálise e Resolução de Problemas ProfissionaisMaria Clara MendesNoch keine Bewertungen
- DissertaoBarbara PDFDokument114 SeitenDissertaoBarbara PDFNelson DiClaudio AraújoNoch keine Bewertungen
- Livro Texto (Gestao de Carreira) Unidade 4Dokument28 SeitenLivro Texto (Gestao de Carreira) Unidade 4Silvia PereiraNoch keine Bewertungen
- 6 Edição - Jornal ProArquivosDokument3 Seiten6 Edição - Jornal ProArquivosJornalproarquivosNoch keine Bewertungen
- Dissertação Final de 30-11-2012Dokument115 SeitenDissertação Final de 30-11-2012Marcia TeixeiraNoch keine Bewertungen
- Design e Decoração de Espaços Corporativos 1Dokument40 SeitenDesign e Decoração de Espaços Corporativos 1Caroline SiqueiraNoch keine Bewertungen
- Bruno Crispim Dos Santos 2013Dokument49 SeitenBruno Crispim Dos Santos 2013Aline CastroNoch keine Bewertungen
- Paulo Estevão Lemos de OliveiraDokument124 SeitenPaulo Estevão Lemos de OliveirarafaelsgNoch keine Bewertungen
- Paulina MaputobDokument10 SeitenPaulina MaputobGeronimo Lobo Rocha SegurarNoch keine Bewertungen
- História e Fundamentos Do CooperativismoDokument152 SeitenHistória e Fundamentos Do Cooperativismodaiane taisNoch keine Bewertungen
- Ricardo Da Silva MelloDokument151 SeitenRicardo Da Silva MelloEdson GomezNoch keine Bewertungen
- A Gestão Do Conhecimento Estruturando Um Modelo de Gestão Estratégica para A Farmácia de Homeopatia e Manipulação Quintessência PDFDokument138 SeitenA Gestão Do Conhecimento Estruturando Um Modelo de Gestão Estratégica para A Farmácia de Homeopatia e Manipulação Quintessência PDFalanvieirag100% (1)
- Luiz Santiago - Comunicação Interna - EndomarketingDokument112 SeitenLuiz Santiago - Comunicação Interna - EndomarketingMarcos Antonio DiasNoch keine Bewertungen
- Livro-Texto (Gestao de Carreira) - Unidade-1Dokument32 SeitenLivro-Texto (Gestao de Carreira) - Unidade-1princesamadu25Noch keine Bewertungen
- Laura Devesa - 140327005 Ciências EmpresariaisDokument67 SeitenLaura Devesa - 140327005 Ciências EmpresariaisAyrk ZamiskeNoch keine Bewertungen
- TCC Franciela QueirozDokument158 SeitenTCC Franciela QueirozDe Leo ZucchNoch keine Bewertungen
- Livro Texto (Gestao de Carreira) Unidade 3Dokument34 SeitenLivro Texto (Gestao de Carreira) Unidade 3Silvia PereiraNoch keine Bewertungen
- Disser Ta CaoDokument307 SeitenDisser Ta CaobmanuelfsNoch keine Bewertungen
- Perceção Dos Produtos de Moda em Cortiça - Identificação de Eixos de Posicionamento de MarcasDokument96 SeitenPerceção Dos Produtos de Moda em Cortiça - Identificação de Eixos de Posicionamento de MarcasFrancisca RochaNoch keine Bewertungen
- DESAFIONC2019 Marcia2019revisadoDokument15 SeitenDESAFIONC2019 Marcia2019revisadomagnoNoch keine Bewertungen
- Traba. PauloDokument15 SeitenTraba. PauloMateus JoaquimNoch keine Bewertungen
- TCC - GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES UTILIZANDO AS MÍDIAS SOCIAIS - 1st PartDokument69 SeitenTCC - GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES UTILIZANDO AS MÍDIAS SOCIAIS - 1st PartThiago Arbulu100% (2)
- El Hadji - Ndour - MEIN - 2020Dokument85 SeitenEl Hadji - Ndour - MEIN - 2020Meryem El KandilNoch keine Bewertungen
- Guia Referencia MEG 21 Abril 16Dokument38 SeitenGuia Referencia MEG 21 Abril 16lailacristinaNoch keine Bewertungen
- Apostila - Comunicação EmpresarialDokument63 SeitenApostila - Comunicação EmpresarialTito SilvaNoch keine Bewertungen
- Estudo de Caso BrandingDokument135 SeitenEstudo de Caso BrandingRobertoNoch keine Bewertungen
- UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - Paulo Costa - m4388Dokument127 SeitenUNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - Paulo Costa - m4388Sandra PereiraNoch keine Bewertungen
- Gestão Do Capital HumanoDokument51 SeitenGestão Do Capital Humanochico_fenderNoch keine Bewertungen
- Cultura e Clima Organizacional: Educação DigitalDokument33 SeitenCultura e Clima Organizacional: Educação DigitalAnderson PassosNoch keine Bewertungen
- Tese Carla Ramos PDFDokument321 SeitenTese Carla Ramos PDFPedro MonteiroNoch keine Bewertungen
- Implantação Do CPFR em Varejo - Técnicas de Operação em Supply ChainDokument115 SeitenImplantação Do CPFR em Varejo - Técnicas de Operação em Supply ChainWagner BorgesNoch keine Bewertungen
- Comunicacao Com Lideres e Empregados - Bruno Carramenha e Viviane MansiDokument165 SeitenComunicacao Com Lideres e Empregados - Bruno Carramenha e Viviane MansiLuciana Koike100% (1)
- Tese Soraia Oliveira V2Dokument149 SeitenTese Soraia Oliveira V2Mariana BragaNoch keine Bewertungen
- Modulo IIDokument52 SeitenModulo II•Luna •Noch keine Bewertungen
- Beatriz Isabel Ribeiro TeixeiraDokument57 SeitenBeatriz Isabel Ribeiro Teixeiravascobanze.acNoch keine Bewertungen
- História Da TipografiaDokument34 SeitenHistória Da TipografiaJackie CastroNoch keine Bewertungen
- Briefing TCCDokument16 SeitenBriefing TCCJackie CastroNoch keine Bewertungen
- Wucius WongDokument4 SeitenWucius WongJackie CastroNoch keine Bewertungen
- Meu Projeto - IdealizadorDokument278 SeitenMeu Projeto - IdealizadorJackie CastroNoch keine Bewertungen
- HIRATA Novas Configurações Da Divisao Sexual Do Trabalho 2010Dokument7 SeitenHIRATA Novas Configurações Da Divisao Sexual Do Trabalho 2010LucMorNoch keine Bewertungen
- RODRIGUES. O Sindicalismo Corporativo No Brasil PDFDokument15 SeitenRODRIGUES. O Sindicalismo Corporativo No Brasil PDFAndre JorgettoNoch keine Bewertungen
- Encoder SDokument32 SeitenEncoder Sjcunha.utbrNoch keine Bewertungen
- Atividade de Pesquisa LadderDokument7 SeitenAtividade de Pesquisa LadderAlan ZinhoNoch keine Bewertungen
- Catalogo Kitcia ClientesDokument160 SeitenCatalogo Kitcia ClientesRodrigo MedeirosNoch keine Bewertungen
- JFL Download Interfonia Manual Pec 13tDokument16 SeitenJFL Download Interfonia Manual Pec 13tAndré AraújoNoch keine Bewertungen
- Resultado Final BrigadistasDokument3 SeitenResultado Final BrigadistasJornal de BrasíliaNoch keine Bewertungen
- 04d Process Map TRADDokument17 Seiten04d Process Map TRADMARCOSNoch keine Bewertungen
- Apresentação Analise de BalançoDokument14 SeitenApresentação Analise de Balançoalef santosNoch keine Bewertungen
- TCC - Aline Santos ProcópioDokument61 SeitenTCC - Aline Santos ProcópioAline GonçalvesNoch keine Bewertungen
- 25 Questões de Regência PDFDokument4 Seiten25 Questões de Regência PDFMiliany QueirozNoch keine Bewertungen
- Altar para MammonDokument34 SeitenAltar para MammonElton JjitsuNoch keine Bewertungen
- TREINAMENTO FUNCIONAL Modelo de ProjetoDokument5 SeitenTREINAMENTO FUNCIONAL Modelo de ProjetoSandro CorreaNoch keine Bewertungen
- Morteiro Pesado 120 MMDokument5 SeitenMorteiro Pesado 120 MMangelo micaelNoch keine Bewertungen
- Atividade 4 - Programação e Cálculo Numérico - 51-2023Dokument3 SeitenAtividade 4 - Programação e Cálculo Numérico - 51-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaNoch keine Bewertungen
- 02 - Catálogo Sist Ret Modular TiristorizadoDokument2 Seiten02 - Catálogo Sist Ret Modular TiristorizadoWander AndradeNoch keine Bewertungen
- ARTIGO 4-Avaliação Da Interação Estudantetecnologia Educacional Digital em Enfermagem NeonatalDokument9 SeitenARTIGO 4-Avaliação Da Interação Estudantetecnologia Educacional Digital em Enfermagem NeonatalGlauber CavalcanteNoch keine Bewertungen
- NT 2016 002 v1.42 PDFDokument60 SeitenNT 2016 002 v1.42 PDFeduardo971Noch keine Bewertungen
- A4 Manual de Montagem Mesa Aries 1 80 - 2Dokument2 SeitenA4 Manual de Montagem Mesa Aries 1 80 - 2Lucas Coelho PereiraNoch keine Bewertungen
- Ficha Tcnica - GolfDokument9 SeitenFicha Tcnica - GolfMiguel FerrazNoch keine Bewertungen
- Treinamento OTIS - Módulo IIIDokument38 SeitenTreinamento OTIS - Módulo IIICAIO LARA100% (1)
- Monografia Sacundinbenblog Versão Final (Marcel Cruz)Dokument66 SeitenMonografia Sacundinbenblog Versão Final (Marcel Cruz)Marcel CruzNoch keine Bewertungen
- Tuning AutomotivoDokument149 SeitenTuning AutomotivomarcosNoch keine Bewertungen
- Material Audiovisual - Aula 3Dokument9 SeitenMaterial Audiovisual - Aula 3Rafael Diego Ogrodnik BuchholzNoch keine Bewertungen
- Relatório de Gestão Exercício 2016 - 06 Ambiente Urbano e MobilidadeDokument139 SeitenRelatório de Gestão Exercício 2016 - 06 Ambiente Urbano e MobilidadeJoão DantasNoch keine Bewertungen
- 04 Atualidades Do Mercado FinanceiroDokument20 Seiten04 Atualidades Do Mercado FinanceiroAntônia BezerraNoch keine Bewertungen
- Modelagem ExercicioDokument2 SeitenModelagem ExercicioLIZANDRA REGINA DINIZNoch keine Bewertungen
- Iso 14031Dokument24 SeitenIso 14031Guilherme Graciosa PereiraNoch keine Bewertungen
- Escola de Engenharias - Uezo: Engenharia de ProduçãoDokument10 SeitenEscola de Engenharias - Uezo: Engenharia de ProduçãoArthur OliveiraNoch keine Bewertungen
- Avaliação Final Do Módulo EmpreendedorismoDokument2 SeitenAvaliação Final Do Módulo EmpreendedorismoSamantha Silvaa100% (1)
- 18 Maneiras de ser uma pessoa mais confianteVon Everand18 Maneiras de ser uma pessoa mais confianteBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (140)
- Como Definir Objetivos com Kaizen & Ikigai: Foque, Cure a Procrastinação & Aumente sua Produtividade Pessoal (Alcance o Sucesso com Disciplina e Bons Hábitos)Von EverandComo Definir Objetivos com Kaizen & Ikigai: Foque, Cure a Procrastinação & Aumente sua Produtividade Pessoal (Alcance o Sucesso com Disciplina e Bons Hábitos)Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (18)
- Propósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAIVon EverandPropósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAIBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (4)
- Comunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasVon EverandComunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- O psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilVon EverandO psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilNoch keine Bewertungen
- Elaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoVon EverandElaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoNoch keine Bewertungen
- Pare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosVon EverandPare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (58)
- Focar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoVon EverandFocar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (53)
- Técnicas De Terapia Cognitivo-comportamental (tcc)Von EverandTécnicas De Terapia Cognitivo-comportamental (tcc)Noch keine Bewertungen
- O Poder da Autodisciplina. Torne-se uma Pessoa Produtiva e Bem-Sucedida Mudando Seus HábitosVon EverandO Poder da Autodisciplina. Torne-se uma Pessoa Produtiva e Bem-Sucedida Mudando Seus HábitosBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (12)
- Psicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoVon EverandPsicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (93)
- O Poder da Mente: A chave para o desenvolvimento das potencialidades do ser humanoVon EverandO Poder da Mente: A chave para o desenvolvimento das potencialidades do ser humanoBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (72)
- E-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadeVon EverandE-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadeBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)
- Encontre seu propósito: Como traçar um caminho em direção às suas paixões, fortalezas e autodescobertaVon EverandEncontre seu propósito: Como traçar um caminho em direção às suas paixões, fortalezas e autodescobertaBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (10)
- Como Analisar as Pessoas. Linguagem CorporalVon EverandComo Analisar as Pessoas. Linguagem CorporalBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (4)
- Técnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoVon EverandTécnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)
- São Cipriano - O Livro Da Capa De AçoVon EverandSão Cipriano - O Livro Da Capa De AçoBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (3)
- O Segredo do Carisma: Ser carismático não é tão difícil quanto pareceVon EverandO Segredo do Carisma: Ser carismático não é tão difícil quanto pareceBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (29)
- Intervenções Psicológicas para Promoção de Desenvolvimento e Saúde na Infância e AdolescênciaVon EverandIntervenções Psicológicas para Promoção de Desenvolvimento e Saúde na Infância e AdolescênciaBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoVon Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (49)
- 35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirVon Everand35 Técnicas e Curiosidades Mentais: Porque a mente também deve evoluirBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)
- Treinamento cerebral: Como funcionam a inteligência e o pensamento cognitivo (2 em 1)Von EverandTreinamento cerebral: Como funcionam a inteligência e o pensamento cognitivo (2 em 1)Bewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (29)