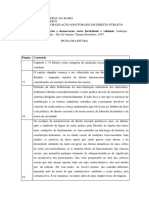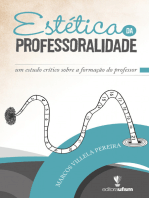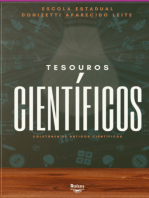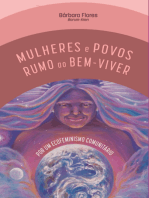Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Razão e Emoção em Kant - Final
Hochgeladen von
Murilo Spricigo GeremiasOriginalbeschreibung:
Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Razão e Emoção em Kant - Final
Hochgeladen von
Murilo Spricigo GeremiasCopyright:
Verfügbare Formate
Coleo Dissertatio de Filosofia
Pelotas, 2012
Obra publicada pela Universidade Federal de Pelotas
Reitor: Prof. Dr. Antonio Cesar Gonalves Borges
Vice-Reitor: Prof. Dr. Manoel Luiz Brenner de Moraes
Pr-Reitor de Extenso e Cultura: Prof. Dr. Luiz Ernani Gonalves vila
Pr-Reitora de Graduao: Prof. Dra.Eliana Pvoas Brito
Pr-Reitor de Pesquisa e Ps-Graduao: Prof. Dr. Manoel de Souza Maia
Pr-Reitor Administrativo: Prof. Ms. lio Paulo Zonta
Pr-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento: Tnia Marisa Rocha Bachilli
Pr-Reitor de Recursos Humanos: Admin. Roberta Trierweiler
Pr-Reitor de Infra-Estrutura: Mario Renato Cardoso Amaral
Pr-Reitora de Assistncia Estudantil: Assistente Social Carmen de Ftima de Mattos do Nascimento
CONSELHO EDITORIAL
Profa. Dra. Carla Rodrigues Prof. Dr. Carlos Eduardo Wayne Nogueira
Profa. Dra. Cristina Maria Rosa Prof. Dr. Jos Estevan Gaya
Profa. Dra. Flavia Fontana Fernandes Prof. Dr. Luiz Alberto Brettas
Profa. Dra. Francisca Ferreira Michelon Prof. Dr. Vitor Hugo Borba Manzke
Profa. Dra. Luciane Prado Kantorski Prof. Dr. Volmar Geraldo da Silva Nunes
Profa. Dra. Vera Lucia Bobrowsky Prof. Dr. William Silva Barros
Editora e Grfica Universitria
R Lobo da Costa, 447 Pelotas, RS CEP 96010-150
Fone/fax: (53) 3227 8411
e-mail: editora@ufpel.edu.br
Diretor da Editora e Grfica Universitria: Carlos Gilberto Costa da Silva
Gerncia Operacional:Joo Henrique Bordin
Impresso no Brasil
Edio: 2012
ISBN: 978-85-7192-880-0
Tiragem: 300 exemplares
Dados de Catalogao na Publicao (CIP) Internacional
Aline Herbstrith Batista CRB 10/ 1737 | Biblioteca Campus Porto UFPel
_____________________________________________________________________________________
B732r Borges, Maria de Lourdes
Razo e emoo em Kant / Maria de Lourdes Borges. -
Pelotas: Editora e Grfica Universitria, 2012.
184 p.
1. Filosofia. 2. Kant. 3. Razo. 4. Emoo. I. Ttulo.
CDD: 193
_____________________________________________________________________________________
This is the very ecstasy of love,
Whose violent properties fordoes itself
And leads the will to desperate undertakings
As oft as any passion under heaven
That does afflict our natures
Hamlet, Shakespeare
You gave me these emotions.
You did not tell me how to use it
Frankstein
Para Zeca Pires,
por me ter ensinado que a razo
pode muito pouco frente s paixoes
SUMRIO
I. A OBTENO E VALIDAO DO PRINCPIO MORAL....15
I.1. A lei moral implcita no senso comum......................................................................15
I.2. A obteno analtica da lei moral a partir de um conceito...................................20
I.3. A validade para ns..........................................................................................................24
I.4.Tese da reciprocidade:......................................................................................................26
I.5. Um fato auto-evidente da moralidade.......................................................................29
I.6. Dever implica poder?......................................................................................................34
II. TEORIA DA AO EM KANT..................................................37
II.1. Espontaneidade, liberdade prtica e liberdade transcendental.........................37
II.2. Mbeis, motivos e tese da incorporao.................................................................41
II.2.1. Das Lies de Metafsica Religio: uma anlise do
desenvolvimento de conceitos .....................................................41
II.2.2. Tese da incorporao e fraqueza da vontade: .................45
II.3. Mximas............................................................................................................................51
II.3.1. Mximas, intenes e regras de vida ................................53
II.3.2 Contradio na universalizao das mximas ..................60
III. PSICOLOGIA EMPRICA, ANTROPOLOGIA E
METAFSICA DOS COSTUMES EM KANT................................69
III.1. A psicologia emprica numa teoria moral a priori...............................................69
III.2. Lies sobre Metafsica: o refgio provisrio da psicologia emprica..........72
III.3. Fundamentao: separao radical entre antropologia prtica e metafsica
moral............................................................................................................................................75
III.4. Metafsica dos Costumes: princpios de aplicao..............................................77
III.5. A noo de Antropologia pragmtica....................................................................78
III.6. A parte impura da tica...............................................................................................80
III.7. tica impura, razo e emoo...................................................................................85
IV. SIMPATIA E MBEIS MORAIS ..............................................93
IV.1. A presena da simpatia e valor moral de uma ao...........................................94
V. SIMPATIA E OUTRAS FORMAS DE AMOR........................105
5.1. Simpatia, humanitas esttica e humanitas prtica..................................................... 105
V.2.Um ponto de inflexo sentimentalista?.................................................................. 115
V.3.Desejo, afeto e paixo: as modalidades antropolgicas da amor................... 120
V.4. Concluso....................................................................................................................... 124
VI. A ESTETIZAO DA MORALIDADE.................................125
VI.1. O belo como smbolo do bom............................................................................. 125
VI.2. As condies estticas necessrias da moralidade na Metafsica dos
Costumes...................................................................................................... 131
VI.3. A ligao antropolgica entre o prazer esttico e o prazer moral............... 134
VI. 4. Concluso.................................................................................................................... 137
VII. AS EMOES NO MAPA KANTIANO DA ALMA...........139
VII.1. O modelo da dor...................................................................................................... 142
VII.2. Uma taxonomia das emoes.............................................................................. 145
VII.3. As emoes no mapa da alma............................................................................. 147
VIII. FISIOLOGIA E CONTROLE DOS AFETOS....................156
VIII.1. As estratgias de controle das emoes......................................................... 156
VIII.2. Animismo e mecanicismo na medicina do sculo XVIII......................... 160
VIII.3. Concluso................................................................................................................. 170
GUISA DE CONCLUSO...........................................................173
A virtude como conciliao possvel entre razo e (fortes) emoes .................. 173
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS............................................177
Obras de Kant: ...................................................................................................................... 177
Outras edies: ...................................................................................................................... 177
Tradues utilizadas:............................................................................................................ 178
Outras obras:.......................................................................................................................... 178
INTRODUO
Este trabalho um produto de discusses que travei com
vrias pessoas desde 1999. A ideia do livro comeou durante minha
estadia como Visiting Scholar na University of Penssylvania, durante o
ano de 1999. A possibilidade que tive de discutir Kant com Paul
Guyer e seu grupo foi de grande valor para mim. Gostaria de
agradecer a ele e a seus ex-alunos Julian Wuerth, Lucas Thorpe,
Cinthia Schossberger e James Trainor. Ao voltar ao Brasil, discuti
em vrias instncias esses textos com colegas brasileiros. Cabe
mencionar aqui o esforo do Prof. Valrio Rohden na conduo da
Sociedade Kant Brasileira e do Prof. Zeljko Loparic pela realizao
de vrios Colquios da Seo Campinas da Sociedade Kant, nos
quais participaram, entre outros, Ricardo Terra, Guido de Almeida,
Jos Heck, Marcos Mller, aos quais gostaria de expressar meus
agradecimentos pelos comentrios e crticas ao meu trabalho. A
partir do ano 2000, reunimos vrios kantianos em discusses no GT
Kant da ANPOF. Nestes encontros, contei com a discusso de
vrios colegas, cuja colaborao foi essencial para o meu trabalho:
Jlio Esteves, Juan Bonacinni, Vera Bueno, Vincius Figueiredo,
Christian Hamm, Virgnia Figueiredo, Pedro Rego e Cllia Martins.
A eles meu agradecimento.
Nestes anos, a partir da apresentao do meu trabalho em
congressos internacionais, contei tambm com o valioso comentrio
de Gary Hatfield, Patricia Kitcher, Paul Guyer, Robert Louden,
Rolf- Peter Horstmann e Jeniffer Mensch.
Agradeo aos meus orientandos e alunos pela contribuio
a vrias teses expostas aqui, principalmente a Caroline Marim, Berta
Sherer e Julia Aschermann, a meu colega e amigo Delamar Dutra,
por ter mantido comigo, durante 10 anos, entusiasmadas discusses
sobre Kant e a Darlei Dallagnol, por suas persistentes sugestes que
me ajudaram a solucionar alguns problemas kantianos.
O livro dividido em duas partes. Na primeira parte abordo
a fundamentao da filosofia prtica kantiana. Comeo analisando as
diversas estratgias de obteno e fundamentao do princpio da
moralidade. No captulo 2, apresento a teoria da ao de Kant e nos
Maria de Lourdes Borges
12
captulo 3 analiso a passagem de uma teoria prtica a priori para a
Metafsica dos Costumes e Antropologia Prtica.
Na segunda parte do livro, pretendo localizar as emoes
no sistema kantiano e investigar como elas se relacionam com a
parte pura desta. No captulo 4, analiso alguns sentimentos e seu
papel na moralidade, dando nfase simpatia e outras formas de
amor, principalmente o amor e paixo e o amor afeto. No captulo
5, investigo o papel que sentimentos tais como simpatia podem
cumprir como mbil moral, analisando a pertinncia da crtica de
insensibilidade filosofia kantiana. No captulo 6, ser tematizada
uma outra funo dos sentimentos, enquanto condies estticas
para a recepo do dever. No captulo 7, apresento um modelo para
as emoes em Kant. No captulo 8, discutirei a possibilidade de
controle destes. Na concluso, aponto para uma forma de conciliar
razo e emoes em Kant atravs da virtude.
PRIMEIRA PARTE: RAZO
I. A OBTENO E VALIDAO DO PRINCPIO MORAL
I.1. A lei moral implcita no senso comum
As estratgias da obteno da lei moral so mltiplas na obra
kantiana. Por um lado, temos uma dupla estratgia, analtica e
sinttica, na Fundamentao e uma outra via de prova na Crtica da
Razo Prtica. A estratgia da Fundamentao composta de trs
momentos, correspondendo cada um a uma seco da obra. Na
seco I, temos uma apresentao da lei como aquela que subjaz s
nossas diferenas morais comuns; na GII, h uma obteno da
moralidade a partir da concepo de ser racional e, por fim, em GIII,
temos uma tentativa de deduo da lei moral, a partir da liberdade, o
que significa uma prova da validade da lei moral para seres sensveis
racionais. A estratgia da Crtica da Razo Prtica inverte o sentido da
prova, partindo de um fato auto-evidente da moralidade, para da
obter a liberdade.
Comecemos pela Fundamentao. Em GI, a partir do
entendimento moral comum, Kant mostra que o Imperativo
Categrico subjaz moralidade ordinria. mostrado ao homem
comum que distines como agir por dever e conforme ao dever so
facilmente acessveis compreenso comum e que o vulgo
concordar que h mais valor moral na ao por dever do que na
conforme o dever. Independentemente da dificuldade do acesso s
intenes alheias e mesmo s suas prprias, o homem comum pode
reconhecer o maior valor daquele merceeiro que no eleva os preos
sem outra inteno seno o respeito pela moralidade, naquele que no
se suicida, mesmo que no tenha mais amor vida e mesmo do
filantropo que, insensvel, realiza uma ao benevolente.
A apresentao da primeira verso do imperativo categrico
segue a mesma estratgia. Ao dar o exemplo daquele cuja mxima
consiste em fazer uma falsa promessa toda vez que estiver em apuros,
nos oferecido uma forma de averiguao da mxima: S agir se
puder tambm querer que minha mxima deva tornar-se uma lei
Maria de Lourdes Borges
16
universal (G, 4: 402)
1
, a qual doravante denominaremos de FLU
(frmula da lei universal).
A apresentao do imperativo categrico na primeira seo
seguiria o estilo retrico do convencimento, por parte do filsofo, de
que o IC no estranho s nossas intuies morais ordinrias, mas
subjaz aos nossos julgamentos. Isso no significa que usemos esta
frmula cada vez que indagamos sobre o carter moral ou no de
uma ao, mas que, ao ser apresentada em forma de Imperativo
Categrico, ns a reconheceramos como um fundamento, ainda que
no explicito em cada julgamento, de nossas distines morais
comuns. Paul Guyer, no artigo Self-understanding and Philosophy,
chama a ateno para esta estratgia da Fundamentao como uma
estratgia de auto- conhecimento de nossas distines morais.
Segundo este autor, o alvo principal das primeiras sees seria o
utilitarismo, segundo o qual a fonte das distines e motivao moral
seria a felicidade. A estratgia de autoconhecimento seria levada a
cabo, na primeira seo da Fundamentao, onde Kant defende que
uma genuna, mesmo que no total, compreenso do princpio
fundamental da moralidade refletida na nossa compreenso comum
de boa vontade e dever e nos juzos morais que fazemos sobre casos
particulares da ao humana
2
.
O que Kant pretende mostrar que estas distines do valor
moral como distines de mbeis morais no so invenes do
filsofo, nem tampouco contra-intuitivas, mas so distines que o
senso moral comum admite como verdadeiras. O apelo ao senso
moral comum e forma do imperativo que o permeia claro nas
palavras de Kant: Ento aqui chegamos, dentro do conhecimento
moral da razo humana comum, ao seu princpio, o qual
assumidamente no pensa de forma to abstrata na sua forma
universal, mas o qual ela realmente sempre tem frente a si e a usa
como norma de seus julgamentos. (G, 4: 404). Nesta passagem,
Kant ressalta que a razo comum no pensa de forma to abstrata
cada vez que age, ou seja, no necessrio formularmos o princpio
em cada situao moralmente relevante para admitirmos a validade
1
Utilizarei as seguintes abreviaturas indicadas no incio do livro. Os nmeros seguem o
tomo e a paginao da edio da Academia, com exceo da Crtica da Razo Pura, a qual
ser citada conforme as edies A e B.
2
Studia Kantiana, 1 (1998): 242.
Razo e emoo em Kant
17
do princpio. Neste sentido, as objees levantadas por vrios
crticos, de que a filosofia kantiana exige que se pense muito antes de
agir, referem-se, mais a uma caricatura de Kant, do que ao que
indicado claramente por Kant. A validade do princpio no implica
que este seja formulado por cada agente no momento de sua ao,
mas que seja reconhecido por este como regra de avaliao de
mximas morais.
Ora, a fim de provar que o fundamento do valor e distines
morais reside no imperativo categrico, aqui Kant parece usar o
mesmo mtodo do seu adversrio, qual seja o empirista, o qual vai
apelar para as distines morais comuns para provar que o princpio
da utilidade fonte de valor. No Enquiry Concerning the Principles of
Morals (1751), Hume tenta localizar o erro da teorias morais que no
admitem o princpio da utilidade no equvoco de rejeitar um princpio
confirmado pela experincia, apenas pela dificuldade de encontrar
para ele uma origem terica ou relacion-lo com outros princpios
tericos mais abrangentes. Ou seja, Hume acusa os outros filsofos
de rejeitar aquilo para o qual no podem oferecer alguma deduo
terica, quando esses princpios podem ser facilmente constatados na
experincia. Visto que este era um debate da poca, Kant contesta
Hume com suas prprias armas. Ainda que procurando uma
fundamentao para a moral no baseada na experincia, Kant parece
indicar que, mesmo que tomasse o caminho empirista, no
encontraria na experincia que as fontes das distines morais
concordam com a teoria humeana. Ou seja, a utilidade no o que as
pessoas comumente evocam para distinguir uma ao moral da no -
moral, mas o motivo da ao considerado to mais moral quanto
mais desligado de motivaes sensveis ou consideraes de
utilidade
3
.
Qual o argumento utilizado por Kant na GI? Como vimos,
ele parte da moralidade ordinria, ou seja, do senso comum moral.
3
Se no claro que Kant leu o Enquiry of Principles of Morals, provvel que Kant tenha
lido Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, o qual foi traduzido para o alemo em
1770. Isto nos indicado tambm por uma carta de Markus Hertz, de 1771, no qual se
refere a Smith como o favorito de Kant. Realmente Smith critica o princpio da
utilidade, referindo-se diretamente ao Enquiry, afirmando que parece impossvel que a
aprovao da virtude deva ser um sentimento do mesmo tipo pela qual aprovamos uma
edificao. Porque assim ns teramos a mesma razo para louvar um homem que
teramos para elogiar uma cmoda. Smith, The Theory of Moral Sentiments, p. 188.
Maria de Lourdes Borges
18
Este senso comum moral expresso atravs do valor incondicional
que dado boa vontade. O argumento
4
tem ento como primeira
premissa a seguinte proposio:
1) Uma boa vontade possui valor absoluto (G, 4: 393).
A primeira seo comea com esta afirmao, Kant a toma
como parte do nosso conhecimento racional ordinrio e comum da
moralidade. Esta proposio seria aceita por qualquer ser racional
quando esta for apresentada a ele. Mas o que boa vontade?
exatamente esta resposta que queremos dar com a primeira seo. A
boa vontade um conceito pr-analtico, vago e indefinido, cabendo
primeira seo a elucidao deste conceito. Kant apenas afirma que
ela tem valor absoluto. O que valor absoluto? Aquele valor que
supera qualquer outro tipo de valor. Ora, o valor absoluto relativo
ao humana e a moralidade o valor moral.
Se algo bom apenas segundo seu efeito, ele bom como
um meio, ou seja, apenas num sentido derivado. A boa vontade no
boa neste sentido de meio para algo, mas boa em si. Logo, uma
vontade boa no boa segundo o seu efeito ou quilo que ela realiza.
(G, 4:394). Temos ento a segunda proposio de nossa exposio:
2) Uma ao humana moralmente boa se e apenas se ela for
feita por dever (G: 397-399)
5
Vejamos em detalhe como esta proposio (2) segue da
proposio (1). Como obtemos (2) Uma ao humana moralmente boa se
e apenas se ela for feita por dever de (1) boa vontade possui valor absoluto?
Inicialmente, substitumos o valor absoluto por valor moral. Logo,
teremos (1
a
) a boa vontade possui valor moral. Temos um
deslocamento entre o valor da boa vontade para o valor das aes
que so expresses desta vontade, ou seja, so feitas por dever. Ns
tomaremos o conceito do dever, o qual inclui o de boa vontade. Ou
seja, quando ns temos uma ao por dever, ns temos uma ao que
a expresso da boa vontade. Ento, temos (1
b
) s uma ao por
dever possui valor moral. A proposio (2) segue da proposio (1),
visto que a ao por dever inclui a vontade boa e s esta possui valor
intrnseco, ou sela, valor moral. Chegamos ento ao que
4
Sobre a reconstruo do argumento da Fundamentao I, ver Potter, N. , in: Guyer,
Kants Groundwork of the Metaphysics of Morals, pp29-50.
5
Esta seria a primeira das trs proposies das quais Kant se refere no texto, ainda que
no esteja explcita.
Razo e emoo em Kant
19
denominamos de proposio 2) Uma ao humana moralmente boa se e
apenas se ela for feita por dever
A ao por dever no tem seu valor no efeito da ao, logo,
ela deve ser julgada segundo sua mxima. Desta forma, obtemos a
seguinte proposio
3) Agir por dever agir, no conforme o propsito a ser obtido pela
nossa ao, mas relativo apenas mxima de acordo com a qual nossa ao
decidida.(G, 4: 399)
Sendo que a vontade deve ser determinada por algo, ela
dever ser determinada pelo princpio formal da vontade. Toda ao
que tem como propsito satisfazer algum desejo uma ao boa
apenas como meio para outros fins. Logo, uma ao moralmente boa
no uma ao que visa a satisfao de um desejo, mas foi
determinada a agir por algo outro. O que poderia determinar a
vontade a agir que no seja uma inclinao? Um princpio de algum
tipo. Temos dois tipos de princpios: a priori e a posteriori. Um
princpio a priori formal, um princpio a posteriori material. Visto
que o princpio material no um bom candidato determinao da
vontade moral, resta-nos o primeiro. Ento, uma vontade boa, que
explicitada numa ao moral, deve ser aquela cuja determinao
dada, no por um desejo, nem por um princpio material, mas por um
princpio a priori, ou seja, formal.
O princpio subjetivo de uma vontade chama-se mxima,
enquanto princpios prticos objetivos so denominados de leis
prticas, ou seja, so vlidos para todo ser racional. O valor moral de
uma ao uma qualidade de sua mxima, qual seja, ela deve ser
adotada, no em funo de seu contedo, mas de sua forma. Logo,
4) O princpio formal do querer, o princpio da adoo de mximas em
virtude de sua forma, simplesmente a exigncia de que minha ao esteja
conforme lei universal como tal.
Uma vontade boa deve ser determinada por um princpio
formal, e no material. Logo, a lei moral deve ser aquela que expressa
este princpio formal. Este princpio formal deve ser vlido para todo ser
racional, no apenas para uma vontade subjetiva. Ento,
5) A lei moral obriga que eu sempre aja de tal forma que eu possa
querer que a minha mxima torne-se uma lei universal.
Visto que agir por dever agir segundo a lei moral, temos:
Maria de Lourdes Borges
20
6) Agir por dever agir apenas segundo a mxima que possa ser ao
mesmo tempo desejada como lei universal.
Se ns voltssemos concepo de boa vontade, veremos
que a boa vontade uma vontade que sempre age apenas segundo
uma mxima que possa ser, ao mesmo tempo, desejada como uma lei
universal. Este, ento, o argumento da primeira seo da
Fundamentao. A partir da concepo pr-analtica de boa vontade,
extramos a concepo de lei moral como aquela que deve ser seguida
por uma vontade que possui valor absoluto e, por isso, guia-se por
um princpio formal e a priori, com validade universal.
I.2. A obteno analtica da lei moral a partir de um
conceito
A segunda seo inicia com o seguinte comentrio: Se ns,
at agora, retiramos nosso conceito de dever do uso comum da razo
prtica, no significa que o tratamos como um conceito da
experincia (G, 4: 406). Kant prope, ento, que a frmula do IC
seja obtida analiticamente do conceito de ser racional: visto que leis
morais devem valer para todo ser racional, elas devem poder ser
derivadas do conceito universal de um ser racional em geral (G, 4:
412).Visto que no podemos retir-la da experincia, trata-se de
mostrar como o Imperativo Categrico pode ser extrado do conceito
de ser racional. Se na primeira seco da Fundamentao, Kant mostra
como o IC obtido a partir da noo de boa vontade, a GII mostrar
como este pode ser obtido a partir do conceito de ser racional.
Apenas na terceira seo ser mostrado que o IC vlido para seres
racionais sensveis, ou seja, teremos uma prova da validade do IC
para ns. A prova de um possvel uso sinttico da razo prtica pura
deixada a GIII (4: 445), onde deve ser provado que ns somos uma
instanciao do conceito de ser racional e que o imperativo categrico
vlido para ns.
O objetivo da segunda sesso apenas mostrar que o
imperativo categrico possvel e apresentar suas vrias formulaes.
A primeira formulao (I)
6
, obtida na primeira seo da Fundamentao
ser denominada de frmula da lei universal (FLU) e foi expressa
6
A classificao das frmulas do Imperativo Categrico foi feita inicialmente por H. J.
Paton (The Categorical Imperative), e seguida pela maioria dos comentadores.
Razo e emoo em Kant
21
acima; trata-se de um procedimento para determinar se uma
determinada mxima pode ser desejada, pelo agente, como vlida, no
somente para sua vontade, mas igualmente para a vontade de todo ser
racional. Esta formulao foi obtida a partir do conhecimento moral
comum. Ainda que no usemos essa frmula a todo momento para
julgar o que correto ou no, a reconhecemos como aquela que
subjaz nossa concepo comum de moralidade.
Na segunda seo, Kant obtm a frmula da lei da natureza
(FLN): Age de forma que a mxima de sua ao possa ser tomada
como lei universal da natureza. (G, 4:421). Essa frmula foi
identificada, pelos comentadores, como a segunda verso da primeira
formulao do imperativo categrico (Ia).
O Imperativo Categrico no foi, at aqui, formulado com
base na finalidade que determina uma vontade racional. o que Kant
far na segunda formulao do imperativo categrico (II), conhecida
como frmula da humanidade como fim em si mesma (FH): Aja de
forma a usar a humanidade, na sua pessoa ou na pessoa de outrem,
ao mesmo tempo como fim, nunca somente como meio. (G, 4:429).
A segunda frmula no se apresenta como um critrio de
discriminao de mximas facilmente aplicvel. Visto que a primeira
formulao visa exatamente tal aplicao, a frmula pretende dar um
contedo motivao da vontade racional.
A terceira frmula do imperativo categrico (III), por sua
vez, foi obtida a partir da concepo da vontade de um ser racional
enquanto uma vontade legisladora universal. A vontade autnoma,
aquela que se d suas prprias leis, considerada como o nico
fundamento possvel da obrigao moral. O reconhecimento dessa
vontade auto-legisladora est expressa na frmula da autonomia (FA):
Age de forma que sua vontade possa ver-se a si mesmo como
fornecendo a lei universal atravs de todas as suas mximas(G,
4:434) Essa terceira frmula tem ainda uma variao (IIIa), na qual a
vontade autnoma pensada como a vontade legisladora de um reino
dos fins, ou seja, de uma comunidade ideal de seres racionais Aja de
acordo com mximas de um membro legislador de leis universais
para um possvel reino dos fins.
Kant insiste em vrios momentos da segunda sesso que, dado
um determinado conceito de ser racional, poder-se-ia obter a lei moral
analiticamente. Tal afirmado inclusive ao trmino desta seo:
Maria de Lourdes Borges
22
Como tal proposio sinttica possvel a priori e
porque necessria um problema cuja soluo no
reside nos limites de uma metafsica dos costumes, e ns
no afirmamos aqui sua verdade, muito menos
pretendemos ter uma prova dela em nosso poder (....)
Esta seco, como a primeira, foi meramente analtica
(G, 4: 445)
Contudo, em algumas passagens ele parece admitir que a
conexo entre o imperativo categrico e a vontade de um ser racional
sinttica e no analtica. Ao mesmo tempo que afirma ser possvel
obter o IC do conceito de um ser racional, ele admite que esta uma
proposio prtica sinttica a priori (4: 420). Para explicar o que isto
significa, ele afirma, em nota, que ela no deriva o querer de uma ao
de nenhum outro querer anterior, mas a conecta imediatamente com
o conceito de uma vontade de um ser racional, como algo que no
est contido a:
Conecto o ato com a vontade sem pressupor qualquer
inclinao como condio, e fao isso a priori, por
conseguinte de maneira necessria (...). Tal portanto
uma proposio prtica que no deriva analiticamente o
querer de uma ao a partir de um outro j pressuposto
(pois no temos uma vontade to perfeita), mas, sim, a
conecta com o conceito da vontade como vontade de um
ser racional, e o faz imediatamente, como algo que no
est contido nele. (G, 4: 420 n)
Nesta nota, Kant apresenta a conexo entre imperativo
categrico e vontade de um ser racional como sinttica, pois
acrescenta algo a esta que a no estava contido.
Uma das explicaes interessantes para esta ambigidade dada
por Paul Guyer, o qual compreende que a conexo da qual Kant nos fala
nesta nota expressa por uma proposio sinttica diferente daquela que
ser demonstrada em GIII, qual seja, que o IC vlido para ns, seres
racionais sensveis. Para explicar esta conexo sinttica a priori entre o
conceito de um ser racional em geral e o imperativo categrico, Guyer faz
uma analogia das vrias frmulas do IC com a distino entre possibilidade
Razo e emoo em Kant
23
lgica e possibilidade real na filosofia terica de Kant7. Segundo Kant, a
satisfao da condio de no-contradio de um conceito apenas uma
das condies necessrias para afirmar que ele representa um objeto
possvel. A fim de determinar a real possibilidade de um objeto
representado por um conceito, este deve ser concebido conforme as
categorias do entendimento, assim como segundo as formas da intuio. A
no contradio de um conceito no , portanto, suficiente para provar a
realidade objetiva de um conceito, ou seja, a possibilidade do objeto tal
como pensado pelo conceito (KrV, B 267-68). A analogia que Guyer
prope que o IC, enquanto FLU, uma restrio formal da razo prtica,
tal como a restrio da no-contradio o na razo terica. As outras
formulaes do IC do as condies que tambm so necessrias para
tornar inteligvel como a adoo da FLU pode ser possvel de duas formas
diferentes. Assim como a condio de no contradio lgica uma
condio necessria, mas no suficiente, para a prova da realidade objetiva
de um conceito, a FLU uma condio necessria, mas no suficiente,
para a determinao do imperativo categrico.
A prova da possibilidade do imperativo categrico para seres
racionais teria duas etapas: primeiro, qualquer ao de um ser racional
deve ter, no somente uma forma, como tambm uma finalidade ou
objeto, alm de um mbil ou motivo. A finalidade seria dada pela
frmula da Humanidade, o motivo, pela frmula da Autonomia.
Como seria resolvida, dentro desta apresentao, a ambigidade
da viso kantiana sobre o carter sinttico ou analtico da conexo entre
vontade e imperativo categrico? A sugesto que a anlise do conceito
de ser racional revela a necessidade de uma finalidade e um motivo para
a ao conforme o princpio moral, mas a designao da humanidade
como o nico fim que pode fornecer uma razo para um ser racional
aceitar a FLU, assim como a dignidade da autonomia como motivo para
adot-la, so sintticos.
Um imperativo categrico um mandamento que obriga a
vontade, independentemente de qualquer fim particular. Neste sentido,
ele difere do imperativo hipottico, o qual nos diz que devemos realizar
as aes necessrias para um dado fim que queremos atingir. O
imperativo categrico no estabelece um determinado fim, o que no
significa que as aes conforme o imperativo categrico no tenham
nenhum fim, mas estabelece que tipos de fim so permitidos. Seguir o
7
Ibid, p. 221-23.
Maria de Lourdes Borges
24
imperativo categrico no significa que no temos nenhuma finalidade
ou motivo para agir desta forma; ainda que exclua fins articulares do
agente, temos uma finalidade, que ser apresentada pela frmula da
humanidade (FH), ou seja, tratar o outro como fim e no apenas como
meio; ainda que exclua motivaes sensveis, temos um motivo, dado
pela frmula da autonomia (FA).
Ainda que a soluo de Guyer seja bastante engenhosa para
resolver a ambigidade das afirmaes sobre o carter analtico ou
sinttico da segunda sesso, a obteno da frmula da humanidade e da
autonomia feita analiticamente a partir do conceito de ser racional.
Parece-nos, ento, que a obteno realmente analtica e que, ao
comentar sobre o carter sinttico do imperativo categrico, Kant apenas
estar-se-ia referindo ao que vai provar na terceira sesso, ou seja, que o
imperativo categrico vlido para uma vontade racional sensvel.
Com entender a ambigididade entre obteno sinttica e
analtica? Guido de Almeida nos oferece uma boa soluo para este
problema. Citando a mesma nota 4:420n, ele esclarece que, se tivssemos
uma vontade perfeita, seria possvel derivar analiticamente o querer
expresso pela proposio prtica do conceito de vontade racional.
8
.
Segundo Almeida, h uma distino entre o princpio moral considerado
como lei vlida para uma vontade perfeita e como imperativo vlido para uma
vontade imperfeita. Apenas o imperativo moral seria caracterizado como
uma proposio sinttica, enquanto a lei moral poderia ser derivada
analiticamente.
Se admitirmos esta soluo, podemos compreender a
ambigidade do texto kantiano a partir da conexo analtica entre lei
moral e vontade racional e conexo sinttica entre imperativo categrico
e esta vontade.
Desta forma, admitimos que, como Kant afirma ao final da
segunda sesso, aqui apenas foi realizada uma obteno analtica da lei
moral. Que esta seja vlida para seres racionais sensveis, ser o objeto da
terceira sesso.
I.3. A validade para ns
At a terceira seo, no h uma prova de que o imperativo
categrico seja vlido para ns. As primeiras sees procuraram
8
Cf. Guido de Almeida, Crtica, Deduo e Facto da Razo, p. 57-84.
Razo e emoo em Kant
25
apresentar o princpio da moralidade, a partir de um argumento
regressivo analtico, que revela aquilo que era pressuposto pela
concepo moral pr-filosfica, na primeira sesso, e do conceito de
ser racional, na segunda sesso. Ao final desta ltima, temos a
culminao deste argumento no princpio da autonomia, qual seja, a
capacidade da vontade de ser uma lei para si mesma. Contudo,
mesmo que o princpio da moralidade tenha sido descoberto e
exposto, resta-nos o problema da validao deste princpio.
Na terceira seo
9
trata-se de mostrar que o imperativo
categrico vlido para seres sensveis racionais. Ser vlido significa
que ele obrigante e motivador. Obrigante no sentido que
reconhecemos o IC como aquilo que nos d a norma do correto
moralmente; motivador no sentido de que sua correo pode ser um
motivo suficiente para agirmos corretamente.
Necessitamos mostrar que somos uma instanciao do
conceito de ser racional e que o imperativo categrico vlido para
ns. Este o objetivo da terceira seo: a prova da validade da lei
moral. Isto significa uma prova do nosso reconhecimento da lei como
obrigante para ns e de nossa capacidade de agir tendo como motivo
a lei e no apenas mbeis sensveis ou motivos egostas. Neste
sentido, uma refutao do determinismo, entendido como a
necessidade da ao ser determinada por desejos e inclinaes.
A GIII pretende tambm demonstrar que racional agir
moralmente, ou seja, que a conduta moral uma exigncia da razo.
O argumento inicial central da GIII procura mostrar que uma
vontade racional est comprometida com a moralidade e que esta no
est restrita a imperativos hipotticos. O argumento tem trs passos
principais: de uma vontade racional liberdade negativa, desta
autonomia, e da autonomia ao imperativo categrico. Podemos
reconstitu-lo da seguinte forma:
(i) toda vontade racional livre, ao menos no sentido
negativo;
9
Para a anlise dos passos da prova da terceira seo, recomendo a leitura de Dieter
Henrich, The Deduction of Moral Law: The reasons for the Obscurity of the Final
Section of Kants Groundwork e Henry Allison, Morality and Freedom: Kants
Reciprocity Thesis, ambos na coleo de Paul Guyer, Groundwork of Metaphysics of
Morals, Critical essays.
Maria de Lourdes Borges
26
(ii) toda vontade livre no sentido negativo tem a propriedade
da autonomia
(iii) toda vontade autnoma est comprometida com o
princpio Aja segundo mximas que voc possa querer
como leis universais, ou seja, o imperativo categrico.
Classicamente foram feitas duas objees a esta prova. A
primeira objeo a objeo da circularidade. Segundo esta, ns s
obtemos que a vontade racional uma vontade livre e autnoma (1 e
2) devido a consideraes sobre moralidade e autonomia. Visto que
provamos a moralidade a partir da concepo de que uma vontade
livre uma vontade autnoma, e autonomia, pela apresentao da
segunda sesso, pressupe a concepo de moralidade, temos um
crculo argumentativo, onde o que ser provado, a moralidade, j
pressuposto nas consideraes sobre autonomia.
Uma segunda objeo trata da aparente sugesto de Kant de
que atos imorais no so livres. Se a vontade racional est
comprometida com a moralidade, algum que aja contra a moralidade
no estaria agindo livremente, ou seja, seu comportamento seria o
produto de foras tais como inclinaes, desejos,...Visto que tal ao
no seria livre, tal ato no seria imputvel. Ora, chegaramos
insustentvel concluso de que atos imorais no podem ser
imputados ao agente, visto que estes no teriam agido livremente e
sim por determinao da sensibilidade. A posterior diferenciao
entre Wille e Willkr feita na Metafsica dos Costumes resolve esta
ambigidade. O arbtrio (Willkr), na sua atividade executiva, livre
para acatar ou no, nas suas mximas, os princpios da atividade
legislativa da vontade (Wille). Tal distino, contudo, no est
expressa claramente na Fundamentao, o que contribui para a
obscuridade de sua deduo.
I.4.Tese da reciprocidade:
As tentativas de aceitao da validade da prova da terceira
seo foram criticadas por apresentarem vrios vcios: um pretenso
crculo argumentativo onde a obteno da lei moral pressupe
consideraes sobre moralidade e autonomia e a concluso
inaceitvel de que apenas aes moralmente corretas seriam livres.
Muitos comentadores aceitam que Kant revisa seu argumento na
Razo e emoo em Kant
27
Crtica da Razo Prtica, por no considerar que seja realmente possvel
uma deduo da lei moral. Kant parece abandonar o projeto de uma
deduo estrita, se por isso entendemos um argumento logicamente
aceitvel, que parta de premissas tericas e no prticas
10
. Allison
considera que parte da confuso relativa terceira seco e possvel
mudana de rota deve-se incompreenso de uma tese que
enunciada tanto na Fundamentao quanto na Crtica da Razo Prtica: a
tese da reciprocidade, segundo a qual liberdade e moralidade
implicam-se mutuamente. Esta tese teria sido enunciada em ambas as
obras, contrariando aqueles que vem uma incompatibilidade entre
estas. Uma das provas desta tese encontrar-se-ia na insistncia de
Kant de que a lei moral uma proposio sinttica a priori, mas seria
analtica se tivssemos acesso liberdade. A concepo da mtua
implicao estaria pressuposta na tentativa de obter a moralidade a
partir da liberdade na Fundamentao e a liberdade a partir da
moralidade na segunda Crtica.
A tese da reciprocidade indica uma dupla implicao entre
moralidade e liberdade (FM), o qual se l A Liberdade condio
necessria e suficiente para a moralidade.
Podemos considerar que a Fundamentao nos oferece a
primeira parte da tese da incoporao (FM), enquanto na Crtica da
Razo Prtica, a tese da dupla implicao melhor explicitada. A
implicao entre moralidade e liberdade seria enunciada no incio da
terceira seo da Fundamentao: o conceito de causalidade traz
consigo o conceito de lei, ento o conceito de vontade sob a
causalidade por liberdade e vontade sob leis o mesmo.
Podemos reconstruir este argumento da seguinte forma:
(i) Como um tipo de causalidade, a vontade deve ser, em
certo sentido, governada por leis ou determinvel por leis
10
H um debate entre os comentadores sobre a efetiva realizao de uma deduo da
lei moral. Beck admite que h uma deduo, no sentido estrito, na Fundamentao,
enquanto Henrich e Paton no acreditam que haja a este tipo de deduo. Tanto Beck,
quanto Henrich e Paton acreditam, contudo que no haja uma contradio entre a
Fundamentao e a Crtica da Razo Prtica. Paton e Henrich consideram que no h
contradio, pois no h exatamente uma deduo na Fundamentao. Beck admite que
h uma deduo que segue na Crtica da Razo Prtica. Ver Beck, A Comentarys to Kants
Critique of Practical Reason, H. J. Paton, The Categorical Imperative, Dieter Henrich, Die
Deduktion des Sittengesetzes.
Maria de Lourdes Borges
28
(ii) Enquanto livre, ela no pode ser governada por leis da
natureza
(iii) Ela deve ser governada por leis de outro tipo, a saber, leis
auto-impostas
(iv) A lei moral esta lei auto-imposta
O prprio Allison admite que vrias dessas proposies so
problemticas e que Kant no apresenta uma justificativa suficiente para
elas. Os maiores problemas encontram-se
11
, todavia, em (1), ou seja, na
ideia de que uma vontade sem lei uma contradio e em (4), na lei
moral como a lei que determina a vontade livre. Com a tese (1), Kant
ope-se liberdade de indeterminao, ainda que no apresente uma
justificativa suficiente para isso. Com a tese (4), Kant afirma a
necessidade da lei auto- imposta ser a lei moral. Agentes racionais agem
segundo mximas, contudo isso no significa, ipso factum que a lei moral
essa lei auto-dada.
Em que pesem essas objees, o argumento nos prova que
F M, no qual F=A vontade racional livre e M=A lei moral
incondicionalmente vlida para a vontade racional. Se a vontade
racional livre (F), ento a lei moral vlida incondicionalmente
para esta (M).
Retomando os passos da prova
12
: sendo a liberdade um tipo
de causalidade, trata-se de entender o que causalidade significa no
caso da liberdade. Significa estar sujeito a uma lei normativa autodada
e incondicional. Dizer que a vontade racional livre dizer que esta
vontade est sujeita a uma lei normativa autodada e incondicional. O
argumento da frmula da autonomia, da segunda sesso, mostrou que
a lei moral esta lei autodada e incondicional. Se a vontade racional
livre, isto significa que ela est submetida a uma lei normativa
autodada e incondicional, a qual a lei moral. Logo, provou-se que,
se a vontade racional livre, ento ela est submetida
incondicionalmente lei moral. (F M).
11
Allison admite que um compatibilista objetaria tambm a 2) e 3), ou seja, ideia de
que a vontade no possa, tambm, ser determinada por leis naturais. Visto que Allison
explicitamente defende uma posio no compatibilista, estas proposies no
apresentam problema para ele.
12
Vou seguir a reconstruo de Allen Wood no livro Kants Ethical Thought.
Razo e emoo em Kant
29
O problema, na Fundamentao, estaria em obter o antecedente
da condicional, ou seja, provar que a vontade racional livre, de onde
tudo se seguiria. A liberdade no pode ser atribuda vontade enquanto
objeto de experincia. Kant deslocar a ateno das aes para os
juzos tericos: ns devemos nos considerar livres ao formular nossos
juzos, visto que eles devem ser vistos como atos que realizamos sob
normas. O processo de raciocnio deve ser entendido como o resultado
do seguimento livre de normas racionais.
Kant deve, portanto, defender que as normas do raciocnio
terico, assim como a da moralidade, so autodadas e incondicionais.
Conforme explica Allen Wood em sua reconstruo: Mas o
argumento de Kant no que regras lgicas so uma espcie de regra
moral ou que regras morais so regras lgicas. O que ele necessita
reivindicar que a capacidade que ns atribumos a ns ao nos
conceber como sujeitos a obrigaes morais do mesmo tipo que
atribumos a ns ao pensarmo-nos como julgando de acordo com
normas racionais.
13
Christine Koorsgard considera que Kant muda
de opinio sobre a capacidade de nossos juzos nos elevarem ao
mundo noumenal prtico, eles nos levariam apenas ao mundo
noumenal terico: Eu considero que Kant revisa seu argumento,
visto que a produo espontnea de ideias apenas nos coloca entre
noumena enquanto pensantes. Para estarmos entre noumena enquanto
agentes ns devemos ser capazes de agir por ideias puras e, para isso,
necessria uma concepo positiva de liberdade, a qual encontrada
apenas no IC e tambm nossa habilidade de agir por esta
concepo
14
.
I.5. Um fato auto-evidente da moralidade
A tese da reciprocidade seria melhor provada na crtica da
Razo Prtica, visto que a Kant prescinde do ponto de partida da
liberdade, substituindo-o por um ato auto-evidente, denominado de
fato da razo. Esta prova tem vrios aspectos positivos, entre eles
resolver o problema do ponto de partida pela distino entre ratio
essendi e ratio cognoscendi. A liberdade a razo de ser da moralidade,
enquanto esta a razo de conhecer da liberdade. Na ordem do ser, a
13
Wood, p. 176.
14
Korsgaard, Creating the Kingdom of ends, p. 217.
Maria de Lourdes Borges
30
liberdade primeira, na ordem do conhecer, a moralidade primeira.
Se conhecermos a moralidade, podemos obter a liberdade.
O objetivo de Kant, expresso claramente na introduo da
Crtica da Razo Prtica, efetuar uma prova a priori de que a razo
prtica pode ser pura, ou seja, possa ser determinada,
independentemente dos mbeis da sensibilidade. A prova oferecida
a prova pelo Fato da razo, ou seja, a conscincia da lei moral, a qual
denominada fato porque no pode ser obtida a partir de dados
antecedentes da razo, por exemplo, pela conscincia da liberdade,
vista que ela no dada anteriormente.
Conhecemos a moralidade atravs do Faktum der Vernunft, ou
seja, da conscincia da lei moral. No podemos provar a moralidade a
partir da liberdade, j que esta no dada anteriormente. Visto que a
liberdade ratio essendi da moralidade, uma vez conhecendo esta,
provamos aquela.
O que significa provar a liberdade prtica? Se a
Fundamentao busca uma prova da moralidade, porque a
conscincia da lei moral no nos basta? Por que necessrio provar a
liberdade? Primeiramente podemos dizer que a conscincia de
estarmos sob a lei moral no nos d uma indicao suficiente de que
somos, enquanto seres finitos sensveis, capazes de agir apenas pela
lei moral, agindo independentemente de desejos ou inclinaes
sensveis. Obviamente, no necessitamos de uma prova de que
sempre agimos conforme a moralidade, mas de que sempre somos
capazes de escolher a lei moral, mesmo quando escolhemos os
mbeis da inclinao. O que provado o reconhecimento do dever
pela vontade de um ser finito com vontade e razo, ou seja, a
conscincia da vontade estar obrigada pela lei moral.
Christine Korsgaard tem razo ao classificar Kant como
internalista, ou seja, como um defensor de uma teoria moral na qual a
concepo de que algo correto me d um motivo para agir desta
forma
15
. Logo, a conscincia da obrigao dada pela lei moral implica
por certo (1) a aceitao de que a lei moral me d a norma do correto
moralmente. Como Kant uma internalista, isto me d (2) uma motivao
objetivamente suficiente para a realizao da ao. A conscincia da
correo da ao fornece ipso facto uma razo para agir daquela forma.
15
Um externalista, ao contrrio, defenderia que a aceitao de que algo correto no
um motivo suficiente para a ao. Ver Korsgaard, op. cit. ,p.43.
Razo e emoo em Kant
31
O Fato da Razo nos d a conscincia da obrigao sob a lei moral,
pois aceito que (1) a lei a norma do correto e que (2) sua correo
me d um motivo para agir desta forma. Contudo, no prova (3) a
capacidade de agirmos independentemente de mbeis sensveis, o que
feito pela prova da liberdade prtica. S essa me daria o objetivo da
Crtica da Razo Prtica, ou seja, mostrar que a razo prtica pode ser
pura, ou seja, a vontade pode agir independente de motivaes
sensveis.
Um dos problemas que temos com a estratgia
argumentativa da Crtica da Razo Prtica o acesso a este Faktum.
Alguns comentadores sugeriram ser o sentimento de respeito que nos
possibilita a conscincia da lei moral. Podemos citar aqui Zeljko
Loparic, o qual sustenta que, no Fato da Razo, a lei moral,
enquanto lei do dever s acessvel no respeito e no, por exemplo,
na autoconscincia meramente intelectual.
16
Ele segue aqui na linha
da posio defendida por Dieter Henrich, segundo o qual os
conceitos fato da razo e respeito so inseparveis e tornam-se sem
sentido se tomados separadamente. A conscincia da lei dada pelo
Fato da razo seria um fato sensvel e racional ao mesmo tempo. O
apelo ao sentimento de respeito como inseparvel da conscincia da
lei moral, nesta linha interpretativa, resolveria o problema do acesso
lei moral e tambm o da motivao moral. O respeito no apenas
uma forma de acesso ao Faktum, mas tambm se constitui num mbil
suficiente para a realizao das aes morais. Contudo, parece que
enfrentamos a dois problemas. O primeiro refere-se ao ponto de
partida da prova. Se atentarmos para o fato de que o sentimento de
respeito a forma especfica pela qual o ser humano sensivelmente
afetado pela lei moral e fizermos disso o ponto de partida da prova da
lei moral, ento, concordaramos que afeces sensveis possam ser
tomadas como ponto de partida da validade de um juzo sinttico a
priori. Segundo, se tomarmos a conscincia da lei moral como aquela
na qual o respeito encontra-se necessariamente ligado, ento a prova
vlida apenas para os seres racionais sensveis.
Deve-se lembrar que o Faktum da Razo a conscincia da lei
moral e que esta uma lei para todo ser finito enquanto este possui
uma vontade e razo. Vontade aqui significa habilidade de determinar
sua causalidade pela representao de regras, capacidade de aes de
16
O Fato da Razo, uma interpretao semntica, p. 22
Maria de Lourdes Borges
32
acordo com princpios prticos a priori (5:32). Contudo, esta
capacidade no se refere especificamente a seres finitos sensveis, mas a
seres finitos que possuem razo e vontade. Kant vai alm e concede,
no comentrio ao corolrio que segue apresentao da lei, que o
princpio da moralidade no se limita aos seres humanos, mas inclui
todos seres finitos com razo e vontade e mesmo uma inteligncia
suprema : A lei que declarada pela razo como uma lei para todo ser
racional que possui vontade e que determina que so capazes de ter sua
causalidade determinada pela representao de leis, no , todavia,
limitada aos seres humanos mas se aplica a todos os seres finitos que
possuem razo e vontade e at mesmo inclui o ser infinito como inteligncia
suprema.(KpV, 5:32, grifo meu)
A diferena que para os primeiros a lei tem a forma de
imperativo e a ao chama-se dever. Ora, visto que a conscincia de
que trata o Faktum aplicar-se-ia tambm a qualquer ser com vontade e
razo, ainda que no possuindo sensibilidade, o sentimento de
respeito no pode ser o ponto de partida da prova, porque ele
ocorreria num caso especfico de seres sensveis dotados de razo e
vontade e a prova feita para todo ser racional que possui uma
vontade, independentemente desta lei se apresentar para ele sob a
forma de imperativo. Ou seja, o fato a autoconscincia da lei, no
do imperativo categrico dado pelo respeito.
Um outro problema com esta interpretao que, a fim de
manter uma certa pureza da prova, corrige-se um erro por outro,
estabelecendo que o respeito um sentimento a priori, e
compreendendo o conceito sentimento a priori como expressando uma
caracterstica do respeito enquanto desprovido daquilo que
caracteriza qualquer sentimento, ou seja, ser uma afeco sensvel,
ainda que do sentido interno.
J na Fundamentao, em conhecida nota sobre o respeito, Kant
defende-se da possvel crtica de que o apelo a um sentimento para
realizar o papel de mbil da lei moral no o afastaria do empirista, para o
qual apenas inclinaes sensveis podem impulsionar a ao. Esperar-se-
ia que Kant negasse que se tratasse de um sentimento emprico de
desprazer, o que ele no faz. A nica diferena entre seu sentimento de
respeito e de um empirista que o seu provocado pela conscincia da
lei, enquanto os sentimentos empiristas so provocados por objetos
externos. Ele mesmo aceita que decepciona aqueles que esperariam dele
Razo e emoo em Kant
33
uma pureza tal que a razo determinasse diretamente a ao: pode ser
objetado que aqui eu me refugio na palavra respeito, num sentimento
obscuro, ao invs de resolver a questo atravs de um conceito da razo
(G, 4:401).
Ele aceita que no resolve a questo atravs de um conceito a
priori, mas realmente utiliza um sentimento de desprazer. O
sentimento de respeito no um conceito da razo, mas uma afeco
sensvel, um sentimento ligado faculdade de prazer e desprazer. A
diferena que Kant estabelece entre este sentimento e os sentimentos
ditos patolgicos a fonte do desprazer: no respeito, trata-se da
representao interna da lei que afeta a mente (Gemth), no segundo,
so representaes de objetos externos. Contudo, aquele no se
diferencia ontologicamente, enquanto afeco, dos sentimentos
provocados por representaes externas. Guido de Almeida esclarece
bem este ponto. Ao explicar porque objeta concepo de Henrich
de que o sentimento de respeito a fonte da conscincia da lei, ele
afirma que a base para essas objees a considerao de que, na
concepo kantiana, todos os sentimentos morais, inclusive o de
respeito, so efeitos exercidos sobre a nossa sensibilidade pela
conscincia da lei moral. Por isso, enquanto efeitos, eles no diferem
em nada dos demais sentimentos, pois so, como os demais, meras
afeces de que temos conscincia como estados de prazer e
desprazer: eles podem, sem dvida, ser ditos intelectuais na sua
origem, mas no em si mesmos, a noo de sentimento intelectual
sendo um contradio in adjecto.
17
A expresso sentimento a priori no procura, ento, anular o
carter sensvel do respeito, mas mostrar que h uma conexo a priori
entre lei moral e o sentimento de respeito num ser sensvel racional. Esta
conexo a priori no , todavia, sinttica, mas analtica. o que nos
explicado na Crtica da Razo Prtica (KpV, 5:73): o ser racional sensvel
tem inclinaes e impulsos sensveis que se opem lei moral, a lei moral
impede o livre curso destas inclinaes e sentimentos; o efeito negativo
sobre um sentimento ele prprio um sentimento; logo, a lei moral
produziria um sentimento num ser moral sensvel, devido ao
impedimento dos seus sentimentos e inclinaes. Este sentimento
negativo, obtido analiticamente pela definio de um ser racional
sensvel, o respeito.
17
Almeida, Crtica, Deduo e facto da Razo, p. 75, 76.
Maria de Lourdes Borges
34
O acesso conscincia da lei moral no feita , todavia, por
este sentimento: por um lado, isso prejudicaria a pureza da prova,
visto que apelaria para uma premissa sensvel; por outro lado,
reduziria a extenso da validade desta, visto que ela deveria valer para
todo ser racional com vontade.
Podemos concluir que a primeira parte da tica kantiana, ou sua
parte pura, no utiliza pressuposies antropolgicas, referentes
sensibilidade especfica do ser humano, para a obteno e justificativa do
dever, visto que a prova da lei moral na KpV no feita a partir do
respeito. Temos, portanto, conscincia da nossa submisso lei moral
enquanto ser racional portador de vontade. Trata-se agora de mostrar
que dever significa poder, ou seja, explicitar as condies sensveis da
receptividade e efetividade da lei moral para os seres humanos.
I.6. Dever implica poder?
Voltemos anlise da tese da reciprocidade. Admitindo que
Kant realmente prova esta tese, o que significa a liberdade ser uma
condio necessria e suficiente para a moralidade? A liberdade ser uma
condio necessria significa que no h moralidade sem liberdade, ou
seja, no seramos seres morais caso no pudssemos agir
independentemente dos desejos e afeces sensveis. A liberdade ser uma
condio suficiente significa que no precisaramos de outra condio
seno a prpria liberdade para termos moralidade.
Na Crtica da Razo Prtica, Kant ilustra a tese de que dever
significa poder com o exemplo de um sdito cujo prncipe exige dar
um falso testemunho contra um inocente, sob pena de ser enforcado.
Aquele no poderia afirmar ao certo se iria ou no superar seu amor
pela vida a fim de realizar a ao correta, mas deveria admitir que
isso seria possvel: ele considera, portanto, que pode fazer algo
porque consciente que ele deve faz-lo (KpV, 5:32). Ainda que o
agente em questo possa decidir pela m ao, ele possua o poder de
decidir pela ao correta, ou seja, ele capaz de realizar o que a razo
ordena, em que pesem suas inclinaes contrrias. A liberdade
prtica, ou seja, a capacidade da ao no determinada por
motivaes empricas inferida a partir da constatao de uma
vontade submetida lei moral. Se, na Fundamentao , liberdade e uma
vontade que se d suas prprias leis so conceitos intercambiveis, na
Crtica da Razo Prtica trata-se de provar a liberdade a partir da sua
Razo e emoo em Kant
35
ratio cognoscendi: se constato a moralidade, ento provo a liberdade,
visto que esta condio necessria daquela. O dever implica poder
uma consequncia da prova da liberdade prtica, ou seja, a capacidade
do agente determinar sua ao independentemente de motivaes
empricas inferida da conscincia do agente de estar submetido ao
dever.
Afirmar que dever implica poder traz consigo duas teses: uma
referente ao reconhecimento do dever, outra referente considerao
de que o agente pode fazer o que ele deve fazer. Se a primeira tese
parece no apresentar problemas, a segunda problemtica se
consideramos que Kant admite a existncia de fortes inclinaes e
paixes no ser humano, bem como a possibilidade de uma fraqueza
da vontade.
Admitir a liberdade no significa entender como esta age nos
seres humanos. Tomando de emprstimo a expresso de Karl
Ameriks, h, em Kant, uma opacidade do mecanismo noumenal,
entendendo por isso uma impossibilidade da razo de saber como a
liberdade transcendental age. Kant deixa isso claro ao final da
Fundamentao quando afirma que a liberdade incondicionalmente
necessria, mas como esta liberdade possvel nunca pode ser
discernida pela razo humana.
Pode-se afirmar que esta opacidade no mecanismo da
liberdade articula-se com a questo da relao entre espontaneidade
do agente, liberdade prtica e liberdade transcendental. Quais as
pressuposies de um agente racional? A espontaneidade do agente
pressupe a liberdade prtica ou liberdade transcendental? Como se
explica a presena de estmulos que no determinam a ao? Se o
agente livre, como possvel a fraqueza da vontade? Estas questes
levam necessidade da anlise da teoria da ao em Kant.
II. TEORIA DA AO EM KANT
A teoria da ao kantiana parte essencial para
compreendermos a relao entre razo prtica, de um lado,
sentimentos e emoes, de outro. Analisaremos aqui alguns aspectos
importantes da filosofia da ao em Kant. Primeiramente,
tematizaremos a relao entre espontaneidade, liberdade prtica e
liberdade transcendental. Num segundo momento, analisaremos as
noes de motivo e mbil em Kant e como eles se relacionam no
que ficou conhecido como tese da incorporao. A seguir, nos
deteremos na noo de mxima, procurando determinar se todas as
nossas aes podem ser descritas em termos de mximas.
II.1. Espontaneidade, liberdade prtica e liberdade
transcendental
A espontaneidade prtica de um agente implica que ele
capaz de decidir o que fazer sem ser determinado por mbeis
sensveis. Estes podem inclinar, mas no determinar as aes. J nas
lies de Metafsica dos anos 70 (Metaphysik L1) nos explicada a
diferena entre o arbtrio humano e o arbtrio de animais no-
racionais, no que toca aos estmulos:
Os estmulos <stimuli> podem ter uma capacidade de necessitar
<vim necessitantem> ou uma capacidade de inclinar <vim impellentem>.
Para todos os animais no racionais, os estmulos tm poder de
necessitar <vim necessitantem>, mas em relao aos seres humanos os
estmulos no tm poder de necessitar < vim necessitantem> , mas
apenas de inclinar <impellentem>.Por isso, o arbtrio humano <
arbitrium humanum> no bruto <brutum>, mas livre <liberum>.(M,
Metaphysik L1, 28: 253)
O arbtrio humano definido como arbritrium liberum, em
oposio a um arbitrium brutum; no primeiro, os mbeis sensveis, os
estmulos da sensibilidade apenas inclinam, no segundo, determinam
a ao. V-se j aqui o que mais tarde caracterizar a espontaneidade
da vontade livre: a capacidade desta determinar-se independen-
Maria de Lourdes Borges
38
temente dos mbeis da sensibilidade. Trata-se da liberdade prtica
ou liberdade transcendental? Kant explica a diferena entre as duas:
A liberdade prtica assenta na independncia do
arbtrio da determinao dos estmulos < independentia
arbitrii a necessitatione per stimulos>. A liberdade que
totalmente independente de qualquer estmulo a
liberdade transecndental
A liberdade transcendental est ligada espontaneidade do
agente, a qual pressupe mais do que a liberdade prtica. Mas como
saber se eu sou um agente livre no sentido transcendental? Eis a
resposta:
Quando eu fao algo, eu o fao por mim mesmo, ou isto o efeito
de outro em mim? Se isto for o caso, eu no sou livre, mas
determinado por uma causa externa Amim. Mas se eu o fao por
um princpio interno, no determinado por nada exterior, ento a
absoluta espontaneidade <spontaneitas absoluta> no sentido
transcendental est em mim (M, 28:269).
Kant apresenta uma interpretao semntica da
espontaneidade no sentido transcendental. Para usar o pronome Eu,
eu devo pressup-la:
Quando eu digo: Eu penso, eu ajo, etc, ento, ou eu sou livre ou a
palavra eu aplicada de modo falso. Se eu no fosse livre, ento eu
no poderia dizer: Eu fao isso, mas eu deveria dizer Eu sinto eu
mim um desejo de fazer, que algum despertou em mim. Mas
quando eu falo: Eu fao, isto significa espontaneidade no sentido
transcendental (M, Metaphysik L 1, 28:269).
A relao entre espontaneidade do agente e liberdade foi
tambm tematizada na Crtica da Razo Pura, mais especificamente na
Dialtica e no Canon. Na Dialtica, encontramos as definies de
liberdade transcendental e liberdade prtica. A primeira definida
negativamente como a capacidade de iniciar uma sequncia de
eventos sem uma causa sensvel anterior e positivamente como
espontaneidade do agente (KrV, A533, B561 ).
A liberdade prtica, por sua vez, definida negativamente
como independncia do arbtrio frente coao dos impulsos
sensveis e, positivamente, como a capacidade de autodeterminar-se
(KrV, A534, B562 ).
Razo e emoo em Kant
39
H, todavia, uma diferena entre a Dialtica e o Canon no
que toca relao entre liberdade transcendental e liberdade
prtica
1
. Enquanto na dialtica, o conceito de liberdade prtica
apenas um caso do conceito de liberdade transcendental, o Canon
aponta para uma independncia da liberdade prtica frente
liberdade transcendental, onde seria possvel termos a primeira sem
a segunda (KrV A802, B830).
Allison resolve esta aparente incompatibilidade, mostrando
que a liberdade prtica distinta da liberdade transcendental, pois
aquela independncia da determinao sensvel, enquanto esta
independncia das afecces sensveis: a liberdade prtica est
relacionada liberdade transcendental assim como a liberdade divina
est relacionada humana.
2
A posio de Allison foi criticada por alguns comentadores
que o acusam de ter defendido uma concepo de liberdade prtica
como liberdade limitada, envolvendo um menor grau de
espontaneidade do que a liberdade transcendental, o que teria, como
uma das possibilidades, levar a uma concepo compatibilista da
filosofia prtica de Kant. Por concepo compatibilista deve-se
entender aquela que defende que uma mesma ocorrncia pode ser,
ao mesmo tempo, causalmente determinada e um ato livre. Allison
defende-se da objeo mostrando que sua posio no envolve uma
posio compatibilista de Kant, nem uma quasi-espontaneidade para
a liberdade prtica. A diferena entre a liberdade prtica e
transcendental no de grau de espontaneidade, mas da forma
como esta espontaneidade deve ser entendida: no caso da segunda,
como independncia da afeco sensvel, da primeira, independncia
da determinao. A espontaneidade, no caso humano, seria
autonomia, como independncia motivacional, isto , a capacidade
de desconsiderar suas afees e decidir com base no puro respeito.
Segundo esta compreenso de Kant, o ser puramente
racional, dotado de liberdade transcendental, gozaria de uma total
independncia das afees sensveis; logo, nenhuma ao sua
poderia ser influenciada por tais impulsos. O ser humano, dotado de
1
A importante anlise da diferena entre liberdade prtica e transcendental foi
desenvolvida por Allison em Kants Theory of Freedom e Idealism and Freedom. No Brasil,
temos a precisa anlise de Guido de Almeida.
2
Allison, Idealism and Freedom, p. 110.
Maria de Lourdes Borges
40
liberdade prtica, gozaria de uma independncia motivacional, ou
seja, sua ao no seria determinada pela sensibilidade. Esta anlise
concorda com a definio exposta inicialmente do arbtrio humano
enquanto um arbitrium liberum, pois afetado, mas no determinado,
pela sensibilidade.
Contudo, uma outra interpretao desta ambigidade sobre
a relao entre liberdade prtica e liberdade transcendental foi
sugerida, entre outros, por Karl Ameriks
3
. Segundo ele, Kant
apresenta vrios pontos nas Lies de Metafsica de 70, os quais
perpassam a Crtica da Razo Pura (1781), a Fundamentao (1785) e
Crtica da Razo Prtica (1788). Segundo ele, os pontos continuam os
mesmos no perodo crtico, apenas a fundamentao destes seria
diferente. A relao entre liberdade prtica e liberdade
transcendental seria expressa pelas seguintes afirmaes:
4
(i) Liberdade prtica (ou relativa), isto , a independncia dos
impulsos sensveis, deve ser distinta da liberdade transcendental
(ou absoluta);
(ii) A afirmao da liberdade prtica suficiente para a
moralidade, ou seja, a aceitao da validade do imperativo
categrico
(iii) Pode-se afirmar que o ser humano possui liberdade
transcendental, todavia a filosofia terica permanece
incompleta com relao questo da liberdade. Esta
incompletude envolve apenas uma dificuldade subjetiva,
no a validade objetiva da filosofia prtica.
Segundo essas teses, a questo da liberdade transcendental e
da liberdade prtica resume-se a uma dificuldade de conhecimento
daquela, principalmente da opacidade do seu mecanismo ao nosso
intelecto. Tal viso encontra apoio nos textos: verdade que a
pura atividade de um ser no pode ser concebida atravs da razo de
3
Ver Karl Ameriks, Kants Deduction of Freedom and Morality, e tambm Kants
theory of Mind
4
Estes so apenas alguns dos pontos que interessam a nossa discusso. Para a
totalidade das teses segundo a reconstruo de Ameriks, ver Karl Ameriks, Kants
Deduction of Freedom and Morality, p. 54 e 55.
Razo e emoo em Kant
41
um ser dependente. Mas ainda que a absoluta espontaneidade no
possa ser concebida, ela no pode ser refutada. (VM, 28:269)
Talvez a polmica sobre liberdade transcendental e liberdade
prtica seja apenas uma questo de acessibilidade primeira. A
dialtica da Crtica da Razo Pura vai afirmar, igualmente, que a
liberdade no pode ser refutada nem provada. A Crtica da razo
prtica, neste sentido, prova a realidade objetiva da liberdade prtica.
H uma prova prtica da validade desta, no um conhecimento
terico da mesma. Ns no temos uma prova da liberdade
transcendental no sentido de uma explicao de como esta liberdade
age e do seu mecanismo causal, por esta razo ns devemos nos
contentar com uma prova praticamente suficiente.
Se impossvel entender teoricamente como age a liberdade
transcendental, tentemos ao menos, compreender em que medida a
liberdade prtica possvel, como independncia do arbtrio frente
motivaes sensveis. Para tal, crucial analisarmos a teoria da
motivao em Kant, principalmente os conceitos de mbil e motivo.
II.2. Mbeis, motivos e tese da incorporao
II.2.1. Das Lies de Metafsica Religio: uma
anlise do desenvolvimento de conceitos
Nas Lies de Metafsica de 70 (ML1) j podemos ver algumas
noes que dariam origem, mais tarde, aos conceitos de motivo e
mbil. Aps definir que a faculdade de agir de acordo com a
satisfao ou insatisfao a atividade prtica e ativa chamada de
faculdade de desejar, Kant define o livre- arbtrio (freie Willkr,
arbitrium liberum) como o poder de fazer ou no algo conforme a
satisfao ou insatisfao com o objeto da ao. Todo desejo
desejo para alcanar algo, nos diz. O que nos leva escolha deste
objeto so causas que nos impulsionam (causae impulsivae) (ML1, 28:
254). Todo ato de escolha remete a uma causa que impulsionou este
ato. Estas causas podem ser de dois tipos: sensveis ou intelectuais.
As causas impulsivas sensveis, ou seja, aquelas que dependem da
satisfao na forma pela qual somos afetados pelos objetos so
estmulos <stimuli>. As causas impulsivas intelectuais so
representaes da satisfao ou insatisfao que dependem da forma
pela qual ns conhecemos objetos atravs de conceitos; elas so
Maria de Lourdes Borges
42
denominadas de motivos (ML1, 28:255). Deve-se notar aqui a
diferena entre estmulos e motivos: o primeiro denota uma causa
sensvel, o segundo uma causa intelectual. A escolha do objeto da
ao pode ser causada, ou impulsionada, tanto por uma causa
sensvel, quanto por uma causa intelectual. A relao das causas
sensveis (stimuli) com o arbtrio o que determina a diferena entre
arbitrium liberum e arbitrum brutum:
Estmulos tem, ou poder necessitante <vim
necessitantem> ou poder impulsivo <vim impellentem>.
Com todos os animais no-racionais, os estmulos tem
poder necessitante, mas com seres humanos os
estmulos <stimuli> no tem poder necessitante, mas
apenas impulsivo <impellentem>. Logo, o arbtrio
humano no bruto <brutum>, mas livre <liberum>
(ML
1
, 28:255).
A diferena que Kant estabelece aqui entre arbitrium liberum
e arbitrum brutum depende do fato dos estmulos possurem poder
necessitante ou apenas poder impulsivo. Nos seres humanos, os
estmulos, ou causas impulsivas sensveis, no podem determinar
necessariamente o arbtrio, s inclin-lo. Eles s determinam o
arbtrio animal, que no liberum, mas brutum.
A anlise das Lies de Metafsica L
1
deve levar em conta que
se trata ainda de um perodo pr-crtico. Contudo, aqui j se insinua
o que ser mais tarde desenvolvido por Kant na sua filosofia crtica:
impulsos sensveis, ou mbeis, no determinam o arbtrio humano,
sendo que apenas motivos podem determin-lo. Num vocabulrio
mais contemporneo, diramos que sentimentos e emoes no so
causas de ao, apenas razes podem s-lo. Um sentimento pode ser
tomado como razo para uma ao, mas isto depender de uma livre
deciso do arbtrio.
H alguns casos, nos alerta Kant, nos quais o ser humano
no apresenta esta capacidade de livre arbtrio, contudo, nestas
situaes, ele no goza de suas capacidades racionais ordinrias:
Apenas em alguns casos o ser humano no tm o livre
arbtrio (freie Willkr), na mais tenra infncia, ou quando
Razo e emoo em Kant
43
ele est insano, ou em grande tristeza, o que , contudo,
um tipo de insanidade. (ML1, 28:255)
Aps esta genealogia das noes estudadas, passaremos
filosofia crtica, comeando pela Fundamentao. A, Kant estabelece a
diferena entre um mbil, o qual fundamento subjetivo de
determinao da vontade e o motivo, o qual o fundamento
objetivo da mesma: O fundamento subjetivo do desejar o mbil
(Triebfeder); o fundamento objetivo do querer o motivo
(Bewegungsgrund) (G, 4:427).
Como sabemos, Kant explora esta diferena, mostrado que
numa ao moral, incentivos ou mbeis sensveis no cumprem um
papel relevante, pelo contrrio, a presena desses mbeis, tais como
a compaixo ou simpatia, podem aniquilar o valor moral de uma
ao. O exemplo do Filantropo e o elogio moral da insensibilidade
estabelecem uma diferena radical entre Kant e o empirismo ingls,
ao enunciar que a to prezada Sympathy, enquanto um mero mbil
sensvel, seria um atestado, no do valor moral, mas ao contrrio,
da carncia de valor moral de uma ao.
Caberia aqui uma investigao mais aprofundada do
sentimento de respeito, o qual, enquanto que classificado por Kant
como um sentimento (Gefhl), o resultado da representao da lei
moral na nossa sensibilidade. O respeito da Fundamentao, bem
como o sentimento moral da Doutrina da Virtude, so resultados e
no causas da adoo de um princpio. Ou seja, no adotamos a lei
moral como motivo devido ao respeito ou ao sentimento moral,
mas estes so consequncias da adoo daquela como fundamento
de determinao objetiva.
Na Crtica da Razo Prtica, Kant apresenta com clareza sua
concepo de atribuio de valor moral de uma ao, como aquela
cujo fundamento subjetivo e objetivo a lei moral. No captulo 3 da
Analtica, intitulado Sobre os mbeis da razo prtica pura, Kant
afirma que o essencial para qualquer valor moral das aes que a
lei moral determine a vontade imediatamente (KpV, 5:71). Numa
ao moral, o mbil no seno a prpria lei moral. Aqui o motivo,
ou fundamento objetivo da ao, tambm um fundamento
subjetivo suficiente de determinao da vontade:
Maria de Lourdes Borges
44
Ento a lei moral, visto que ela um fundamento de
determinao formal da ao atravs da razo pura
prtica (...) ela igualmente um fundamento subjetivo de
determinao, isto , um mbil, para esta ao, na
medida em que tem influncia na sensibilidade do
sujeito, produz como efeito um sentimento que conduz
influncia da lei sobre a vontade. No h nenhum
sentimento antecedente no sujeito que estaria em
consonncia com a moralidade: isto impossvel, visto
que todo sentimento sensvel, enquanto o mbil da
disposio moral deve estar livre de qualquer condio
sensvel.(KpV, 5:75)
Aqui h uma indiferenciao dos termos mbil e motivo,
pois a lei moral deve ser tomada, tanto como fundamento subjetivo,
como fundamento objetivo. Valrio Rohden, em nota de sua
traduo, categrico sobre a traduo do termo Triebfeder por
motivo: Na controvrsia sobre a traduo do termo Triebfeder, uma
coisa certa: que aqui, onde de acordo com o ttulo do captulo se
trata dos Triefedern der Reinem Vernunft, o termo Triebfeder tomado
no sentido de motivo.
5
Rodhen tem razo se atentarmos para a
exigncia que todo mbil (Triebfeder) de ao moral esteja livre da
qualquer condio sensvel. Ora, ao menos at a Fundamentao,
Kant atribua aos mbeis o papel de estmulos sensveis, o que
equivaleria ao stimulus das Lies de Metafsica, que seriam causas
sensveis, em oposio s causas intelectuais, os motivos.
Um outro elemento trazido pela passagem citada da Crtica
da Razo Prtica a confirmao do elogio de insensibilidade feita no
exemplo do filantropo e que, portanto, desautoriza qualquer
interpretao que admita a presena de motivaes sensveis na ao
moral. Estaramos ento fadados irnica crtica de Schiller,
segundo a qual Kant ensina a fazer com desprezo o bem que antes
se fazia de forma virtuosa, com alegria? A virtude reside na
insensibilidade?
A Doutrina da Virtude, contudo, parece diminuir a acusao
de insensibilidade, ao recomendar o cultivo da simpatia para realizar
aes morais quando a mera conscincia da lei no suficiente
5
Valrio Rodhen, nota traduo da Crtica da Razo Prtica, p. 582-583.
Razo e emoo em Kant
45
enquanto um fundamento subjetivo de determinao da vontade.
Kant estaria aqui aceitando que a promoo de sentimentos como
motivao de ao seria recomendvel moralmente? Como
relacionar esta recomendao com a pureza transcendental
6
da
Crtica da Razo Prtica?
II.2.2. Tese da incorporao e fraqueza da vontade
Uma boa resposta para a aceitao ou no da presena de
mbeis sensveis e de sua relao com o valor moral de uma ao
encontrada na Religio nos Limites da Simples Razo. Aqui, Kant
enuncia uma tese mais refinada da relao entre mbeis e ao, a
qual ficou conhecida como tese da incorporao:
A Liberdade do arbtrio <die Freiheit der Willkr> possui
a caracterstica peculiar de no poder ser determinada
por nenhum mbil, a no ser na medida em que o ser
humano o tomou na sua mxima <in seine Maxime
aufgenommen hat> (fez dele uma regra universal para si, de
acordo com o qual ele quer conduzir a si mesmo) (Rel,
6:23-24).
Esta afirmao mostra que mbeis, tais como inclinaes,
nunca so causas da ao de um agente racional e livre, a no ser no
caso de que estes sejam tomados como motivos, isto ,
incorporados na mxima. Isso exclui a possibilidade de atribuio de
valor moral a aes sobre-determinadas, pelo fato de que h apenas
um motivo, que escolhido livremente pelo agente, entre seu
comprometimento com a lei moral ou sua inclinao.
Tal tese Kantiana foi denominada por Henry Allison de tese
da incorporao
7
, baseada na afirmao, feita na Religio nos Limites
da simples Razo, de que inclinaes s so causas de ao se elas
forem incorporadas na mxima do agente: um mbil pode
6
Tomo de emprstimo a expresso pureza transcendental de Ricardo Terra. Ver
Terra, Passagens, p. 69, inspirada em Beck, A commentary on Kants Critique of Practical
Reason.
7
Essa tese foi apresentada em Kants Theory of Freedom (1990) e discutida por ele em
Idealism and Freedom (1996) . Ela aceita, entre outros, por Herman (The practice of Moral
Judgment, 1993), Wood (Kants Ethical Thought, 1999).
Maria de Lourdes Borges
46
determinar a vontade numa ao apenas se o indivduo o
incorporou na sua mxima (Rel, 6:24). Conforme explica Allison:
Inclinaes e desejos s constituem uma razo suficiente para agir,
na medida em que so tomados ou incorporados na mxima do
agente. Isso significa que um ato de espontaneidade ou
autodeterminao est envolvido mesmo em aes baseadas em
inclinaes e desejos.
8
Essa tese implica que se pode, portanto, agir
por inclinao, mas que, mesmo assim, houve um ato de deciso do
agente de levar aquela inclinao em conta ao decidir por uma
determinada ao. Houve uma escolha do agente, a qual levou em
conta estas e outras inclinaes, motivos e razes.
A veracidade da tese da incorporao obviamente
desejvel do ponto de vista de uma teoria segundo a qual a razo
capaz de determinar a vontade, mas ela apresenta centralmente dois
inimigos: vontade fraca e inclinaes fortes. O primeiro
tematizado na prpria Religio, no primeiro momento do mal,
denominado de fragilidade: eu incorporo a lei na mxima de minha
vontade, mas o que idealmente um mbil irresistvel,
subjetivamente mais fraco do que as inclinaes, no momento em
que devo seguir a mxima
9
.
O primeiro momento do mal na Religio um caso no qual
essas duas instncias motivacionais (motivo e incentivo) mostram
sua independncia: Eu incorporo o bem (a lei) na mxima do meu
arbitrio (Willkur), mas esse bem, que objetiva ou idealmente um
mbil irresistvel (in thesis) subjetivamente (in hypothesi) o mais fraco
(em comparao com a inclinao) quando a mxima deve ser
seguida. (Rel, 6: 30)
Na fraqueza, fica claro que a mxima no incorporou a
inclinao, a qual foi responsvel pelo no seguimento do princpio
de ao adotado racionalmente. A incorporao da inclinao no
ocorre, portanto, na fraqueza, mas principalmente no terceiro
momento do mal, qual seja, a perversidade: a propenso do arbtrio
a mximas que subordinam os mbeis da lei moral a outros (no
morais) (Rel, 6:31). A diferena entre o papel das inclinaes no
primeiro e terceiro grau do mal fica claro na primeira nota da
segunda seo da Religio. Ao se referir aos filsofos estoicos que
8
Idealism and Freedom, p. XVII
9
Ibid., p.120.
Razo e emoo em Kant
47
tomam as inclinaes como verdadeiros inimigos, Kant ope-se a
esta ideia, afirmando:
O primeiro verdadeiro bem que um homem pode fazer
extirpar o mal, que deve ser encontrado, no nas
inclinaes, mas nas mximas pervertidas e tambm na
prpria liberdade. Essas inclinaes apenas tornam mais
difceis a execuo das boas mximas (die Ausfhrung der
entgegensetzten guten Maxime) que se opem a estas,
enquanto o mal genuno consiste em nossa vontade no
resistir a inclinaes quando elas convidam
transgresso, e essa disposio o verdadeiro inimigo.
(Rel, 6:59)
Ficam claras aqui duas situaes relativas s inclinaes.
Numa primeira, inclinaes podem dificultar e at mesmo impedir a
execuo de mximas morais; contudo, elas no so ms em si, pois
no representam nenhuma perverso da razo. Numa segunda, na
qual encontramos o verdadeiro mal, inclinaes so tomadas nas
mximas. no contexto da primeira situao, que Kant se refere s
inclinaes como boas em si: tomadas em si mesmas, inclinaes
so boas, ou seja, no repreensveis, e querer extirp-las seria no
apenas ftil como censurvel (Rel, 6:58). Esta citao muitas
vezes confrontada com momentos da Fundamentao onde Kant
afirma que inclinaes em si, como fontes de desejos, esto to
longe de possurem um valor absoluto a ponto de fazer-nos desejar
possu-las, que deve ser, ao contrrio, o desejo de todo ser racional
livrar-se totalmente delas (G, 4: 428). No se deve, todavia, perder
de vista o propsito de um e outro texto. A Religio enfatiza que o
fundamento do mal racional e reside na incorporao do nosso
lado sensvel como razo para ao. A Fundamentao explica que
inclinaes no podem nos dar mbeis confiveis e muitas vezes
ope-se ao que decidimos por respeito lei. Os textos no so
contraditrios, o que atestado pela fraqueza da vontade,
tematizado na Religio e que corresponde bem a no considerao de
inclinaes como mbeis morais da ao, visto que se opem
realizao da mxima escolhida. Contudo, a fraqueza no o grande
inimigo da moralidade, pois a no h incorporao da inclinao.
Maria de Lourdes Borges
48
Na crtica aos estoicos, essa posio fica mais clara. Na
opinio kantiana, esses filsofos tomaram, erroneamente, a fraqueza
(Schwche) como mal moral do ser humano
10
. Para eles, a causa da
transgresso residiria apenas na omisso ao combate das inclinaes,
sem se pressupor um princpio positivo do mal, isto , a
determinao do arbtrio (Wilkur) enquanto arbtrio livre que
fundamenta mximas em inclinaes (Rel, 6:59). Os estoicos,
portanto, enganaram-se quanto ao real oponente do bem, o qual no
pode ser um erro natural, mas ser baseado na livre deliberao.
Neste sentido, a tese da incorporao s poderia ser
enunciada na Religio, pois refere-se, portanto, ao terceiro momento
do mal, quando as inclinaes pervertem mximas, exatamente
porque so incorporadas nelas. Isso no exclui o erro natural, no
qual inclinaes no so incorporadas, mas dificultam e at
impedem a execuo das aes, o que o caso da fraqueza da
vontade.
A fraqueza da vontade foi apresentada como objeo tese
da incorporao. Essa objeo foi apresentada por Baron a Allison e
respondida por este em Idealism and Freedom. Ainda que
reconhecendo que h um ponto a ser discutido, Allison responde
que a prpria fraqueza deve ser tomada como algo pela qual somos
responsveis, ou seja, ela uma fraqueza auto-imposta. Sendo que o
mal a tendncia para subordinar o mbil da moralidade aos
mbeis do amor-prprio, a fraqueza deve ser entendida como
abertura tentao. Apenas a nossa tendncia ao auto-engano nos
faz tom-la como um fato bruto.
A fraqueza da vontade, como um erro natural, coloca um
problema para Allison. Uma das objees de Baron a este reside
exatamente na incompatibilidade entre a tese da incorporao e este
primeiro momento do mal. Allison responde dizendo que a fraqueza
no deve ser tomada como um erro ou fato bruto, mas identificada
como uma abertura tentao: essa abertura ou susceptibilidade, por
sua vez, a condio de possibilidade de algo tal como a fraqueza, a
qual de forma auto-enganosa tomada pelo agente como um fato
bruto, parte de sua natureza, o qual ele lamenta, mas no se toma como
responsvel
11
. Baron insiste que neste h um real comprometimento
10
Cf. Rel, 6:59, nota.
11
Allison, H. Idealism and Freedom.
Razo e emoo em Kant
49
com a lei moral, o que no existiria nos outros dois graus: a impureza e
a perversidade. A tese da incorporao diluiria essa diferena fazendo
com que todos os graus tornam-se iguais. A resposta de Allison atenta
para um fator interessante: concede que h um comprometimento da
moralidade na fraqueza , mas que este reflete-se no lamento inexistente
na impureza ou perversidade:
Ns encontramos aqui arrependimento moral, auto
castigo e outros, razo pela qual, acredito, Kant sugere
que a fraqueza compatvel com uma boa vontade. Ao
mesmo tempo, todavia, o comprometimento no pode
ser totalmente genuno; se fosse, fraqueza no poderia
ser considerado um nvel de mal, mas apenas uma
limitao inevitvel da nossa finitude.
12
A auto-reprovao e lamentaes sobre a realizao da ao
incorreta, que Allison evoca para defender sua tese, parece fortalecer
a tese oposta, j que seriam reaes mais prprias a uma situao
onde o agente genuinamente seguiu suas inclinaes contrariamente
mxima. A nica possibilidade da auto-reprovao e lamentaes
reforarem a tese da incorporao seria pensar que estas tambm
fazem parte do auto-engano. Ns tomaramos as inclinaes em
nossas mximas e fingiramos para ns mesmos que agimos por
fraqueza; ns lamentaramos, portanto, nossas aes, como
dissimuladores da nossas prprias intenes prvias. Tal quadro de
to refinada auto-dissimulao, no entanto, no parece pertencer
moralidade kantiana, ou, ao menos, no a um primeiro grau do mal.
Ainda que essa estratgia parea nos levar longe demais,
talvez ela seja a nica estratgia possvel para um kantiano, visto que
a fraqueza da vontade pressuporia quatro teses, sendo que as trs
primeiras adviriam da condio da racionalidade prtica do agente
13
:
(i) O agente conhece o princpio,
(ii) O agente quer agir conforme ao princpio e adota-o
como mxima
12
Ibid., 121.
13
As 4 teses me foram sugeridas por Guido de Almeida em debate de uma versao
prvia deste texto na ANPOF, Poos de Caldas, outubro de 2000.
Maria de Lourdes Borges
50
(iii) O agente capaz de agir de acordo com o princpio
(iv)O agente no age de acordo com a mxima escolhida,
lamenta-se genuinamente e alega a fraqueza da vontade.
Ora, se o agente conhece, quer e pode agir segundo o
princpio, o fato de no ter agido desta maneira s pode-se dever a
uma nova mxima. A fraqueza, envolta em lamentaes e
arrependimentos, faria parte de um ato dissimulador, auto-
enganoso; portanto, a tese quatro falsa. Tal a estratgia de
Allison. O problema desta o prprio texto kantiano, o qual
diferencia realmente entre um primeiro grau do mal, no qual a
inclinao no incorporada e um terceiro grau, no qual a inclinao
incorporada. Caso o primeiro grau fosse apenas uma auto-iluso,
uma verso aprimorada moralmente do terceiro, isso seria
explicitado no texto.
Se seguirmos uma tese diferente da de Allison e tomarmos a
tese (iv) como verdadeira, ento teremos que adicionar uma causa
restritiva tese (iii), qual seja,
(iiia) o agente capaz de agir conforme o princpio, com
exceo dos casos nos quais tomado com uma forte e
incontrolvel inclinao, ou seja
(iiib) o agente capaz de agir segundo o princpio apenas
quando ele capaz de agir segundo o princpio.
Isso nos levaria a negar a tese 3, visto que ser capaz de
significa sempre ser capaz de. Ou seja, se nem sempre possvel ao
agente agir de acordo com o princpio, ele no capaz de agir
segundo um princpio. Todavia, devemos examinar antes qual a
descrio kantiana de inclinaes e emoes e qual a sua fora
relativa vontade do agente racional, para determinar se, segundo
sua concepo de natureza humana, h realmente momentos no
qual o agente no capaz de agir conforme os princpios que
adotou. Fica claro, desde j, que aes imorais no qual o agente
incorporou os mbeis da inclinao na sua mxima ( o que o caso
das paixes) no apresentam nenhuma dificuldade para a tese
kantiana.
A fim de atestarmos a validade da tese da incorporao,
devemos antes determinar seu campo de validade. Para tal, faz-se
Razo e emoo em Kant
51
necessrio primeiramente esclarecer se todas as aes podem ser
realizadas segundo mximas.
II.3. Mximas
A concepo de mxima na filosofia kantiana pode ser aferida
j na primeira seco da Fundamentao, onde nos dito que as aes
so julgadas moralmente, no conforme seu propsito, mas segundo
sua mxima:
Uma ao por dever tem seu valor moral no no
propsito a ser atingido, mas na mxima de acordo com
a qual a ao decidida, e consequentemente no
depende da realizao do objeto da ao, mas
meramente do princpio do querer, de acordo com a
qual a ao feita independentemente da qualquer
objeto da faculdade de desejar (G, 4:400)
O que uma mxima? Mxima um princpio subjetivo do
querer, uma regra vlida para um agente determinado. Ela no
descreve uma ao particular, mas uma regra geral para o agente,
uma determinao geral do seu querer. Elas princpios prticos, os
quais so definidos como proposies que contm uma
determinao geral da vontade. tendo sob si vrias regras prticas
(KpV, 5:19). Tanto a mxima, quanto a lei prtica so dois tipos de
princpios, com validade diversa: so [princpios] subjetivos, ou
mximas, quando a condio tomada pelo sujeito como vlida
apenas para sua vontade; so objetivos, ou leis prticas, quando a
condio reconhecida como objetiva, ou seja, vlida para a
vontade de todo ser racional.(KpV, 5:19)
O acesso da filosofia kantiana s aes feito atravs de
mximas. So mximas, ou seja, princpios de ao, que so julgadas
pelo imperativo categrico, para a averiguao de sua capacidade de
serem tomadas como lei. Isto j est claro desde a primeira
formulao do imperativo categrico Devo agir sempre como se a
mxima da minha ao pudesse ser tomada como lei universal (G,
4:402). Assim, no julgada a ao especfica daquele que faz uma
promessa quando precisa de dinheiro, mas o princpio fazer uma
promessa com a inteno de no cumpri-la.
Maria de Lourdes Borges
52
Na segunda seo da Fundamentao, Kant submete algumas
mximas ao imperativo categrico, expresso na frmula da lei da
natureza: age como se a mxima de sua ao pudesse se transformar
em lei universal da natureza. (G, 4:421) Novamente aqui, no a
ao especfica de um determinado suicida que julgada, mas o
princpio pelo amor de si, eu fao meu princpio encurtar a minha
vida quando sua maior durao mais ameaa com problemas do que
promete prazeres (G, 4:423).
A ideia de que o acesso possvel s aes humanas depende
da expresso destas segundo mxima no uma pressuposio
trivial, ainda que comum para o estudioso kantiano. Essa no
trivialidade aparece principalmente ao tratarmos dos deveres
imperfeitos. Esses so tematizados principalmente na Doutrina da
Virtude, ainda que j apaream na prpria Fundamentao. Um
exemplo de um dever imperfeito em relao aos outros o dever de
beneficncia. Que ser beneficente um dever foi mostrado na
Fundamentao, seja no exemplo do Filantropo (G, 4:398), seja no
teste da mxima da no beneficncia (G, 4:423), a qual no poderia
ser desejada como lei universal.
A justificativa da mxima de beneficncia dada na Doutrina
das Virtudes, como um dever relativo promoo da felicidade dos
outros. (MS, 6:456) Contudo, se a mxima da beneficncia deve ser
considerada com uma lei, no sabemos qual ao especfica deve ser
recomendada num caso particular. Quando e com quanto devemos
ajudar os necessitados? Esta indagao faz parte das questes
casusticas: Quanto se deve despender dos seus recursos na prtica
da beneficncia? Certamente, no a ponto em que se necessitaria da
beneficncia de outrem (MS, 6:454)
A tica, afirma Kant, no nos d leis, mas apenas mximas
para as aes (MS, 6:389). No caso da beneficncia, um dever
imperfeito que permite uma latitude, a regra da ao especfica
uma questo que deve ser examinada caso a caso. Se a tica kantiana
acessa e julga mximas da ao, as aes devem poder ser
subsumidas sob mximas, ou ao menos para um agente racional.
Muito tem sido debatido sobre esta questo nos ltimos 20 anos,
principalmente na literatura de lngua inglesa. Um dos nossos
objetivos ser examinar este debate, novamente indagando sobre a
pertinncia deste ao texto kantiano. Comearei indagando o que so
Razo e emoo em Kant
53
mximas, se agimos sempre segundo mximas e se somos
conscientes destas. Para anlise deste ponto, vou contrastar duas
interpretaes, a de Onora ONeill e Henry Allison. Na segunda
parte, vou analisar algumas releituras da tica kantiana, para que esta
possa responder s crticas contemporneas. A primeira foi feita por
Christine Korsgaard e refere-se ao procedimento kantiano de
universalizao e contradio da mxima universalizada como
critrio de avaliao da correo moral de uma ao, a fim de evitar
objees quanto inadequao do termo contradio para explicar o
que acontece com uma mxima no moral universalizada. A
segunda refere-se a um acrscimo teoria kantiana feita por Barbara
Herman, denominada de regras de relevncia moral. Tal conceito
visa responder crtica de cegueira moral endereada tica
kantiana e da incapacidade desta de dar conta de elementos
relevantes moralmente para o julgamento de situaes particulares.
Estes refinamentos visam, no a ser uma anlise de texto,
mas um desenvolvimento do que se poderia chamar de tica
kantiana. Neste sentido, no se trata de um trabalho de exegese, mas
da apresentao, aqui, de duas expoentes (Herman e Korsgaard)
deste esforo de releitura contempornea dos textos kantianos, para
dar conta das crticas endereadas a este filsofo.
II.3.1. Mximas, intenes e regras de vida
A teoria de ao em Kant pressupe que o agente racional
age segundo mximas, ou seja, princpios de ao. Segundo a
definio da Crtica da Razo Prtica, mximas so princpios prticos
subjetivos de ao, que contm em si vrias regras prticas. Mximas
expressam polticas gerais de ao, ou, conforme Allison, mximas
so princpios de acordo com os quais um agente realmente age e
tende a agir em situaes similares relevantes.
14
Estes princpios
so aqueles que um agente racional adota livremente, so regras
auto-impostas.
A teoria da ao kantiana pressupe que o agente racional
age por princpios auto-impostos, que ditam o tipo de ao a realizar
em determinadas situaes. As mximas poderiam ser expressas na
forma: em situaes do tipo S, devo fazer aes do tipo A . A
mxima de fazer uma falsa promessa pode ser expressa desta forma:
14
Allison, Kants Theory of Freedom, p. 87.
Maria de Lourdes Borges
54
toda vez que eu me encontrar em apuros (situaes do tipo S), devo
fazer uma falsa promessa (aes do tipo A). Tentaremos, responder
a trs questes relevantes sobre mximas:
(iii) Agimos sempre por mximas?
(ii) Somos conscientes das nossas mximas? Qual a relao
entre mxima e intenes especficas?
(iii) Qual o grau de generalidade de nossas mximas?
(i) A primeira questo a ser tratada neste ponto diz respeito
a agimos sempre por mximas, ou seja, segundo princpios. As aes
causadas por afetos intensos, tais como raiva, ou pavor, poderiam
ser classificadas como uma ao que segue uma mxima? Ao definir
mximas como princpios prticos subjetivos e ao fazer o critrio de
julgamento da moralidade de aes incidir sobre mximas, Kant
parece estar dizendo que agimos sempre segundo princpios. Esta
a posio de Allison, quando este afirma que, segundo Kant, fora as
aes reflexas, todas as nossas aes so guiadas, ou podem ser
subsumidas a alguma mxima.
A posio de Onora ONeill apresenta uma pequena
diferena de nuance: ela afirma que o critrio de universalidade em
Kant deve ser aplicado mxima, logo apenas aquelas aes que
podem ser descritas segundo uma mxima podem apresentar ou no
padres de consistncia: Visto que o teste de universalidade para
seres autnomos no enfoca o que desejado, nem os resultados da
ao, ele se refere a uma concepo de ao que possui um tipo de
estrutura formal que pode satisfazer critrios de consistncia
15
.
Podemos entender esta afirmao de duas formas: ou bem toda
ao humana pode ser expressa atravs de mximas ou bem apenas
aquelas que podem ser expressas atravs de mximas so
apropriadas para um teste de moralidade. A posio de Allison
parece ser a primeira, a de Onora ONeill inclina-se para a segunda,
conforme vemos da continuao da citao: Apenas aqueles atos
que encarnam ou expressam princpios ou descries sinteticamente
estruturadas so candidatos consistncia ou inconsistncia (...) Ao
exigir uma ao segundo mxima, Kant j est insistindo que
15
Onora ONeill, p. 82
Razo e emoo em Kant
55
qualquer coisa que moralmente acessvel deva ter uma certa
estrutura formal.
16
Deve-se atentar para a diferena entre os dois comentadores
neste ponto: segundo Allison, os atos no reflexos de um agente
racional, que inclui os atos humanos, so sempre expressos por
mximas. A posio de ONeill, mais fraca, que apenas os atos
expressos em mximas so candidatos averiguao de sua
moralidade. Qual seria a posio Kantiana? Podemos dizer que
neste ponto ela ambgua.
Segundo a Religio nos Limites da simples Razo, inclinaes s
so causas de ao se elas forem incorporadas na mxima do agente:
um mbil pode determinar a vontade numa ao apenas se o
indivduo o incorporou na sua mxima (Rel., 6: 24). Como vimos,
esta tese foi denominada por Allison de tese da incorporao.
17
Segundo ela, inclinaes e desejos s constituem uma razo
suficiente para agir na medida em que so tomados ou incorporados
na mxima do agente. Isso significa que um ato de espontaneidade
ou autodeterminao est envolvido mesmo em aes baseadas em
inclinaes e desejos
18
. Essa tese implica que se pode, portanto,
agir por inclinao, mas que, mesmo assim, houve um ato de
espontaneidade do agente. Se as aes s so causadas por mbeis
que foram incorporados em mximas, ento no h ao que no
possa ser expressa em mxima.
Contudo, Kant nos fala da fraqueza da vontade, onde ns
temos o acatamento da mxima; entretanto, falta fora suficiente
para segui-la. A fraqueza da vontade, o primeiro grau do mal, um
exemplo de uma ao que no pode ser subsumida sob uma
mxima, exatamente porque ela foi realizada contrariamente
mxima conscientemente assumida. Se seguirmos ONeill,
concluiremos que aes realizadas contrariamente a mximas
anteriormente decididas pelo agente, tal como seria o caso de fortes
emoes, no seriam candidatas acessibilidade moral, pois no teriam
a estrutura formal adequada. Esta posio nos traz duas consequncias:
16
Ibid, p. 83.
17
Essa tese foi apresentada em Kants Theory of Freedom (1990) e discutida por ele em
Idealism and Freedom (1996). Ela aceita, entre outros por Herman (The practice of Moral
Judgment, 1993), Wood (Kants Ethical Thought, 1999)
18
Idealism and Freedom, p. XVII
Maria de Lourdes Borges
56
uma positiva, pois resolveria a pretensa contradio entre a tese da
incorporao e a fraqueza da vontade; uma negativa, visto que a
moralidade kantiana s teria ferramentas adequadas para o julgamento
das aes que podem ser expressas numa determinada estrutura formal.
A fraqueza da vontade implica que, ao menos numa
situao, o mbil da ao no incorporado mxima, exatamente
porque aquele faz o agente agir contrariamente a esta. A veracidade
da tese da incorporao obviamente desejvel do ponto de vista de
uma teoria segundo a qual a razo capaz de determinar a vontade,
mas ela apresenta centralmente dois inimigos: vontade fraca e
inclinaes fortes. O primeiro tematizado na prpria Religio no
primeiro momento do mal, denominado de fragilidade: eu incorporo
a lei na mxima de minha vontade, mas o que idealmente um
mbil irresistvel, subjetivamente mais fraco do que as inclinaes,
no momento em que devo seguir a mxima.
Allison atribui a fraqueza ao auto-engano, ela algo pelo
qual somos responsveis, ou seja, ela uma fraqueza auto-imposta.
Sendo que o mal a tendncia para subordinar o mbil da
moralidade aos mbeis do amor-prprio, a fraqueza deve ser
entendida como essa abertura deliberada tentao. Apenas a nossa
tendncia ao auto-engano nos faz tom-la como um fato bruto. A
rplica de Allison objeo de Baron , ao menos, questionvel, se
levarmos em conta a letra do texto, onde a fraqueza da vontade
explicitada. Assim, a posio de Onora ONeill parece dar conta
desta ambigidade. Ainda que no negando a possibilidade da
fraqueza, estas aes estariam aqum do padro exigido para o
julgamento da moralidade, visto que se no poderia express-la
atravs de mximas. O aspecto negativo da posio de O Neill
que uma parte significativa das nossas aes cairia fora do que
poderamos acessar moralmente.
(ii) A conscincia ou no das nossas mximas outro tema
relevante. Kant em vrias passagens insiste sobre a dificuldade do
nosso acesso as nossas prprias intenes. No apenas a moralidade
da ao alheia nos escapa, como a nossa prpria, visto que
freqentemente somos vtimas do auto-engano, que nos faz tomar
nossas intenes como mais morais do que realmente so. Alm
disso, a obra kantiana repleta de referncias impossibilidade de
determinarmos a moralidade das aes, visto que no temos acesso
Razo e emoo em Kant
57
aos motivos e aos mbeis alheios. A mera observao das aes no
nos dar o acesso moralidade destas: o merceeiro pode no
aumentar o preo por dever ou interesse egosta, o filantropo pode
ajudar os necessitados por compaixo e no por respeito lei etc.
No s a inteno alheia opaca, ns no temos, aos moldes
cartesianos, um acesso indubitvel ao nosso eu e a sua motivao.
Kant recomenda, nas aulas de Antropologia, usando a expresso de
seu amigo Hamman a rdua descida ao inferno do
autoconhecimento (VAnt, 25:7). Tal processo benfico para o
aperfeioamento moral do indivduo; entretanto, o fantasma do
auto-engano estar sempre presente a esconder de ns nossas
prprias intenes. Nem se deve, nos advertido, tentar
exaustivamente esta forma de auto- observao, alm de intil, ela
pode ser perniciosa para a sade: todos os auto-observadores caem
na mais sombria hipocondria (VAnt, 25: 863).
A primeira questo a ser respondida aqui se podemos
identificar inteno de ao com mxima e, posteriormente, se a
dificuldade de termos acesso a nossas intenes implica a
dificuldade de termos acesso a nossa mxima.
As mximas normalmente expressam uma inteno: em
situaes do tipo X, tenho a inteno de agir da forma Y (quando
me vejo em apuros, prometo algo que no tenho a inteno de
cumprir; se a vida me promete mais desgraas do que bem-estar,
tenho a inteno de acabar com minha vida devido ao sentimento
de amor-prprio etc). Se temos o problema da opacidade
intencional, como saber qual a mxima pela qual agimos? Temos
aqui ao menos duas interpretaes que pretendo contrastar. A
primeira a de Allison, segundo a qual somos conscientes ou
capazes de conscincia do princpio segundo o qual agimos, ainda
que no o formulemos claramente. Num paralelo da espontaneidade
prtica com a apercepo, Allison afirma: uma mxima que eu no
possa nunca ser consciente como minha, assim como uma
representao que eu no possa ligar ao Eu Penso, no seria nada
para mim enquanto um ser racional.
19
Por sua vez, ONeill defende que somos conscientes de nossas
intenes especficas, mas no de nossas mximas. Ela defende que a
mxima de uma ao no pode ser simplesmente igualada s intenes
19
Allison, Kants theory of Freedom, p. 90.
Maria de Lourdes Borges
58
especficas de ao, visto que as intenes (e no a mxima) podem se
referir a aspectos acidentais do ato ou situao particular. Ela nos d o
exemplo da mxima tratar bem seu convidado. Vrias regras prticas
estariam subsumidas sob esta mxima: oferecer caf, adicionar acar e
at mesmo algumas aes reflexas, como mexer o caf com a colher,
podem ser subsumidas a esta mxima.
Para tratar bem meu convidado, eu posso oferecer-lhe uma
xcara de caf. Oferecer caf a um visitante envolve aspectos da minha
ao que so intencionais- a escolha da xcara, a adio de leite, mexer o
caf- mas haver vrios aspectos da ao que esto abaixo do nvel da
inteno, tais como o gesto com o qual eu alcano a xcara ao meu
visitante, o nmero preciso de mexidas da colher... Todas estas vrias
intenes especficas esto subsumidas a mxima geral, de onde
ONeill redefine mxima como Mximas so princpios gerais ou
intenes atravs das quais ns guiamos ou controlamos nossas
intenes mais especficas
.Segundo Onora ONeill, ns somos
conscientes de nossas intenes especficas, mas nem sempre de nossas
mximas. Qual a diferena entre mxima e inteno? Usualmente, as
mximas expressam uma inteno de ao, ainda que no uma inteno
especfica. Na mxima da promessa falsa, est expressa a inteno de
prometer algo que no possamos cumprir, na mxima da mentira, de
mentir quando necessitamos, na mxima da benevolncia, de ajudar-
mos os necessitados,... Neste sentido, as mximas expressam intenes
gerais de ao, a conscincia da finalidade a ser atingida. ONeill chama
a ateno para o fato de que podemos ter conscincia da inteno
especfica para agir de determinada maneira, mas no do motivo ou do
mbil pelo qual adotamos uma mxima. Visto que o motivo
(fundamento objetivo) e o mbil (fundamento subjetivo) fazem parte
da mxima, e nem sempre sabemos o motivo e o nosso mbil, ento
no podemos sempre saber qual a nossa mxima. Assim, a mxima de
no aumentar os preos pode ter como motivo o dever ou o egosmo.
Allison concorda que no temos acesso aos nossos mbeis,
mas defende que mesmo assim, temos acesso mxima.: o
agnosticismo de Kant em relao moralidade das nossas aes no
deve ser tomado como um agnosticismo em relao s mximas.
Pode-se estar ciente de que se est agindo segundo uma mxima,
Razo e emoo em Kant
59
por exemplo, de tratar os outros de forma justa, sem saber se a ao
feita por dever ou interesse prprio
20
Para decidirmos qual a posio correta, se a de Allison ou
ONeill, deve-se decidir se as mximas trazem na sua descrio o
motivo da ao. Se admitimos que as mximas incluem em si o motivo
de ao, ento, em ocasies onde no formos conscientes de nossos
motivos, (por exemplo, se no soubermos se agimos por dever ou
interesse), no seremos conscientes de nossa mxima. Contudo, se
tomarmos o termo mxima como apenas uma regra externa da ao,
poderemos, como afirma Allison, ter acesso a nossa mxima, mesmo
quando no estamos certos em relao nossa motivao.
(iii) Generalidade: As mximas apresentadas por Kant
apresentam nveis diferentes de generalidade. Pode haver mximas
com um menor nvel de generalidade, tal como no aumentar os
preos at fazer uma promessa falsa quando se est em apuros.
Segundo Hffe, o termo mxima deveria ser reservado apenas para
princpios cuja amplido os classificassem como regras de vida
21
.
Realmente, na Religio, Kant afirma que as mximas podem ser
divididas em dois tipos gerais: mximas morais e mximas de amor
de si. Parece que temos aqui a concepo de meta-mxima, em
relao aos quais os agentes estariam comprometidos.
A discusso do grau de generalidade da mxima de
extremo interesse, pois permite resolver dilemas morais na filosofia
kantiana, tal como o dever de dizer sempre a verdade, mesmo
quando um assassino pergunta por aqueles que prezamos. Poder-se-
ia dizer, conforme sugesto de Blackburn
22
, que aquele que omite o
paradeiro daqueles que preza a um assassino no estaria agindo
segundo a mxima mentir permitido quando necessitamos mentir, mas
mentir permitido para pessoas que matariam aquelas pessoas que prezo caso eu
contasse a verdade.
Se atentarmos para este leque possvel no que toca ao grau de
variao das mximas, poderemos redefinir algumas mximas a fim de
que estas tivessem um menor grau de generalidade, evitando algumas
consequncias indesejveis do ponto de vista moral comum.
20
Allison, Kants Theory of Freedom, p. 93.
21
Ottfried Hffe, Kants Kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen, p.
84-119.
22
Blackburn, Ruling Passions, p. 217.
Maria de Lourdes Borges
60
Aps esta breve exposio do conceito de mxima e de suas
diferentes anlises, passaremos releitura contempornea de Kant,
no que toca a dois pontos: a contradio da mxima universalizada e
as regras de salincia moral.
II.3.2 Contradio na universalizao das mximas
A fim de averiguar se uma ao moral ou no, Kant prope
o procedimento do imperativo categrico, que consiste em tomar a
mxima de nossa ao e universaliz-la. O que aconteceria se esta
mxima fosse vlida, no apenas enquanto princpio prtico subjetivo,
mas enquanto lei, ou seja, vlida para todos os agentes racionais? Caso
a mxima universalizada engendre uma contradio, esta uma mxima
imoral. Isto significa que posso quer-la para mim, mas no posso
querer que se torne uma lei universal. O problema aqui reside em
determinar o que pode contar como uma contradio e de que tipo de
contradio se trata. Kant nos fala, na Fundamentao, de uma
contradio na mxima e uma contradio na vontade:
Algumas aes so constitudas de forma sua mxima
no pode nem ser pensada como uma lei universal da
natureza sem contradio, muito menos podemos
desejar que deva ser assim. Nos outros casos, a
impossibilidade interna no encontrada, mas
impossvel querer que a mxima seja elevada
universalidade de uma lei da natureza, porque tal
vontade seria contraditria consigo mesma. (G, 4:424)
Esses dois tipos de contradio ficaram conhecidos como,
respectivamente, contradio na mxima e contradio na vontade.
Um dos exemplos que mais se prestaria contradio na mxima
seria o exemplo da promessa falsa. Ao ver-me em apuros, prometo
algo que sei, de antemo, no poder cumprir. Se fizer agora a
experincia mental de transformar esta mxima em lei, vejo que no
gostaria que esta fosse uma lei vlida para todos, j que (1) eu
poderia tambm ser vtima da promessa falsa e (2) a prpria ideia de
promessa perderia o sentido.
A crtica dos opositores tica kantiana quando ao
procedimento de averiguao de ao (mxima) moral tem seguido
o esprito da crtica j endereada a Kant por Adam Smith. Kant
Razo e emoo em Kant
61
mostraria apenas que seres racionais no almejam consequncias
indesejadas, mas no haveria nestas qualquer impossibilidade lgica
ou fsica: tudo o que ele mostra, nos diz Adam Smith, que as
consequncias da adoo universal da mxima seriam tal que
ningum escolheria.
23
Simon Blackburn, recentemente, fez uma crtica interessante e
bem humorada pretensa contradio presente nos exemplos
kantianos. O que ele denomina de sonho kantiano a tentativa de
fundamentar, na razo prtica pura, princpios que so defendidos por
outras correntes de tica, mas sem tal fundamento: Hume e Smith no
diferem de Kant em trombetear as virtudes da reciprocidade, respeito e
universalidade, ao menos no sentido do respeito pelo ponto de vista
comum. Eles diferem sobre o status desta aprovao. Kant requer que
isto seja um teorema da razo prtica pura.
24
Vejamos como Kant tenta fundamentar a moralidade nos
quatro exemplos utilizados por ele na Fundamentao: Relembremos
os exemplos dados por Kant: 1) suicdio, 2) promessa, 3) talentos, 4)
ajuda aos necessitados. A contradio resultante no exemplo 2, seria
uma contradio no conceito de promessa: quando a falsa promessa
universalizada, o prprio termo promessa perderia o sentido, j
ningum mais acreditara em nenhuma promessa.
No exemplo do suicdio, haveria o que poderamos chamar
de uma contradio teleolgica: o suicida que tira sua vida para
evitar a dor, estaria utilizando um sentimento de amor prprio
contrariamente a sua funo natural, qual seja, preservar a vida. Esta
justificativa, segundo Blackburn, soa to sensata quanto dizer que o
motorista (cuja funo fazer o carro andar) deve, algumas vezes,
usar o freio (cuja funo fazer o veculo parar). Um sistema da
natureza - afirma Blackburn- pode muito bem promover a vida
at um ponto e no alm disso, da mesma forma como a natureza
gera louva-deuses machos cuja funo inclui servir de comida as
suas parceiras.
25
No terceiro e quarto exemplo, no haveria nenhuma
contradio num mundo onde a mxima valesse como lei da
natureza, mas na vontade que deseja transformar esta mxima em lei
23
Stuart Mill, Utilitarianism, apud. Korsgaard, op. cit., p. 80.
24
Blackburn, Ruling Passions, p. 215.
25
Blackburn, op. cit., p. 221.
Maria de Lourdes Borges
62
da natureza. No exemplo dos talentos, no poderamos querer que
aquilo que existe para ser desenvolvido no fosse desenvolvido,
visto que um ser racional necessariamente quer que suas capacidades
sejam desenvolvidas, pois elas serviro para toda sorte de fins
possveis. Voltamos novamente s objees de Blackburn:
desenvolver talentos um bom conselho, sem dvida. Pode chegar
um dia onde voc deseje ter cultivado seus talentos: se voc ficasse
preso numa ilha deserta teria sido bom ter aprendido a construir
navios, se voc fosse capturado por chineses teria sido bom ter
aprendido chins. Contudo, talvez este dia nunca chegue e a maioria
de ns aposta que este dia nunca vai chegar. Isso no significa,
afirma Blackburn, que no seja um bom conselho cultivar os
talentos, ou mesmo que no seja um correto imperativo hipottico
se voc quer se proteger contra uma gama de problemas possveis,
cultive seus talentos. No h, todavia, segundo este crtico, a
prometida correlao entre imperativo categrico e razo pura.
A contradio que adviria do exemplo 4 mais questionvel
ainda: no poderamos querer que valesse uma lei da no
benevolncia, defende Kant, porque, ao necessitarmos de ajuda, no
contaramos com esta. Uma boa crtica a este exemplo foi feita por
Herman, na qual mostra que a poltica de no benevolncia como
no poupar: dependendo da minha situao atual e minha tolerncia
ao risco, eu posso considerar que seria razovel tolerar o risco de
precisar de dinheiro no futuro e no contar com fundos de reserva.
O mesmo se passaria com a ajuda alheia: dependendo da minha
posio na sociedade, poderia aceitar o risco de no ser ajudado em
caso de necessidade.
Christine Korsgaard pretende uma interpretao do termo
contradio que evite alguns problemas apontados pelos
comentadores. No livro Creating the Kingdom of Ends
26
, mostra que
foram oferecidos trs tipos diferentes de interpretao para a
contradio da qual nos fala Kant: a interpretao da contradio
lgica; a interpretao da contradio teleolgica; a interpretao da
contradio prtica.
A interpretao da contradio lgica consistiria em afirmar
que h uma impossibilidade lgica na universalizao da mxima ou
no sistema da natureza regido pela mxima. A interpretao da
26
C. Korsgaard, Creating the Kingdom of ends, p. 77-105.
Razo e emoo em Kant
63
contradio teleolgica, por sua vez, afirma que a mxima da ao
no poderia ser uma lei de um sistema de natureza concebido
teleologicamente, visto que haveria uma inconsistncia entre a
mxima e um sistema natural teleologicamente orientado.
Como alternativa a estas duas (exaustivamente criticadas)
interpretaes, Korsgaard sugere o modelo de contradio prtica,
no qual sua ao se tornaria inefetiva para o propsito desejado, se
todos a usassem para este propsito. Visto que o agente deseja agir
segundo sua mxima, seu propsito seria frustrado. A mxima
tornaria inefetivo o nosso propsito se todos tentassem us-la para
o mesmo propsito.
Como modelo de contradio prtica, Korsgaard evita o apelo
a uma contradio lgica ou a pressupostos naturais teleolgicos
questionveis. O modelo de contradio prtica parece oferecer uma
melhor explicao ao exemplo da promessa, evitando a crtica de Mill.
Contudo, os outros exemplos no parecem poder ser mais bem
explicados por este modelo. A prpria Korsgaard admite que este
modelo funcionaria melhor com aes convencionais, como o caso da
promessa. Nessas, a contradio surge porque o agente se engaja numa
ao convencional, mas ele ao mesmo tempo quer um estado de coisas
nas quais a ao no vai funcionar. O mesmo pode ser dito de outras
aes que envolvem prticas convencionais, tais como furar a fila ou
fabricar dinheiro falso.
A insuficincia deste modelo aparece quando tratamos de
aes no convencionais, mas naturais. O exemplo dado por
Korsgaard o assassinato como mtodo de conseguir um emprego
quando somos o segundo colocado numa seleo. Aparentemente,
no h prtica que seja destruda pela universalizao da mxima e
que impea o propsito inicial. Poderamos pensar, contudo, que se
tal mxima fosse universalizada, o processo de seleo para
concursos deixaria de ser tal qual , que os classificados fossem
annimos, por exemplo, de tal forma que a prtica inicial ficasse
interditada. A contradio prtica daria conta, ento, tambm deste
exemplo, ainda que no de todo tipo de assassinato. Korsgaard
chama a ateno que assassinato por vingana ou desavenas
pessoais, que no envolvam prticas convencionais, no
encontrariam tal interdito.
Maria de Lourdes Borges
64
A adoo da ideia da contradio prtica, ao invs de
contradio lgica ou teleolgica, daria conta de forma mais eficaz
da interpretao do procedimento do imperativo categrico quando
este envolve prticas convencionais, mas no dos exemplos do
suicdio, dos talentos e da beneficncia.
Uma outra contribuio dos comentadores atuais
discusso de mxima em Kant menos uma anlise do texto
kantiano e mais o que poderamos chamar de acrscimo a uma
filosofia kantiana. Trata-se da ideia de regras de relevncia moral
(rules of moral salience, RMS), tematizada por Brbara Herman do livro
The Practice of Moral Judgment. Herman no pretende com este tema
ser uma exegeta de Kant, mas de tornar a tica kantiana mais
atraente e com maior capacidade de responder s crticas a ela
endereadas. Isto no significa que no haja nada no texto kantiano
prximo s regras de relevncia moral, mas a motivao de Herman
veio do fato de que, segundo ela, a concepo que temos da filosofia
kantiana acabou dependendo mais dos seus crticos do que seus
defensores. Pensamos, por exemplo, que a filosofia kantiana
formal, incapaz de perceber as nuances particulares moralmente
relevantes, pois assim nos foi apresentada pelos seus crticos. Uma
filosofia moral que pretende funcionar atravs de mximas parece
condenada realmente s crticas de formalismo vazio e
insensibilidade moral. Temos uma srie de exemplos que enfatizam
estas caractersticas. Um dos mais conhecidos o exemplo do
naufrgio, onde um homem deve escolher quem salvar num
naufrgio; segundo a tica kantiana, salvar a sua mulher no
pareceria mais razovel do que salvar qualquer outro. Este exemplo
parece indicar que a tica kantiana cega quanto a distines morais
bvias ao ser humano comum.
O que Herman quer mostrar que, para a prtica do
julgamento moral que Kant pretende, o agente deve possuir algo
como um senso moral anterior ao prprio procedimento de
averiguao da correo moral da mxima, ou seja, do procedimento
do imperativo categrico. Deve-se salientar aqui que o imperativo
categrico pode ser expresso, numa de suas formulaes, como um
procedimento de averiguao de correo moral, mas que no se
resume a isso, podendo assumir frmulas com contedo, tais como
Razo e emoo em Kant
65
a frmula da humanidade, que prescreve que devemos tratar o
outro, no apenas como meio, mas tambm como fim em si.
Este anlogo ao senso moral so as regras de relevncia moral,
que decidem, nos casos particulares, quais aes, ou mximas, sero
julgadas pelo procedimento do imperativo categrico. No so
quaisquer mximas que so levadas a este procedimento:
agentes morais normais no questionam a
permissibilidade de tudo o que eles se propem a fazer
(almoar, ir ao cinema,...). Ns esperamos que agentes
morais possuam conhecimento dos tipos de aes que
geralmente no so permissveis e dos tipos de ao que
no tm importncia moral. No imaginamos que
agentes morais normais rotineiramente levam mximas
de atos imorais ao procedimento do imperativo
categrico apenas para descobrir (para sua surpresa?)
que so proibidos.
27
O que os exemplos de Kant, na Fundamentao, mostram que
a necessidade de um julgamento pelo Imperativo Categrico (IC)
aparece quando o agente tem uma boa razo para realizar uma
determinada ao, uma necessidade ou interesse, e suspeita que este ato
pode no ser permitido. Analisando o caso da promessa enganosa para
ver-se livre de dificuldades financeiras, o agente tem uma ideia de que
enganar algo que precisa ser questionado moralmente, pois
normalmente algo que no permitido fazer. Ele sabe tambm que
aquilo que normalmente proscrito pode, dependendo das
circunstncias, ser permitido. O que o agente quer saber, e por isso
utiliza o procedimento do IC, se este o caso, ou seja, se fugir a
dificuldades financeiras pode ser um caso onde o que usualmente no
permitido, no caso, enganar, pode ter uma exceo.
O agente que vai utilizar o procedimento do IC necessita de
um conhecimento moral prvio, ele no pode ser cego moralmente.
Isto decorre do fato de que o IC no julga aes, mas mximas de
ao, e mximas contm apenas aqueles elementos descritivos que
pertencem concepo que o agente possui de sua ao e de suas
circunstncias. Ou seja, antes de ser julgada, a mxima deve ser
27
Herman, The Practice of Moral Judgment, p. 76.
Maria de Lourdes Borges
66
formulada; para ser formulada, o agente deve ser capaz de identificar
na sua ao o que moralmente importante.
Poderamos dizer que tal viso moral foi denominada pelos
empiristas, antes e contra Kant, de senso moral. O senso moral
possua este papel cognitivo de destacar os fatores moralmente
relevantes das aes e situaes. O apelo a um sentimento deste
tipo, todavia, corromperia as bases de uma filosofia kantiana,
provavelmente por tal razo, Herman vai denominar este
conhecimento moral prvio necessrio de regra de relevncia moral.
Estas regras, adquiridas atravs de uma educao moral, fazem com
que o agente perceba um mundo com caractersticas morais.
28
Perceber um mundo com caractersticas morais significa ser capaz
de destacar, nas aes desejadas ou suas circunstncias, elementos
que necessitam de ateno moral.
Seria a teoria da regras de salincia moral estranha ao
sistema kantiano? A resposta de Herman que esta regra
corresponde ao imperativo categrico, no como procedimento,
mas na frmula da humanidade. Como podemos resolver alguns
problemas e refutar algumas objees atravs desta interpretao?
Poderamos, por exemplo, resolver o problema da mentira no caso
de ela ser necessria para salvar uma vida, absorvendo este elemento
relevante na expresso da mxima. O teste do imperativo categrico
no se aplicaria a deve-se fazer uma promessa falsa quando nos
encontramos em dificuldades financeiras ou deve-se mentir
quando tenho necessidade, mas a questo deve-se fazer uma
promessa falsa quando a vida de algum est em perigo?. Com esta
modificao, poderamos resolver o problema do homem que deve
dizer a verdade quando um assassino lhe pergunta sobre o paradeiro
de seu amigo.
Poderamos tambm dar conta de um outro problema da
tica kantiana, sua aparente atemporalidade. Mudanas nas regras de
salincia moral, como a considerao dos direitos das mulheres ou
outros indivduos, significam mudanas no que levamos ao
procedimento do imperativo categrico.
Em relao s mximas, considero que as releituras
contemporneas de Kant apresentam formas de lidar com as
objees clssicas a esta doutrina tica. Se, em certa medida, elas nos
28
Herman, op. cit., p. 77
Razo e emoo em Kant
67
oferecem algo como um kantismo mitigado, com ambio menor
do que a original, elas nos presenteiam, ao menos, com uma
doutrina mais atual e satisfatria.
III. PSICOLOGIA EMPRICA, ANTROPOLOGIA E
METAFSICA DOS COSTUMES EM KANT
Este captulo tem como objetivo explorar a relao entre
psicologia emprica, antropologia e metafsica moral em Kant. H
lugar para a psicologia emprica e para a antropologia na filosofia
moral kantiana? Se esta fundamentada em princpios a priori, qual
a validade, para alm da mera curiosidade do erudito, do
conhecimento das peculiaridades empricas do ser humano? A
segunda questo refere-se relao que Kant estabelece entre
psicologia emprica e antropologia e como ambas se relacionam com
a filosofia moral. Vou tentar mostrar que esta relao passa por trs
momentos na obra kantiana: um primeiro momento, no qual Kant
ensina a psicologia emprica como parte da metafsica, seguindo o
texto de Baumgarten, um segundo momento, cuja referncia a
Fundamentao, corroborada pelas anotaes de Mrongovius, onde a
psicologia emprica e a antropologia so alheias investigao do
filsofo, e um terceiro, exemplificado pela Antropologia do Ponto de
Vista Pragmtico e pela Metafsica dos Costumes, onde uma concepo
de natureza humana faz parte de uma metafsica da moral.
III.1. A psicologia emprica numa teoria moral a priori
1
Qual o papel de um conhecimento emprico para uma teoria a priori?
Se colocarmos a questo nestes termos, a resposta seria fcil:
nenhum. Contudo, uma teoria moral, ainda que possa obter seu
princpio moral supremo sem consideraes sobre a natureza
humana, no pode deixar de indagar sobre a aplicabilidade destes
princpios aos seres racionais sensveis. O objeto do que podemos
chamar de psicologia emprica a natureza emprica do homem. Tal
objeto tratado por Kant com especial nfase na Antropologia e nas
1
Uma verso preliminar deste captulo foi apresentado na reunio do GT- Kant da
Anpof, 2002, So Paulo e publicada, posteriormente, na revista eletrnica Kant-e-
prints. Gostaria de agradecer a Zeljko Loparic, Robert Louden, Ricardo Terra e Jos
Heck pelos comentrios e crticas s vrias verses deste texto.
Maria de Lourdes Borges
70
Lies sobre Metafsica. Sem dvida, a descrio emprica das faculdades
do ser humano no faz parte da determinao dos princpios a priori da
moralidade, assim como as leis particulares da natureza no nos
fornecem conceitos a priori. Porm, da mesma forma como a fsica, o
estudo emprico das leis da natureza, deve concordar com o
conhecimento a priori obtido na Crtica da Razo Pura, a cincia emprica
do homem deve mostrar o mesmo no que toca lei da moralidade
obtida na Fundamentao e na Crtica da Razo Prtica.
A relao entre a metafsica moral e a filosofia emprica
kantiana poderia ser enunciada em duas teses, uma mais forte, outra
mais fraca. A tese forte defenderia que o contedo da filosofia moral se
prestasse a verificao emprica, a tese fraca seria que, ao menos, elas
no fossem contraditrias. Kant, em vrias passagens, ope-se
frontalmente a tese forte. Na Fundamentao, ele nos alerta sobre o
prejuzo causado por aqueles que pretendem extrair a moralidade da
experincia: Se at agora- Kant ressalta, referindo-se ao mtodo da
primeira seo da Fundamentao- retiramos nosso conceito de dever do
uso comum da nossa razo prtica, no deve ser inferido, de forma
alguma, que o tratamos como um conceito da experincia (G, 4: 406).
De fato, alerta o filsofo, no se pode dar pior conselho moralidade
do que querer deriv-la de exemplos (G, 4: 408).
Alm disso, a obra kantiana repleta de referncias
impossibilidade de determinarmos empiricamente a moralidade das
aes, visto que no temos acesso aos motivos e aos mbeis alheios.
A mera observao das aes no nos dar acesso moralidade
destas: o merceeiro pode no aumentar o preo por dever ou
interesse egosta, assim como o filantropo pode ajudar os
necessitados por compaixo e no por respeito lei. No s a
inteno alheia opaca, ns no temos, aos moldes cartesianos, um
acesso indubitvel ao nosso eu e sua motivao. A opacidade
intencional deriva da impossibilidade de termos acesso pleno ao
nosso eu emprico. Esta uma das razes, segundo Allen Wood, da
necessidade de uma teoria sobre o eu noumenal em Kant: as
conjecturas kantianas sobre liberdade noumenal so possveis
apenas porque ns no podemos nunca ter conhecimento emprico
satisfatrio sobre a mente. Se ns tivssemos acesso confivel s
causas do nosso comportamento, ento seria indefensvel sustentar
que as causas reais so diferentes destas e transcendem toda
Razo e emoo em Kant
71
experincia.
2
A posio de Wood interessante por mostrar que
um dos sentidos de falarmos sobre um Eu noumenal exatamente
no podermos ter acesso ao nosso eu emprico e suas motivaes.
Se no podemos ter uma prova da moralidade atravs da
investigao emprica, resta-nos a tese fraca, a investigao emprica
sobre o homem no poderia estar em contradio com a filosofia
moral. As inclinaes, emoes e paixes humanas, em suma, aquilo
que diferencia o ser racional sensvel de uma vontade divina, no se
poderia constituir em obstculo moralidade.
Entre a investigao propriamente emprica do ser humano,
suas peculiaridades, inclinaes e tendncias, e o princpio supremo
da moralidade, h o que poderamos chamar de princpios de
aplicao. Assim como temos princpios de aplicao dos princpios
a priori da experincia a objetos da experincia, ns deveramos ter
um anlogo numa cincia dos princpios de aplicao da moralidade.
Num interessante texto de Paton sobre amizade
3
,
originalmente de 56, portanto muito antes da publicao das
Vorlesungen ber Anthropologie e dos comentrios sobre estas
anotaes de alunos, esse tradicional comentador j atentava para a
importncia da antropologia em Kant. Ele ressalta que Kant deu
aulas sobre a Antropologia por 30 anos e que considerava esta como
sendo uma incumbncia importante da sua tarefa como professor de
filosofia pura. Lembra ainda que o filsofo considerava as aulas
sobre antropologia e geografia fsica como importantes para o
conhecimento do mundo e da natureza humana, sem o qual o dever
prescrito pela razo no pode ser colocado em prtica. Contudo,
ressalta Paton, Kant distinguia trs nveis: o nvel dos princpios
morais, dos princpios de aplicao e a psicologia propriamente dita:
pensar sobre princpios morais ltimos deve, tal como Kant
sempre insistiu, ser claramente distinto de pensar sobre sua
aplicao com o auxlio da psicologia e ambos devem ser distintos
do estudo da prpria psicologia. Para ser abrangente, no
necessrio ser confuso
4
.
Ainda que possamos concordar com Paton sobre a
necessidade de distinguir estes trs nveis, Kant nem sempre foi
2
WOOD, Practical Anthropology, p. 469.
3
PATON, Kant on Friendship, p. 133-173.
4
Ibid., p. 147.
Maria de Lourdes Borges
72
claro sobre isso. A identidade ou no da psicologia e antropologia, o
lugar da antropologia no sistema e mesmo a concepo tardia de
uma antropologia pragmtica mostra que a distino destes nveis
no to precisa na obra kantiana. Nosso propsito agora ser
rastrear alguns momentos desta, a fim de mostrar estes
deslocamentos de locus e sentido.
III.2. Lies sobre Metafsica: o refgio provisrio da
psicologia emprica
Nas aulas sobre Metafsica ministradas nos meados dos anos 70,
Kant, seguindo Baumgarten, expe, como parte do seu curso, as
doutrinas da psicologia racional e psicologia emprica. Nas
anotaes dos alunos agrupadas como Metaphysik L1, nos exposta
a analogia que a fsica mantm com a psicologia. Ambas fazem parte
do que chamado de fisiologia, compreendida como o
conhecimento do objeto dos sentidos. A soma de todos os objetos
dos sentidos a natureza, logo, fisiologia o conhecimento da
natureza. A fisiologia pode ser emprica ou racional: Fisiologia
emprica o conhecimento dos objetos dos sentidos, na medida em
que so obtidos a partir dos princpios da experincia; fisiologia
racional o conhecimento dos objetos, na medida em que obtido,
no da experincia, mas de um conceito da razo. (ML1, 28:221)
Aqui Kant esclarece que a diviso entre emprico e racional refere-se
apenas forma do conhecimento, no ao seu objeto:
O objeto sempre um objeto dos sentidos e da
experincia, apenas seu conhecimento pode ser obtido
atravs dos conceitos puros da razo, por esta razo a
fisiologia distinta da filosofia transcendental, na qual o
objeto no retirado da experincia, mas da razo pura.
(ML1, 28: 222)
Um exemplo do que seria fisiologia racional <physiologia rationalis>
dado pelo estudo da doutrina do movimento atravs do conceito de
corpo: um corpo infinitamente divisvel, uma quantidade de
matria pertence a ele, a matria ocupa espao, a matria possui uma
inrcia, logo ela s pode mover-se atravs de um poder exterior. Aqui
ns compreendemos um objeto dos sentidos, o movimento dos
Razo e emoo em Kant
73
corpos, atravs de um conceito, o conceito de corpo. Outras
propriedades dos corpos seriam estudadas pela fisiologia emprica <
physiologia empirica>: os corpos atraem uns aos outros, so pesados etc.
A classificao da fisiologia pode ser feita segundo a forma
(racional e emprica) e tambm segundo o objeto ou a matria.
Temos, ento, a diviso segundo os objetos do sentido externo e do
sentido interno: a fisiologia do sentido externo a fsica; do sentido
interno, a psicologia. Ambas so, por sua vez, desdobradas numa
parte racional e outra emprica.
A metafsica defendida como cincia da razo pura; logo,
nem a fsica emprica, nem a psicologia emprica devem ter lugar a.
Contudo a psicologia emprica tratada dentro da metafsica. Qual a
razo disto? Kant responde:
A razo pela qual a psicologia emprica <psychologia
empirica> foi colocada na Metafsica claramente a
seguinte: ningum nunca soube realmente o que
metafsica, ainda que ela tenha sido exposta por tanto
tempo. No se sabia como determinar seus limites, logo
se coloca a muito do que no realmente lhe pertencia
(...) A segunda causa foi claramente a seguinte: a
doutrina da experincia das aparncias da alma no
chegou a nenhum sistema que pudesse constituir uma
disciplina acadmica separada. (ML1, 28: 223)
Havia, portanto, um costume de colocar a psicologia
emprica dentro do estudo da metafsica, que se devia indefinio
dos limites desta, bem como ao estado ainda incipiente daquela
enquanto doutrina completa. Contudo, Kant prev, com o tempo,
haver expedies para conhecer os seres humanos, assim como foi
realizado para se familiarizar com as plantas e animais. (28: 224)
O interessante que Kant nos diz o seguinte: ns no
sabemos porque a psicologia emprica deve ter um lugar na Metafsica
e, se ela o tem, deve-se impreciso do termo Metafsica e ao fato da
psicologia no ter desenvolvido-se ainda como cincia.
Um dos conceitos centrais da psicologia emprica o conceito
de eu: O substrato <substratum> que informa e expressa o conceito de
sentido interno o conceito de eu, o qual meramente um conceito da
psicologia emprica (ML1, 28:224). A anlise deste conceito feita
Maria de Lourdes Borges
74
atravs da anlise das faculdades. Eu me sinto, eu intuo a mim mesmo,
como passivo ou ativo: o que pertence minha faculdade enquanto eu
sou passivo pertence minha faculdade inferior; o que lhe pertence
enquanto eu sou ativo pertence minha faculdade superior. Temos trs
faculdades, de acordo com as trs coisas que pertencem ao meu Eu:
representaes, desejos (apetites) e prazer e desprazer. O Eu comps-
to, portanto, de trs faculdades (cognitiva, de desejar e de prazer e
desprazer) , cada uma dividindo-se em inferior e superior. Atravs da
faculdade cognitiva inferior, temos representaes dos objetos que nos
afetam; a faculdade cognitiva superior o poder de termos represen-
taes a partir de ns mesmos. A faculdade de desejar inferior o
poder que temos de desejar objetos que nos afetam; a superior o
poder de desejar algo por ns mesmos, independente de afeco de
objetos. Analogamente, a faculdade de prazer e desprazer inferior a
capacidade de sentir satisfao (Wohlgefallen/ complatentia) ou no-satis-
fao pelos objetos que nos afetam. As faculdades inferiores tm como
condio a afeco por objetos, as faculdades superiores tem como
caracterstica, ao contrrio, exatamente a independncia desta afeco.
Em relao a esta exposio, interessante fazer algumas
observaes. Primeiramente, o que se poderia denominar, de modo
geral, de uma doutrina das faculdades , no contexto destas Lies,
tratado como psicologia emprica. A esta se ope uma psicologia
racional, que trata da substancialidade, imortalidade e interao da
alma com outras substncias. Em segundo lugar, cabe salientar que
a filosofia crtica vai abalar os pilares, no da psicologia emprica,
mas da psicologia racional. O que refutado na Crtica da Razo pura,
principalmente nos paralogismos, a substancialidade da alma e o
que a acompanha: simplicidade, unicidade etc.. A filosofia crtica a
refutao da tentativa de conhecer objetos do sentido interno
atravs de conceitos (de substancia, de uno etc), no a tentativa de
conhecer os objetos do sentido interno atravs da experincia. A
concepo de eu transcendental contrria ao eu substancializado
da psicologia racional, mas no incompatvel com o estudo do eu
emprico, enquanto objeto do sentido interno. Isso explicaria, talvez,
porque a psicologia emprica tolerada e at mesmo acolhida.
mister atentar para o fato de que a Crtica da Razo Pura,
que pretende destruir as bases da psicologia racional, reduzindo-a a
Razo e emoo em Kant
75
uma lgica da iluso, ainda concede um abrigo temporrio
psicologia emprica:
Todavia, de acordo com o uso da escolstica, devemos
conceder ainda a ela (a psicologia emprica) um pequeno espao na
metafsica, (mas somente como episdio), e isto por motivos de
economia, porque ainda no to rica para constituir isoladamente
um estudo e, todavia, demasiado importante para que se possa
repelir inteiramente ou lig-la a outra matria, com a qual tivesse
ainda menos parentesco do que com a metafsica. B876/7
III.3. Fundamentao: separao radical entre
antropologia prtica e metafsica moral
Na Introduo Fundamentao da Metafsica dos Costumes,
somos confrontados com uma ntida separao entre metafsica e
psicologia emprica. A tica se divide em uma metafsica dos
costumes e uma antropologia prtica. Aps introduzir as trs
cincias bsicas desde os gregos (fsica, tica e lgica), Kant afirma
que as duas primeiras tratam de objetos, enquanto a segunda
formal. Temos uma cincia das leis da natureza e outra das leis da
liberdade, que admitem uma parte pura e uma parte emprica. A
fsica possui uma parte emprica, mas tambm uma parte racional,
metafsica da natureza, o mesmo acontecendo com a tica, cuja
parte emprica denomina-se antropologia prtica e a parte pura,
metafsica dos costumes. (G, 4:388, grifo meu). Esta nos d a lei segundo
a qual tudo deve acontecer, enquanto aquela nos fornece
informaes sobre a natureza humana, cuja obteno deve estar a
cargo de um outro profissional, no um filsofo, o qual deve
procurar apenas os primeiros princpios.
Duas observaes fazem-se necessrias aqui. Primeiro, o
domnio emprico, neste texto de 85, no se refere a uma psicologia
emprica, tal como nas Lies de Metafsica de meados dos anos 70.
Isto no significa que a psicologia emprica foi banida do domnio
da filosofia moral, mas que foi incorporada antropologia prtica.
Uma das provas dessa incorporao a afirmao contida na Crtica
da Razo Pura sobre o destino provvel de uma psicologia emprica,
to logo pudesse abandonar seu refgio provisrio: Ela (a
psicologia emprica) apenas uma estrangeira h muita aceita, a qual
se garante refgio at que ela possa ser aceita numa antropologia
Maria de Lourdes Borges
76
completa. (KrV, A 849, B 877) Se compararmos os diferentes
conjuntos de notas das Lies sobre Antropologia, podemos ver a
mesma diferena
5
: nas Lies da Antropologia de 72/73 (Ant, 25:8), h
uma sinonmia entre antropologia e psicologia emprica; nas Lies de
Antropologia de 80 (Ant, 25:243) e na Crtica da Razo Pura, a
psicologia emprica parte de uma antropologia e lida com o
sentido interno.
A diviso da filosofia em uma parte pura e outra emprica
relatada tambm nas anotaes de Mrongovius de 1785, ano de
publicao da Fundamentao:
A metafsica dos costumes ou metaphysica pura apenas
a primeira parte da moral- a segunda parte philosophia
moralis aplicata, antropologia moral, a qual pertencem os
princpios empricos. exatamente como na metafsica
e na fsica. A moral no pode ser construda sob
princpios empricos, pois isto acarreta uma necessidade,
no absoluta, mas condicional. (...) Moralia pura
baseada em leis necessrias e portanto, no pode ser
fundada sobre a constituio particular do ser humano.
A constituio particular do ser humano, e as leis nela
baseadas, tornam-se importantes na Antropologia moral,
sob o nome de tica (Moral Mongrovius II 29:599)
Contudo, conforme nos alerta Allen Wood
6
, Kant no sabia ainda,
na poca da publicao da Fundamentao, como seria sua Metafsica
dos Costumes, nem uma antropologia prtica. A Fundamentao ainda
no a Metafsica dos Costumes e o projeto desta como absolutamente
separada de tudo que emprico ainda algo a ser construdo. A
Fundamentao trata da obteno do princpio da moralidade, a saber,
o imperativo categrico. Ainda que utilizando exemplos nos quais
aparecem alguns elementos relativos natureza humana, pode-se
afirmar que o procedimento de obteno do imperativo categrico
faz-se sem uma substantiva contribuio destes elementos. Se a
obteno do que se deve fazer obtida sem elementos empricos,
em nenhum lugar Kant afirma que a filosofia moral no engloba
5
Esta incorporao foi mostrada por Allen Wood, op. cit. 464.
6
Ibid., p. 458.
Razo e emoo em Kant
77
uma parte emprica. Ao contrrio, a filosofia moral a metafsica
moral somada a uma antropologia prtica.
III.4. Metafsica dos Costumes: princpios de
aplicao
Se, nos anos 70, o discurso sobre a psicologia emprica
encontrava um abrigo, ainda que provisrio, na metafsica, se, a
partir da Fundamentao (1785), se institui a ntida separao entre um
domnio a priori e um domnio emprico da filosofia moral, a
Metafsica dos Costumes (1797) nos brinda com um panorama um
pouco mais complexo do que o refgio provisrio ou a separao
radical. Vejamos a introduo desta:
Da mesma forma que devem existir princpios numa
metafsica da natureza para aplicao daqueles mais altos
princpios da natureza em geral a objetos da experincia,
uma metafsica dos costumes no pode dispensar
princpios de aplicao, e ns devemos freqentemente
tomar como objeto a natureza particular dos seres
humanos, a qual conhecida pela experincia, a fim de
mostrar nela o que pode ser inferida de princpios
morais universais (...) uma metafsica dos costumes no
pode ser baseada numa antropologia, mas pode ser
aplicada a ela. (MS, 6:217)
Aqui h claramente uma analogia entre uma metafsica moral e uma
metafsica da natureza: ambas trazem consigo princpios de
aplicao a objetos particulares. No caso da metafsica moral, esse
objeto particular a natureza humana. Os primeiros princpios de
uma metafsica moral no podem estar baseados numa antropologia,
mas devem poder ser aplicados a esta. Kant parece responder
implicitamente crtica posterior endereada a ele sobre a
inefetividade de sua teoria prtica: ele realmente no tinha a inteno
de criar princpios que no pudessem ser aplicados natureza
humana, apenas a fonte do princpio deve ser a razo. A aplicao
do princpio ao ser humano, a fim de determinar, por exemplo,
deveres particulares de virtude, necessitam do exame de algumas
particularidades da natureza humana. A determinao destas
Maria de Lourdes Borges
78
particularidades moralmente relevantes da natureza humana vo nos
dizer se a lei moral poder ser eficaz ou no. O complemento de
uma metafsica dos costumes, o outro membro da diviso da
filosofia prtica como um todo-afirma Kant-seria a antropologia
moral, a qual, todavia, trataria apenas das condies subjetivas da
natureza humana que atrapalham ou ajudam as pessoas a cumprir as
leis da metafsica dos costumes (MS, 6: 217, grifo meu).
III.5. A noo de Antropologia pragmtica
A Antropologia publicada em 98 expe o conhecimento da
natureza humana de forma distinta de uma antropologia prtica ou de
uma mera psicologia emprica. o que Kant chama de antropologia
pragmtica. Comearemos pela questo: o que esta Antropologia no ?
Ela no fisiolgica, mas pragmtica. O conhecimento do homem
pode ser dado a partir de um ponto de vista pragmtico ou fisiolgico.
Conhecimento fisiolgico do homem visa investigao do que a
natureza faz do homem, enquanto o conhecimento pragmtico do
homem visa ao que o homem faz, pode ou deve fazer de si como um
ser que age livremente.
Alm de um conhecimento do homem no exerccio de sua
liberdade, ela tambm um conhecimento do mundo (Weltkenntnis),
enquanto contm conhecimento das coisas do mundo: dos animais,
plantas, minerais de vrios lugares. Alm disso, ela incorpora o
conhecimento do homem enquanto cidado do mundo. Tal
conhecimento pode ser adquirido atravs de viagens ou mesmo de
livros de viagens. At mesmo a literatura pode ser uma boa fonte de
conhecimento do homem enquanto cidado do mundo:
personagens de Richardson e Molire so modelos de compreenso
da natureza humana, ainda que seus traos possam ser aumentados.
Os comentrios sobre raa e sexos ocupam a segunda parte,
chamada de caracterstica. Kant abandona aqui o estilo escolstico e
tenta imitar os modos dos sales to em voga. Tenta falar sobre o
estilo correto de receber, assuntos que devem ser evitados, nmero
de pessoas ideal mesa; arrisca algumas tiradas espirituosas sobre os
temperamentos dos sexos e as caractersticas das raas. Alguns so
bastante curiosos. No livro sobre a faculdade de desejar, ao falar das
emoes que fazem bem sade, Kant nos diz, por exemplo, que o
choro acompanhado de um soluar convulsivo e derramar de
Razo e emoo em Kant
79
lgrimas um bom remdio para a sade. Assim, uma viva que no
se deixa consolar, que no quer saber como secar suas lgrimas, sem
perceber, est cuidando de sua sade (Ant, 5:263). Em outra
passagem, referente ao riso, ele aconselha que as crianas,
principalmente as meninas, sejam acostumadas a sorrisos largos e
francos, porque a alegria expressa nos seus traos faciais ir
gradualmente imprimir no seu eu interior uma disposio alegria e
sociabilidade (Ant, 7:265). Outro comentrio curioso e talvez
bastante inovador quando ao sexo feminino: ele admite a coqueterie,
ou seja, o flerte social de uma mulher casada com outros homens,
visto que uma jovem esposa sempre corre o risco de ficar viva, o
que faz com que ela distribua seus charmes aqueles que seriam
possveis pretendentes caso isso ocorresse (Ant, 7:219).
Alguns outros comentrios so bastante ilustrativos sobre a
sociabilidade da poca. Tal o caso das regras que devem ser
seguidas numa recepo. Para uma boa recepo, os convidados
devem ser no mnimo de trs e no mximo de dez pessoas, a
conversao durante o jantar deve seguir trs estgios: narrao,
argumentao e gracejos. Este terceiro estgio apropriado, visto
que os convidados j comeram em demasia e a argumentao exige
muita energia, no mais disponvel, devido s exigncias da digesto.
Concluindo a Antropologia do ponto de vista pragmtico
reelabora os contedos apresentados nas Lies de Metafsica e nas
Observaes sobre o belo e o sublime. Os primeiros deixam de ser apenas a
simples doutrina da aparncia do sentido interno e o discurso sobre
as faculdades transformado a partir da concepo do eu
transcendental. A ideia da construo atravs da liberdade, o apelo
ao Weltkenntnis so inovadores no que toca ao discurso sobre as
raas e sexos, apresentados na caracterstica.
Pretendeu-se mostrar as vrias fases pelas quais passaram a
definio de psicologia emprica e antropologia. Conforme pudemos
ver, a psicologia emprica, ministrada nas aulas de metafsica no
destituda de sentido pelo advento da filosofia crtica. Ela
absorvida no que Kant chama de Antropologia, a qual recebe os
adjetivos de moral, prtica ou pragmtica. Logo, seu contedo, tal
como o contedo relativo aos princpios puros da moralidade, so
ambos parte de uma filosofia prtica. Assim como a experincia no
Maria de Lourdes Borges
80
nos pode dar princpios da moralidade, estes, sem o conhecimento
da natureza humana, seriam ineficazes.
O que no fica claro no sistema kantiano qual realmente o
complemento de uma metafsica moral, ou seja, qual a amplitude de
uma antropologia prtica. Seria esta composta apenas daquilo que foi
objeto da Antropologia do ponto de vista pragmtico? Uma resposta possvel
seria que no h um texto especfico que esgote a antropologia prtica.
Esta seria tratada, tanto na Antropologia publicada, quanto na Religio
nos limites da simples razo e na prpria Metafsica dos Costumes,
abarcando os contedos sobre a natureza humana que aparecem na
Doutrina das virtudes, bem como na Doutrina do Direito. Todos estes textos
tratam, de forma no exaustiva, daquilo que parece ser o objeto da
aplicao de uma metafsica moral: uma antropologia prtica, ou seja, a
natureza do ser racional sensvel.
III.6. A parte impura da tica
A teoria moral kantiana possui um parte pura e outra que,
por contraste, chamaremos de impura
7
. Podemos constatar esta
unio de duas partes nas j citadas anotaes de Mongrovius
8
dos
cursos de tica ministrados por Kant. Segundo essas, a metaphysica
pura apenas a primeira parte da moral- a segunda parte philosophia
moralis aplicata, antropologia moral, a qual pertence os princpios
empricos. A constituio particular do ser humano, e as leis nela
baseadas, do o contedo de uma Antropologia moral
Aceitas essas duas partes da tica kantiana, nosso problema
localizar que textos dizem respeito metaphysica pura e quais so a
expresso da philosophia moralis aplicata. Minha tese que esta
composta, no apenas da Antropologia de um ponto de vista pragmtico
(1798), como o nome poderia supor, mas tambm da Metafsica dos
Costumes (1797) e de textos como a religio, pedagogia etc. Todos
estes textos so analisados elementos da constituio particular do
ser humano.
A Antropologia do ponto de vista pragmtico no trata, como
bem explica a Introduo (Ant, 7:119), de conhecimentos fisiolgicos do
7
Amparo-me aqui no livro de Robert Louden, Kants Impure Ethics. Louden defende
que a tica kantiana composta de uma parte pura e a priori, e uma parte impura, a
qual exposta nos escritos antropolgicos, bem como na Doutrina da Virtude.
8
Moral Mrongovius, II 29:599
Razo e emoo em Kant
81
homem, mas do que o ser humano, com uma determinada constituio
sensvel, tornou-se no uso de sua liberdade. A Metafsica dos Costumes, por
sua vez, explicita as condies sensveis dos seres humanos para a
recepo efetiva e aplicao da lei moral, a qual foi obtida atravs do
Faktum der Vernunft.
Se a prova da lei moral obtida a priori na Crtica da Razo
Prtica, as condies sensveis que possibilitam a aplicao desta so
tematizadas principalmente na Metafsica dos Costumes. Nela podemos
dizer que j estamos frente ao que Mrongovius denominou, segundo
as aulas de Kant, de philosophia moralis aplicata, cujo objetivo
exatamente determinar os limites da validade do obtido na parte
referente moralia pura para um objeto especfico, qual seja, a
natureza humana. Aquela nos daria os princpios de aplicao desta.
Conforme Kant, a uma metafsica dos costumes no pode
prescindir de princpios de aplicao natureza particular dos seres
humanos, a qual conhecida pela experincia.(MS, 6:217) A
Pedagogia e a Religo, por sua vez, tambm dissertam sobre as
peculiaridades do ser humano e como estes podem ser educados
para a virtude e para a moralidade.
Se, em linhas gerias, todas estas obras tratam da constituio
do ser racional sensvel e das condies de possibilidade da
moralidade, teriam elas o mesmo nvel de particularidade? Ou
algumas poderiam ser classificadas como pertencendo ao que Paton
j chamara de princpios de aplicao e outras psicologia emprica?
No seu recente livro, Kants Impure Ethics, Robert Louden
apresenta uma importante contribuio para esta discusso. O livro
de Louden vem mostrar que Kant oferece, alm de princpios puros,
no empricos, uma tica que no pura. Esta parte foi denominada,
pelo prprio Kant de antropologia moral, antropologia prtica
ou filosofia moral aplicada. Estes termos referem-se ao estudo
emprico do ser humano, que Louden denomina de tica impura, para
contrastar com uma tica pura, que consiste em princpios a priori,
no empricos. Louden no nega que a parte pura da tica nos d o
fundamento da filosofia prtica kantiana e, portanto, mais
importante do que a parte impura. Contudo, o autor chama a
ateno para o fato que Kant dedicou muitos dos seus escritos e
aulas ao estudo emprico do ser humano, o qual seria necessrio
para a aplicao daqueles princpios.
Maria de Lourdes Borges
82
A parte pura e a parte impura da tica kantiana so ambas
necessrias e complementares. Desconsiderar esta ltima seria, no
apenas desconsiderar uma parte importante da obra de Kant, como
tambm fornecer material para a crtica e a ironia em relao a uma
filosofia prtica cega s peculiaridades do ser humano e, portanto,
prpria aplicabilidade de seus princpios. Louden no , todavia,
inconsciente desta possvel estranheza por parte dos que defendem
um estrito formalismo na tica kantiana. Ele mesmo se pergunta
9
como pode existir algo como uma tica emprica ou antropologia
moral para um ferrenho antinaturalista como Kant, o qual escreve...
que moral no pode nunca conter nada mais do que princpios
puros a priori (visto que a liberdade no pode em circunstncia
alguma ser um objeto de experincia)? (Erste Eilentung, KU, 20:195)
Ao mesmo tempo, Kant admite explicitamente que a
antropologia moral baseada na experincia, sendo o complemento
de uma metafsica dos costumes (MS, 6:217,385,406) Como
conciliar a metafsica moral com a antropologia, sendo que ambas
parecem necessrias para o projeto tico kantiano?
Comecemos respondendo o que a tica impura no . A tica
impura no um contedo emprico que deve ser misturado aos
princpios a priori. Louden refora a ideia de que h um dever
indispensvel de expor a parte pura de forma separada e
completamente distinta da parte emprica da tica, pois, como Kant
j enunciava na Fundamentao, uma teoria na qual a parte pura e
emprica esto misturadas no merece o nome de filosofia moral,
visto que tal mistura perverte a pureza da moralidade (G, 4:390). Os
elementos empricos tambm no so responsveis pela obteno
dos princpios puros, ainda que s vezes possam ilustrar esses
princpios, como nos exemplos da Fundamentao, onde humanos
suicidas, filantrpicos, donos de mercearias ilustram a aplicao do
princpio da moralidade. A tica impura necessria quando da
aplicao de princpios puros a circunstncias empricas, nas quais
temos seres sensveis racionais como agentes morais. Para que uma
ao seja moral, contudo, o princpio puro, isto , no emprico,
deve ser o fundamento de determinao da vontade.
Louden apresenta uma classificao do que denominou de
domnios da impureza (fields of impurity): educao, antropologia, arte,
9
Louden, op. Cit., p. 7
Razo e emoo em Kant
83
religio e histria. Como podemos ver, no se trata do estudo
fisiolgico ou psicolgico do homem, como bem j alertara Kant na
Antropologia do ponto de Vista Pragmtico, mas daquilo que o homem
fez de sua natureza atravs do uso de sua liberdade. Assim, o estudo
da pedagogia diz respeito estratgia de educao moral atravs do
treinamento das habilidades do julgar prtico. Na Antropologia,
novamente temos a importncia da universalidade da tica kantiana,
mesmo nos estudos dos subgrupos raciais e de gnero. Na arte e
religio, veremos como a apreciao esttica serve aos propsitos da
moralidade e como as instituies religiosas auxiliam a construo
de uma comunidade moral global. Na Histria, enfatizada a
concepo de progresso histrico como um desenvolvimento em
direo a uma sociedade cosmopolita.
Um dos pontos mais brilhantes da abordagem de Louden
a exposio de nveis de impureza da tica kantiana, visto que esta
no composta apenas por um nvel puro e outro impuro, mas
igualmente pelo nvel dos princpios de aplicao do primeiro ao
segundo e pela determinao de deveres especficos de seres
racionais sensveis.
O primeiro nvel da tica kantiana seria a tica pura. Neste,
conforme Kant afirma na Crtica da Razo Pura, tica pura... contm
apenas as leis morais necessrias de uma vontade livre em geral
(KrV, A 55). Neste nvel de total abstrao, nenhuma informao
sobre a natureza peculiar do ser humano ou de outro tipo de ser
racional permitida. Contudo, nem a prpria Fundamentao se
enquadraria numa tica pura neste sentido mais estrito, visto que
este texto fala de limitaes subjetivas e obstculos, bem como da
forma como a lei moral deve ser recebida enquanto imperativo, o
que no vlido para todo ser racional.
O segundo nvel, presente na Fundamentao, seria
denominado de Moralidade para seres finitos racionais. Aqui, nenhum
dos princpios enunciados depende de informaes especficas sobre
a natureza e cultura humana, ainda que o imperativo categrico seja
vlido para agentes racionais finitos, conscientes do princpio moral,
mas cujas inclinaes opem-se a este. Temos ainda um terceiro
nvel, representado pelo projeto da Metafsica dos Costumes, cujo
objetivo determinar deveres morais para seres humanos como tais.
A determinao dos deveres, enquanto deveres humanos, s
Maria de Lourdes Borges
84
possvel na medida em que conhecemos a constituio dos seres
humanos (cf MS, 6:217), conhecimento que requer algumas mnimas
informaes empricas, as quais no entram no nvel de
especificidade do conhecimento de culturas, raas e gnero. Que
informaes empricas seriam necessrias para a determinao dos
deveres para os seres humanos? Deveramos ter conhecimentos
gerais sobre a natureza humana, tais como os instintos, inclinaes,
capacidades e faculdades de seres humanos, a fim de podermos
aplicar a lei moral a este tipo de ser. O projeto de determinao de
deveres especficos para seres humanos ainda faz parte da
metafsica, visto que o conhecimento emprico no incorporado ao
sistema (MS, 6:205).
Se a determinao de deveres especficos para os seres
humanos objeto da Metafsica, contudo, o estudo especfico das
peculiaridades humanas que ajudam ou dificultam o exerccio da
moralidade, ser objeto de uma antropologia prtica ou antropologia
moral, conforme o texto afirma em vrios momentos ( MS, 6:217)
Qual o locus especfico da antropologia moral? Esta deveria
responder s seguintes questes: Quais so as paixes e inclinaes
que dificultam ou auxiliam a adeso aos princpios da moralidade?
Como os princpios devem ser ensinados aos seres humanos? Como
instituies polticas, culturais e religiosas podem ser organizadas de
forma a realizar os objetivos morais? H aspectos especficos da era
moderna que auxiliam o estabelecimento e desenvolvimento da
moralidade?
A Antropologia do ponto de vista pragmtico, principalmente na sua
primeira parte (didtica), responde primeira questo. Os textos
pedaggicos, junto com os textos sobre religio e histria parecem ser o
local apropriado para respondermos s outras questes da antropologia
moral. Por sua vez, a segunda parte (caracterstica) da Antropologia
apresenta uma descrio mais especfica de subgrupos dentro da
espcie humana, o que implica um conhecimento emprico mais
detalhado do que o necessrio numa antropologia moral.
O grau mais especfico do conhecimento emprico em Kant
dado quando nos perguntamos o que fazer numa determinada
situao. A filosofia kantiana, como sabemos, no nos diz o que
fazer numa situao determinada; neste sentido, j estamos aqui fora
do sistema kantiano. Contudo ele se ocupa destas questes ao
Razo e emoo em Kant
85
menos em dois textos. Nas Lies sobre Pedagogia, na qual recomenda
que o professor ensine um catecismo moral aos alunos, atravs de
questes casusticas. Tal prtica serviria para o desenvolvimento da
capacidade de julgamento moral nos jovens. Kant dedica igualmente
algumas passagens da Metafsica dos Costumes casustica. A discute
questes relativas sexualidade, utilizao de substncias txicas,
abuso de lcool e a correta medida de embriaguez permitida em
festas. Ainda que a casustica no seja uma parte da cincia ou uma
doutrina moral, ela auxilia a prtica do julgamento moral, necessria
principalmente para a execuo dos deveres imperfeitos.
III.7. tica impura, razo e emoo
Para a anlise da relao entre razo e emoo, trs
momentos centrais da parte impura da tica merecem especial
ateno, os quais sero aqui expostos brevemente e analisados na
segunda parte deste livro. Primeiro, a insistncia no cultivo de
sentimentos naturais, tais como a simpatia, a fim de realizar aes
benevolentes, aparentemente contradizendo o louvor do frio
filantropo da Fundamentao. Em segundo lugar, a relao entre
moralidade e sentimentos, principalmente na ideia de
pressuposies estticas para o conceito de dever. Terceiro, uma
teoria das emoes e como dar conta destas, seja atravs do cultivo,
seja atravs do controle. Para tal devemos ter um modelo especfico
para as emoes e pensar como Kant pretende control-las atravs
da fora da virtude.
1) A tematizao dos aspectos sensveis da moralidade
continua no dever condicional de promover a simpatia. Kant no
nega sua essncia, a mesma que um empirista lhe atribuiria: a
simpatia pela alegria e tristeza de outrem (Mitfreunde und Mitleid)
(simpathia moralis) so sentimentos sensveis de prazer e desprazer
relativo a um estado alheio de alegria ou dor(TL, 34, 6:456). Ns
temos um dever de cultivar estes sentimentos a fim de promover
atos benevolentes. Mas o interessante notar que temos aqui uma
continuao da ideia da Fundamentao de que o motivo deve
engendrar seu prprio mbil. Ou que (2) uma motivao objetivamente
suficiente deve engendrar (3) um mbil subjetivamente suficiente. Se um
motivo objetivamente suficiente (lei moral) no capaz de
engendrar um mbil subjetivamente suficiente (respeito), tem-se o
Maria de Lourdes Borges
86
dever indireto de fortalecer alguns sentimentos naturais que possam
funcionar como mbil suficiente:
portanto um dever no evitar lugares onde
encontram-se os pobres que carecem das necessidades
mais bsicas, mas ao contrrio, de procur-los, e no
evitar enfermarias e prises, a fim de afastar-se de
simpatias dolorosas qual poder-se-ia no resistir, pois
este um dos impulsos dados pela natureza para fazer o
que a representao do dever apenas no
suficiente.(TL, 35 , 6:457)
O cultivo da simpatia parece cumprir um papel de mbil
moral, quando falta, ao respeito pela lei, a fora suficiente para
promover a ao.
10
Na parte impura da tica, portanto, alguns
sentimentos que no possuam valor moral na Fundamentao,
passam a t-lo. Parte disso se deve a uma distino entre simpatia
ativa e passiva, distino que se encontra igualmente relativamente
gratido. O que Kant, dentro do quadro da Doutrina das Virtudes,
denomina de simpatia e gratido ativas (em oposio s passivas)
corresponde ao que na Antropologia denominado sensitividade
(Empfindsamkeit). Aparentemente, sugerido que sentimentos
ligados sensitividade podem ser cultivados
11
, enquanto seus
anlogos passivos, os afetos (Affekten) so incontrolveis pela razo
e apenas dificultariam a realizao da ao moral.
10
Eu defendo no artigo Sympathys in Kants Moral Philosophy, Akten des 9.
Internationaler Kant-Kongress, Berlin: De Gruyter, 2001, que Kant aceita a simpatia, na
Doutrina das Virtudes, como mbil moral, ao contrrio da Fundamentao, onde a
crtica feita explicitamente ao filantropo compassivo. Parte desta mudana se deveria
a uma sutil mudana da simpatia que poderia ser constatada se compararmos a
Antropologia Mongrovius (1785) com a publicada (1787). Enquanto na primeira, a
simpatia um afeto, na Antropologia publicada, ns temos a ideia de sensitividade,
capacidade de sentir ou no um estado de prazer ou dor.
11
O sentimento de prazer e desprazer sensveis, alm da dor e prazer meramente
fsicos, incluem dois outros tipos de sentimentos: sensitividade (Empfindsamkeit) e
afeto (Affekt) Sensitividade(...) uma faculdade e um poder que permite os estados
de prazer e desprazer, assim como os previne de serem sentidos. Sentimentalismo,
por outro lado, uma fraqueza devido ao interesse na condio dos outros que
podem fazer as vezes de sentimentalistas ao seu bel prazer, ou mesmo afetar a pessoa
contrarimente sua vontade. (Ant, 7: 236).
Razo e emoo em Kant
87
2) A ideia de pressuposies estticas para a susceptibilidade
da mente
12
/animo ao conceito do dever (sthetishe Vorbegriffe der
Empfnglichkeit des Gemuts fr Pflichtbegriffe berhaupt) aparece na
Introduo da Doutrina das Virtudes, pargrafo XII So elas:
sentimento moral (das moralischen Gefhl), conscincia (das Gewissen),
amor ao prximo (die Liebe des Nchsten) e respeito por si (Achtung fr
Sich selbst) ou auto estima. A mais importante destas pressuposies
o sentimento moral, definido como a susceptibilidade de sentir
prazer ou desprazer meramente do fato de estar consciente que
nossas aes esto conforme lei do dever (MST, 6:399). Esse
sentimento pode ser patolgico ou moral; no primeiro caso, ele
precede a representao da lei, no segundo, ele posterior a essa,
sendo um efeito de um conceito sobre a faculdade de sentir prazer
ou desprazer.
Visto que se trata de uma predisposio natural da mente
para ser afetada pelo conceito de dever, estamos no terreno da
antropologia prtica e no mais da metaphysica pura. Essa
predisposio natural um fato sobre a natureza humana: nenhum
ser moral inteiramente despossudo de sentimento moral, pois (....)
ele estaria moralmente morto(6:399).
O sentimento moral distinto, tanto do respeito, quanto do
moral sense empirista. O sentimento de respeito apenas um
sentimento de temor e desprazer, enquanto o sentimento moral
pode ser um sentimento de prazer, quando nossas aes esto em
conformidade lei do dever. Esta aspecto de prazer responde em
certa medida ao famoso poema jocoso de Schiller, onde este afirma
que Kant o ensinou a fazer com repulsa o bem que antes fazia com
prazer. Fica em aberto, todavia, se o sentimento moral o
sentimento de respeito ampliado com a sensao de prazer ou se
um novo sentimento. De qualquer forma, ele no o sentimento
moral dos empiristas (moral sense), pois no me d a regra moral,
mas segue a regra dada pela razo. Ns temos obrigao de cultiv-
lo e fortalec-lo, como parte da virtude, mas ele jamais dir o que
devemos fazer.
12
Traduzo Gemth/ animus por mente. Ela refere-se segunda das instncias da alma
(anima, animus, mens), tendo sido traduzida por Valrio Rohden, mais prxima ao latim,
por nimo.
Maria de Lourdes Borges
88
3) O terceiro aspecto importante a considerao das paixes
e afetos como doenas da mente. Isso seria compatvel com a ideia
de que temos inclinaes fortes, sejam elas afetos (Affekten) ou
paixes (Leidenschaften), no passveis de serem facilmente cultivadas,
aos moldes aristotlicos, ou extirpadas, segundo a desejvel apatia
estoica. Se alguns sentimentos se prestariam a este cultivo
aristotlico, tal como a simpatia, eles seriam a exceo, visto que
paixes e afetos constituem-se usualmente em empecilhos para a
vontade. Alm disso, conforme vimos, Kant parece nos falar de
uma dupla simpatia, uma simpatia-afeto e uma simpatia-
sensitividade, sendo que s a segunda se prestaria ao cultivo.
Quanto s paixes (Leidenschaften) e afetos (Affekten), alm dos
interessantes comentrios e metforas da Antropologia
13
, no pargrafo
XV da Doutrina da Virtude, nos explicado que afetos e paixes
dificultam a reflexo e deliberao moral:
Afetos pertence ao sentimento (Gefhl) na medida em
que, precedendo a reflexo, eles a tornam impossvel ou
mais difcil (...) A paixo um desejo sensvel (sinnliche
Begierde) tornado uma permanente inclinao (bleibende
Neigung) (ex: dio como oposto raiva). A calma com a
qual deixa-se absorver nesta permite a reflexo e permite
a mente formar princpios sobre esta e, se a inclinao
incide sobre algo oposto lei, para remoer sobre isto
(uber sie zu brtem), e a penetrar profundamente e tomar
o mal em sua mxima, temos um mal qualificado, um
verdadeiro vcio.(MST, XV, 6:408)
Afetos e paixes so perniciosos; contudo, se os afetos, tal
como a raiva, dificultam e impedem a reflexo momentaneamente, a
13
Temos as metforas relativas ao grau de enfermidade: Paixes e afetos so
considerados doenas da mente (Krankheit des Gemts) (Ant,7:251), excluem a
soberania da razo; os afetos tornam a reflexo impossvel, enquanto as paixes so
ditas tumores malignos (Krebsschden) para a razo pura prtica (Ant, 7:266).Temos
ainda quanto ao grau de fora e permanncia: precipitados e irrefletidos (animus
praeceps) (DV, 6:408), agem como a gua que rompe uma barragem (Ant, 7:252),
tornam cego o agente (7:253). A paixo um rio que cada vez cava mais fundo no seu
leito, uma atrofia permanente (7:252).
Razo e emoo em Kant
89
paixo, tal como o dio, com a calma da reflexo, forma mximas
contrrias lei, fazendo com que tenhamos um vcio verdadeiro, o
mal que no advm apenas da fraqueza, mas do tomar
conscientemente motivos no morais nas mximas.
Kant parece ser ctico quanto possibilidade de cultivo de
emoes. Podemos v-lo, tanto no comentrio jocoso sobre Scrates
na Antropologia
14
, quanto na prpria Doutrina das Virtudes: porque as
mximas morais, ao contrrio das mximas tcnicas, no podem ser
baseadas no hbito (TL, XVI, Anmerkung, 6:409). A ideia de fora
vem, portanto, a substituir o cultivo e a apatia impossveis: a virtude
contm uma exigncia positiva, colocar todas as suas capacidades sob
o controle da razo, o que est alm de proibir que o agente seja
governado pelos seus sentimentos e inclinaes, pois estes podem
domin-lo se a virtude no toma em suas mos o controle sobre eles.
O cultivo aristotlico e a apatia estoica no so suficientes para
combater as inclinaes. Um forte adversrio, que no se deixa
meramente domar ou anular, deve ser comandado e controlado. Por
esta razo, virtude no apatia, mas fortitudo: a capacidade e deciso
refletida de resistir s tentaes da sensibilidade.
A prova de que seres com vontade e razo, quaisquer que
sejam estes, esto submetidos lei moral, independe de
consideraes especficas de como o ser humano afetado.
Contudo, para mostrar que dever significa poder, ou seja, que seres
racionais sensveis podem agir segundo o que o dever ordena, Kant
necessita mostrar como a lei os afeta.
A capacidade de ser um agente moral, para ns, implica que
nossa sensibilidade seja afetada, o que feito pelo respeito e pelo
sentimento moral. Sem estes sentimentos estaramos, na expresso
kantiana, mortos moralmente. Ser um agente moral, para ns,
significa igualmente a possibilidade de pr, servio da moralidade,
sentimentos como a simpatia, quando o mero respeito pela lei no
for capaz de ser um mbil suficiente. E, a fim de combater as
inclinaes que se opem moralidade, deve-se treinar a virtude
como fortitudo, como fora interior capaz de nos fazer resistir s
14
Muitas pessoas ate desejam ficar com raiva, e Scrates ficava em dvida se no
seria bom ficar enraivecido algumas vezes; mas ter afetos to sob controle que se
possa deliberar quando algum deve ou no ficar enraivecido, parece paradoxal.
(Ant, 7: 252)
Maria de Lourdes Borges
90
tentaes da sensibilidade, combatendo a fraqueza inerente a uma
vontade patologicamente afetada. A parte pura da tica deve,
portanto, ser complementada pelas condies de validade desta para
seres humanos, as quais s podem ser encontradas numa doutrina
da sensibilidade moral.
Estaria Kant mais prximo dos empiristas do que desejaria?
Penso que no, visto que, mesmo reconhecendo as necessrias
pressuposies sensveis da efetividade da lei moral para seres
humanos, o correto em cada caso sempre dado pela razo e no
pelo sentimento. Esta a separao ltima entre os tericos dos
sentimentos morais e Kant, a convico deste que sentimentos so
cegos se no forem cultivados e treinados pela razo e,
principalmente, submetidos razo.
Visto que a razo j foi por ns examinada, passemos
ento, emoo.
SEGUNDA PARTE:
EMOES E MORALIDADE
IV. SIMPATIA E MBEIS MORAIS
Pode a simpatia cumprir algum papel importante na
moralidade kantiana? O objetivo deste captulo
1
examinar em que
consiste o papel da simpatia na teoria moral kantiana, a fim de
determinar se h alguma modificao essencial da Fundamentao em
relao s obras dos anos 90, principalmente a Doutrina da Virtude e
a Antropologia. O ponto de partida a distino entre motivo e
mbil, respectivamente, fundamentos objetivos e subjetivos de uma
ao. Tentarei identificar o que se constitui num motivo moral e
num mbil no exemplo do Filantropo da Fundamentao. Mostrarei
que outros sentimentos, alm do respeito, que se constituem em
mbil possvel para a realizao da ao, tornaro a ao sem valor
moral. Contudo, a mera presena de outros sentimentos, tais como
a simpatia, na medida em que estes no sejam mbeis da ao, no a
destituem de valor moral.
Na segunda parte do captulo, ser analisado o papel que
Kant reserva simpatia na Doutrina das Virtudes, como um
sentimento que pode ser um mbil de aes morais, quando o
respeito pela lei no for um motivo suficiente para realiz-las. Os
sentimentos de simpatia podem ajudar a realizar um fim de virtude,
qual seja, a promoo da felicidade alheia. Por fim, tentaremos
verificar se a concepo do valor moral da simpatia muda no
desenrolar da obra kantiana.
Este captulo tambm pretende tematizar as contribuies
contemporneas anlise do que concede valor moral a uma ao
em Kant, com nfase nos trabalhos de Henson e Hermann. Tais
contribuies examinam principalmente o que foi denominado de
sobredeterminao da ao, ou seja, a concepo que uma ao
pode ter duas causas suficientes, no caso, dois mbeis suficientes.
1
Uma verso inicial e resumida dos temas desenvolvidos neste captulo foi
apresentada no Kant Congress in Berlin, 2000, e publicada nos anais do IX.
Internationaler Kant-Kongress, De Gruyter, 2001. Uma verso anterior deste captulo foi
publicada na revista virtual Ethic@.
Maria de Lourdes Borges
94
Por fim, examinaremos algumas crticas a esta forma de resolver o
problema da sensibilidade em Kant, as quais sustentam que pode
haver uma sobredeterminao de mbeis, mas no de motivos.
IV.1. A presena da simpatia e valor moral de uma
ao
Qual a razo ou causa de uma ao? Temos duas formas de
responder a esta questo: uma reside em porque ns realizamos uma
ao, outra no que nos impulsiona a realiz-la. Dois diferentes
conceitos kantianos se aplicam aqui: um motivo uma razo
intelectual para fazer algo, um mbil o que o impulsiona a faz-lo.
Um motivo pode fornecer um mbil: saber, por exemplo, que algo
a coisa certa a fazer pode impulsionar algum a faz-lo. Dizer que o
motivo provoca seu mbil diferente de afirmar que uma razo nos
d o motivo. Visto que aceito a sugesto de Korsgaard que Kant
um internalista, comprometo-me com a tese de que uma razo
fornece um motivo. O problema reside em saber se ter a lei moral
como motivo pode ser suficiente para levar realizao da ao
correta. Algumas vezes, podemos saber que uma determinada ao
correta, ter um motivo para agir desta forma, mas este no consegue
nos mover realizao da ao. Podemos precisar de um outro
mbil para a realizao da ao. Tal o caso do Filantropo
compassivo: o que o leva a fazer caridade sua compaixo pelo
sofrimento alheio, ainda que este possa ter como motivo a lei moral.
Na fraqueza da vontade, temos o motivo da lei moral, mas o
respeito por esta no suficiente para sua realizao. Falta ao agente
um mbil para combater os mbeis da sensibilidade.
A distino entre razo, motivo e mbil corresponde ao
nosso senso moral comum. Tal fica mais evidente quando tratamos
de aes erradas. No caso de um assassinato de um homem rico, a
polcia tentar investigar quem teria uma razo para tal ato, a qual
poder-se-ia constituir num motivo. Suponhamos que o homem em
questo tenha uma jovem esposa, a qual teria uma razo para mat-
lo: ela herdaria sua fortuna. Tal razo pode ou no se constituir num
motivo para o ato. Se ela for feliz no casamento, ou se considerar
que matar errado, ou se jamais arriscaria ser presa, a razo para o
assassinato no se transformaria num motivo. Suponhamos que a
razo seja tomada como motivo e a esposa tenha decidido matar seu
Razo e emoo em Kant
95
esposo. Ainda assim, sua compaixo ou o temor de uma pena pelo
seu ato pode faz-la no cometer o crime. O motivo, neste caso, no
engendrou um mbil suficiente para a ao, ou competitivo em
relao a outros mbeis.
Na Fundamentao, ao tratar das aes morais, Kant explica a
distino entre motivo e mbil: O fundamento subjetivo do desejo
um mbil, o fundamento objetivo da vontade um motivo (G,
4:428). O motivo (Bewegungsgrund) o fundamento objetivo do
querer enquanto o mbil (Triebfeder)
2
o fundamento subjetivo do
desejar. Esta distino crucial ao contrastarmos aes que esto
conforme ao dever aes que so realizadas por dever. A diferena
entre mbeis morais e no morais pode ser vista no exemplo do
filantropo, onde encontramos dois agentes com diferentes mbeis
para serem benevolentes. Nenhum deles tem um motivo no moral
como vaidade ou amor de si para ser benevolente (G, 4:398);
contudo, o primeiro tem uma inclinao natural para fazer o bem,
um contentamento interno em fazer outras pessoas felizes. Ainda
que tenha um motivo moral e possa ser estimada, esta ao no
possui valor moral (G, 4:398). Um motivo moral no seria
suficiente, portanto, para uma ao moral. Quando uma ao tem
valor moral? Kant responde com o segundo Filantropo:
Suponha que a mente deste filantropo esteja repleta do
pesar consigo mesmo, o qual extingue toda simpatia
com o destino alheio, mas ele ainda tem o poder de
ajudar os desgraados, ainda que no esteja mais movido
pelas necessidades alheias, visto que est suficientemente
preocupado consigo mesmo. Suponha que, mesmo que
no sendo movido por nenhuma inclinao, ele saia
desta insensibilidade e faa a ao sem nenhuma
inclinao, apenas pelo respeito lei, ento, pela
primeira vez, sua ao possui valor moral genuno. (G,
4:398)
2
Usarei aqui motivo como traduo para Bewegungsgrung e mbil para a traduo de
Triebfeder, como usual nas tradues em lngua portuguesa. Vale notar que Mary
Gregor, utiliza os termos motive/ incentive, na traduo adotada no volume Practical
Philosophy do The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.
Maria de Lourdes Borges
96
Ao contrrio do filantropo compassivo, o insensvel realiza a ao
com valor moral; consequentemente, a ausncia de simpatia e a
insensibilidade do agente parece dotar a ao de valor moral. Se
considerarmos este exemplo luz da histria da Filosofia, ele
claramente provocativo. Dizer que a ao benevolente do homem
que no tocado pela misria alheia tem valor moral obviamente
acentua sua diferena com os empiristas e tericos dos sentimentos
morais, tais como Hume e Hutcheson, os quais atribuem simpatia
o papel de um motivo virtuoso. Hume inclusive duvida da existncia
de alguma criatura completamente desprovida de simpatia, que ele
denomina de monstro da fantasia.
3
Mas da negao kantiana da virtude empirista da simpatia,
pode-se concluir que a mera presena da simpatia torna a ao sem
valor moral? Se a resposta sim, no deveramos ficar atnitos
com a condenao de um sentimento to valorizado pelo nosso
senso moral comum? H alguma interpretao alternativa de Kant
que no nos leve a esta bizarra concluso?
Por mais de dois sculos, o exemplo do filantropo tem
despertado a crtica dos comentadores. O incio dessa crtica pode
ser buscada no comentrio bem humorado dos versos de Schiller:
Kant recomendaria que se fizesse com averso aquele bem que se
fazia com prazer. Pode a virtude residir na insensibilidade e
indiferena para com aqueles que so o objeto de nossa ao?
Talvez devido ao fato que os versos de Schiller atravessaram dois
sculos a assombrar os defensores de Kant, vimos surgir, nos
ltimos vinte anos, tentativas de defesa de Kant que tentam minorar
a fora de suas afirmaes. Uma das mais conhecidas a elaborao
de Henson.
Henson
4
tenta responder duas questes principais
relacionadas ao instigante exemplo do filantropo:
(1) O que significa atribuir valor moral a uma ao?
3
Hume afirma: Podemos ousar afirmar que no h nenhuma criatura humana, para
quem a aparncia da felicidade (se no houver a lugar para a inveja ou vingana) no
nos d prazer, e da infelicidade, constrangimento e apreenso. David Hume, An
Enquiry Concerning the Principles of Morals, edited by J.B. Schneewind. Indianapolis:
Hacket Publishing Company, 1983, 52.
4
Henson, R. What Kant might have said: moral worth and the overdetermination of
a dutiful action, p. 39-54.
Razo e emoo em Kant
97
(2) Sob que circunstncias podemos dizer que uma ao
possui valor moral?
A primeira questo tem duas respostas possveis:
(1a) Que o agente, no momento da ao, estava numa
condio moral adequada, ou seja, a devoo ao dever estava viva e
presente no seu corao
5
(1b) Que ele merece uma condecorao especial pois
venceu uma rdua batalha na eterna guerra contra o mal
6
A segunda questo tambm admite duas respostas:
(2a) Se a reverncia ao dever estiver presente e for
suficiente para realizar a ao;
7
(2b) Se motivos cooperativos estivessem presentes,
devemos dizer que a ao no foi realizada por dever.
8
As respostas do tipo (a) fornecem o modelo denominado
por Henson de fitness report model, as respostas do tipo (b) do o foi
denominado de battle citation model. De acordo com o battle citation
model, uma ao tem valor moral apenas se o respeito pelo dever for
o nico motivo que leva ao por dever. No fitness report model,
outras inclinaes podem estar presentes, desde que o respeito pelo
dever tivesse sido suficiente por si mesmo, ainda que outros
motivos tambm estivessem presentes e pudessem tambm ter sido
suficientes.
De acordo com o fitness report model, no h necessidade de
banir todas as inclinaes em direo ao, caso o respeito tivesse
sido uma razo suficiente para causar a ao. Henson sugere uma
possvel distino entre a Fundamentao e a Metafsica dos Costumes. De
acordo com ele, a Fundamentao est de acordo com o battle citation
model e a Metafsica dos Costumes com o fitness model, pois nesta obra
a simpatia pode estar presente numa ao moralmente valiosa.
Henson, ento, ao perguntar-se o que significa atribuir valor
moral a uma ao, defende ento que o texto kantiano admite duas
5
Ibid, p. 42.
6
Ibid, p. 42.
7
Ibid, p. 44.
8
Ibid, p. 44.
Maria de Lourdes Borges
98
respostas a esta questo, as quais se conformariam aos dois
modelos: Battle Citation e Fitness model
9
. Segundo o primeiro, a mera
presena da inclinao tiraria o valor moral de uma ao; segundo o
Fitness model, a ao teria seu valor moral preservado, desde que o
respeito pela lei estivesse presente e tivesse sido suficiente, na
ausncia da inclinao, para a realizao do dever. Esta interpretao
admite que aes sobre-determinadas possam ter valor moral para
Kant. Aes sobre-determinadas so aquelas nas quais tanto a
inclinao, quando a lei moral e o respeito por esta pudessem ter
sido motivos suficientes, na ausncia do outro, para a realizao da
ao. Tal concepo foi aceita por outros comentadores, entre eles,
Brbara Herman
10
e Mrcia Baron
11
.
Barbara Herman considera o mesmo problema no seu livro
The Practice of Moral Judgment,
12
no qual ela tenta determinar se a
ausncia de inclinaes uma condio necessria da realizao de
uma ao moral. Ela acredita que isso no plausvel : A aparente
consequncia dessa viso , pelo menos, problemtica, na medida em
que julga uma ao por dever, realizada com ressentimento,
moralmente prefervel a uma ao similar feita por afeio ou com
prazer.
13
Ela discorda da interpretao tradicional, para a qual a mera
presena de um motivo ou mbil no moral implica uma falta de
valor moral. Contudo, ela salienta alguns problemas que advm da
ideia de suficincia empregada por Henson no Fitness Report Model. Ela
vai alm e prope uma verso mais forte do Fitness report model.
Suponhamos que um merceeiro tenha dois motivos
suficientes para ser honesto: o motivo moral e o motivo do lucro.
Um merceeiro com um motivo moral suficiente ir realizar aes
honestas, mesmo se o motivo do lucro estiver ausente;
consequentemente, de acordo com o fitness model, esta seria uma ao
moral. Herman chama ateno para o fato de que se o motivo moral
suficiente nesta situao, isto no implica que ele o seja em outra.
Se o motivo do lucro fosse mais forte e levasse o merceeiro a agir de
9
Henson, What Kant might have said: moral worth and the overdetermination of a
dutiful action, p. 39-54.
10
Herman, 1993.
11
Baron, 1995.
12
Herman, On the Value of Acting from the Motive of Duty, in: The Practice of
Moral Judgment, p.1-22.
13
Ibid, p. 1.
Razo e emoo em Kant
99
forma desonesta, ento o motivo moral poderia no ser suficiente.
Herman defende que uma ao moral realizada, no apenas
quando o motivo moral for suficiente numa situao especfica, mas
este deve ser forte o suficiente para prevalecer em relao a outras
possveis inclinaes contra a lei moral que poderiam surgir em
outras ocasies. Numa interpretao mais forte do Fitness model,
uma ao pode ter valor moral- ela afirma-apenas se o motivo
moral for forte o suficiente para prevalecer em relao a outras
inclinaes. Nesta interpretao mais forte do Fitness Model, ns
louvaramos o agente cujos motivos morais prevalecem sempre em
relao a motivos no morais, nos trazendo de volta ao Battle Citation
Model. Hermann explica: Uma interpretao mais forte de
suficincia levaria a desconsiderar a tese de que h duas noes de
valor moral em Kant, e nos deixaria apenas com o poderoso
motivo moral do Battle Citation Model
14
.
Hermann, contudo, concorda com Henson que natural
aceitar que numa ao com valor moral, motivos no morais podem
estar presentes, na medida em que estes no sejam a razo pela qual
o agente agiu. Ela aponta, no entanto, para um problema: como
pensar um motivo que esteja presente e no operante?
Herman interpreta o exemplo do filantropo de acordo com
aquilo que foi denominado de tese da incorporao. Conforme
vimos, segundo a tese da incorporao o valor moral no muda na
presena ou ausncia da inclinao, mas na sua incluso na mxima
do agente como um fundamento de determinao da ao: como
um motivo
15
. Ela esclarece, ento, a distino entre mbeis
(Triebfedern) e motivos (Bewegungsgrunden). Aqueles so desejos,
paixes, inclinaes, estes so razes de ao. Hermann escreve:
Os motivos kantianos no so nem desejos, nem causas. Os
motivos de um agente refletem suas razes para agir. Um agente
pode tomar a presena de um desejo como fornecendo a ele razo
para agir, da mesma forma que ele pode tambm achar razes nas
suas paixes, princpios ou interesses prticos. Todos eles, em si
mesmos, so mbeis (Triebfedern), no motivos de ao. obra do
14
Herman, op. cit. p.9
15
Herman, op. cit. p.11
Maria de Lourdes Borges
100
agente que mbeis determinem a ao apenas quando eles so
tomados na mxima do agente.
16
Para compreender a ideia kantiana de valor moral, devemos
fazer uma distino entre motivos, mbeis, desejos e causas. Os
motivos kantianos no so desejos, ou causas, no sentido de foras
do tipo vetorial. Desejos so mbeis (Triebfedern), no motivos para a
ao. Seguindo esta linha de raciocnio, ela conclui que a doutrina do
valor moral pode aceitar a sobre-determinao com respeito aos
mbeis, no aos motivos.
De qualquer forma, ela aceita que a mera presena de uma
inclinao no torna a ao numa ao no moral. Ela reconhece
que, no caso da simpatia, sua presena no torna a ao benevolente
moralmente sem valor. A ideia de que a mera presena da simpatia
no afeta o valor moral de uma ao, desde que no seja o mbil da
ao, amplamente aceita pelos comentadores. Na anlise do
exemplo da Fundamentao, Korsgaard defende que, quando a
simpatia est presente, mas a pessoa est motivada suficientemente
pelo dever, a ao tem valor moral e ainda sua simpatia natural
contribuir para o gozo de sua ao.
17
A tese defendida tanto por
Herman quanto por Korsgaard, que se a simpatia no elevada a
motivo moral, sua mera presena no tira o valor da ao, de certa
forma, corroborada pela diferena que Kant estabelece entre o
princpio de utilidade e o elogio que Hutcheson faz do sentimento
moral. Na Fundamentao, ao discutir a viso de Hutcheson sobre a
simpatia, Kant assume que este sentimento mais perto da
moralidade do que o princpio da utilidade, o qual apenas ensina a
calcular melhor. Ele nos explica a diferena:
O sentimento moral (...) contudo permanece mais
perto da moralidade e de sua dignidade, na medida em
que ele mostra virtude a honra de atribuir a ela
imediatamente o deleite e estima que temos por ela e
no diz na sua cara que no sua beleza, mas apenas
nosso proveito que nos liga a ela. (G, 4: 443).
16
Ibid., p. 12.
17
Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, p. 59.
Razo e emoo em Kant
101
Mesmo que o criticado princpio de utilidade, assim como o
sentimento moral, apenas nos fornea princpios empricos, o
segundo seria prefervel ao primeiro, visto que ele est mais perto da
moralidade. Contudo, sentimento moral ainda classificado como
um princpio material e no tem a pureza necessria de um mbil
moral. Consequentemente, tanto na Fundamentao quanto na Crtica
da Razo Prtica, simpatia e outros sentimentos morais parecem ser
inadequados, mesmo quando so tomados apenas como
fundamento subjetivo da ao, como mbeis, pois, neste caso,
teramos um princpio subjetivo e emprico, e no um princpio
formal, o nico que pode ser o princpio da autonomia da vontade.
Contudo, considero que a sobre-determinao, num sentido trivial,
pode ser considerada verdadeira para os textos kantianos. Por
sentido trivial, entendo a possibilidade de coexistirem com o motivo
de dever outros mbeis, desde que estes no tenham sido elevados a
motivo de ao. Se admitirmos a tese da incorporao, aceitando
que mbeis s causam ao se foram transformados em motivos,
pouco importaria a presena ou no de disposies compassivas e
afetos entre os estados afetivos do agente. No tendo sido tomados
como motivo, eles no so agentes ou causas de ao. Vejamos
novamente o exemplo do Filantropo para entender em que sentido
a sobre-determinao pode ser trivialmente verdadeira.
No exemplo da Fundamentao, o primeiro filantropo age
tendo a simpatia como mbil, no qual a simpatia assume a forma de
prazer pela felicidade do outro. Kant explica que o filantropo
compassivo aquele que, encontrando um prazer interior em
espalhar felicidade ao seu redor (4:398), levado realizar a ao
pela fora de sua simpatia. Uma inclinao imediata conduziu o
agente ao benevolente, tendo a simpatia como determinao
subjetiva da ao, como seu mbil. O que determinou a ao do
segundo filantropo, aquele desprovido de simpatia?
Agora a ao por dever pe de lado totalmente a
influncia da inclinao e com ela todo objeto da
vontade; portanto no deixado vontade nada que a
possa determinar exceto objetivamente a lei e,
subjetivamente, o respeito por esta lei prtica. (G,
4:401).
Maria de Lourdes Borges
102
O que predispe a vontade neste caso a lei moral e o
sentimento de respeito, o qual posterior lei moral. Ainda que
sendo um sentimento, Kant no o nega, ele no patolgico, pois
um sentimento engendrado por um conceito racional:
Poderia ser objetado que eu apenas procuro refgio, sob a palavra
respeito, num sentimento obscuro, ao invs de resolver a questo
atravs de um conceito da razo. Mas ainda que o respeito seja um
sentimento, ele no recebido atravs da influncia externa; ele , ao
contrrio, um sentimento auto- engendrado atravs de um conceito
racional e, consequentemente, especificamente diferente de todos os
sentimentos do primeiro tipo, que podem ser reduzidos inclinao
ou medo (G, 4:401).
Kant aceita que o respeito um sentimento; contudo, este
sentimento de um tipo diferente. Ele no recebido de fora ou
reduzido inclinao ou medo, mas produzido por um conceito
racional. Portanto, ele no nega a necessidade de um sentimento
como um fundamento subjetivo da faculdade de desejar, apenas
defende que este sentimento de um tipo diferente, um
sentimento provocado por um motivo moral. A determinao
imediata da vontade- Kant escreve- por meio da lei e a conscincia
disso chamada respeito, de forma que ela vista como efeito da lei
no sujeito e no como causa da lei (G, 4:401).
A importncia do papel central desempenhado pelo respeito
tambm enfatizado na Crtica da Razo prtica, na qual dito que o
princpio subjetivo do querer deve igualmente ser um princpio
objetivamente vlido:
Ora, se por motivo (elater animi) entender-se o
fundamento determinante subjetivo da vontade de um
ente, cuja razo no , j por sua natureza,
necessariamente conforme lei objetiva, ento disso se
seguir, primeiramente, que no se pode atribuir
vontade divina motivo algum, mas que o motivo da
vontade humana ( e da vontade de todo ente racional
criado) jamais pode ser algo diverso da lei moral, por
conseguinte que o fundamento determinante ao mesmo
tempo subjetivamente suficiente da ao, desde que esta
Razo e emoo em Kant
103
no deva satisfazer apenas a letra da lei sem conter o seu
esprito. (CPrR, 5:72).
Kant defende que a lei moral deve ser suficiente para
determinar subjetivamente a vontade. Pode ser objetado aqui que ele
no explica como a lei pode ser um fundamento subjetivo para a
ao. um problema insolvel, ele afirma. A estratgia para
resolv-lo considerar que o efeito da lei moral como mbil um
efeito negativo (CPrR, 5:73) e que o efeito negativo num
sentimento ele mesmo um sentimento. Kant mostra que o
sentimento de respeito tem tanto um aspecto negativo- a dor
causada pela humilhao da vaidade- e um aspecto positivo. Este
seria o nico exemplo de um sentimento relacionado com dor e
prazer que pode ser conhecido a priori.
Voltando Fundamentao, os dois filantropos podem ser
analisados em quatro situaes possveis, duas na qual o mbil a
simpatia (situaes tipo S) e duas no qual temos apenas o respeito
como fundamento subjetivo da ao (situaes tipo R): (R1)
simpatia no est presente, o motivo da ao a lei moral e o
fundamento subjetivo o respeito; (R2) simpatia est presente, mas
o motivo da ao a lei moral e o mbil o respeito; (S1) mbil a
simpatia, mas no foi incorporado mxima; (S2) mbil a simpatia
e tomada na mxima do agente.
Nas situaes R2 e S1, a simpatia, embora presente, no
causou a ao, pois no foi incorporada mxima. Trata-se aqui de
um caso de sobre-determinao de mbeis. Ainda que esta estivesse
presente e pudesse ter levado ao, ela no foi elevada a motivo.
Ambas situaes podem ser consideradas descries da aes morais
dentro do Fitness Report Model, ainda que sujeitas crtica da
Herman, de como um mbil pode estar presente e no estar agindo.
A situao R1 descreve a tpica frmula da filantropo
insensvel, cuja ao a nica que tem valor moral. A situao S2
explicaria a ao que no tem valor moral, pois o mbil, a simpatia,
foi tomado na mxima, sendo, portanto, o motivo pelo qual o
agente realiza a ao beneficente.
Na Fundamentao, o fato da simpatia estar presente ser a
razo da ao retira o valor moral desta. Na Doutrina da Virtude,
contudo, Kant parece incentivar a realizao de tais aes, cujos
mbeis seria a simpatia. Talvez a possibilidade de tomar a simpatia
Maria de Lourdes Borges
104
na mxima da ao moral resida numa possvel ideia de controle
racional e cultivo deste sentimento, o qual ainda no estava no
horizonte na Fundamentao. Tentarei determinar se h uma
modificao da viso Kantiana da simpatia nos textos dos anos 90.
V. SIMPATIA E OUTRAS FORMAS DE AMOR
O objetivo deste captulo
1
analisar os vrios tipos de amor
tematizados na filosofia kantiana. Analisaremos se h alguma
modificao na concepo de simpatia da Fundamentao Doutrina
da Virtude. Nesta ser analisado em que consiste um dever de amar,
como o primeiro dos deveres de virtude em relao aos outros. A
introduo de um sentimento tal como amor parece, primeira
vista, estranho ao sistema kantiano, visto que, neste, a ao moral
deveria ser executada por dever e no devido a inclinaes sensveis.
Mostraremos como a introduo do dever de amar, que
implica deveres derivados de beneficncia (Wohlttigkeit),
reconhecimento (Dankbarkeit) e simpatia (Teilnehmung)
2
, no
compromete a pureza da lei moral. Ainda que a origem a priori da
lei moral continue vlida, a Metafsica dos Costumes trata da moral
aplicada a seres sensveis racionais, para os quais alguns sentimentos
podem ser teis na realizao de aes morais, quando o respeito
pela lei no um mbil suficiente. Por fim, faremos uma
comparao entre o amor-virtude e trs outros tipos de inclinaes:
o desejo, o amor-afeto e o amor-paixo, utilizando os escritos sobre
Antropologia.
V.1. Simpatia, humanitas esttica e humanitas prtica
Tanto a Fundamentao, quanto a Crtica da Razo Prtica tm
como objetivo a obteno do imperativo categrico ou da lei moral,
respectivamente, numa tentativa de provar que a razo pode
determinar a vontade, sem o auxlio de mbeis empricos. Neste
1
Uma verso anterior deste captulo, sob o ttulo Uma tipologia do amor na filosofia
kantiana foi publicada na Studia Kantiana, 2 (1): 19-34, 2000.
2
Tomaremos simpatia como traduo para Teilnehmung, ao invs de compaixo, visto
que esta se refere principalmente ao partilhar da dor alheia, enquanto o termo
simpatia mais abrangente, referindo-se tanto participao na alegria, quanto na dor
de outrem.
Maria de Lourdes Borges
106
contexto, compreende-se a crtica simpatia e sentimentos
benevolentes em geral, visto que estes seriam empricos e
contingentes, no podendo ser tomados como fundamento de
determinao da vontade, tanto objetivo (motivo), quanto subjetivo
(mbil), sendo, portanto, inapropriados para a moralidade fundada
na razo.
Na Crtica da Razo Prtica, a necessidade de fundar a
moralidade num princpio prtico no-material leva, obvia-mente,
recusa do papel de mbeis morais aos sentimentos tais como amor,
benevolncia e simpatia. O objetivo nesta obra provar, ao menos a
possibilidade da razo ser capaz de nos constranger a agir
moralmente, a despeito de bons ou maus sentimentos e nos dar a
forma de tal princpio prtico. Provar que a razo pura pode ser
prtica provar que ela pode, sozinha, determinar a vontade. Ns
falharemos em prov-lo, caso a vontade seja sempre dependente de
condies empricas. Se a vontade provar que sempre fundada em
sentimentos ou paixes, isto significaria que a razo pura no pode
ser prtica e que a causalidade de liberdade impossvel.
A mesma simpatia que no possua valor moral intrnseco
na Fundamentao, aparece na Doutrina da Virtude como um
sentimento de prazer e desprazer que deve ser utilizado para
promover a benevolncia, podendo-se constituir num mbil.
A alegria por simpatia [Mitfreunde] e compaixo (sympathia
moralis) so sentimentos sensveis de prazer e desprazer (os
quais so chamados de estticos) em relao ao estado de
alegria e dor de outrem. A natureza implantou em ns a
receptividade a estes sentimentos. Mas us-los para
promover a benevolncia ativa e racional ainda um dever
particular, mas apenas condicional, chamado dever de
humanidade (humanitas). (TL, 6:456)
Nesta citao, Kant admite explicitamente a possibilidade do uso da
simpatia como um mbil, um meio para ativar aes benevolentes.
Mais do que isso, usar sentimentos sensveis um dever chamado
dever de humanidade. Parece-nos que somos confrontados com
uma modificao na compreenso do papel da simpatia como
mbil. Haveria realmente uma mudana na tica kantiana quanto ao
Razo e emoo em Kant
107
papel dos sentimentos de simpatia nos anos 90, em textos tais como
a Doutrina da Virtude?
Devemos investigar se h realmente aqui uma modificao
na viso de Kant sobre motivao moral, ou se esta citao deve ser
entendida no sentido trivial de sobre-determinao. Neste caso,
Kant estaria apenas recomendando que, na ausncia de uma ao
puramente por dever, a simpatia fosse utilizada como uma substituta
impura, visto que seria melhor realizar uma ao correta por
simpatia do que deixar de realiz-la. Contudo, a ao ainda no teria
valor moral.
A mesma simpatia, que no possui valor moral intrnseco
na Fundamentao e na Crtica da Razo Prtica, considerada na
Doutrina das Virtudes como pertencendo aos deveres em relao aos
outros. Simpatia, gratido e beneficncia figuram como deveres de
amor. Defenderei que h um papel diferente atribudo simpatia na
Doutrina das Virtudes, quando contrastada com a Fundamentao. Visto
que naquela obra se trata de uma tica impura, ou seja, de uma
determinao de como o dever atua em seres racionais finitos, a
simpatia cumpre uma funo de mbil da ao moral, mas
moldada pelo dever. Neste sentido, no estaramos frente sobre-
determinao no sentido trivial, na qual a simpatia no afetaria o
valor moral de ao, se estivesse apenas presente sem servir de
mbil ao.
Vejamos qual o papel que cumpre a simpatia na Doutrina das
Virtudes. Comecemos pelo sentido de uma Doutrina das Virtudes,
domnio do habitus desde Aristteles- numa Metafsica dos Costumes. O
prprio Kant admite que uma Doutrina da Virtude, como parte de
uma metafsica dos costumes deve poder admitir um sistema de
conceitos independentes da intuio emprica:
Se h uma filosofia sobre algum objeto (um sistema de
conhecimento racional a partir de conceitos), ento deve
haver para esta filosofia um sistema de conceitos
racionais puros, independentes de toda condio da
intuio, isto , uma metafsica. (TL, 6:375)
O filsofo que quer construir uma metafsica dos costumes
procura conceitos puros racionais, independentemente de condies
empricas. Para ser fiel ao esprito da Metafsica dos Costumes, ns
Maria de Lourdes Borges
108
deveramos obter, na Doutrina das Virtudes, um sistema a partir de
conceitos puros racionais:
Se renunciarmos a este princpio e, para determinar os
deveres, partimos do sentimento patolgico, ou puramente
esttico, ou ainda sentimento moral (prtico-subjetivo, ao
invs de objetivo), ou seja, partirmos da matria da vontade,
da finalidade, e no da forma da vontade, ou seja, da lei, para
determinar a vontade: ento, no encontraremos nenhum
fundamento metafsico para a Doutrina da Virtude, pois o
sentimento, independentemente do que o provoca, sempre
fsico (TL, 6:376)
Uma Doutrina da Virtude, sendo parte de uma metafsica dos
costumes, no pode ser fundamentada em sentimentos, visto que
sentimentos so sempre fsicos, relacionados dor e ao prazer.
Apesar deste alerta feito no Prefcio, encontramos o dever de amar
como um primeiro captulo (Do dever de amar a outros homens) da
primeira seo (Dos deveres do homem em relao aos outros como homens)
da segunda parte (Dos deveres de virtude em relao a outros homens ) da
Doutrina da Virtude. Como podemos inserir o amor nesta obra que
no pretende determinar deveres a partir de sentimentos
patolgicos, estticos ou morais? Um outro problema que aqui
ocorre a possibilidade de uma construo a priori que contenha
uma teoria da virtude, pois virtude usualmente definida como algo
que pertence ao domnio dos costumes. Aristteles define virtude
como uma hxis proairetik, ou seja, um costume de agir
deliberadamente. Se aceitarmos esta definio, uma teoria das
virtudes pertenceria ao domnio prtico-tcnico. Mas Kant parece
procurar introduzir uma metafsica dos costumes no domnio
prtico puro. este realmente o caso?
Para responder a esta questo, ser necessrio compreender
corretamente a concepo de uma metafsica dos costumes como
aquela doutrina que contem em si princpios de aplicao da lei
universal natureza particular dos seres humanos, qual
conhecida somente pela experincia (MS, 6:217). O outro lado da
metafsica dos costumes uma antropologia prtica, a qual se refere
s condies humanas da aceitao ou rejeio da lei moral.. Isso
no significa, alerta Kant, que uma metafsica dos costumes deve
Razo e emoo em Kant
109
ser baseada numa antropologia, mas que deve ser aplicada a
esta.(MS, 6:217). Na Fundamentao, Kant distinguia nitidamente
entre uma metafsica dos costumes, que nos d as leis de acordo
com as quais tudo deve acontecer e uma antropologia prtica, que
d as leis de acordo com a quais tudo acontece. (G,4:388). Doze
anos mais tarde, porm, a ideia de uma metafsica dos costumes
inclui em si um certo conhecimento emprico sobre a natureza
humana, sem a qual no seria possvel determinar um sistema
concreto de deveres para os seres humanos. Allen Wood analisa
corretamente esse deslocamento na concepo de metafsica dos
costumes que ocorre entre 1785 e 1797, no que toca a uma rgida
separao entre a parte emprica e pura da tica:
Ao deslocar o contedo de uma metafsica dos costumes
em direo ao emprico, Kant no est abandonando ou
modificando sua tese fundamental de que o princpio
fundamental da moralidade totalmente a priori e no
toma nada da natureza emprica dos seres humanos. Ele
est apenas restringindo sua tese anterior de que uma
metafsica dos costumes refere-se apenas ideia e aos
princpios de uma vontade pura possvel e no s aes e
s condies do querer humano em geral. Em outras
palavras, Kant no considera mais que a metafsica dos
costumes composta apenas por um conjunto de
princpios morais puros. (...) Ela , ao contrrio, um
sistema de deveres que resultam quando o princpio moral
puro aplicado natureza emprica do homem.
3
A aplicao dos princpios morais puros natureza humana
nos fornece as virtudes, definidas como fins que so, ao mesmo
tempo, deveres. Kant enumera dois fins que se constituem em
deveres: a prpria perfeio e a felicidade alheia. Estes dois
objetivos nos levam a dois diferentes tipos de deveres: os deveres do
homem relacionados a ele mesmo, deveres do homem relacionados
a outrem, entre os quais encontramos o dever de amar (Liebespflicht),
que consiste em promover a felicidade de outrem. Todavia, este
3
Wood, Kants Ethical Thought, p. 196.
Maria de Lourdes Borges
110
amor virtuoso no um amor relacionado ao prazer da posse do
outro, mas uma mxima de fazer o bem:
No entendemos aqui o amor como sentimento
(Gefhl-sthetisch), isto , como um prazer (Lust)
experimentado pela perfeio de outros homens, no o
compreendemos como amor de satisfao (Liebe des
Wohlgefallens) (porque os outros no podem nos obrigar
a ter sentimentos), mas deve ser concebido como uma
mxima de benevolncia (Wohlwollen) (enquanto prtica),
que tem como consequncia a beneficncia (Wohltun).
(TL, 6:449)
Kant refere-se, no ao amor de deleite (amor complacentiae), mas ao
amor de benevolncia (Wohlwollen, amor benevolentiae), visto que este
poderia ser exigido como dever, mas no o primeiro, pois seria
contraditrio que algum fosse obrigado a sentir prazer. O amor de
benevolncia, exatamente por no ser direto, admite algo prximo
ao cultivo aristotlico, disposio que pode ser despertada pelo
hbito. Kant escreve:
Desta forma, o dito ame o seu prximo como voc
mesmo, no significa que se deve imediatamente am-
los e, posteriormente, devido a este amor, fazer o bem
para ele. Significa, ao contrrio, que voc deve fazer o
bem aos seres humanos, e sua beneficncia produzir
amor com respeito a eles (como uma aptido
inclinao em geral). (DV, 6:402)
Neste pargrafo, Kant distingue o amor-virtude do amor-
sentimento. O amor prtico, o dever de promover a felicidade
alheia, diferente do amor enquanto paixo da alma, pois se o fosse,
dever-se-ia admitir a necessidade de um sentimento patolgico
como fonte de valor moral. Se Kant admitisse que a virtude do
amor fosse idntica ao sentimento de amor, ele estaria admitindo
que a doutrina da razo prtica pura poderia admitir um suporte
emprico. Por esta razo, Kant procura distinguir a virtude do
amor do amor que nos d prazer ou satisfao, ainda que seja um
prazer pela perfeio de outrem. Alm disso, no podemos ter um
Razo e emoo em Kant
111
dever de amar, se amor fosse entendido como um sentimento de
prazer, porque o dever no nos pode constranger a ter sentimentos,
nem pode a lei moral nos obrigar a amar sensivelmente algum.
O dever de amar deve ser entendido como uma mxima de
benevolncia, que consiste, no em querer o bem dos outros sem
contribuir praticamente para isso, mas numa benevolncia prtica,
ou beneficncia, que consiste a propor-se como fim o bem do
outro. A mxima de benevolncia engendrar, por sua vez, os deveres de
beneficncia (dever de ajudar os necessitados a encontrar sua
felicidade) e de reconhecimento (dever de honrar uma pessoa devido a
um favor que recebeu) e de simpatia (Teilnehmung). Kant aceita que
participar da dor ou da alegria de outrem , sem dvida, um
sentimento, recaindo, aparentemente, num fundamento de
determinao prtico material para a moralidade. A introduo do
sentimento de simpatia deve ser, todavia, interpretado, no como
um fundamento de determinao da ao, mas como um sentimento
natural que ns devemos utilizar como meio para tornar efetiva a
benevolncia. Ser nosso dever, portanto, cultivar em ns os
sentimentos de simpatia, ainda que a lei moral no se ancore nesses,
mas na pura razo.
Na Doutrina das Virtudes, Kant nos apresenta uma teoria
moral mais complexa sobre o papel dos sentimentos relacionados
simpatia. No pargrafo 34 da Doutrina das Virtudes, Kant admite que
os sentimentos de simpatia, alm da beneficncia e benevolncia,
tambm possam cumprir o papel de amor prtico. Deve a simpatia
ser considerada como tendo valor moral, mesmo sendo um
sentimento natural? Kant responde questo positivamente. Indo
alm do esprito do esprito da Fundamentao, ele prope que se use
simpatia, esse sentimento de prazer e desprazer pelo estado de
prazer e dor de outrem, a fim de promover benevolncia racional,
ou seja, simpatia pode ser um bom encorajamento ao amor prtico.
Ainda que a simpatia possa ser o mbil de uma ao moral
(ou um incitamento ao amor prtico), isso no significa que todo
compartilhar de sentimentos positivo. Kant distingue entre dois
tipos de simpatia, uma relacionada humanitas practica, na qual a
capacidade de compartilhar os sentimentos dos outros til para
aes que promovam a felicidade alheia, a outra relacionada com a
humanitas aesthetica, na qual o compartilhar dos sentimentos dos
Maria de Lourdes Borges
112
outros no necessariamente leva aes moralmente corretas.
Enquanto nesta, a simpatia um sentimento natural e irracional,
naquela, ela pode ser cultivada e treinada pela razo, a fim de
obedecer a seus princpios.
A humanitas practica a capacidade e a vontade de
compartilhar os sentimentos dos outros, sendo a humanitas aesthetica,
a receptividade, dada pela prpria natureza, de sentir a alegria e a
tristeza em comum com outros (DV, 6:456). A primeira
desejvel, mas no a segunda, porque a primeira livre e depende da
vontade, enquanto a segunda espalha-se naturalmente entre as
pessoas como a susceptibilidade ao calor ou a doenas
contagiosas (DV, 6:457).
A razo do elogio humanitas practica e crtica humanitas
aesthetica que a compaixo, quando no acompanhada por uma
ao, ou no guiada pelas regras da razo, uma forma de aumentar
o mal no mundo. Se um amigo est sofrendo e eu no posso fazer
nada para diminuir sua dor, no h tal dever de ser compassivo,
porque isso apenas me faria aumentar o sofrimento e os males do
mundo. Se eu escondo do meu amigo a verdade porque sofro ao v-
lo sofrer, no estou agindo corretamente. Os sentimentos so cegos,
se a razo no me disser o que fazer.
Kant sem dvida reconhece a possibilidade de que
sentimentos de simpatia possam fazer o papel de mbil moral,
quando a representao do dever por si s no for suficiente, visto
que simpatia ainda um dos impulsos que a natureza em ns
implantou para fazer o que a representao do dever no poderia
no realizar por si s (MS, 6:458). A simpatia soma-se ao mbil
moral (respeito) para realizar a ao moral. Se a representao da lei
no for suficiente para realiz-lo, um dever promover nossos bons
sentimentos naturais para adicionar um mbil natural a um mbil
moral racional. Indo, portanto, alm do esprito da Fundamentao,
Kant admite que a simpatia devidamente cultivada para responder s
situaes corretas possa ser o mbil de uma ao moral que
realizada pelo motivo do dever. Neste caso, o dever deve ser
compreendido em dois nveis: primeiro, um dever de realizar a ao
moral; segundo, um dever derivado de utilizar sentimentos naturais
quando a considerao sobre a correo da ao no suficiente
para acionar a ao.
Razo e emoo em Kant
113
O papel que Kant atribui simpatia , portanto, de um
sentimento moral provisrio, o qual pode auxiliar na realizao de
boas aes, quando o sentimento de respeito pela lei moral ainda
no se encontra suficientemente desenvolvido. Conforme analisa
Nancy Sherman, esta uma moralidade faute de mieux, ou seja, um
tipo de moralidade provisria: uma moralidade de tipo inferior,
uma moralidade infantil que ser finalmente substituda no
progresso do indivduo.
4
Nancy Sherman, todavia, admite que
sentimentos tais como simpatia, compaixo e amor possuem um
papel perceptivo em Kant, ou seja, que ns ainda necessitamos das
emoes patolgicas para decidir onde e quando esses fins [da lei
moral e de suas esferas da justia e da virtude] so apropriados.
5
Sherman parece estar correta e fiel aos textos quando
examina o papel provisrio de sentimentos tais como compaixo,
amor, simpatia, visto que Kant realmente admite uma funo para
estes na realizao das aes morais, quando o mero respeito pela lei
no for ainda forte o suficiente para desencadear a ao. O papel
perceptivo, contudo, mais duvidoso, visto que a ideia de que
emoes so cegas parece permanecer uma constante na obra
kantiana, sem variaes da Fundamentao Doutrina da Virtude. A
crtica da simpatia como mbil de uma ao moral do filantropo
residia, no na condenao da simpatia enquanto tal, mas na ideia de
que ela, por si mesma, no poderia dizer qual a ao moralmente
relevante. Um bom exemplo dado pela literatura contempornea
fornecido por Barbara Herman: ouvimos algum gritar por ajuda para
carregar algo pesado, o ajudamos e, posteriormente, viemos a saber
que se tratava de um ladro roubando uma escultura de um museu de
arte.
Para que a simpatia possa fazer o papel de mbil moral, ela
dever ser treinada e controlada pela vontade, a qual informar
tambm quando esta deve ser ativada. E essa a razo pela qual
humanidade dividida em humanidade livre e no-livre. A
humanidade livre (humanitas practica) a capacidade e a vontade de
usar os sentimentos de simpatia para promover a felicidade de
outrem, o que inclui um procedimento de decidir em que casos eu
devo acionar esses sentimentos. O estoico, que decide que no
4
Sherman, The Place of Emotions in Kantian Morality, p.158.
5
Ibid., p.159
Maria de Lourdes Borges
114
acionar seus sentimentos de simpatia, age desta forma, porque no
h nada que possa fazer para ajudar seu amigo; todavia, se houvesse
algo prtico que pudesse ser feito, ele ativaria seus sentimentos de
compaixo, visto que estes teriam como consequncia uma real ao
beneficente. Consequentemente, nesta nova viso da simpatia
apresentada na Doutrina da Virtude, esta passvel de controle pela
razo, o que discorda da abordagem apresentada na Fundamentao,
que confirmada pelas anotaes de Mrongovius das Lies de
Antropologia, ministradas em 84/85. Segundo tais anotaes, uma das
razes que faz a simpatia ser inapropriada como mbil sua inscrio
sensvel: se a [simpatia com a alegria e dor] torna-se afeto, o ser
humano torna-se infeliz. O ser humano torna-se, atravs da simpatia,
apenas sensvel e no ajuda os outros (Ant Mrongovius, 25:1348)
Na Doutrina das Virtudes, Kant admite que, alm da simpatia
fisiolgica e impossvel de ser cultivada, h uma outra que pode ser
usada para efetivamente ajudar aos outros. A fim de que a simpatia
seja efetiva e torne-se beneficncia, devemos ir a hospitais e outros
lugares, onde vejamos o sofrimento alheio; um dever, nos diz
Kant, no evitar lugares onde se encontram os pobres que passam
necessidades, mas procur-los. (MS, 6:457) Este habitus no visa
desenvolver personalidades irrefletidamente compassivas, mas o
treinamento dos nossos sentimentos de compaixo e simpatia para
que possam ser utilizados posteriormente como meios de fazer o
bem concretamente. Os sentimentos de amor, simpatia e compaixo
so, contudo, em si mesmos, cegos moralmente, dependendo de
princpios morais para serem acionados na situao correta.
Poderamos contrastar esta interpretao com passagens da
Doutrina das Virtudes (MS, 6: 446) nas quais Kant afirma que a ao
moral deve possuir apenas um motivo que a lei moral? Contudo, a
Kant refere-se nossa luta constante do ser humano para aumentar
a perfeio enquanto ser moral. a perfeio enquanto agentes
morais. Enquanto agentes morais perfeitos, no teramos
necessidade de cultivarmos a simpatia, pois o respeito pela lei
bastaria; contudo, aqui se trata da natureza impura do ser racional
finito, na qual a simpatia torna-se benfica para a moralidade. Como
tal, no se pode dizer que ela no possui valor moral, apenas que a
ao, neste caso, revela uma impureza. A santidade, ou seja, agir
sempre tomando a lei e o respeito como nicos motivos, uma
Razo e emoo em Kant
115
perfeio a ser atingida atravs do progresso moral. O ser humano
no perfeito moralmente, por isso necessita do cultivo da simpatia,
mas deve esforar-se para atingir a perfeio moral, na qual a lei seja,
por si mesma, motivo e mbil.
Devemos concluir que Kant finalmente admite um papel
moral para os sentimentos e emoes e aceita, aos moldes
empiristas, que eles assumem um papel importante na ao moral?
V.2. Um ponto de inflexo sentimentalista?
Da Fundamentao Doutrina das Virtudes, Kant
aparentemente passa de uma teoria formal a uma teoria que prope
o cultivo de sentimentos. A considerao positiva da simpatia na
Doutrina das Virtudes parece levar alguns comentadores parece ter
levado alguns comentadores, como Nancy Sherman e Marcia Baron,
a sustentar que Kant, ao menos nas ltimas obras, torna-se um
entusiasmado defensor do papel moral das emoes no domnio
moral. Para chegar concluso que necessitamos emoes
patolgicas para saber quando e onde aplicar princpios morais,
Sherman se refere afirmao kantiana que devemos evitar lugares
onde podemos encontrar pessoas pobres e doentes, pois este este
um dos impulsos que a natureza implantou em ns para fazer o que
o mero pensamento do dever pode no realizar (DV, 6:457). Ela
chama essa caracterstica de funo perceptiva das emoes.
Parece-me, contudo, que o processo apontado por Kant
oposto ao explicado por Sherman. As emoes no nos permitem
saber quando e como aplicar princpios morais, ao contrrio, isso ,
decidido atravs do princpio chamado de dever de humanidade, o qual
racionalmente decide um que casos devemos dar livre curso nossa
simpatia natural e em que casos devemos control-la. Podemos
pensar vrias situaes nas quais a simpatia pode ser perniciosa
moralmente: quando, por compaixo, no dizemos aquele que nos
ama que no o amamos; quando escondemos uma dura verdade de
um amigo; quando no reprovamos um aluno. Se, nestes casos, nos
guissemos pelos nossos sentimentos, pela funo perceptiva da
simpatia, acabaramos cometendo atos moralmente errados. Talvez
quando Kant aconselhe a ida aos hospitais e aos lugares onde as
pessoas sofrem, ele esteja aconselhando mais do que simplesmente
o cultivo enquanto o despertar e o aumentar da simpatia.
Maria de Lourdes Borges
116
Provavelmente ele esteja sugerindo que nos acostumemos ao
sofrimento para que a simpatia natural no nos impulsione a atos
incorretos.
Sentimentos patolgicos, de acordo com Kant, sempre
sero cegos para decidir a ao correta no contexto correto, logo a
suposta capacidade perceptiva das emoes equivocada. A
novidade da Doutrina das Virtudes o uso que podemos fazer a
simpatia em casos aconselhados pela razo, no caso em que o
respeito pela lei no for suficiente.
Marcia Baron tambm atribui s emoes um papel
importante na filosofia de Kant. No livro Kantian Ethics Almost
Without Apology, ela afirma que uma incompreenso afirmar que,
para Kant, inclinaes (e tudo o que afetivo) so ruins e que no
somos responsveis pelas nossas inclinaes e emoes porque
somos passivos com respeito a elas.
6
Ela tambm defende que, se
tomarmos em considerao textos como Religio e Antropologia
fcil estabelecer que Kant no afirma que somos passivos em
relao a nossas emoes e sentimentos.
7
, ao menos, uma
hiptese corajosa, afirmar que, segundo o Kant dos textos tardios,
ns no seramos passivos em relao aos nossos sentimentos.
Visto que no podemos negar o claro elogio do filantropo no
compassivo na Fundamentao, devemo-nos perguntar se h uma
modificao substancial nos ltimos textos. Uma forma de testar a
hiptese de que algo muda entre os anos da Fundamentao e os
textos de 1790 analisar a teoria das paixes e afetos em duas
verses da Antropologia, comparando as transcries das Lies sobre
Antropologia anotadas por Mongrouvius (1784/85) com a verso
publicada da Antropologia (1798).
Segundo as anotaes de Mrongovius sobre as Lies da
Antropologia de 1784 a 85, Kant define afeto como um sentimento,
enquanto paixo pertence faculdade de desejar.
8
A concepo
kantiana, tanto das paixes, quanto dos afetos negativa: afeto
como um inebriante que faz dormir, paixo como uma demncia
permanente (Ant M, 25, 2:1341). Na Antropologia publicada em
1798, paixes e afetos no so considerados de forma mais positiva:
6
Baron, Kantian Ethics Almost Without Apology, p. 194.
7
Ibid., p.195.
8
See Vorlesungen uber Anthropology , Mrongovius, 25, 2:1340.
Razo e emoo em Kant
117
elas so consideradas doenas da mente, porque excluem a
soberania da razo (Ant, 73). Afeto uma tempestade que torna a
reflexo impossvel, enquanto a paixo uma ferida cancerosa para
a razo prtica (Ant 74). A concepo geral das emoes no
muda, se compararmos as verses dos textos das lies anatadas por
Mrongrovius em 85 com a Antropologia do ponto de vista pragmtico,
publicada na maturidade do filsofo. Seria um pouco temerrio
afirmar que Kant acaba por conceder uma funo positiva s
emoes de modo geral, ou que ele atribui ao agente racional
responsabilidade por aquilo que exclui a soberania da razo. O que
Kant afirmar que, em que pese termos inclinaes favorveis ou
contrrias a lei moral, ns podemos agir conforme a razo. Isso s
possvel numa filosofia, como a de Kant, na qual o agente racional,
dotado de espontaneidade, pode agir por liberdade,
independentemente de impulsos da sensibilidade. Em tal teoria, no
h necessidade de sermos responsveis pelos nossos sentimentos, de
os cultivarmos ou controlarmos, visto que a ao causada, em
ltima instncia, pela razo.
Visto que na Doutrina das Virtudes, a simpatia pode ser
treinada a fim de tornar-se um mbil que auxilie ao morais,
devemo-nos indagar se este sentimento pertence classe dos afetos.
Nas anotaes de Mrongovius, Kant sustenta que, se a simpatia
torna-se um afeto, ela no considerada til do ponto de vista
moral, porque atravs dela torna-se infeliz e no pode ajudar os
outros (AntM, 25, 2:1348). Segundo as anotaes da Collins das
Lies de tica, ministradas no mesmo ano acadmico de 84/85, a
ideia de um corao caridoso, que obtm satisfao em ajudar os
outros, tambm no considerado importante do ponto de vista
moral. Se esta inclinao deve ser satisfeita, apenas porque uma
necessidade sensvel, no devido ao seu valor moral. Logo, o
filsofo vai procurar um princpio racional de benevolncia. No
seria a tarefa do filsofo moral de cultivar a amabilidade do
corao e do carter, visto que tal temperamento seria baseado nas
inclinaes e necessidades, as quais do origem a uma forma
irregular de comportamento (VE, Collins, 27:415).
Treze anos depois, na Antropologia publicada, Kant defende
que um homem prudente no deve em nenhum momento estar
num estado emocional, nem naquele de simpatia com os pesares do
Maria de Lourdes Borges
118
seu melhor amigo (Ant, 75). Ele admite que a simpatia uma
emoo magnnima; todavia, ela intil e apenas pode ser
desculpada num homem cujos olhos enchem-se de lgrimas, desde
que estas no lhe caiam em gotas, e desde que ele possa evitar fazer
acompanhar suas lgrimas com soluos, causando um som
desagradvel (Ant, 76). Contudo ele estabelece uma interessante
distino entre sensitividade e sensibilidade:
Sensitividade uma faculdade que, tanto permite os
estados de prazer ou desprazer, quanto os evita de serem
sentidos. Sentimentalidade, por outro lado, uma
fraqueza, devido ao seu interesse na condio dos outros
que podem ser sentimentalistas conforme lhes apraz e
afetar a pessoa contra sua vontade. (Ant, 62).
Um homem, por exemplo, estaria usando sua sensitividade
quando ele toma em considerao os sentimentos delicados de sua
esposa e filhos, porque a delicadeza de sua sensao necessria
para a generosidade. (Ant 62). Mas se o homem apenas sente o
sentimento alheio, sem nenhuma deciso ou escolha racional, ele
apenas estaria sendo passivo, deve ser tido por infantil.
Consequentemente, se no h nenhuma mudana radical nas vrias
verses da Antropologia sobre a inutilidade dos afetos do ponto de
vista moral, podemos ver ao menos uma pequena diferena no que
concerne simpatia. Atravs da distino entre sensitividade e
sentimentalidade, parece que h um tipo de simpatia, a primeira, que
pode ser cultivada de acordo com uma escolha racional.
Esta considerao de simpatia aparece tambm na Doutrina
das Virtudes, ligada a humanitas pratica, em oposio humanitas estetica.
No primeiro caso, ela seria capaz da operar como mbil moral.
Minha tese, portanto, que h uma viso mais sofisticada
que mostrada na Doutrina das Virtudes (1797) e Antropologia (1798),
nas quais podemos ver uma distino entre o que se poderia chamar
uma simpatia sensvel e uma prtica. O primeiro tipo de simpatia
seria relacionado com a sentimentalidade e significa a capacidade
passiva de ser sensvel alegria e dor de outrem. Por ser um
sentimento passivo, deve ser denominado de afeto. A simpatia
prtica, por sua vez, envolve escolha e pode ser treinada para uma
resposta correta moralmente nas diversas situaes. A possibilidade
Razo e emoo em Kant
119
de cultivo desta simpatia no implica a possibilidade de cultivo de
todos os afetos em geral e muito menos a ideia de que no somos
passivos em relao as nossas emoes. Logo, a possibilidade de
uma mudana radical entre um Kant formal e outro que faz o elogio
da responsabilidade pelas nossas emoes deve ser descartada.
Tanto nas anotaes de Mongrovius, quanto na Antropologia de 97 e
na Doutrina das Virtudes de 98, encontramos a mesma viso de que
afetos e paixes so doenas da mente e, portanto, nocivas para a
moralidade. Pode-se dizer, ento, que a posio da Fundamentao de
que paixes e afetos no possuem valor moral intrnseco continua
vlida.
H, verdade, alm de uma viso mais refinada da simpatia,
um desenvolvimento tardio na obra kantiana das condies
subjetivas para a receptividade ao conceito de dever (DV, 6:399),
sentimentos que ajudam a mente na receptividade conceitos morais,
os quais incluem sentimento moral, amor aos seres humanos e
respeito por si prprio. Visto que esses so predisposies naturais,
no h nenhum dever de adquiri-los, mas apenas de cultiv-los,
quando se dotado de tais sentimentos. Contudo, a conscincia da
obrigao no pode residir em sentimentos, num moral sense
empirista. Isso bastante claro quanto Kant menciona o sentimento
moral, o prazer ou desprazer que sentimos a posteriori quando as
nossas aes so consistentes ou contrrias ao dever. Kant explica
porque no podemos denominar este sentimento de moral sense:
inapropriado denominar este sentimento (Gefhl) de
sentido moral, pois pelo nome de sentido (Sinn)
normalmente entendido uma capacidade terica de
percepo dirigida ao objeto, enquanto este sentimento
moral (como o prazer e desprazer em geral) algo
meramente subjetivo, que no fornece nenhum
conhecimento (TL, 6:400)
Ainda que no se admita que a correo ou incorreo
moral de uma situao no intuda por um sentimento, podemos,
contudo, admitir uma susceptibilidade em ser movido por aquilo
que a razo pura nos dita. Isso claro no caso da simpatia, a qual
pode ser treinada para realizar esta funo. Contudo, Kant no
estende essa possibilidade de cultivo aos afetos ou paixes, ou seja,
Maria de Lourdes Borges
120
totalidade dos nossos estados afetivos. Kant, na Doutrina das
Virtudes, continua a defender uma viso negativa em relao aos
sentimentos e emoes comuns aos seres humanos, quando ele
afirma nossa espcie, se olhada de perto, infelizmente, no
particularmente amvel (TL, 6:402); contudo, ele faz o elogio do
amor que no a causa, mas um efeito de aes benevolentes e
podem ser adquiridos pelo hbito. O mandamento de amar o
prximo como a si mesmo no deve ser compreendido como um
amor que tem como consequncia fazer o bem ao prximo;
significa, ao contrrio faa o bem ao prximo e sua beneficncia
produzir amor em voc (como uma aptido da inclinao
beneficncia em geral) (TL, 6:402). A simpatia que no um afeto,
mas um sentimento que pode ser modificado e cultivado pela razo,
relaciona-se com o amor que pode ser um efeito da prtica de boas
aes. Ela ser, assim, efetiva e til na realizao de beneficncia, ao
invs de ser uma mera condio de prazer ou dor, que afeta as
pessoas cegamente, como uma doena contagiosa.
A possibilidade do cultivo da simpatia na Doutrina das
Virtudes claramente aponta para uma viso mais refinada deste
sentimento, que deixa de ser meramente um afeto, mas pode ser
cultivada para ajudar na realizao de boas aes.
A aceitao do papel moral da simpatia no implica, contudo,
que Kant finalmente atribui s emoes em geral um papel importante
na vida moral, visto que elas so incapazes, por si s, de determinar a
ao correta no momento correto. Mesmo a possibilidade de cultivo da
simpatia no implica que este sentimento pode decidir a ao correta a
ser realizada. Esta ser sempre tarefa da razo.
V.3. Desejo, afeto e paixo: as modalidades
antropolgicas da amor
Na Antropologia do Ponto de Vista Pragmtico, Kant apresenta-
nos sua diviso dos apetites ou inclinaes em geral como
pertencentes ao sentimento de prazer e desprazer e faculdade de
desejar. faculdade de desejar pertenceriam os instintos,
propenses, inclinaes e paixes (Ant, 7:265); faculdade do
sentimento de prazer ou desprazer, pertenceriam os afetos.
Um primeiro e primitivo nvel do amor poderia ser
atribudo ao instinto, segunda diviso da faculdade de desejar. O
Razo e emoo em Kant
121
instinto de acasalamento seria comum aos seres humanos e animais
e desejo sexual em si no possuiria nada relacionado moralidade
ou promoo da dignidade. Na Doutrina do Direito, Kant define a
unio sexual como um uso que um ser humano faz dos rgos e
capacidades sexuais do outro; neste ato, afirma, um ser humano
faz de si uma coisa o que entra em conflito com o direito de
humanidade de sua pessoa (MS, 6:278). A nica forma de restituir
sua personalidade , ao ser adquirido como uma coisa, possuir o
outro igualmente como coisa. A diferena entre a prostituio e o
casamento, conforme nos explica Allen Wood, consiste no fato de
que o casamento preserva o direito de humanidade apenas por
adicionar o aspecto contratual, que d o direito ao usado de usar o
outro igualmente: No casamento, o outro tem o direito de usar
seus rgo sexuais, mas voc tem tambm o direito de usar os dele
e, mais do que isso, voc possui a exclusiva posse deste uso (um
direito nunca usufrudo pelas prostitutas ou seus clientes).
9
A este primeiro nvel instintivo e natural do amor, segue-se
um segundo, denominado de afeto, um sentimento tempestuoso e
passageiro, o qual torna difcil a reflexo e deliberao sobre ao. O
amor- afeto deve ser diferenciado do amor-paixo
10
, visto que a
paixo, ainda que violenta, pode coexistir com a razo e
deliberativa a fim de atingir sua finalidade (Ant, 7:252). Kant
explica metaforicamente as diferenas entre afeto e paixo, as quais
valem igualmente para outras emoes:
O afeto procede como a gua que rebenta uma
barreira, a paixo como um rio que cava cada vez mais
fundo no seu leito. O afeto age sobre a sade como um
ataque de apoplexia, paixo como uma consumao ou
atrofia. O afeto como um intoxicante que nos faz
dormir, ainda que seja seguido, no outro dia, por uma
dor de cabea, mas a paixo deve ser vista que resultado
da ingesto de veneno... (Ant, 7:252)
9
Wood, op. cit., p. 258.
10
O termo Affekt ser traduzido por afeto, enquanto o termo Leindenschaft como
paixo. Reservarei emoes para um termo genrico que englobe tanto sentimentos
morais, quanto afetos e paixes.
Maria de Lourdes Borges
122
Pode-se ver aqui que o amor-afeto difere do amor paixo
quanto intensidade, durao e grau de periculosidade. O primeiro
mais intenso, porm dura menos e menos perigoso do que o
segundo. Por esta razo, Kant afirma que, onde h muito afeto, h
pouca paixo, visto que emoes tempestuosas esgotam-se
rapidamente, o que no permite a fria avaliao da situao vivida e
a deliberao sobre meios para atingir o fim: O afeto sincero e
no se deixa dissimular, a paixo geralmente se oculta (Ant, 7:253).
Enquanto o afeto uma genuna exploso de emoes, a paixo
pode, por sua vez, coexistir com a dissimulao. A inocncia do
amor-afeto comparado com o ardil do amor-paixo pode ser
constatado na seguinte situao:
Um apaixonado srio acanhado, canhestro e pouco
vontade na presena da amada. Aquele, todavia, que,
tendo certo talento, apenas se faz de apaixonado, pode
desempenhar seu papel to naturalmente que ele pega a
pobre [moa] enganada em sua armadilha; isso porque
seu corao est despreocupado, sua mente esta lmpida
e ele est no pleno comando do livre uso da sua destreza
e fora para imitar a aparncia do apaixonado muito
naturalmente.(Ant, 6:265)
O amor afeto assemelha-se mais ao apaixonar-se ou
enamorar-se de algum, denotando um amor romntico,
incontrolvel quanto as suas manifestaes e cego em relao aos
seus objetos: Aquele que ama (liebt) pode manter a sua viso
intacta, porm aquele que se apaixona (verliebt) cego em relao aos
defeitos do objeto amado, ainda que o ltimo recobrar sua viso
uma semana depois do casamento(Ant, 7:253). A emoo de uma
pessoa apaixonada assemelha-se, portanto, aos afetos kantianos. O
termo paixo reservado para atitudes mais deliberativas, podendo
coexistir com a mais ardilosa dissimulao, desde que isso, como no
exemplo acima, possa contribuir para obter um determinado objeto
de desejo. Por essa razo, Kant afirma que as paixes no so como
os afetos; estes, ao menos, convivem com uma boa inteno de
aperfeioamento, aquelas rejeitam qualquer tentativa de melhora. Tal
o caso quando uma pessoa age conforme um forte afeto, o que
caracteriza apenas uma fraqueza da vontade, enquanto a paixo
Razo e emoo em Kant
123
pressupe uma mxima de agir de acordo com um princpio
prescrito segundo sua inclinao. A paixo do amor, todavia, possui
uma vantagem frente s outras paixes, tais como ambio, vontade
de poder e cobia, as quais so doenas da razo porque possuem
um carter permanente, j que, segundo Kant, no so jamais
satisfeitas (Ant, 7:266). A paixo do amor, ao contrrio, cessa
quando o desejo, ou o amor fsico, satisfeito. Se possvel
enlouquecer devido obsesso das outras paixes, o ditado
enlouqueceu de amor contm algo de inverossmil, pois quem
enlouquece devido recusa do ser amado, j estava anteriormente
perturbado a ponto de ter escolhido a pessoa errada como objeto de
seus afeto e desejo. Tal era o caso, comum na poca de Kant, de
pessoas que se apaixonavam por outras de nvel social superior:
apaixonar-se por uma pessoa de uma classe social mais alta e
esperar desta a loucura de um casamento no a causa, mas a
consequncia de uma prvia perturbao (Ant, 7:217).
Ainda que mesmo as formas mais violentas de amor no
sejam to prejudiciais moralidade quanto s paixes da ambio,
cobia e vontade de poder, o amor, quando no ligado
benevolncia e simpatia, um fenmeno no mnimo distinto da
moralidade, visto que implica um sentimento entre pessoas
desiguais. Ou, como escreve Kant numa das Reflexionen agrupadas
no Nachlass sobre Antropologia: Ns precisamos mais ser
honrados do que sermos amados, mas ns tambm precisamos algo
para amar com que no estejamos em rivalidade. Ento amamos
pssaros, cachorros ou uma pessoa jovem, inconstante e querida.
(R 1471, 15:649)
Ainda que, aparentemente, essa afirmao denuncie um
preconceito da poca relativamente inferioridade feminina, numa
outra anotao, Kant afirmaria que Homens e mulheres possuem uma
recproca superioridade um em relao ao outro (R 1100, 15:490).
Ainda que a superioridade de cada um seja relativa a aspectos
diferentes, a recproca desigualdade o que estimula e promove o amor
como afeto ou paixo. Somada dificuldade de controle pela razo, o
fato desses sentimentos necessitarem de uma ideia de desigualdade
indica que seu locus estranho moralidade, a qual consiste em
considerar o outro como igual e promover sua felicidade.
Maria de Lourdes Borges
124
V.4. Concluso
As vrias figuras do amor assumem uma posio diversa na
filosofia kantiana, algumas apresentando valor moral, outras
consideradas opostas realizao dos propsitos morais. O amor de
benevolncia pode ser considerado um princpio prtico; um dever
de fazer o bem e ajudar o prximo, a partir do qual o afeto pelos
outros pode, inclusive, ser despertado. Isso ficou claro na anlise do
texto kantiano, onde nos dito que no necessrio amar
sensivelmente e, devido a isso, fazer o bem, mas fazer o bem e,
atravs deste hbito caridoso, despertar sentimentos de simpatia
pelo seu humano. O sentimento de simpatia pode, por sua vez,
tambm ser utilizado pelo agente para impulsionar aes morais nas
quais o respeito pela lei moral no era mbil suficiente. Tem-se,
nesse caso, no uma negao do exposto na Fundamentao, na qual o
valor moral de uma ao residia no fato do mbil desta ter sido o
respeito, mas uma moral provisria que, empiricamente, pode e
deve utilizar esses sentimentos de prazer e desprazer pela sorte
alheia para fomentar boas aes, at a nossa razo ter amadurecido
o suficiente para no mais precisar delas.
Relativamente aos afetos e paixes, embora ambos sejam
criticados como doenas da razo, os efeitos negativos do amor-
afeto so menores do que a persistncia e inverso de mximas na
paixo. Contudo, visto que a paixo do amor est ligada ao desejo
fsico que busca sua realizao, ela no tem a persistncia das outras
paixes culturais, j que, uma vez atingido seu objetivo, ela se
extingue. Ainda assim, tais sentimentos no se constituem em
auxiliarem sensveis da ao moral, visto que o amor- afeto ou
amor-paixo so despertados a partir de uma ideia de desigualdade
estranha moralidade.
Por fim, importante frisar que a tematizao de
sentimentos, inclinaes e paixes na Doutrina das Virtudes e
Antropologia no contradiz o esprito da Fundamentao, visto que a
ao com verdadeiro valor moral ainda aquela cujo mbil o
respeito lei, o que no nos impede de utilizar provisoriamente
nossa parte sensvel para os propsitos da razo.
VI. A ESTETIZAO DA MORALIDADE
Neste captulo
1
, eu gostaria de explorar temas conexos com
a estetizao da moralidade, tanto na relao mais prxima entre o
juzo do belo e os juzos morais, quanto na presena do sentimento
de prazer e desprazer na moralidade. Comearei pela Crtica do Juzo
e a tese expressa, no 59, de que o belo pode ser considerado como
smbolo do bom. Passarei ao exame do sentimento moral na
Metafsica dos Costumes (1797) e, por fim, examinarei a relao entre o
domnio do gosto e o domnio da virtude feitas na Antropologia
(1798). Tentarei mostrar, ao final, que h uma considerao de
aspectos estticos na moralidade, os quais contrastam com o
formalismo apresentado na Fundamentao e Crtica da Razo Prtica,
indagando sobre uma possvel mudana de rota ou apenas uma
diferente forma de apresentao nas vrias obras.
VI.1. O belo como smbolo do bom
Se o leitor da Fundamentao acostumou-se a pensar o valor
moral como algo apartado dos sentimentos de prazer e desprazer, o
leitor da Metafsica dos Costumes encontra, j na introduo, algo que
parece contradizer o esprito da moralidade kantiana. Kant nos fala,
nesta obra de 1797, de pr-noes estticas
2
necessrias para a
recepo da ideia do respeito. Tais elementos estticos no estariam
1
Uma verso preliminar deste captulo foi publicada em Studia Kantiana ,3 (1), 2001.
2
sthetische Vorbegriffe der Empfnglichkeit des Gemts Achtung, onde o sentido de
esttico relativo ao prazer e desprazer. O sentido de esttico na Metafsica dos Costumes
aproxima-se do sentido de esttico na Crtica do Juzo, ainda que no se trate de um
juzo de gosto. Contudo, tanto o sentido de esttico relativo moralidade, quanto ao
juzo de gosto, referem-se ao sentimento de prazer e desprazer, sendo, portanto,
distintos do sentido de esttico relacionado faculdade de conhecimento. Neste
ltimo caso, trata-se da referncia da representao a um objeto, recebido pela
sensibilidade. Temos, portanto, em kant, uma dupla significao do esttico: a relativa
faculdade de conhecimento e relativa faculdade de prazer e desprazer. Ver
Primeira Introduo Crtica do Juzo, p. 28; Ricardo Terra (org.), Duas Introdues Crtica do
Juzo, p. 58.
Maria de Lourdes Borges
126
contingentemente presentes na ao moral como uma nova
possibilidade tardiamente admitida como incua, desde que no
servissem como mbil da ao moral. Trata-se de elementos estticos
necessrios, o que nos faz concluir que sentimentos de prazer e
desprazer so parte indissocivel do processo de acatamento da
moralidade. O contraste da Metafsica dos Costumes (1797) com a
Fundamentao (1785) fica, ao menos, atenuado se percebemos, j na
Crtica do Juzo (1790), a tematizao dos sentimentos na prtica e na
compreenso da moralidade. A obra de 1990 apresenta,
indubitavelmente, uma via de aproximao entre o domnio esttico e
o domnio da moralidade, como pode ser constatado no seu pargrafo
59, intitulado Da beleza como smbolo da moralidade:
Ora, eu digo: o belo smbolo do moralmente bom; e
tambm somente sobre este aspecto (...) ele apraz com
uma pretenso de assentimento de qualquer outro, em
cuja mente ao mesmo tempo consciente de um certo
enobrecimento e elevao sobre a simples receptividade
de um prazer atravs de impresses dos sentidos e
aprecia tambm o valor de outros segundo uma mxima
semelhante de sua faculdade do juzo.
3
Qual o sentido do belo como smbolo da moralidade? Kant
esclarece que a relao entre intuies e conceitos pode ser
esquemtica ou simblica: toda hipotipose (apresentao, subjectio
sub adspectum) enquanto sensificao dupla: ou esquemtica, em
cujo caso a intuio correspondente a um conceito que o
entendimento capta dado a priori; ou simblica, em cujo caso
submetida a um conceito que somente a razo pode pensar e ao qual
nenhuma intuio sensvel pode ser adequada
4
.
Os esquemas so intuies relacionadas a categorias do
entendimento puro; visto que no podemos ter intuies adequadas
aos conceitos da razo, a realidade desses conceitos requer um
3
KU, 59
4
Kant, Kritik der Urteilskraft, (KU, 5: 255) As obras de Kant sero indicadas pelo
volume e pgina da academia. Segui em grande parte as solues de traduo de
Valrio Rohden (Crtica do Juzo, Rio de Janeiro, Forense Universitria, 1993) com
algumas excees tais como satisfao (Wohlgefallen), mente (Gemth) e faculdade de
desejar (Begehrungsvermgen) .
Razo e emoo em Kant
127
smbolo, ou seja, uma apresentao indireta do conceito. Paul Guyer
esclarece a diferena existente entre intuies correspondentes a um
conceito emprico, a uma categoria (conceito do entendimento) e a
uma ideia (conceito da razo):
Para conceitos empricos, exemplos podem ser
fornecidos- para o conceito cachorro ns podemos
apresentar um exemplo real de cachorro. Para conceitos
puros do entendimento, podem ser fornecidos esquemas
(...) Para um conceito da razo ou ideia, pode ser
fornecido um smbolo, uma intuio que uma
representao indireta de um conceito que apenas a
razo pode pensar, em relao ao qual nenhuma intuio
sensvel pode ser adequada.
5
Se podemos apresentar exemplos reais de conceitos
empricos e se, alm disso, podemos apresentar esquemas das
categorias do entendimento, o mesmo no se passa com as ideias da
razo, que necessitam de um smbolo para tornar seu contedo
indiretamente sensvel. Francesca Menegoni, por sua vez, chama a
ateno para a diferena entre smbolo, exemplo e esquemas: No
se pode confundir o smbolo com um simples exemplo, o qual
expe a intuio necessria para provar a realidade de um conceito
emprico, nem se pode confundir com um esquema, cuja referncia
aos conceitos do entendimento direta.
6
Provar a realidade
objetiva das ideias da razo uma tarefa impossvel, visto que no
h nenhuma intuio que lhe corresponda; todavia, admitida a
possibilidade de exibio desses, ainda que indireta. O esquema
uma exibio direta, o smbolo uma exibio indireta, enquanto o
primeiro procede demonstrativamente, o segundo procede por meio
de uma analogia. Nossa linguagem est repleta de semelhantes
apresentaes indiretas segundo uma analogia- explica-nos Kant -
pela qual a expresso no contm o esquema prprio para o
conceito, mas simplesmente um smbolo para a reflexo.
7
5
Guyer, Kant and Claims of Taste, p. 333.
6
Menegoni, Finalit e destinazione morale nella crtica del Giudizio di Kant, p. 94.
7
KU, 5:257.
Maria de Lourdes Borges
128
O raciocnio por analogia constitui-se numa prova terica
qual se pode recorrer quando no h necessidade de um raciocnio
rigoroso. Contudo, ainda que no seja um raciocnio rigoroso, trata-
se de um nvel de prova superior mera hiptese ou opinio
verossmil.
8
No raciocnio por analogia, a faculdade do juzo,
mediante uma regra universal e um princpio particular, realiza duas
operaes distintas: aplica, primeiramente, um conceito ao objeto de
uma intuio sensvel; aplica a regra da reflexo, sob essa primeira
relao, a um objeto diverso, com respeito ao qual o primeiro
cumpre apenas a funo de smbolo. Assim, um organismo vivo
um smbolo de monarquia constitucional e um moinho faz as vezes
de smbolo de uma monarquia absoluta. Qual a relao entre a ideia
de monarquia absoluta e um moinho? Apenas uma relao
analgica: nos dois casos, pensamos o mesmo tipo de processo, de
objetos (gros ou pessoas) sendo submetidos a foras externas a eles
mesmos (o moinho ou o poder monrquico). A estrutura da
reflexo, quando consideramos a operao do moinho, anloga
estrutura da reflexo quando pensamos a monarquia. No h,
todavia, conforme nos alerta Guyer, relao entre o contedo do
smbolo e seu objeto. Nem aquele determinado smbolo, no caso, o
moinho, o nico possvel. Assim sendo, a relao entre um
smbolo e seu referente ser mais frouxa do que exemplos e
esquemata aos seus respectivos referentes:
Apenas um cachorro pode servir como exemplo para o
termo cachorro e, dada a natureza as nossa intuio
sensvel, apenas uma sucesso temporal vlida
objetivamente pode servir como esquema para o
conceito puro de fundamento e consequente. Mas
qualquer coisa que permita relacionar ideias da mesma
maneira que um moinho- um outro dispositivo
mecnico, ou talvez uma outra forma de relao
humana- pode igualmente servir como smbolo do
despotismo
9
8
Cf. KU, 90, 5:448.
9
Guyer, op. cit., p. 335.
Razo e emoo em Kant
129
Afirmar, portanto, que o belo o smbolo do bom no
significa afirmar que o belo possui algum contedo moral ou possa
servir como esquema para a moralidade. Nem, por outro lado, a tese
implica alguma sensibilizao da moralidade. A analogia entre
esttica e moral deve-se, no a uma semelhana de contedo (seja
um contedo moral do belo ou sensvel da moralidade), mas apenas
aos elementos comuns de ambos os juzos, uma semelhana nas
regras de reflexo.
O juzo sobre o belo e os juzos morais apresentam
estruturas de reflexo anlogas, conforme nos indica o 59: (1) o
belo e o bom aprazem imediatamente; (2) ambos aprazem
independentemente de todo interesse (no caso da moralidade, do
interesse que preceda o juzo); (3) ambos expressam a concordncia
de determinadas faculdades (4) so igualmente universais. Tal
analogia no significa nenhuma identidade, pois o belo e o bom
apresentam igualmente diferenas. Quanto ao primeiro aspecto (1),
o belo apraz imediatamente na intuio reflexiva, enquanto o bom
apraz no conceito. Relativamente independncia de interesse no
objeto (2), o bom apraz independente do interesse que preceda o
juzo, mas no que o anteceda, tal caso do interesse da razo
relativamente aos seus objetos. A concordncia das faculdades em
questo num e noutro juzo (3) tambm diferem entre si: no belo,
trata-se da harmonia entre imaginao e entendimento; no bom,
trata-se da concordncia da vontade consigo mesma segundo leis
universais da razo. Finalmente, a universalidade (4) do juzo do
belo no remete a um conceito universal, tal como o juzo moral.
A mera tese de que o belo o smbolo do bom no nos
deixaria, por si s, alguma passagem possvel entre um e outro do
ponto de vista de seu contedo, j que ser smbolo de significa
apenas regras de reflexo anlogas em ambos os tipos de juzos.
Contudo, ao final do 59, Kant afirma que o gosto pode servir
como um auxlio para a passagem entre o sensvel e o moral: o
gosto torna, por assim dizer, possvel a passagem do atrativo dos
sentidos ao interesse moral habitual sem um salto demasiado
violento.
10
Na Doutrina do Mtodo do Gosto, por sua vez, Kant
vai mais longe e atribui ao gosto tornar sensveis as ideias morais:
10
KU, 5:261.
Maria de Lourdes Borges
130
o gosto, , no fundo, uma faculdade de ajuizamento
para tornar ideias morais sensveis (...) da qual uma maior
receptividade para o sentimento destas ltimas
(denominadas de sentimentos morais) deriva aquele
prazer que o gosto declara vlido para todos e no para
o sentimento privado de cada um.
11
(grifo meu)
Vemos a que o prprio Kant responsvel por um salto um tanto
quanto violento, visto que a tese da analogia entre os tipos de
reflexes nos juzos estticos e morais no implica nenhuma
transio entre um e outro domnio, muito menos a possibilidade de
tornar ideias sensveis. Tal concepo parece ser de difcil
assimilao para o leitor assduo da Fundamentao e Crtica da Razo
Prtica, textos que repudiam o possvel apelo sensvel da moralidade.
No apenas a pureza do domnio da moralidade questionada,
como a independncia do belo relativamente moralidade,
conforme atesta carta que Kant escreve a J.F.Reichhardt a 15 de
outubro de 1790:
Eu me satisfiz em mostrar que, sem sentimento moral,
no haveria nada para ns de belo nem de sublime, e
que sobre aquele que se funda tudo o que pode ter este
nome (...) e que o elemento subjetivo da moralidade no
nosso ser, este elemento que sob o nome de sentimento
moral impenetrvel, o que em relao ao qual se
exerce o juzo, cuja faculdade o gosto.
A educao esttica tornar-se- propedutica educao
moral, na medida em que ela refina a sensibilidade e exerce o
sentido do desinteresse: a experincia esttica - escreve Kant na
Crtica do Juzo, - testemunha de um desinteresse, na medida em
que o homem se afasta da tendncia a usufruir pela posse, pelo
consumo, pela destruio, para encontrar a realidade numa atitude
de contemplao que, longe de excluir o outro, requer sua presena
e seu reconhecimento de uma beleza indivisvel que evoca a
universalidade. Por sua vez, ao final do 60, o desenvolvimento
das ideias morais apresentado igualmente como propedutica para
11
KU, 5: 264.
Razo e emoo em Kant
131
o gosto: assim, parece evidente que a verdadeira propedutica para
a fundao do gosto seja o desenvolvimento das ideias morais e a
cultura do sentimento moral, j que somente se a sensibilidade
concordar com ele pode o verdadeiro gosto tomar uma forma
determinada e imutvel. De um lado, a experincia esttica
desenvolve o desinteresse necessrio para a moralidade, por outro, a
cultura do sentimento moral aproxima a sensibilidade da
universalidade necessria ao gosto.
Os domnios da moralidade e da esttica encontram-se
interligados numa dupla propedutica, que supera a mera analogia entre
os dois tipos de juzos, abordando elementos em comum no que toca
ao contedo de ambos. A Crtica do Juzo, indo alm de apontar
elementos analgicos entre a experincia esttica e moral, inicia a
tematizao dos elementos estticos constituintes da moralidade,
reflexo que se tornar mais clara na Metafsica dos Costumes.
VI. 2. As condies estticas necessrias da
moralidade na Metafsica dos Costumes
Na introduo Metafsica dos Costumes, nos apresentado o
que poderia ser chamado de uma radicalizao do projeto de
sensibilizao da moralidade. Os domnio do esttico e do moral
apresentam, no mais uma relao simblica ou propedutica
possvel, mas Kant nos fala de condies sensveis necessrias para a
recepo da moralidade. Enquanto na Fundamentao, apenas o
respeito lei considerado um sentimento que pode funcionar
como mbil da ao moral; no texto de 97, so adicionados vrios
aspectos sensveis necessrios para a recepo do dever. O
sentimento de prazer e desprazer experimentado em relao
moralidade no , todavia, o prazer do gosto, ainda que este,
conforme vimos, possa auxiliar o desenvolvimento de uma maior
receptividade para a sensibilidade moral.
Aps ser explicado que o prazer e desprazer expressa o que
meramente subjetivo relativamente ao objeto, aquele dividido
entre, de um lado, um sentimento conexo a um desejo, chamado de
prazer prtico e, de outro, um prazer no conexo a um desejo do
objeto, mas apenas sua representao, chamado de prazer
contemplativo ou gosto.(MS, 6:212) O prazer prtico admite, por
sua vez, uma outra diviso: se o prazer antecede o desejo, trata-se do
Maria de Lourdes Borges
132
interesse da inclinao, se o sucede, temos o interesse da razo. Ou
seja, o interesse da razo o prazer que sucede a determinao da
faculdade do desejo pela razo. Temos, aqui, uma separao ntida
entre o prazer/desprazer moral, o qual se relaciona a um desejo do
objeto (ainda que suceda o desejo) e o prazer esttico, relativo, no
ao desejo do objeto, mas meramente sua representao.
Na Introduo Doutrina da Virtude (6: 399) Kant explica
que ns temos pr-noes estticas para a suscetibilidade da mente
(Gemth) relativa ao respeito (sthetische Vorbegriffe der Empfnglichkeit
des Gemts Achtung). So eles: sentimento moral, conscincia, amor
12
e auto-estima. Trata-se aqui, no da obteno a priori da lei moral
ou de suas condies, mas da anlise do sujeito da moralidade, o ser
humano e suas predisposies naturais, as quais possibilitam a
efetiva recepo do imperativo da moralidade.
A importncia da sensibilidade para a conscincia do dever
atestada pelo sentimento moral (das moralische Gefhl), definido como
a susceptibilidade a sentir prazer e desprazer meramente da ideia de
que nossas aes so conforme ou contrrias lei do dever. (TL, 6:
399). este sentimento que nos faz ter conscincia da obrigao, pois
nos torna cientes da coao presente no mero pensamento do dever.
No temos nenhum dever de ter tal sentimento, visto que ele est em
ns enquanto seres morais. Algum totalmente privado deste
sentimento estaria moralmente morto:
Nenhum ser humano completamente desprovido de
sentimento moral, pois se fosse completamente no
receptvel a este, ele estaria moralmente morto. Se (para
falar em termos mdicos), as foras vitais no pudessem
mais excitar esse sentimento, ento a humanidade se
dissolveria (como pelas leis da qumica) na mera
animalidade e seria misturada com outros seres
naturais. (TL, 6:400)
O sentimento moral no , todavia, um senso (Sinn) moral,
no sentido de um sentimento que, por si s, nos indica o que
correto ou no, ou seja, ele no possui nenhuma capacidade terica
12
Sobre a ideia de amor em Kant ver meu texto Uma tipologia do amor na filosofia
kantiana, Studia Kantiana 2 (1): 2000, 19-34.
Razo e emoo em Kant
133
de percepo direta da correo ou no de um ato, visto que isso
nos deve ser dado pela razo. Ele apenas diz respeito percepo
pelo sentido interno da coao que o dever exerce, provocando um
sentimento de prazer quando nossas aes esto conforme lei e de
desprazer quando so contrrias a esta. Ainda que sendo um
sentimento (Gefhl), ele no um afeto, visto que estes so
intempestivos e dificultam a reflexo. Neste sentido, Kant esclarece
que a apatia por ele apregoada no a ausncia de sentimento, pois
isto seria uma indiferena moral e, portanto, uma fraqueza. A apatia
buscada como um ideal a ausncia de afeto (Affekt), sendo,
consequentemente, uma fora benfica para a prtica da virtude.
A ntida separao apregoada na Fundamentao e Crtica da
Razo prtica, entre o domnio da moralidade e do esttico em geral,
entendido como o sentimento de prazer e desprazer, questionada
pelas passagens da Crtica do Juzo e Metafsica dos Costumes que nos
falam da possibilidade, e mesmo da necessidade, de um sentimento
moral. Uma das maiores diferenas entre essas duas abordagens
dado pela necessidade do sentimento de prazer e desprazer para a
recepo do conceito de dever. O sentimento moral vai alm, sem
dvida, do sentimento de respeito. Isso fica claro j na sua
classificao enquanto necessria para que a mente seja afetada pelo
sentimento de respeito. Sendo a mente (animus, Gemth) a instncia
reativa da alma (Seele)13, parece que a possibilidade dela ser
empiricamente afetada decisiva para a efetiva realizao da ao
moral, enquanto o respeito parece ser um sentimento que afeta mais o
esprito (mens, Geist) do que a mente. Para que a ao ocorra,
necessrio que a mente seja afetada, o que feito atravs do
sentimento moral. Gisela Munzel analisa corretamente a importncia
das capacidades estticas para a efetiva prtica da moralidade: pode-
se ver a capacidade esttica como literalmente uma scia dos esforos
da razo para realizar este alargamento da sensibilidade, com o
propsito de produzir nesta a imagem complementar da lei moral.
14
Alm disso, h, no sentimento moral, uma considerao do
sentimento de prazer inexistente at ento. Conforme salienta
13
Para uma anlise pormenorizada das instncias da alma, ver captulo 6.
14
Munzel, Kants Conception of Moral Character: the critical link of Morality, Anthropology, and
Reflective Judgment, p. 129.
Maria de Lourdes Borges
134
Guyer
15
, no de forma alguma clara que o sentimento de respeito
realmente um sentimento de prazer, visto que Kant o caracteriza,
na Fundamentao, como um sentimento de desprazer proporcional
coao da lei, ou, no mximo, como um sentimento de auto-
aprovao, o que difere radicalmente do sentimento de prazer da
terceira crtica e da Doutrina da Virtude. Tal sentimento, sendo o
resultado da determinao da vontade que escolhe a ao moral,
parece ser um sentimento de recompensa. Que a moralidade possa
nos trazer algum tipo de satisfao e, mais do que isso, que, sem
essa capacidade, nos dito na Doutrina das Virtudes, estaramos
mortos moralmente, parece nos convidar ao questionamento do
papel do prazer na moralidade kantiana.
VI.3. A ligao antropolgica entre o prazer esttico e
o prazer moral
O desenvolvimento da relao entre o prazer esttico e o
prazer moral, bem como da funo propedutica da esttica em
relao moralidade, aparece na Antropologia de um Ponto de Vista
Pragmtico, obra de 1798, que expunha os cursos ministrados sobre o
tema nos semestres de 72/73 a 95/96. No segundo livro, sobre o
sentimento de prazer e desprazer, nos mostrado em que sentido
pode-se relacionar o prazer do gosto ao prazer moral.
O sentimento de prazer e desprazer dividido entre um
prazer sensvel e um prazer intelectual. O primeiro, por sua vez,
pode ser obtido pela sensibilidade ou pela imaginao, no caso do
gosto. O segundo pode ser obtido atravs de conceitos ou ideias. O
sentimento de prazer propriamente moral, pode ser classificado
como pertencente a esta ltima diviso: trata-se de um prazer
intelectual, obtido a partir de uma ideia, no caso, a ideia de dever.
Como um tipo de prazer obtido pela imaginao pode ser uma
preparao a um prazer intelectual?
Ainda que no negando a distino entre esttica e
moralidade no que toca diversas fontes de prazer, a ideia da
satisfao pela partilha de um sentimento de prazer o que
aproxima os dois domnios:
15
Guyer, Kant and the Claims of taste, p. 345.
Razo e emoo em Kant
135
O gosto (der Geschmack), enquanto um sentido formal,
relaciona-se a uma comunicao (Mitteilung) dos
sentimentos de prazer e desprazer, e inclui uma
susceptibilidade, nesta comunicao de prazer, de sentir
uma satisfao (Wohlgefallen) em comum com outros
(socialmente) (Ant, 7:244)
Esta satisfao do gosto advm de uma concordncia entre
o sentimento de prazer entre sujeitos, de acordo com uma lei geral,
cuja origem a razo. A escolha desta satisfao est, pela sua
concordncia com uma lei geral, de acordo com a forma do princpio
do dever. Assim, o exerccio do gosto esttico uma preparao
para a moralidade. Esta ideia da Antropologia segue o esprito do
exposto na Crtica do Juzo, mas com acrscimos interessantes.
Uma das curiosidades da Antropologia apresentar as boas
maneiras como a transio entre o gosto e a moralidade. Treinar
algum para ser bem-educado em sua posio social no significa o
mesmo que educ-lo para ser moralmente bom; todavia, -Kant
explica- prepara-o para ser querido ou admirado por outros em sua
posio (Ant, 7:147). As regras de etiqueta, do bem receber,
preparam para a virtude. O bom anfitrio manifesta seu gosto
esttico quando escolhe comidas e bebidas, no apenas segundo seu
gosto pessoal, mas tendo o gosto dos convidados em mente. Na
composio destes vrios gostos, o procedimento de construo de
um gosto comum que satisfaa a todos os presentes possui uma
validade universal comparativa (Ant, 7:242). Algo semelhante se
passa na conduo da conversao pelo anfitrio, tanto na escolha
do tema, quanto do nmero de convidados, que segundo as regras
de Chesterfield, no devem ser menor do que o nmero das graas
(3) e mais do que o nmero das musas (10). Tal regra no
arbitrria, mas visaria constituir um grupo ideal de comunicao, que
partilharia, no apenas o prazer da mesa, mas das boas ideias. Os
procedimentos de sociabilidade segundo as regras das boas maneiras
pertencem ao domnio do gosto, mas preparam para a moralidade,
na medida em que constroem uma comunidade que partilha um
discurso comum:
Independentemente de quo insignificantes as regras de
refinamento possam parecer se as compararmos com a
Maria de Lourdes Borges
136
pureza da lei moral, tudo o que promove a sociabilidade
(Geselligkeit), mesmo que sejam apenas mximas ou
maneiras agradveis, uma roupa que veste a virtude de
forma apropriada (Ant, 7:282).
Kant refere-se s regras da boa conversao mesa,
provavelmente vigentes nos esclarecidos sales europeus do sculo
XVIII: escolher tpicos que interessam a todos; no permitir um
silncio mortal, mas apenas pausas pequenas, nas conversaes; no
mudar de um tema para outro; no discutir nenhum assunto
dogmtico, ou ento introduzir uma brincadeira (Scherz) para tornar
a discusso mais leve. Tais regras no so arbitrrias, mas tem o
propsito de fazer progredir a cultura:
A mente, ao final de uma refeio, assim como ao final
de um drama (o mesmo se aplicando totalidade da vida
vivida por um ser humano racional), inevitavelmente
relembra vrias fases da conversao. Se ela no
consegue encontrar um fio condutor, ela sente-se
confusa e conclui que no progrediu em matria de
cultura, pelo contrrio, regrediu. ( Ant, 7:281)
As regras de refinamento social so uma boa roupagem para
a virtude, exatamente pela construo de ideias comuns. Tal
resultado no possui a universalidade do belo ou da moralidade,
mas, enquanto transio, possui uma universalidade comparativa. A
Antropologia indica, atravs dos exemplos relativos a boas maneiras e
regras de refinamento social, como se d a relao entre o cultivo
esttico e o cultivo moral. Ao examinar a educao moral e a
educao esttica, Munzel mostra como o cultivo do gosto
relaciona-se ao processo civilizatrio e formao do carter moral;
isso se deveria caracterstica principal do gosto de ser
eminentemente comunicvel. Ao indagar-se como a educao
esttica pode ser compreendida com relao formao do carter
moral, ela afirma que parte da resposta repousa na caracterstica
essencial de ser imediatamente comunicvel, logo, seu
desenvolvimento facilita de forma imediata a comunicao social,
Razo e emoo em Kant
137
incluindo a comunicao do prprio carter a outrem.
16
A autora
ressalta, no entanto, apoiando-se, verdade, no prprio texto
kantiano (Ant, 7: 244) que esta caracterstica do senso esttico
incentiva apenas a promoo externa da moralidade, no sendo ainda
a formao do seu aspecto interno. Pode-se dizer, todavia, que sua
anlise est apenas parcialmente correta: se verdade que as regras
sociais possuem uma funo de simulacro da real virtude, a
simulao da virtude incentiva a produo da prpria virtude:
Socialmente, quanto mais civilizados os homens so,
mais eles so atores. Eles assumem a aparncia de
ligao, de estima alheia, de modstia e de desinteresse,
sem enganar ningum, pois todos sabem que no
significa nada sincero. As pessoas esto familiarizadas
com isso e at mesmo algo bom que assim seja no
mundo, porque, quando o homem faz esse papel, as
virtudes, que at ento eram fingidas, so gradualmente
estabelecidas (Ant, 7:151)
A teatralizao das virtudes leva, no hipocrisia, mas ao
desenvolvimento da prpria virtude. Aqui temos algo que nos
lembra a virtude aristotlica e seu desenvolvimento pelo hbito, com
a diferena que, na verso kantiana, seus primeiros eventos so
assumidamente, apenas um simulacro, que, todavia, levaro efetiva
prtica da moralidade.
VI. 4. Concluso
Pode-se constatar, pela nfase dada relao entre os
aspectos estticos e morais nos textos dos anos 90, que h uma
diferena na considerao da necessidade de aspectos sensveis para
a efetiva realizao da moralidade. A explorao do tema no nos
permite dar uma resposta definitiva quanto mudana de rota
kantiana, relativa aos textos dos anos 80. Contudo, vemos
claramente que, se, na Fundamentao, havia um repdio explcito do
sentimento de prazer ligado ao moral, tal como na condenao
da simpatia, na Metafsica dos Costumes, os sentimentos de prazer e
16
Munzel, op. cit., p. 298.
Maria de Lourdes Borges
138
desprazer so considerados parte essencial da moralidade, visto que
sem eles, Kant afirma, estaramos mortos moralmente. Alm disso,
as pr-condies estticas morais vo alm do sentimento de
respeito da Fundamentao.
A hiptese, todavia, de uma descoberta ou mudana relativa
ao tema, questionvel se considerarmos que parte desta relao
entre cultivo do gosto e cultivo moral foi publicado na Antropologia,
a qual reflete cursos dados desde o semetre 72/73, portanto,
anteriores Fundamentao. O mais provvel que, nos anos 90 e
aps a tematizao da faculdade de prazer e desprazer na Crtica do
Juzo, Kant tenha desenvolvido as ferramentas filosficas necessrias
para a unificao entre a obteno a priori da lei moral e sua
antropologia, concluindo numa Metafsica dos Costumes, que mostra
como a lei moral pode ter um poder definitivamente motivador em
seres racionais sensveis.
VII. AS EMOES NO MAPA KANTIANO DA ALMA
1
A ideia que as inclinaes so componentes difceis de
serem controlados pela razo encontra fcil suporte textual: paixes
e afetos so considerados doenas da mente (Krankheit des Gemts)
(Ant,7:251), excluem a soberania da razo; os afetos tornam a
reflexo impossvel, enquanto as paixes so ditas tumores malignos
(Krebsschden) para a razo pura prtica (Ant, 7:266). Se verdade
que temos inclinaes to fortes que possam impedir a capacidade
da razo determinar a vontade, no deveramos aceitar,
contrariamente a Allison, que h uma genuna fraqueza da vontade?
Uma resposta simples a este problema seria afirmar que a
filosofia kantiana pretende apenas fornecer uma regra de julgamento
da ao correta (aquela cuja mxima pode ser universalizada sem
contradio) e do seu valor moral (aquela cujo mbil foi o respeito
lei), no lhe importando a capacidade ou no do homem agir
conforme mximas morais. Sendo que a Filosofia se ocupa da parte
a priori das cincias, no caberia a ela a averiguao emprica da
factibilidade do seu projeto. Contudo, o imperativo categrico
vlido para um ser racional sensvel. Tal objeto de aplicao daquilo
que foi obtido a priori na parte pura da tica kantiana possui
caractersticas empricas: ele um indivduo que possui inclinaes
sensveis, mas capaz, ao mesmo tempo, de agir segundo princpios
livremente escolhidos pelo arbtrio. Alm disso, na Metafsica dos
Costumes nos dito que o obtido a priori deve poder ser constatado
na natureza humana:
Mas assim como deve haver princpios numa metafsica
da natureza para aplicar esses princpios universais mais
1
Uma verso preliminar deste captulo foi apresentada no Coloquio Principia,
Florianpolis, 2001 e publicado nos anais deste com o ttulo Um modelo das
emoes em Kant. Uma verso em ingls bem mais elaborada, na qual fao uma
comparao com a teoria das emoes contempornea, foi publicada no The Journal of
Philosophy, 2004, 140-158, com o ttulo What can Kant teach us about emotions.
Maria de Lourdes Borges
140
altos da natureza em geral a objetos da experincia, uma
metafsica dos costumes no pode prescindir de
princpios de aplicao, e ns deveremos tomar como
nosso objeto a natureza particular dos seres humanos,
que conhecida apenas pela experincia, a fim de
mostrar nela o que pode ser inferido de princpios
morais universais (MS, 6:217)
Os princpios a priori, tanto da metafsica da natureza,
quanto da metafsica dos costumes no so, certamente, extrados da
experincia, todavia sua aplicabilidade deve tomar em considerao
caractersticas do objeto particular de sua aplicao. No caso
especfico da moralidade, tal objeto a natureza humana; portanto,
um estudo desta deveria, ao menos, no ser contraditrio com a tese
da capacidade do ser humano agir por dever. Kant apresenta sua
teoria sobre a natureza humana no que se poderia chamar de
antropologia ou psicologia emprica e um fato que Kant ocupou-se
dela durante toda sua carreira, tanto nas lies ministradas sobre
antropologia, quanto nas aulas de metafsica. A tese de que dever
significa poder deveria encontrar, se no uma confirmao no
contedo dessas aulas, ao menos no ser contraditria com ela.
Neste sentido, endosso aqui a tese de Robert Louden, de que Kant
estaria comprometido com um naturalismo fraco. Por naturalismo
fraco, Louden compreende a tese de que fatos empricos sobre seres
humanos, ainda que no possam por si s estabelecer ou justificar
princpios morais normativos, tambm no podem estar em
contradio com tais princpios.
2
A relao entre razo e emoo deve seguir este modelo:
ainda que as emoes, enquanto inclinaes, no estabeleam nem
justifiquem princpios morais, elas no podem estar em contradio
com os princpios morais obtidos. Dever significa poder, ou seja,
no podemos estar comprometidos moralmente com algo que
somos incapazes de realizar.
Ainda que emoo no seja um termo utilizado por Kant,
poder-se-ia dizer que o que ns denominamos emoo corresponde,
no sentido estrito, aos afetos (Affekten) e paixes (Leidenschaften) e,
no sentido amplo, incluiria ainda sensitividade (simpatia, amor
2
Cf. Louden, Kants Impure, p. 8.
Razo e emoo em Kant
141
benevolente,...) e sentimento moral. Ao menos os afetos (alegria,
tristeza, raiva, medo,...) e as paixes (inveja, cobia, dio...) foram
usualmente consideradas como merecedoras de crtica no sistema
kantiano, por dificultarem a reflexo e ao.
Uma das indicaes que inclinaes, principalmente as
emoes, seriam um problema para a tese kantiana de que dever
significa poder a posio, reiterada inmeras vezes, que a moralidade
se beneficiaria pela extirpao das emoes. Desde a primeira seo
da Fundamentao, com o famoso exemplo do filantropo, Kant
claro quanto carncia de valor das emoes para a vida moral, o
que fez Sabini e Silver escreverem no artigo emoes,
responsabilidade e carter: Um captulo kantiano sobre emoes e
responsabilidade fcil de escrever e rpido de ler: O domnio do
moral o domnio da vontade expressa na ao. Emoes esto
acima da vontade, por isso no tem valor moral intrnseco.
3
Paul Guyer, ainda que no tomando uma posio to
radical, explica que as emoes no podem ser critrio de
determinao, nem critrio de execuo de uma ao, no confiveis
para produzir um critrio, no confiveis para produzir um motivo.
4
Seguindo a linha de Paul Guyer, Nancy Sherman
5
resume as
objees de Kant quanto s emoes em quatro linhas principais:
1) parcialidade e natureza acidental das emoes quanto
conexo com o que relevante moralmente: emoes podem
responder ao que moralmente relevante, mas de uma forma parcial
e que acidentalmente est de acordo com a moralidade;
2) instabilidade: emoes no apresentam permanncia
suficiente para fundamentar a ao moral, elas so volveis; a
virtude, se baseada em emoes, no estaria suficientemente armada
para todas as situaes e precavida contra as mudanas que as novas
tentaes podem trazer;
3) passividade das emoes: no decidimos sentir emoes,
mas somos afetados por elas, as emoes nos subjugam, sem que
possamos fazer nada em relao a isso;
3
Sabini & Silver, Emotions, responsability and character, p. 165.
4
Guyer, P. Kant and the Experience of Freedom.
5
Sherman, N. Making a Necessity of Virtue.
Maria de Lourdes Borges
142
4) vulnerabilidade: atravs das emoes, ns nos ligamos
aquilo que no podemos controlar ou mandar ou tornar
permanente; os seres amados morrem ou nos deixam, o status ou as
riquezas vo-se com os anos ou reveses da fortuna.
6
VII.1. O modelo da dor
A defesa de Sabini/Silver da ausncia de papel das emoes
na vida moral inclui a determinao de um modelo, que, segundo
eles, foi utilizado por Kant. Trata-se do modelo da dor, segundo o
qual as emoes so foras brutas desconexas com funes
mentais mais elaboradas
7
. Assim como a dor um fato sobre ns,
provocado pela estimulao neurolgica, independente de valores
ou outros aspectos do nosso carter, as emoes, ainda que mais
complexas, estariam completamente fora do comando da razo.
Kant posto, ento, ao lado de outros psiclogos e fisiologistas
contemporneos, que propem que emoes so pr-cognitivas,
relacionando-se percepo de estados corporais no especficos ou
de estados diferenciados do sistema nervoso.
8
Sendo assim,
poderamos ser considerados responsveis por um relativo controle
da expresso dos nossos estados mentais, mas no seramos
responsveis por possu-los. Alem disso, certos estados emocionais
seriam como uma dor aguda, na qual a responsabilidade pela ao
fica atenuada pela intensidade do estmulo. Tal o caso do viciado
em drogas, em relao ao qual se torna difcil falar de
6
A prpria Nancy Sherman, todavia, atribui essa viso a uma concepo ortodoxa
sobre Kant, alertando para a importncia das emoes em textos tais como a Doutrina
das Virtudes. Segundo ela, nesses textos, as emoes, principalmente a simpatia,
poderiam cumprir um papel de moral provisria, bem como revelar a relevncia
moral de uma situao. O tema da salincia moral em Kant foi inicialmente
desenvolvido por Barbara Hermann no livro The Practice of Moral Judgment, no qual
julga que temos instrumentos para julgar a relevncia moral de uma ao
anteriormente ao imperativo categrico. Segundo Nancy Sherman, as emoes, tal
como expostas na Doutrina da Virtude, cumpririam esse papel.
7
Ibid., p. 166.
8
Sabini e Silver citam como autores que defendem essas posies, respectivamente
Robert Zajonc (Feeling and thinking: Preferences need no inferences, American
Psycologist, 35, 151-75), Willian James (What is an emotion, in Arnold (Ed.)The nature
of emotion, London, Penguin,1968) , Frankenaeuser (Experimental approaches to the
study of catecholamines and emotion, in:Levi (ed.), Emotions: their parameters and
measurement , New York, Raven Press, 1975).
Razo e emoo em Kant
143
responsabilidade da ao, no momento em que o agente est sob o
efeito da droga, ainda que possa ser responsabilizado pelo incio do
uso desta.
Uma das crticas posio do modelo da dor (que, segundo
Sabini/Silver, o modelo kantiano de emoes) seria a considerao
que as emoes possuem elementos cognitivos. Numa linha que
remontaria a Aristteles, emoes seriam conectadas com planos
racionais de vida e valores do agente, no sendo, portanto,
irracionais e cegas, mas reaes a percepes informadas
conceitualmente: a raiva seria a expresso da percepo da uma
agresso que a pessoa sentir-se-ia como vtima, a inveja teria como
causa a ideia de que uma pessoa foi diminuda pelas realizaes de
outra. Segundo Sabini/Silver, o modelo de dor utilizado por Kant
seria questionado por estas consideraes, ainda que possuindo uma
caracterstica que daria razo aos kantianos de exclu-las dos juzos
morais: elas so passivas e, muitas vezes, indesejadas.
Marcia Baron, no livro Kantan Ethics almost without apology,
critica a posio de Sabini/Silver, objetando que o modelo da dor
no o modelo de explicao das emoes utilizado por Kant:
um srio erro pensar que a psicologia kantiana das
emoes, ainda que aproximadamente, concorda com o
modelo da dor e que sentimentos tais como simpatia
nos movem a agir sem o nosso assentimento racional.
Pela mesma razo, um erro pensar que a fora de um
motivo (relativo a outros motivos)- a magnitude de sua
fora motivacional- decide como agimos. Ns decidimos
como agimos. Se Kant deve ser criticado, por uma
concepo de ao muito robusta, no pela viso de
agentes como passivos com respeito aos seus
sentimentos.
9
Baron defende, portanto, uma posio diametralmente
oposta a de Sabini/Silver, mesmo admitindo que leituras da
Fundamentao e Crtica da Razo Prtica poderiam justificar a viso
negativa das inclinaes, como algo que no pode ser controlado
pela razo. Tal viso seria, segundo a autora, corrigida, se
9
Baron, op. cit., p. 197
Maria de Lourdes Borges
144
tomssemos os textos tardios, tais como a Religio, Metafsica dos
Costumes e Antropologia. Neste ltimo, inclusive, ficaria claro que os
grandes inimigos da razo seriam as paixes, e no a totalidade das
emoes, visto que Kant ocasionalmente diria palavras gentis sobre
os afetos e inclinaes. Se no verdade, todavia, que todas as
emoes seguem o modelo da dor -e os exemplos da simpatia ou do
amor de benevolncia so claros quanto a isso- no podemos dizer
que nenhum segue, visto que a descrio de alguns afetos aproxima-
se bastante deste modelo. Tal o caso, por exemplo, do medo nas
batalhas, que atinge o agente independente de sua vontade,
causando-lhe, inclusive indesejveis efeitos fsicos. Neste sentido, a
afirmao de Baron de que a passividade em relao aos
sentimentos estranha ao sistema kantiano temerria.
O erro dos comentadores at agora foi no reconhecer que
a variedade de sentimentos e inclinaes no nos permite dar uma
resposta simples para o controle ou no das emoes pela vontade;
para tanto, deveramos decidir o grau de voluntariedade e
involuntariedade das inclinaes. Sabini/Silver no esto corretos
em estabelecer que emoes seguem o modelo da dor. Ainda que
algumas emoes, tais como o medo ou raiva, sejam involuntrias,
elas possuem elementos cognitivos, como a crena de que um
perigo se aproxima, ou a conscincia de que algum nos lesou ou
cometeu alguma injustia. Certamente, o modelo da dor
extremamente inadequado para dar conta de emoes mais
complexas, tais como sentimentos morais, despertadas pela
conscincia da ao estar conforme ou no moralidade. Nem
explicaria as emoes relacionadas com a ambio frustrada, tal
como a ingratido do beneficiado em relao ao seu benfeitor, cuja
causa conceitualmente trabalhada bastante clara: o ressentimento
que o beneficiado sente em relao superioridade do benfeitor.
Por outro lado, os comentadores que tentam conceder um
espao positivo s emoes em Kant alegam que sua obra est plena de
elogios a esta, e que, portanto, Kant concederia um espao privilegiado
expresso das emoes na vida moral. Os sentimentos que Kant
considera, na Doutrina das Virtudes (6:399), serem necessrios para a
receptividade do dever (sentimento moral, conscincia, amor aos seres
humanos e respeito) constituem-se, no entanto, numa parcela nfima
das emoes. Por outro lado, consideraes, na Antropologia, sobre a
Razo e emoo em Kant
145
utilidade de alguns afetos como chorar ou rir, ou afirmaes, tais como
na Religio que seria ingnuo querermos extirpar as inclinaes no
atestam que inclinaes so boas do ponto de vista moral, mas apenas
que inclinaes naturais so benficas para a vida do corpo e nossa
conservao.
Emoes no so apenas um tipo de evento, elas
apresentam diferentes graus de involuntariedade e presena de
elementos cognitivos, Para compreender esta variedade, devemos
tentar estabelecer uma taxonomia das emoes.
VII.2. Uma taxonomia das emoes
Inclinaes, no sentido restrito, so somente uma parte do
que denominado faculdade do desejo. Contudo, no sentido amplo,
denominamos inclinaes toda a gama de impulsos empricos que
incluem instintos, emoes e apetites. Estes fenmenos esto
relacionados com duas faculdades: a faculdade de desejar e do
sentimento de prazer e desprazer.
O sentimento de prazer (Lust) ou desprazer (Unlust)
causado por um objeto pode ser sensvel ou intelectual. O prazer
sensvel pode nos ser dado pela sensibilidade ou pela imaginao; o
prazer intelectual pode ser provocado por conceitos ou por ideia
(Ant, 7:230).
O sentimento de dor (Schmerz) e deleite (Vergnugen)
relacionado ao prazer e desprazer apenas da sensibilidade. O prazer
e desprazer sensveis relacionam-se ainda a outros dois tipos de
inclinao: sensitividade (Empfindsamkeit) e afeto (Affekt). A
diferena entre eles que o primeiro pode ser escolhido, ou envolve
escolha , enquanto somos totalmente passivos com respeito aos
afetos (Ant, 7: 236).
Afetos so sentimentos de prazer ou desprazer que
dificultam a reflexo, atravs da qual as inclinaes deveriam se
submeter s mximas racionais; so precipitados e irrefletidos
(animus praeceps) (DV, 6:408), agem como a gua que rompe uma
barragem (Ant, 7:252), tornam cego o agente (7:253), tendo como
consolo que essa tempestade rapidamente diminui e acalma-se,
permitindo ao sujeito voltar a um estado onde a reflexo possvel
novamente. O modelo kantiano de afeto a raiva, sentimento
tempestuoso por natureza, todavia inconstante, no possuindo a
Maria de Lourdes Borges
146
permanncia do dio, o correspondente raiva no terreno das paixes.
Se o afeto exemplar a raiva, um bom exemplo de sensitividade o
sentimento de simpatia, expresso na Doutrina das Virtudes: ainda que
sendo sensvel, pode ser treinado para impulsionar a realizao de aes
morais, desde que dirigido pela razo.
Alm do prazer sensvel, temos ainda o prazer intelectual,
causado pela ideia ou conceito de algo. Pode-se mencionar aqui os
sentimentos teis para a receptividade da mente ao conceito de dever,
tais como o sentimento moral, o qual, na Doutrina das Virtudes,
definido como a susceptibilidade para sentir prazer ou desprazer
simplesmente da conscincia de que nossas aes so consistentes ou
contrrias lei do dever (DV,6:399). O amor aos seres humanos
(Menschenliebe) tambm faz parte, junto com auto-respeito e conscincia,
da receptividade da mente ao conceito de dever. Kant refere-se, no ao
amor de deleite (amor complacentiae), mas ao amor de benevolncia
(Wohlwollen, amor benevolentiae), visto que seria este poderia ser exigido
como dever, mas no o primeiro, pois seria contraditrio que algum
fosse obrigado a sentir prazer. O amor de benevolncia, exatamente
por no ser direto, admite algo prximo ao cultivo aristotlico,
disposio que pode ser despertada pelo hbito10.
Enquanto as divises do sentimento de prazer e desprazer
dizem respeito forma como somos afetados por objetos, sejam
eles sensveis ou intelectuais, as divises da faculdade de desejar
referem-se forma como nos referimos aos objetos que queremos
possuir.
A faculdade do desejo dividida em quatro nveis: o
primeiro, a propenso (Hang, propensio), aquele desejo que precede
a prpria representao do objeto, tal como a tendncia dos povos
do norte de beber bebidas fortes (AntM, 25, 2:1340); o segundo o
instinto, que consiste num desejo sem o conhecimento prvio do
objeto, cujo exemplo o desejo da criana pelo leite ou, conforme a
Antropologia, o instinto dos animais a proteger sua cria (Ant, 7:265); o
terceiro nvel a inclinao, definido como um desejo habitual e
10
Desta forma, o dito voc deve amar seu prximo como voc mesmo, no
significa que voc deve imediatamente (primeiro) am-lo e (depois), devido a este
amor, fazer o bem para ele. Significa, ao contrrio, que voc deve fazer o bem aos
seres humanos, e sua beneficncia produzir amor com respeito a eles (como uma
aptido inclinao em geral). (DV, 6:402).
Razo e emoo em Kant
147
exemplificado com o desejo de jogar ou beber. Se uma inclinao
torna-se muito forte, ela transforma-se em paixo, o quarto nvel da
inclinao, que dificilmente pode ser controlada pela razo (Ant,
7:251). Estar sob a emoo da paixo implica ser incapaz de decidir,
de forma razovel, por uma inclinao em detrimento de outra: A
inclinao que impede o uso da razo para comparar, num
determinado momento de deciso, uma inclinao com a soma de
todas as inclinaes, denomina-se paixo (Ant, 7: 265).
A fim de determinar o modelo ou modelos para as
emoes, seria profcuo localiz-las num esquema kantiano da alma.
VII.3. As emoes no mapa da alma
Nas lies da Antropologia anotadas por Parrow, Kant
diferenciaria trs instncias daquilo que denominava de alma no
sentido genrico (Seele) e cuja referncia o eu: ns observamos a
alma (Seele) numa tripla perspectiva, isto alma (Anima/Seele), mente
(Animus/Gemth) e esprito (Mens/Geist) (APa 25:247). A alma
passiva denominada de alma/anima (Seele); quando a alma
reativa, ou seja, responde ativamente aos dados sensveis recebidos
passivamente, ela mente/animus (Gemt); quando ela puramente
ativa, ela esprito/mens (Geist). Essas trs instncias da alma
(passiva, reativa e ativa) referem-se, de acordo com as anotaes de
Collins, no a trs substncias, mas a trs formas formas de nos
sentirmos vivos(AntC, 25:16).
As trs divises da alma relacionam-se com as faculdades
superior e inferior da alma, a primeira sendo ativa e a segunda,
passiva (AntC, 25:16). A faculdade inferior, por ser passiva,
corresponde perspectiva da alma enquanto anima; a faculdade
superior, por ser ativa, corresponde perspectiva puramente ativa
do esprito/mens ou reativa da mente/animus.
A diviso das faculdades em inferior e superior aplica-se as
trs faculdades analisadas da alma: faculdade cognitiva, a faculdade
de desejar e ao sentimento de prazer e desprazer. Relativamente
faculdade de desejar, exercitamos nosso poder de escolha
relativamente a um objeto do entendimento com a faculdade de
desejar superior, utilizamos nosso poder de escolher um objeto da
sensibilidade atravs da faculdade de desejar inferior.
Maria de Lourdes Borges
148
Em relao terceira faculdade, ns temos prazer e/ou
desprazer da sensibilidade atravs da faculdade inferior, enquanto os
prazeres dados pela imaginao e entendimento pertencem
faculdade superior. Esta diferena pode ser ilustrada ao comparar
dor ao sentimento moral.
O sentimento de prazer e desprazer inclui trs tipos de
prazer: o prazer sensual, o prazer da imaginao e o prazer
intelectual. Os sentimentos, portanto, vo desde o mais ligado
faculdade de sentir prazer inferior, at o os sentimentos de prazer e
desprazer superiores, como o caso do prazer obtido por um
conceito. A dor fsica parece no admitir realmente um controle
racional, pois trata-se de um desprazer da alma/ anima, ou seja, da
alma animal ou apetitiva. A dor definida como um desprazer da
sensao, explicada pelo efeito produzido na mente pela sensao
da minha condio fsica (Ant, 7:232), sendo involuntria. Oposto
dor fsica, ns temos o prazer ou desprazer devido a um conceito,
tal como o chamado sentimento moral da Metafsica dos Costumes,
sentimento originado como efeito do conceito do dever: [O
sentimento moral] a susceptibilidade de sentir prazer ou desprazer
meramente do fato de estar consciente que nossas aes esto
conforme lei do dever(MS, 6:399). Obviamente, h uma grande
distncia entre a dor e os sentimentos morais, ainda que ambos
possam ser classificados como sentimentos (Gefhulen), o primeiro
relaciona-se faculdade de sentir inferior, relacionada
sensibilidade, o segundo faculdade de sentir superior, relacionada
razo. Enquanto a dor fsica involuntria e pr-cognitiva, o
sentimento moral envolve a ao e o conceito de correo desta.
No podemos decidir de forma alguma se sentiremos ou no dor,
enquanto podemos decidir se vamos ou no sentir o prazer do
sentimento moral, bastando para isso agirmos conforme a lei moral
ordena.
A faculdade de prazer inferior relacionar-se-ia com a parte
puramente passiva e a residiriam os fenmenos puramente sensveis
ou animas, tais como a dor, a fome, a sede, A faculdade de prazer
superior incluiria a parte reativa e ativa. A sensao de desprazer que
sentimos ao saber que nossas aes so erradas relacionar-se-ia com
a parte ativa, visto que se trata de sentimento relacionado a um
conceito, o conceito de dever. Entre a parte puramente passiva e a parte
Razo e emoo em Kant
149
puramente ativa, residiriam os sentimentos reativos. Uma interessante
passagem da Antropologia- Parow nos mostra como o sentimento de
desprazer atinge diferentemente as diversas partes da alma:
eu no posso impedir a dor que atinge meu corpo de
passar minha alma; apenas de refletir sobre isso. Por
exemplo, se eu for acometido de gota e pensar o que
ser de mim no futuro, como eu vou ganhar meu po e
isso me causa tristeza no meu estado de alma, ento aqui
a mente (animus) se agita. A doena da mente
(Gemthskrankheit) tambm o que me torna infeliz.
Visto que tais reflexes nunca atingem os animais, eles
nunca so infelizes. Mas, finalmente, o mais alto grau de
tristeza acontece quando meu esprito (Geist) tenta
abstrair de todas as dores e desperta em mim uma auto-
reprovao, quando eu imagino para mim mesmo como
eu causei essa doena a mim mesmo e tornei-me infeliz
atravs da minha prpria culpa. (AntP, 25:247-8)
Vemos a claramente a diferena entre trs nveis de
desprazer: a dor, a tristeza e a auto-reprovao. A primeira
puramente fsica, impossvel de ser controlada, mesmo que
indiretamente, e independente de qualquer contedo cognitivo; a
alma (anima) sente o ferimento do corpo enquanto dor. Este um
exemplo da faculdade de sentir inferior, na qual o sentimento dado
atravs apenas da sensao.
O segundo nvel relaciona-se ao desprazer de um afeto, a
tristeza, e admite uma causa no mecnica: a tristeza causada pela
imaginao que agita a mente (animus) quando imagina um futuro
cheio de infortnios. Aqui temos a parte reativa da alma (animus), a
qual se relaciona faculdade de sentir superior. A tristeza
despertada pela imaginao, a qual agita a mente. Os animais nunca
se sentiro desgraados, ainda que possam sentir a dor do ferimento.
Kant, todavia, defende, na palestra Sobre a Medicina filosfica do corpo
(Rektoratsrede), que os animais possuem imaginao, ainda que no
gado a fora da imaginao no seja dirigida por nenhuma escolha
ou inteno deliberada do animal. Esta a razo pela qual ainda
que um certo mal estar oprima a mente do animal quando ele
levado ao cativeiro, a ansiedade que aflige a miservel raa humana
Maria de Lourdes Borges
150
escapa ao animal, o qual no sabe do que se preocupar (Rek, 15:
944). Mesmo que se suponha que os animais possuem imagens
trazidas pela imaginao, nos homens esta faculdade mais
pronunciada, dando uma maior durao e intensidade aos afetos.
O terceiro nvel, o desprazer do esprito (Geist), est
completamente ausente nos animais, visto que ele depende da razo
que desperta a auto-reprovao; a conscincia moral criaria em mim
o sentimento de desprazer por saber que no agi corretamente.
Entre a parte puramente passiva, no qual o sentimento de
prazer depende da forma com a qual o objeto afeta minha
sensibilidade diretamente, e a parte puramente ativa, na qual a
satisfao deve relacionar-se a um conceito, ns temos uma gama de
fenmenos intermedirios que incluem o sentimento do belo, a
sensitividade e os afetos.
A sensitividade e os afetos pertencem ao domnio reativo
da alma. So fenmenos diferentes da dor, na medida em que eles
necessitam de outras faculdades, alm da sensibilidade, para serem
despertados, Esta a razo pela qual o modelo da dor no pode
explic-los. Os afetos, como vimos, necessitam da concorrncia da
imaginao; a sensitividade, por sua vez, regulada pela vontade.
Os afetos (Affekten) so tipicamente reativos, agitaes da
alma como reaes a algo que afetou a nossa mente. A avaliao
destes fenmenos da alma, que incluem raiva, alegria, pesar, medo ,
em geral, negativo: Afeto espanto atravs da sensao
[berraschung durch Empfindung] onde a compostura da mente (animus
sui compos) suspensa. Afeto precipitado e rapidamente cresce a
um grau de sentimento que torna a reflexo impossvel (
imprudente[unbesonnen] )(Ant 7:252). Sendo portanto algo prximo a
uma surpresa, um espanto, ele no passvel de ser diretamente
controlado pela vontade. Podemos decidir se realizamos ou no
uma ao correta e portanto, se sentiremos o prazer ou desprazer
que esta nos proporcionar moralmente. Mas no podemos decidir
se apropriado ou no sentir raiva numa determinada situao. Por
vezes, sentimos raiva, ainda que no desejssemos; outras talvez
fosse desejvel senti-la, mas no a sentimos. Kant refere-se a esta
possibilidade na Antropologia: Muitas pessoas at desejam ficar com
raiva, e Scrates ficava em dvida se no seria bom ficar enraivecido
algumas vezes; mas ter afetos to sob controle que se possa
Razo e emoo em Kant
151
deliberar quando algum deve ou no ficar enraivecido , parece
paradoxal. (Ant, 7:252).
Quanto aos aspectos cognitivos, os afetos envolvem menos
elementos cognitivos e a faculdade do entendimento do que o
sentimento do belo, o qual envolve uma harmonia entre
entendimento e imaginao. Mas por certo envolvem mais
elementos cognitivos do que a dor fsica, por exemplo. A raiva
envolve uma percepo de que algo injusto ou errado foi realizado
que prejudica o agente indevidamente ou fere suas concepes do
que correto e justo.
A sensitividade, por sua vez, um fenmeno prximo aos
afetos, a qual admite escolha. Ela pode ser cultivada, a fim de dar
uma reposta correta em situaes nas quais necessitamos da
benevolncia prtica. um fenmeno da parte reativa, que pode ser
modificado pela parte ativa.
Quando ao aspecto da voluntariedade, os sentimentos que
atingem a parte animal da alma so involuntrios, no podendo ter
sua sensao controlada. Tal o caso da dor, da sede, da fome... No
outro extremo, o prazer e desprazer do esprito, como o caso do
sentimento moral e respeito, controlvel atravs das nossas aes,
visto que ele no mbil das aes, mas consequncia da
conscincia da correo ou no moral de uma ao. Os afetos, ainda
que fenmenos da parte reativa da alma (animus) parecem envolver
em graus diferentes a imaginao, por um lado, e o corpo e a parte
animal da alma (anima), por outro. A tristeza, como vimos, vem da
imaginao de um estado futuro ou passado de ocorrncias
indesejveis. Ela envolve, assim como alegria, a reproduo ou
antecipao de eventos. Kant cita igualmente a saudade dos suos
como uma consequncia da atividade da imaginao, que consiste
na recordao de uma vida despreocupada e numa companhia da
juventude, a saudade dos lugares onde gozou dos prazeres simples
da vida (Ant, 7:178). No texto Da Medicina filosfica do corpo, ele
atribui imaginao uma fora ainda mais intensa, que pode
interferir com movimentos corporais:
Essa a razo pela qual os terrveis movimentos que
ns denominamos convulses, e epilepsia, podem afetar
outras pessoas: a imaginao lhes torna contagiosos. Isso
d origem a uma estratgia, a qual no pertence
Maria de Lourdes Borges
152
exclusivamente ao mdico, de praticar Medicina
meramente atravs da fora da imaginao (...) Logo, a
confiana que os invlidos depositam no seu mdico
adiciona fora aos seus remdios at para os mais
enfermos(Rek, XV, 15:944)
Visto que os afetos so movimentos da mente que podem
agitar a mente (Rek, 15:940) e a imaginao pode alterar os
movimentos corporais, ela pode igualmente alterar os afetos.
Todavia, esta alterao no deve ser considerada como um efeito do
poder direto da mente e dependente da vrias informaes que
esto fora de controle por parte do agente. Os afetos podem ser
modificados pela imaginao que traz imagens mente, as quais
causaro sensaes agradveis ou desagradveis. O papel da
imaginao claro quanto ao medo: assim como a tristeza causada
pela antecipao de um futuro sombrio, o medo causado pela
antecipao de um perigo. A raiva, por sua vez, causada pela
conscincia de uma ofensa, ou de uma injustia causada a ns ou a
outrem. Esses sentimentos, ainda que pertencendo parte reativa da
alma, no esto separados de elementos cognitivos na avaliao de
imagens que nos vem a mente. A ideia, portanto, de que os
sentimentos so cegos e absolutamente pr-cognitivos no pode ser
sustentada dentro da interconexo das partes da alma. Os
sentimentos de tristeza, alegria, raiva, medo..., dependem de
avaliaes cognitivas da situao reproduzida ou antecipada pela
imaginao, o que nos mostra a relao entre as partes reativas e
ativas da alma.
Do fato, porm, que h um julgamento cognitivo das
imagens apresentadas pela imaginao, no significa que podemos
deliberar sobre os afetos e nem que possam ser facilmente
cultivveis, o que um erro de alguns comentadores que, tomando a
simpatia como modelo, estendem para todos os afetos o que vale
apenas para aquela. Ainda que a imaginao tenha o poder modificar
os afetos, trazendo mente imagens agradveis ou desagradveis,
esta interferncia depende de outros aspectos, tais como a
intensidade do afeto e a realidade do objeto deste sentimento.
Tomando novamente o exemplo da Antropologia anotada Parrow:
eu poderia decidir que um estado de tristeza pernicioso para a
minha enfermidade e, mesmo assim, a avaliao de um futuro
Razo e emoo em Kant
153
sombrio despertaria em mim esse afeto, contrariamente minha
vontade. O poder da imaginao no pode negar a evidncia que
forma meus juzos verdadeiros. Pela mesma razo, o temor nas
batalhas no pode ser facilmente controlvel, visto que h um perigo
real de ser morto.
Podemos concluir que as emoes apresentam um continuum
que vai de fenmenos reativos a ativos da alma.
11
Um exemplo do
ltimo tipo o sentimento moral, o qual despertado pela
conscincia moral da correo ou incorreo da ao. Mas na parte
reativa da alma que reside a maior parte do que podemos chamar de
emoes. Aqui ns temos igualmente um continuum: desde os afetos,
que so os mais incontrolveis, tais como raiva ou o temor, at a
sensitividade, tal como a simpatia, a qual pode ser modulada pela
vontade. A raiva e o temor seriam os mais prximos do modelo da
dor, ainda que eles contenham alguns elementos morais e cognitivos
que este modelo no poderia explicar. Contudo, na sua falta de
controle, podemos dizer que eles compartilham algumas
caractersticas da dor. O modelo de Baron, por sua vez, capaz de
ser aplicado simpatia e sentimentos morais, mas certamente no
raiva e ao temor. O erro dos comentadores, portanto, considerar
que emoo em Kant possui apenas um modelo e um fenmeno
referente, quando, de fato, refere-se a uma multiplicidade de
diferentes fenmenos, que devem ser explicados de formas diversas.
11
A anlise das faculdades e das partes da alma nos d como resultado a seguinte
tabela, na qual as emoes esto em negrito.
Maria de Lourdes Borges
154
Faculdade do sentimento de
prazer e desprazer
Faculdade de desejar
Faculdad
e de
prazer
inferior
Faculdade de
prazer superior
Propenso Instinto Inclinaes Paixes (dio,
cobia, desejo
de poder,
ambio)
Eu
passivo
alma,
anima,
Seele
Eu
reativo
mente,
animus,
Gemth
Eu ativo
esprito,
mens,
Geist
Dor,
fome
Afetos
(raiva,
tristeza.
Alegria)
Senti-
mentos
morais
VIII. FISIOLOGIA E CONTROLE DOS AFETOS
Neste captulo
1
, discutirei a possibilidade de controlar os
afetos, dentro da teoria kantiana das emoes. Tentarei mostrar que
o objetivo kantiano similar ao objetivo estoico de extirpar as
paixes (apathia); contudo, o ideal da total erradicao de paixes e
afetos depende do dom natural de emoes moderadas e no de
uma deciso racional. Eu tambm tentarei mostrar que Kant adota
o cultivo do tipo aristotlico para alguns sentimentos, como a
simpatia. Contudo, ele admite o modelo fisiolgico para afetos
fortes, como dio ou medo. Minha hiptese que a teoria kantiana
dos afetos est relacionada com a ideia de estados excitados
presentes na fisiologia dos sculos XVII e XVIII, os quais tornariam
os afetos difceis de serem controlados pelo poder da vontade.
VIII.1. As estratgias de controle das emoes
A tradio da filosofia ocidental apresenta trs estratgias para
controlar as emoes. A mais comum encontrada na teoria aristotlica
sobre a virtude. Aristteles defende que ser virtuoso ter a emoo
apropriada para uma determinada situao, ou seja, ter esses
sentimentos no momento correto, sobre as coisas corretas, em relao
s pessoas corretas, devido ao objetivo correto e na forma correta.
2
Para tornarmo-nos virtuosos, devemos cultivar as emoes de forma
que elas sejam apropriadas para cada situao. Esta posio implica que
temos a capacidade de control-las racionalmente.
Em relao a este primeira posio, Kant pensa que no h
sentido em deliberar sobre algo que no inteiramente racional. Ele
ilustra esse ponto quando menciona, como uma tarefa paradoxal, a
dvida de Scrates sobre se deve ter ou no raiva num determinado
momento.
1
Uma verso deste captulo foi apresentada na reunio da American Philosophical
Association, Central division, Minepolis, maio de 2001. Eu gostaria de agradecer a
Jennifer Mensch, Robert Louden, Karl Ameriks, Gary Hatfield e Paul Guyer por
crticas e comentrios relativos a este verso.
2
Aristotle, Nichomachean Ethics 1106 b 20.
Razo e emoo em Kant
157
Scrates estava em dvida se era ou no bom ficar com raiva
algumas vezes, mas ter uma emoo to sob controle que se poderia
deliberar friamente sobre ela parece ser algo paradoxal.
3
Podemos certamente deliberar sobre o que fazer,
independente da nossa raiva, mas a produo ou controle deste
afeto escapa ao controle racional da vontade. Com respeito a esses
sentimentos, ns seramos passivos e estaria alm do nosso poder
extirpar ou produzir a raiva correta.
A segunda forma de controle das emoes a viso estoica,
segundo a qual devemos extirpar as emoes. Os estoicos defendem
que podemos atingir o autocontrole apenas quando as paixes so
suprimidas. A natureza nos teria dado uma disposio apatia, que
pode ser cultivada, a fim de atingir o autocontrole. Kant considera o
princpio estoico da apatia um princpio moral correto:
O princpio da apatia, segundo o qual o homem
prudente no deve estar nunca num estado afetivo, nem
mesmo em relao aos pesares do seu melhor amigo,
um princpio moral correto e sublime da escola estoica,
porque os afetos tornam a pessoa cega.
4
Na Antropologia e na Doutrina das Virtudes, a apatia tomada
no sentido de liberdade dos afetos.
5
. Nestes textos, Kant sustenta
que devemos lutar em direo a um estado no qual afetos esto
ausentes. Contudo, ele no est to certo que seja possvel atingir
este estado, pois a apatia parece ser um dom natural e, como tal,
fora do domnio da razo:
3
Kant, Anth, 7:253.
4
Anth, 7:253.
5
Kant nos d ao menos trs diferentes vises do que ele entende por apatia. Nas
Lies de Antropologia/ Mrongovius, Kant explica a diferena entre ataraxia pirrnica,
que seria a ausncia de afetos (Affekten) e a apatia estoica, como ausncia de paixes
(Leidenschaften). (Anthropologie, Mrongovius, 25, 2:1353). Na Religio nos limites da simples
razo, o pensamento estoico considerado uma batalha contra as inclinaes (Rel,
6:58), onde inclinaes devem ser compreendidas no sentido geral de mbeis
sensveis. Na Antropologia publicada, apatia considerada ausncia de afetos (Ant, 7:
753), tendo o mesmo sentido da apatia moral da Doutrina das Virtudes. Na
Antropologia e na Doutrina das Virtudes, a apatia tomada no sentido de liberdade
dos afetos.
Maria de Lourdes Borges
158
O dom natural da apatia, no caso da fora espiritual
suficiente , como foi dito, uma feliz auto-controle (no
sentido moral). Aquele que dessa dotado, no ainda
um homem sbio, mas conta com os favores da natureza
para tornar-se sbio mais facilmente do que os outros.
6
A terceira posio baseia-se numa fisiologia especfica de
paixes e emoes, na qual elas estariam relacionadas a alguns
movimentos corporais impossveis de serem controlados pela razo.
Esses movimentos, uma vez iniciados, dependem de uma causa
fsica que age sobre rgos e fluidos. Eu o denominarei de modelo
fisiolgico. Este posio foi expressa, por exemplo, nas Paixes da
Alma de Descartes, na qual as paixes so compostas por
movimentos de fluidos, chamados espritos animais, contidos nas
cavidades do crebro. Na paixo do medo, por exemplo, os espritos
vo do crebro para os nervos que fazem as pernas se moverem. De
acordo com essa terceira posio, podemos controlar as paixes
menores, mas no as mais violentas. Quanto a estas, devemos
esperar que o movimento dos espritos tenha cessado.
Qual a viso kantiana? Eu sugiro que o objetivo da Kant
assemelha-se quele dos estoicos, mas que ele acredita que a
extirpao de emoes um ideal que os seres sensveis racionais
podem atingir apenas raramente. O ideal de apatia, da total
supresso de paixes e afetos, depende mais do dom natural de um
carter no apaixonado e no de uma deciso racional.
Kant aproxima-se, contudo, do cultivo aristotlico quanto a
alguns sentimentos, como a simpatia, sentimentos morais e outros
sentimentos mais calmos, tais como o medo derivado da timidez.
Em relao aos outros afetos, ele endossaria o modelo fisiolgico.
As paixes, visto que no podem ser cultivadas e no so efmeras
como os afetos, esto alm do nosso controle.
Se Kant, como os estoicos, pensa que as paixes so ruins
para a sade fsica e racional, ele, contudo, permanece pessimista
quanto possibilidade de extirpar essas doenas da alma.
Kant defende a apatia e a extirpao estoica das emoes
como a direo apropriada para quem quer obter fins morais e no
morais. Contudo, o controle das emoes parece assentar-se num
6
Anth, 7:254
Razo e emoo em Kant
159
dom natural: algumas pessoas so abenoadas pela natureza com
emoes mais plidas, outras no. Se no podemo-nos livrar das
paixes e afetos, ns devemos lidar com elas de alguma forma. Uma
possibilidade cultivar nossos sentimentos, a fim de ter, de acordo
com a viso aristotlica, o sentimento correto sobre as coisas
corretas, na forma mais apropriada para a situao. Contudo, como
veremos, a ideia de cultivo, se no totalmente ausente em Kant,
aparece somente no que diz respeito a sentimentos morais, ou a
emoes mais fracas, tal como o medo de falar em pblico. Em
relao a outros afetos, Kant parece seguir o modelo fisiolgico, de
acordo com o qual esses sentimentos esto relacionados com
processos corporais, de forma que os colocam fora de controle pela
vontade. A raiva um bom exemplo: a raiva de algum diminuda
se o fazemos sentar e ficar numa posio relaxada, pois isso altera os
movimentos e processos fisiolgicos.
Se uma pessoa entra em sua sala para dizer palavras cruis
levadas pelo dio, polidamente o convide a sentar e, se voc for
bem sucedido, sua raiva ser j mais tnue, pois o conforto de estar
sentado um relaxamento que no adequado aos gestos e gritos
ameaadores de quando se est em p.
7
A forma de controlar os afetos que ele prope aqui
atravs da interferncia no relaxamento do corpo e no por um
comando direto da vontade. Se os movimentos so atenuados, o
mesmo se passar com os sentimentos. Para emoes mais fortes,
quando at mesmo o controle dos movimentos corporais intil,
devemos esperar at que elas desapaream, visto que o controle
racional impotente. A forma Kantiana de controlar afetos
apresenta um interessante paralelo com a teoria cartesiana das
Paixes da alma, as quais so consideradas como relacionadas com os
movimentos de fluidos chamados espritos, contidos nas cavidades
do crebro. De acordo com Descartes, a alma no pode ter controle
total sobre suas paixes, pois estas so sempre acompanhadas por
uma perturbao, que acontece no corao e atravs do sangue e
dos espritos: at que a perturbao cesse, elas permanecem
presentes na nossa mente da mesma forma que os objetos dos
sentidos esto presentes na mente enquanto eles esto agindo sobre
7
Anth, 7:252.
Maria de Lourdes Borges
160
os rgos dos sentidos.
8
A alma pode superar as paixes menores,
mas no as mais violentas, assim como podemos evitar sentir uma
leve dor, mas no o fogo que queima as mos. Enquanto a
perturbao ainda est agitando o sangue e os espritos, a nica coisa
que podemos fazer inibir os movimentos aos quais a perturbao
dispe o corpo a realizar: na raiva, podemos fazer parar a mo que
deseja agredir; no medo, podemos impedir nossas pernas de se
movimentarem em direo fuga...
No h, contudo, nenhuma evidncia que Kant lera as
Paixes da Alma de Descartes. Minha hiptese que Descartes e
Kant partilham de um mesmo pano-de-fundo, cujas razes levam
fisiologia do sculo XVII e XVIII. Alm disso, tentarei mostrar que
a discrepncia entre o objetivo da apatia e suas dvidas sobre nossa
habilidade em atingi-la encontra uma interessante analogia na
polmica entre duas escolas de fisiologia do sculo XVIII: os
animistas e os mecanicistas. Mostrarei que, ainda que Kant defenda
a primeira frente a segunda, alguns elementos mecanicistas esto
presentes na sua teoria das emoes.
VIII.2. Animismo e mecanicismo na medicina do
sculo XVIII
A discusso de Kant referente ao poder da mente sobre os afetos
articula-se com uma discusso mais ampla sobre o poder da mente
sobre o corpo. No sem razo que a Antropologia e a Doutrina das
Virtudes contm referncias medicina. O principal debate no
sculo XVIII envolvia os animistas e os mecanicistas. Kant conhecia
essa discusso, e explica muito bem a diferena entre as duas escolas
no que diz respeito a se a arte da medicina deve ser praticada no
homem da mesma forma que no animal:
Aqueles que defendem a medicina puramente mecnica, tais como
mdicos treinados na escola de Hoffman, defendem que ele ser
praticado da mesma maneira, na medida do permitido pela
constituio similar do corpo de ambos. Os seguidores de Stahl, que
decidem a favor de tratar o homem diferentemente, proclamam a
8
Descartes, The Passions of the Soul, AT, XI, 363
Razo e emoo em Kant
161
surpreendente fora da mente em curar doenas. O filsofo deve
voltar sua ateno para este ultimo.
9
Aqui Kant se refere a dois mdicos que foram titulares da
cadeira de medicina em Halle em momentos diferentes: Georg
Ernst Stahl (1660-1754) e Friedrich Hoffmann (1660-1742).
10
Hoffman era um defensor da viso mecanicista. Sua obra mais
importante Medicina Rationalis Systematica, na qual ele defende que o
corpo humano como uma mquina hidrulica.
11
A atividade do
corpo produzida por um fluido cujas caractersticas so similares
quelas do esprito de Descartes: um fluido como o ter, secretado
pelo crebro e distribudo atravs do corpo pelos nervos e o sangue.
Se o fluido excessivo, haver um espasmo, se o fluido no
suficiente, haver atonia. Hoffman divide as doenas em espsmicas
e atnicas e prescreve antiespasmdicos e sedativos s primeiras e
remdios estimulantes para segunda
12
.
Stahl defende um ponto de vista diferente. Em Theoria
medica Vera, ele defende a teoria do animismo. De acordo com a
Histria da Medicina de Ralph Major: discordando de Descartes, que
distinguia radicalmente uma vida da alma e uma vida do corpo, Stahl
ensinava o papel importante da anima, o princpio supremo da vida,
no qual a sade regula todas as funes do corpo, mas que
desaparece na morte.
13
Kant demonstra que est a par dos debates de medicina de
seu tempo, visto que alm das referncias a Hoffmann e Stahl, ele
tambm cita John Brown na Antropologia:
Afetos so geralmente ocorrncias mrbidas (sintomas)
que podem ser divididos (de acordo com a analogia ao
sistema de Brown) em afetos estnicos, conforme sua
fora, ou astnicos, conforme sua fraqueza. Afetos
estnicos so de uma natureza excitante e freqentemente
9
Kant, On Philosophers Medicine of the Body, Rektoratsrede , Rek, 15: 943
10
Ver a Introduo de Mary Gregor para On Philosophers Medicine of the Body,
p. 189.
11
A ideia do corpo como uma mquina hidrulica tornou-se comum nos sculos
XVII e XVIII atravs da obra de Descartes, especialmente na Holanda.
12
Ver Ralph Major, A History of Medicine (Springfield: Charles Thomas Publisher,
1954), vol. II, p. 569, 570.
13
Ibid. p. 566.
Maria de Lourdes Borges
162
exaustiva; afetos astnicos so de uma natureza sedativa que
normalmente levam ao relaxamento.
14
John Brown (1735-88) foi um mdico escocs que
trabalhou com William Cullen. Cullen (1710-1790) estava de acordo
com o mecanicista Hoffmann, no fato da vida ser uma funo da
energia nervosa. In Elementa Medicinae, Brown apresenta um sistema
que pretendia competir com o de Cullen, o qual, contudo, apresenta
algumas caractersticas do sistema de Hoffmann. Brown explica a
sua teoria da vida como derivada de foras de excitao externas e
internas: vida um estado forado, se as foras de excitao so
retiradas, segue-se certamente a morte.
15
Segundo esse modelo, a
causa das doenas um aumento ou diminuio da excitabilidade.
Para as doenas causadas pelo aumento de excitabilidade (estnicas),
deve-se ministrar sedativos; para as segundas, causadas pela sua
diminuio (astnicas), deve-se ministrar estimulantes
16
A diviso das doenas e afetos tem um paralelo com a
concepo de Hoffmann de estados espsmicos e atnicos, a
diferena residindo em que, para Hoffmann, o agente excitante um
fluido nervoso, enquanto que para Brown, pode ser tanto fsico
quanto mental.
Kant, assim como Brown, fala dos afetos como estados
fisiolgicos de excitao ou relaxamento. Rir com emoo (afeto
estnico) um exemplo do primeiro; chorar com emoo (um afeto
astnico) um exemplo do Segundo. Alm disso, vrios outros
afetos esto relacionados a funes corporais: a expresso livre da
raiva uma forma de auxiliar a digesto (Ant, 7: 261) e o medo nas
batalhas pode ser relacionada indigesto
17
.
Tanto Brown quanto Hoffmann partilham a ideia de que
temos estados excitados; mesmo que para Brown esses possam ser
produzidos por forces mentais, necessrio interferir com sedativos
14
Anth, 7:256
15
Brown, Elementa Medicinae, cit. in Major, op. cit. p. 593.
16
De acordo com Mary Gregors, o filsofo escocs John Brown parece ter matado
mais pessoas do que a Revolucao Francesa e a Guerra Napolenica juntas. Ele
morreu da combinao de seus remdios favoritos, pio e whisky. Rektoratsrede,
introducao de Mary Gregor, in: Kants Latin Writings (New York: Peter Lang
Publishing, 1992), p. 191
17
Ant 7:256
Razo e emoo em Kant
163
ou estimulantes para corrigir estados de excitao excessivos ou
deficientes. Estados excitados podem ser produzidos pela mente,
mas possuem um componente fisiolgico, que necessita de uma
interveno qumica. Kant, ao seguir a taxonomia dos afetos de
Brown, tambm toma de emprstimo seu carter inercial fisiolgico,
ou seja, uma vez que os afetos so ativados, no podemos ter
controle sobre o processo.
Kant, enquanto um mdico- filosfo, gostaria de controlar os
aspectos fisiolgicos do corpo. Invertendo a famosa frase de
Epicuro, ele afirma que a tarefa do mdico ajudar a mente pelo
cuidado do corpo, enquanto o do filsofo assistir o corpo por
um regime mental.
18
Contudo, ele deve reconhecer que alguns
fenmenos mentais esto alm do nosso controle: Em vrias
doenas da mente, nas quais a imaginao torna-se selvagem e a
mente do paciente ressoa com uma grande quantidade de coisas
estranhas, ou ele levado s profundezas da depresso ou
atormentado por temores vazios, ento, neste caso, sua mente foi
deposta e sangrar o paciente produz melhores resultados do que
ponderar racionalmente com ele.
19
Quando a mente assaltada por afetos intensos, tais como
um pesar profundo ou um forte temor, a possibilidade de controlar
essas emoes atravs da disciplina da mente deve dar lugar
interveno fisiolgica. O mesmo se aplica a afetos tais como a
raiva. Esta a razo pela qual Kant prope que se acalme um
homem irado o fazendo sentar e relaxar e no prope um controle
direto deste afeto pela vontade.
20
Este exemplo da Antropologia tem
um paralelo interessante com as Paixes da Alma, onde Descartes
defende que podemos facilmente superar as paixes menores, mas
no as mais violentas, exceto quando a perturbao do sangue e dos
espritos tiver cessado. O mximo que a vontade pode fazer
enquanto a perturbao est na sua fora mxima inibir os
movimentos s quais ela dispe o corpo.
21
No exemplo do homem tomado por raiva que deve sentar-se
para acalmar-se, Kant parece aceitar o componente inercial dos afetos.
18
Kant, On Philosophers Medicine of the Body, Rek, 15:939.
19
Ibid, 15:943
20
Anth, 7: 252
21
Descartes, Passions of the Soul, AT, XI, 364.
Maria de Lourdes Borges
164
Visto que a raiva um afeto paradigmtico, podemos assumir que esse
exemplo nos mostra algo sobre o funcionamento dos afetos em geral:
enquanto somos tomados por esses fortes sentimentos, nada podemos
fazer a no ser esperar que eles se acalmem.
Nancy Sherman, no artigo O lugar das emoes na
moralidade Kantiana
22
, curiosamente v neste mesmo exemplo uma
possibilidade de cultivo das emoes. Da possibilidade de diminuir a
raiva de uma pessoa que entra num ambiente aos gritos, fazendo-o
sentar, Sherman tira a concluso de que emoes naturais podem ser
cultivadas e sugerido que existe uma medida de responsabilidade do
agente no seu cultivo.
23
Ainda que numa outra passagem, Kant afirme
que temperamento colrico pode ser controlado gradualmente por um
disciplina interna da mente
24
, o exemplo no qual a raiva moderada
atravs da interveno nos movimentos corporais, atesta, ao contrrio,
a viso que os afetos tm sua prpria inrcia fisiolgica, que pode ser
indiretamente modificada apenas atravs de outro movimento fsico.
Isso diferente a ideia clssica de cultivo atravs do hbito, que
pressupe a possibilidade de uma resposta emocional correta, treinada
pela vontade. Alm disso, neste exemplo, est-se atenuando as emoes
de outrem, no as suas prprias, a outra pessoa que faz o homem
encolerizado sentar e relaxar. A ideia de atingir um cultivo de afetos, no
sentido aristotlico de ter a emoo correta, na situao correta, parece
inaceitvel para Kant, ao menos em relao a afetos intensos tais como
a raiva. Nesses casos, no podemos cultivar afetos apropriados pelo
hbito, apenas teremos paliativos para diminuir as consequncias
inapropriadas no momento em que surgem. Tal est em franco
contraste com os estoicos, para os quais poderamos curar emoes,
porque elas so principalmente constitudas por juzos. Tal como
Sorabji explica em Emotions and Peace of Mind, os estoicos no
apenas falam da vontade, mas tambm representam as emoes como
voluntrias (...) Sneca introduz sua anlise da raiva dizendo que a
grande questo mostrar se a raiva controlvel e ela ser controlvel,
segundo ele, apenas se for um juzo que depende do assentimento e da
22
Sherman, The Place of Emotions in Kantian Morality, in: O Flanagan and Amelie
Rorty, Identity, Character and Morality (Cambridge: MIT Press, 1990).
23
Ibid. p. 155-156.
24
Anth, 7:260.
Razo e emoo em Kant
165
vontade.
25
Emoes no dependem apenas da natureza, na viso de
Sneca, mas dos nosso prprios juzos, os quais envolvem um
assentimento voluntrio. Nesse aspecto, as emoes para os estoicos
vo contrastar com a sensao de dor, a qual deve ser evitada. Ns
podemos ser tomados como responsveis pelas emoes porque
podemos evit-las ou cur-las pela mudana de nossos juzos. E a
terapia estoica principalmente uma terapia de modificao de crenas.
A ideia de controlar ou extirpar as emoes atravs de uma mudana de
juzos tambm a estratgia de Aristteles, ainda que ele tenha um
outro objetivo, que a moderao, ao invs da extirpao estoica. No
plausvel que apenas uma modificao de crenas funcionaria no
exemplo de Kant, ao menos no depois do agente ser tomado pelo
afeto da raiva.
Em contraste com a viso de Aristteles e dos estoicos, h
uma corrente que chamarei de fisiolgica, a qual podemos ver em
Descartes, mas que remonta a Galeno, que um oponente a viso
dos estoicos. Galeno nos traz uma imagem interessante: emoes
so como um carro que desce uma ladeira, levado pelo seu prprio
momentum e incapaz de parar pela sua vontade. A partir do
momento em que ele comea o seu movimento, ele no pode par-
lo pela sua prpria vontade. Podemos ver essa mesma concepo
sobre os afetos em Descartes e Kant, principalmente nos afetos da
raiva e do medo. Na medida em que a raiva ativada, no podemos
extirp-la apenas por uma mudana de juzo sobre a situao. Esta
seria a estratgia estoica, mudar minhas crenas sobre a situao,
persuadir a mim mesmo que eu nada sofri de grave ou que a raiva
no ser til para os meus propsitos.
A estratgia de Kant quanto raiva no uma mudana de
crenas, visto que isso seria inefetivo, mas uma modificao dos
estados fisiolgicos. No exemplo de Kant sobre a raiva, algo deve
ser destacado: no o agente que acalma a si mesmo, mas o outro,
exatamente porque o agente no est em sua capacidade de
determinar seu comportamento. No o agente que diz: se eu estou
com raiva, tenho de sentar e me acalmar, mas a outra pessoa que o
acalma. Esta distino de crucial importncia, porque indica que
25
See Sorabji, Emotions and the Peace of Mind (Cambridge: Cambridge University
Press, 2000).
Maria de Lourdes Borges
166
aquele que possudo por uma emoo forte no capaz de
controlar-se pelo simples poder de sua vontade.
A possibilidade da ideia clssica de cultivo no est
completamente ausente da viso Kantiana, podendo ser encontrada
em suas discusses sobre simpatia, sentimentos morais e timidez. O
cultivo da simpatia tematizado na Doutrina das Virtudes, na qual
Kant defende, como vimos, que a simpatia pode ser um incentivo
ao moral, mesmo sendo relacionada a sentimentos sensveis de
alegria e tristeza.
Simpatia (Mitfreude) e compaixo (Mitleide) (Sympathetic
joy and sadness) (sympathia moralis) so sentimentos
sensveis de prazer e desprazer (que devem ser
chamados de estticos) frente ao estado de alegria ou
dor do outros. A natureza implantou nos seres humanos
a receptividade a esses sentimentos. Mas us-lo como
uma forma de promover a benevolncia ativa e racional
ainda um dever particular, mesmo que racional.
26
Com relao simpatia, Kant afirma que podemos e
devemos cultivar sentimentos de simpatia para que esses nos ajudem
a realizar aquilo que a lei moral nos dita, quando o respeito pela lei
no for suficiente para provocar a ao. Ele tambm menciona o
cultivo relativo a sentimentos morais
27
e amor prtico
28
. Ainda que
eles sejam sentimentos, eles no devem ser denominados
propriamente de afetos. O nico afeto mencionado por Kant, que
poderia ser treinado pelo hbito o medo em conexo com a
timidez em falar em pblico. Nestes casos, poderamos praticar com
pessoas cuja opinio no tomamos muito em conta, antes de
falarmos para um pblico a quem temos mais reverncia. Mas, ainda
que Kant tenha indicado realmente, uma forma de ver-se livre do
medo de falar em pblico, o mesmo no se aplica ao terror nas
batalhas, que no pode ser controlado. Quando Kant menciona este
terrvel medo que se apossa dos soldados, ele inclusive se refere a
consequncias desagradveis, que implicam que este afeto est for a
26
DV, 6: 456.
27
DV, 6:399.
28
DV, 6: 402.
Razo e emoo em Kant
167
de controle: O medo nas batalhas produzem at diarrias que
deram origem a gracejos (no ter o corao no lugar certo).
29
O cultivo da simpatia ou da timidez levaram alguns
comentadores a superestimar a possibilidade do controle das
emoes em geral. Mrcia Baron, por exemplo, defende que
evidente que a posio de Kant nos seus ltimos trabalhos de
filosofia prtica- a religio, a Metafsica dos Costumes e a Antropologia-
no que as inclinaes so em si mesmas ruins, mas que ns
devemos control-las ao invs de deix-las nos controlar, e que no
devemos nunca subordinar o dever inclinao.
30
Ainda que seja
verdade que Kant, na Religio, afirme que por si s as inclinaes no
sejam ruins, a Antropologia nos fornece uma viso negativa dos afetos
e paixes, como doenas da mente, o que torna temerrio afirmar
que devemos celebr-las. A Antropologia apresenta um fato da
psicologia emprica: ns realmente temos emoes, por sermos seres
racionais sensveis. Contudo, visto que as emoes nos tornam
cegos, seria melhor para os propsitos da razo prtica, no t-las.
Se assim fosse, poderamos exercer o poder da razo prtica sem
nenhuma oposio por parte da sensibilidade.
A Antropologia oferece uma teoria mais refinada das inclinaes
e sentimentos, e realmente distingue, tal como Baron aponta, entre
paixes e afetos. Contudo, essa distino no significa, como ela
pretende, que paixes so perniciosas, mas afetos no o so:
H passagens, na Antropologia, as quais, lidas isoladamente,
podem parecer confirmar a viso de que Kant pensa que
tudo o que afetivo ruim. (...) mas paixes so, na
taxonomia kantiana, apenas um tipo de afeto, logo no
podemos compreender sua viso dos afetos em geral a
partir do seu comentrio sobre paixes.
31
Concordo que paixes so mais malficas para a razo
prtica, porque podemos formar mximas sobre elas, o que no
ocorre com os afetos, mais responsveis pela fraqueza da vontade.
Contudo, eu gostaria de ressaltar que tambm h um problema com
29
Anth, 7:257.
30
Ibid., p. 203.
31
Baron, op. cit. p. 200.
Maria de Lourdes Borges
168
os afetos. Eles no so to incuos como Baron e Sherman
pretendem, muito menos teis. Kant claramente declara que: Estar
sujeito a um afeto (Affekt) ou paixo (Leindenschaft) provavelmente
sempre uma doena da mente, porque tanto o afeto quanto a paixo
exclui a soberania da razo.
32
. Apesar de Kant ser ambguo,
algumas vezes, ao se referir apatia, na Doutrina das Virtudes, ele
defende a busca da apatia moral, que a ausncia de afetos, ainda
que no de sentimentos morais.
Na Religio, Kant defende que h trs nveis de mal. Sem
dvida, paixo pior do que afeto, pois ela est relacionada com o
terceiro grau do mal, a maldade propriamente dita, enquanto o afeto
est relacionado ao primeiro, fraqueza (fragilitas). Ainda que os
afetos no sejam to perniciosos, eles ainda so um problema, pois
podemos decidir o que fazer e que mxima seguir e no segui-la,
devido fraqueza. Escreve Kant: o que um mbil irresistvel
objetivamente ou idealmente (in thesi), subjetivamente (in hypothesi)
o mais fraco (em comparao com a inclinao) sempre que a
mxima deve ser seguida.
33
. Se os afetos estivessem sob completo
controle, ns, seres sensveis racionais, jamais seramos fracos para o
seguimento da mxima escolhida. Na viso de Kant, tanto as
paixes quantos os afetos so doenas da mente, a nica diferena
que aquelas so uma forma persistente de perverso da razo,
enquanto essas so efmeras.
Kant, verdade, nos d na Antropologia exemplos,
principalmente sobre mulheres, onde a expresso das emoes pode
ser boa para a sade: Uma viva que no se deixa confortar, que
no quer interromper o fluxo de lgrimas, inconsciente e no
intencionalmente est cuidando de sua sade.
34
Este exemplo no
leva concluso que as emoes so boas em si ou que podemos
control-las, mas apenas que caso algum esteja tomado por uma
emoo forte melhor express-la do que reprimi-la. Alm disso,
afetos s so bons para a sade se forem moderados. Mesmo uma
alegria intensa, a qual pode ser considerada um bom sentimento,
objeto de crtica por parte de Kant, que nos diz que mais pessoas
morreram de uma grande alegria do que de um profundo pesar.
32
Anth, 7: 251.
33
Rel, 6:29.
34
Anth, 7:262.
Razo e emoo em Kant
169
Com esse estranho comentrio, Kant mostra o aspecto nocivo da
excessiva emoo, a qual pode apresentar mesmo um perigo de vida.
Mesmo considerando que as paixes so o maior problema
para Kant, a fraqueza da vontade, causada por um forte afeto que
no se deixa controlar, implica sem dvida um empecilho para o
livre uso da razo.
A viso de que Kant defende serem as emoes
importantes para a vida moral normalmente se apia em passagens
sobre a simpatia, retiradas da Doutrina das Virtudes. Contudo, estas
afirmaes, e mesmo o elogio da simpatia, no devem ser tomados
como comentrios que se apliquem a todos os afetos. Alm disso,
mesmo nas passagens sobre simpatia, a concluso de alguns
comentadores bem mais otimista do que a de Kant. Como
exemplo, podemos citar Sherman
35
, a qual se refere ao conselho
kantiano de que no devemos evitar lugares onde possamos
encontrar pessoas doentes ou pobres, pois a simpatia seria um dos
impulsos que a natureza nos deu para fazer aquilo que o mero
pensamento do dever no suficiente para realizar. (DV, 6:457).
Ela denomina essa funo de capacidade perceptiva das emoes.
Parece-me, contudo, que o processo apontado por Kant no leva
concluso que as emoes nos permitem saber quando e onde
aplicar princpios morais, mas que tal julgado pelo dever de
humanidade, o qual decide racionalmente em que casos devemos
ativar a nossa simpatia natural e em que casos devemos refre-la.
As emoes, por si s, sero sempre incapazes de decidir a
ao correta no contexto correto, mesmo que estejamos nos
referindo simpatia. Defender que Kant afirma serem as emoes
importantes e essenciais para a vida moral certamente tentador,
visto que isso pressuporia a possibilidade de sermos responsveis
pelos nossos afetos e termos a possibilidade de control-los.
No podemos negar, contudo, que o aspecto fisiolgico dos
afetos e os efeitos perniciosos das paixes realmente instalam um
abismo entre a razo prtica e as emoes. Se verdade que a crtica
ao formalismo kantiano no leva em considerao partes
importantes da teoria kantiana, tal como Baron e Sherman
ressaltam, no menos verdadeira que elas tentam completar a
lacuna entre o projeto da razo prtica e inclinaes atravs de um
35
Sherman, The Place of Emotions in Kantian Morality, p. 158-159.
Maria de Lourdes Borges
170
projeto de cultivo e controle de emoes, o qual objeto de grande
ceticismo por parte de Kant.
Sem querer afirmar que os afetos no podem ser
controlados de forma alguma, defendo que seu controle ou cultivo
no segue apenas uma mudana de juzos, tal como as tradies
aristotlica ou estoica propem. Tal controle, quando necessrio,
deve incluir estratgias corporais e fisiolgicas, tais como
relaxamento e at o uso de medicaes, que agiro diretamente na
mente, alegrando-a ou aliviando as preocupaes atravs da
supresso ou estmulo de afetos. Consequentemente, para o
controle de afetos intensos, Kant considera melhor o uso de altas
doses de hellebore do que confiar no poder de cura da razo
36
VIII.3. Concluso
Como possvel (se for possvel) controlar os afetos? Os
afetos, ainda que fenmenos da parte reativa da alma (animus)
parecem envolver em graus diferentes a imaginao, por um lado, o
corpo e a parte animal da alma (anima), por outro. A tristeza, como
vimos, vem da imaginao de um estado futuro ou passado de
ocorrncias indesejveis. Ela envolve, assim como alegria, a
reproduo ou antecipao de eventos. Kant cita igualmente a
saudade dos suos como uma consequncia da atividade da
imaginao, que consiste na recordao de uma vida
despreocupada e numa companhia da juventude, a saudade dos
lugares onde gozou dos prazeres simples da vida (Ant, 7: 78).
Temos a uma pista de como estes afetos podem ser despertados e,
portanto, como podem ser controlados, evitando ou incentivando a
formao de imagens que nos dem uma sensao desagradvel ou
agradvel. O papel da imaginao claro igualmente quanto raiva
ou medo: assim como a tristeza causada pela antecipao de um
futuro sombrio, o medo causado pela antecipao de um perigo. A
raiva, por sua vez, provocada pela conscincia de uma ofensa, ou
de uma injustia causada a ns ou a outrem. Esses sentimentos,
ainda que pertencendo a parte reativa da alma, no esto separados
de elementos cognitivos na avaliao de imagens que nos vem a
mente. A ideia, portanto, de que os sentimentos so cegos e
36
Rek, 946
Razo e emoo em Kant
171
absolutamente pr-cognitivos no pode ser sustentada dentro da
interconexo das partes da alma. Os sentimentos de tristeza, alegria,
raiva, medo etc dependem de avaliaes cognitivas da situao
reproduzida ou antecipada pela imaginao, o que nos mostra a
relao entre as partes reativas e ativas da alma. At mesmo o amor,
para Kant, parece estar sujeito a elementos cognitivos, como por
exemplo, o reconhecimento da possibilidade ou impossibilidade
social de um determinado casamento e, portanto, da viabilidade de
um determinado afeto.
Do fato, porm, que h um julgamento cognitivo das imagens
apresentadas pela imaginao, no significa que podemos deliberar
sobre os afetos e nem que possam ser facilmente cultivveis, o que
um erro de alguns comentadores que, tomando a simpatia como
modelo, estendem para todos os afetos o que vale apenas para aquela.
Tomando novamente o exemplo da Antropologia Parrow: eu poderia
decidir que um estado de tristeza pernicioso para a minha
enfermidade e, mesmo assim, a avaliao de um futuro sombrio
despertaria em mim esse afeto, contrariamente minha vontade. Alm
disso, alguns afetos, tais como a raiva ou medo parecem ter uma ligao
mais forte com o corpo do que os sentimentos de tristeza e alegria; uma
vez despertado este afeto, h uma srie de eventos fisiolgicos no
passveis de serem controlados pela razo.
Vimos que a anlise da psicologia emprica kantiana no
nos d uma nica resposta para a questo do controle das
inclinaes e cultivo das emoes pela vontade. Tal controle seria
desejvel para uma filosofia que afirma ser possvel, para os seres
racionais sensveis, determinar sua ao conforme a razo. Entre os
sentimentos da faculdade de sentir inferior, puramente passiva e
involuntria, tal com a dor, e os sentimentos da faculdade de sentir
superior e plenamente ativa, como o sentimento moral, h um
continuum de outros sentimentos, que vo do sentimento do belo aos
afetos, passando pela sensitividade, que o caso da simpatia. Entre
os afetos, ns temos desde os mais prximos da imaginao e
entendimento, como a tristeza, at os mais prximos faculdade de
sentir inferior, como o medo, o que lhes confere um diferente grau
de involuntariedade.
No h, portanto, apenas um modelo de emoes em Kant.
No podemos dizer, como Sabini Silver, que h um modelo da dor
Maria de Lourdes Borges
172
que engloba todos os sentimentos e emoes kantianas, mas
tambm no podemos afirmar que somos responsveis pelo que
sentimos. Um outro erro generalizar a capacidade de cultivo de
alguns sentimentos, tal como simpatia, como sendo uma regra geral
para todos. Seria um erro pensar no cultivo da raiva, do medo etc.
Mesmo que fosse possvel cultiv-los em uma determinada situao,
em outras eles estariam fora do nosso controle.
GUISA DE CONCLUSO
A virtude como conciliao possvel entre razo e
(fortes) emoes
Seria um pouco temerrio afirmar que Kant acaba por
conceder uma funo positiva s emoes de modo geral, ou que ele
atribui ao agente racional responsabilidade por aquilo que exclui a
soberania da razo. O que Kant afirmar que, em que pese
inclinaes pro ou contra a lei moral, ns podemos agir conforme a
razo. Isso s possvel numa filosofia como a de Kant, na qual o
agente racional dotado de espontaneidade pode agir por liberdade,
independentemente de impulsos da sensibilidade. Em tal teoria, no
h necessidade de sermos responsveis pelos sentimentos ou de
cultivarmos ou controlarmos os nossos sentimentos, visto que a
ao no causada por este, mas por razes.
A teoria moral Kantiana apresenta algumas dificuldades na
relao entre razo e emoo. Por um lado, a lei moral deve poder
ser realizada pelo ser humano. Kant repete em vrias passagens que
dever implica poder. A tese da incorporao explica como o agente
sensvel pode agir conforme o que determina o dever. Ela estabelece
que inclinaes s so causa de ao se tomadas na mxima. Tal tese
equivaleria a dizer que toda ao fruto de uma escolha e que
desejos e inclinaes nunca so causas de aes. O agente racional
escolhe sua ao, podendo ou no tomar um desejo ou uma
inclinao como razo; contudo, estes nunca causam a ao sem
essa escolha. Parece que poderamos admitir que, segundo a tese da
incorporao, toda ao fruto de uma escolha. O agente racional
age por motivos; se inclinaes so causas de aes, isto se deve ao
fato de serem tomadas enquanto uma razo.
Kant, contudo, admite que os seres humanos tenham fortes
afetos e paixes, as quais impedem, s vezes, a livre escolha. Mesmo
em situaes nas quais o agente escolheu uma mxima a seguir, ele
pode no agir segundo ela, se movido por uma forte emoo. Este
o caso da fraqueza da vontade. A tese da incorporao vlida para
Maria de Lourdes Borges
174
os afetos em geral, no sentido de que eles s so causa de ao se
forem tomados como motivo. O problema da tese da incorporao
encontra-se na presena de fortes emoes, as quais podem ser
responsveis por aquilo que Kant denominou, seguindo a tradio,
de fraqueza da vontade.
A fim de conciliar tese da incorporao e fraqueza da
vontade, Allison props que a fraqueza da vontade deve sempre ser
tomada como auto-engano. No haveria, portanto, verdadeira
fraqueza da vontade, o agente se enganaria que agiu contrrio sua
deciso, quando, na verdade, aquele era mesmo o curso de ao
decidido. Talvez este seja o caso em algumas situaes, mas no em
todas. Visto que Kant, como vimos, admite componentes
fisiolgicos para as emoes, no caso de emoes fortes,
poderamos estar numa situao de descontrole comparado
quando nos encontramos embriagados. Tal parece ser corroborado
pelas afirmaes de que afetos so doenas da mente, impedem a
reflexo. No caso da fraqueza, a causa da ao em questo no
parece ter sido um motivo, mas a prpria inclinao, visto que a
mxima decidida racionalmente no seguida.
A tese da incorporao, em que pesem todas as tentativas,
incompatvel com a fraqueza da vontade. Visto que, para um agente
racional, a primeira deve ser vlida, trata-se de anular a segunda. Um
agente racional segue a tese da incorporao, logo a fraqueza da
deveria ser eliminada. S podemos eliminar a fraqueza com o
controle das emoes ou fortalecimento da vontade. A fraqueza
deriva de inclinaes fortes e vontade fraca. Ou bem controlamos as
fortes inclinaes, sada em relao a qual Kant parece ctico, ou
bem fortalecemos a vontade.
Kant est comprometido como uma tese forte no que diz
respeito causa de aes: apenas razes podem ser causa de ao.
Esta tese tambm foi defendida por filsofos contemporneos.
Num livro recente, Rationality in Action, John Searle compromete-se
com a mesma tese, questionando a tese tradicional de que aes
racionais so causadas por crenas mais desejos. Ele sustenta que
apenas aes no racionais e irracionais so causadas por desejos e
crenas:
Num caso normal de ao racional, devemos pressupor
que um conjunto antecendente de crenas e desejos no
Razo e emoo em Kant
175
suficiente para causar a ao. (...) Pressupomos que h
um gap entre as causas da ao na forma de crenas e
desejos e o efeito na forma da ao. Este gap tem um
nome tradicional, chamado liberdade da vontade.
1
No vocabulrio kantiano este gap pode ser inferido na
distino entre arbitrium brutum, arbitrium sensitivum e arbitrium liberum,
j exposta na Crtica da Razo Pura. Seres humanos possuem
arbitrium sensitivum, isto eles podem ser afetados pela sensibilidade,
mas a razo suficiente dada pelos motivos. Tal est relacionado
com a pressuposio da liberdade prtica, como a capacidade do
arbtrio de determinar-se independentemente das inclinaes.
Ainda que o texto kantiano tenha uma coerncia inegvel,
ele impotente para resolver alguns problemas postos na nossa
moralidade comum, tais como a fraqueza da vontade. De fato,
minha tese que Kant explica a ao racional, mas no todas as
aes de um agente.
De acordo com a tese da incorporao, se eu tenho um
forte desejo D, mas eu decido agir pela razo R, ento eu realizarei a
ao causada pela razo, Ar. Num outro caso, se depois de decidir
realizar a ao Ar, eu ajo de acordo com o meu desejo D, numa ao
Ad, isso no seria aceito pela tese da incorporao, a no ser que
meu desejo fosse meu motivo secreto.
O que eu sugiro que, se eu decido realizar a ao Ar
baseada em mximas previamente escolhidas, eu realmente deverei
realizar a ao Ar, dentro do modelo kantiano. Mas, s vezes, eu
fao Ad. Se a ao concreta no a mesma que a ao decidia pelo
agente, ento eu caio fora do modelo kantiano. No h outra
possibilidade aqui, ainda que vrios autores tenham tentado conciliar
a fraqueza da vontade com a tese da incorporao, normalmente
pela negao da fraqueza.
Se aceitarmos a fraqueza, devemos ter uma soluo mais
humilde dentro da teoria kantiana da ao: o domnio da ao no
tem a mesma extenso da ao voluntria. No modelo da ao
racional, no h espao para a fraqueza, ainda que esta seja
provavelmente um fato nas aes humanas. O domnio do
voluntrio mais amplo que o domnio da ao racional. Isso
1
John Searle, Rationality in Action, Cambridge/ Massachusetts, MIT Press, 2001, p. 13.
Maria de Lourdes Borges
176
significa que a teoria da ao kantiana no explica todas as aes?
No seria minha soluo algo como atirar o beb junto com a gua
do banho? No, se pensamos que Kant oferece uma forma de
tornar o campo do voluntrio no domnio da ao racional.
Temos ento, uma Doutrina das Virtudes para isso, para
tornar todas as aes conforme racionalidade do modelo kantiano.
Numa analogia com Aristteles, apenas a virtude pode curar o
acrtico. Mas virtude, em Kant, diversamente de Aristteles, no
ser baseada no habitus e no cultivo de um bom carter, mas no
esforo de construir uma vontade forte que possa lutar contra a
fora das inclinaes.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Obras de Kant:
Como bibliografia principal, foram utilizadas as obras de Kant
conforme edio da academia-Kants gesammelte Schriften (Kniglich
Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: Walter de Gruyter &
Co., 1900- ) . Sero citadas conforme o volume e pgina das
edio da Academia, seguindo a conveno de abreviaturas abaixo:
G - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ak 4)
MS - Metaphysik der Sitten (Ak 6)
TL-Tugendlehre
KpV-Kritik der praktischen Vernunft (Ak 5)
Anth-Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (Ak 7)
Vorlesungen ber Anthropologie (Ak 25):
AntPa -Anthropologie Parow (1772/73)
AntC- Anthropologie Collins (1772/73)
AntM- Anthropologie Mrongovius (1784/85)
VE-Vorlesungen ber Ethik (Ak 27)
M- Vorlesungen ber Metaphysik (Ak, 28, 29)
MM-Metaphysik Mrongovius (Ak, 28)
REL-Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (Ak 6)
Nachlass (Ak 15)
Outras edies:
PLITZ, K. H. L.(hrg.) Immanuel Kants Vorlesungen ber die
Metaphysik. Zum Druck befrdet von dem Herausgeber der Kantischen
Maria de Lourdes Borges
178
Vorlesungen ber die philophische Religionlehre. Reedio. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975.
HEINZE, M. (hrg.) Vorlesungen Kants ber Metaphysik aus drei Semester.
Leipzig: S. Hirzel, 1894.
MENZER, P. Eine Vorlesung Kants ber Ethik. Berlin, 1924.
Tradues utilizadas:
Crtica da Faculdade do Juzo. Trad. Valrio Rohden e Antnio
Marques. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1995.
Crtica da Razo Prtica. Ed. Bilnge. Trad. Valrio Rohden. So
Paulo: Martins Fontes, 2003
Crtica da Razo Pura. Trad. Valrio Rohden e Udo Moosborger.
Coleo Os Pensadores. So Paulo: Abril Cultural, 1980.
Outras obras:
ALLISON, H. Empirical and Intelligible Character in the Critique
of Pure Reason. In: Kants Practical Philosophy Reconsidered, ed. Y.
Yovel. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989.
______. Idealism and Freedom: Essays on Kants Theoretical and Practical
Philosophy. New York: Cambridge University Press, 1996.
______. Kants Theory of Freedom. New York: Cambridge University
Press, 1990.
ALMEIDA, G. Crtica, Deduo e Fato da Razo. Analytica, vol 4
(1999): 57-84.
______. Liberdade e Moralidade segundo Kant. Analytica, volume
2 (1997): 175-202.
AMERIKS, K. Kants Deduction of Freedom and Morality.
Journal of the History of Philosophy 19 (1981): 53-79.
______. Kants Theory of Mind. Oxford: Clarendon Press, 1982.
BARON, M. Kantian Ethics (almost) without Apology. Ithaca: Cornell
University Press, 1995.
Razo e emoo em Kant
179
BECK, L. W. A Commentary on Kants Critique of Practical Reason.
Chicago; University of Chicago Press, 1960.
BITTNER, R. Maxims. Akten des 4. International Kant-Kongress
II/ 2, 1974, p. 485-498.
______. Doing Things for Reason, Oxford, Oxford University Press,
2001.
BORGES, M. What Can Kant teach us about Emotions?, The
Journal of Philosophy, 03 (2004), pp. 140-58.
BRANDT, R. & Stark, W. Einleitung. In: Kant, Vorlesungen ber
Anthropologie Ak 25; 1 e 2. Berlin: Walter de Gruyter, 1997.
BRANDT, R. Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1999.
CASSIRER, E. Kants Leben und Lehre. 1918. Reedio, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977.
CRAMER, K. Metaphysik und Erfahrung in Kants Grundlegung
der Ethik. In: Schnrich, G & Kato, Y. Kant in der Discussion der
Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.
DELBOS, V. La Philosophie Pratique de Kant. Paris: PUF, 1969.
EISLER, R. Kant-Lexikon. Hildesheim/ New York: Georg Olms,
1994
FRSTER, E. Kants Transcendental Deductions. The Three Critiques and
the Opus Postumum. Stanford: Stanford University Press, 1989
GERHARDT, V. Immanuel Kant. Vernunft und Leben. Stuttgart:
Reclam, 2002.
GREGOR, M. Laws of Freedom: A Study of Kants Method of Applying
the Categorical Imperative in the Metaphysik der Sitten. Oxford: Basil
Blackwell, 1963.
GUYER, P. (ed.). Groundwork of the Metaphysics of Morals, Critical
Essays. Lanham: Bowman & Littlefield Publishers, 1998
GUYER, P. Kant and the Experience of Freedom. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.
Maria de Lourdes Borges
180
______. Kant on Freedom, Law and Happiness. New York: Cambridge
University Press, 2000.
HEIMSOETH, H. Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants
Kritik der reinen Vernunft, Zweiter Teil: Vierfache Vernunftantinomie;
Natur und Freiheit. Berlin: Walter de Gruyter & Co. , 1967.
HENRICH, D. The Unity of Reason: Essays on Kants Philosophy.
Cambridge: Harvard University Press, 1994.
______. Der Begriff der Sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom
Faktum der Vernunft. In: Prauss, G. (org.) Kant. Zur Deutung seiner
Theorie von Erkennen und Handeln. Kln: Kieperheuer & Witsch, 1973.
______. Die Deduktion des Sittengesetzes: ber die Grnde der
Dunkelheit des letzten Abschnittes von Kants Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten. In: Schann, A. Denken im Schatten des
Nihilismus: Festschrift fr Wilhelm Weischedel. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975.
HENSON, R. What Kant might have said: moral worth and the
overdetermination of a dutiful action. Philosophical Review, 88 (1979):
39-54.
HERMAN, B. The Practice of Moral Judgment. Harvard: Harvard
University Press, 1993.
HERRERO, F. Religio e Histria em Kant. So Paulo: Loyola, 1991.
HILL, T. Dignity and Practical Reason in Kants Moral Theory. Ithaca:
Cornell University Press, 1992.
HFFE, O Ethik und Politik. Grundmodelle und Probleme der praktischen
Philosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
HFFE, O (org.). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Ein
Kooperativer Kommentar. Frankfurt a . m. :Vitorio Klostermann, 1989.
HFFE, O. Kants Kategorischer Imperative als Kriterium des
Sittlichen. Zeitschrift fr philosophischen Forschung, 31 (1977), 354-84.
KAULBACH, F. Das Prinzip Handlung in der Philosophie Kants. Berlin:
Walter de Gruyter, 1978.
Razo e emoo em Kant
181
KERSTING, W. Der kategorischen Imperativ, die vollkommenen
und die unvollkommenen Pflichten, Zeitschrift fr Philosophischen
Forschung, 37 (1983), 404-12.
KORSGAARD, C. Creating the Kingdom of Ends. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996
LOPARIC. Z. A Semntica Transcendental de Kant. Campinas: CLE,
2000.
______. O Fato da Razo, uma interpretao semntica, Analytica,
no. 4 (1999): 13-55.
LOUDEN, Robert. Kants Impure Ethics. New York: Oxford
University Press, 2000
MALHERBE, M. Kant ou Hume ou La raison et le sensible. Paris: Vrin,
1993
MUNZEL, G.F. Kants Conception of Moral Character. Chicago: The
University of Chicago Press, 1999
NACKHOFF, J.C. The Role of the Emotions in the Moral Life according to
I. Kant. Microfilm, Van Pelt Library, P38:1994.
ONEILL, O. Constructions of Reason. Cambridge: Cambridge
University Press, 1989.
Simon Blackburn, Ruling Passions (Oxford: Oxford University Press,
1998), p.217
PATON, H. J. The Categorical Imperative: a study in Kants moral
philosophy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971.
______. Kant on Friendship, Neera Badwar (org), Friendship, a
philosophical reader, Cornell, Cornell University Press, 1993, p.133-173
PHILONENKO, A . L Oeuvre de Kant. Paris: Vrin,1993.
PRAUSS, G. Kant ber Freiheit als Autonomie. Frankfurt:Klostermann,
1983.
ROHDEN, V. Interesse da Razo e Liberdade. So Paulo: Atica, 1981.
ROVIELLO, A.M. Linstitution kantienne de la libert. Bruxelles:
Ousia, 1984.
Maria de Lourdes Borges
182
SABINI, J. & SILVER, M. Emotions, Responsability and
Character. In: Responsability, Character and the Emotions: New Essays in
Moral Psycology, ed. Ferdinand Schoeman. Cambridge: CUP, 1987.
SHERMAN, N. The Place of Emotions in Kantian Morality. In:
Identity, Character and Morality, FLANAGAN, O & RORTY, A, eds.
Cambridge: MIT Press, 1990
SHERMAN, N. Making a necessity of Virtue: Aristotle and Kant on
Virtue. Cambridge: Cambridge University Press, 1997
SCHMUCKER, J. Die Ursprnge des Ethik Kants. Meisenheim: Verlag
Anton Hain KG, 1961.
SCHNECKER, D.; WOOD, A. (eds.) Kants Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten Ein einfhrender Kommentar. Mnchen/ Zrich:
Schningh, 2002.
SMITH, A. The Theory of Moral Sentiments. Oxford: Oxford University
Press, 1976.
SULLIVAN, R. The Influence of Kants Anthropology on His
Moral Theory. Review of Metaphysics 49 (1995): 77-94
TERRA, R. Passagens: Estudos sobre a Filosofia de Kant. Rio de Janeiro:
Editroa UFRJ, 2003.
TIMMONS, M. Kants Metaphysics of Morals, Interpretative Essays.
Oxford: Oxford University Press, 2002.
VLEESCHAUWER, H.J. Lvolution de la pense kantienne. Paris: Felix
Alcan, 1939
VLEESCHAUWER, H. J. La Dduction Transcendentale dans loeuvre de
Kant. Paris: Anvers & Leroux, 1937.
WOOD, A. Kants Rational Theology. Ithaca: Cornell University Press,
1988.
______. Kants Ethical Thought. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999
______. Practical Anthropology. Akten des IX Internationaler Kant-
Kongresses, Berlim, W. de Gruyter, tomo IV, 2001.
Razo e emoo em Kant
183
YOVEL, A. Kants Practical Philosophy Reconsidered. Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers, 1989.
ZINGANO, M. Razo e Histria em Kant. So Paulo: Brasiliense,
1989.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- O Livro de UrantiaDokument247 SeitenO Livro de Urantiafsramires50% (2)
- Apostila SociologiaDokument107 SeitenApostila SociologiaGEORGENoch keine Bewertungen
- Observações Sobre o Amor TransferencialDokument4 SeitenObservações Sobre o Amor TransferencialLina Santos100% (1)
- Argumento e Roteiro: O Escritor de Cinema Alinor Azevedo (2006)Dokument351 SeitenArgumento e Roteiro: O Escritor de Cinema Alinor Azevedo (2006)Érica SarmetNoch keine Bewertungen
- Leibniz e o Problema Do Mal - Estado Da ArteDokument6 SeitenLeibniz e o Problema Do Mal - Estado Da ArterobertaquinoNoch keine Bewertungen
- A Psicologia Transpessoal: Um Conhecimento Emergente Da ConsciênciaDokument14 SeitenA Psicologia Transpessoal: Um Conhecimento Emergente Da ConsciênciaSergio Vieira Holtz Filho100% (3)
- Trabalho DescartesDokument3 SeitenTrabalho DescartesMota ThulaniNoch keine Bewertungen
- Frederick Copleston, S.J. - Nietzsche - Filósofo Da CulturaDokument153 SeitenFrederick Copleston, S.J. - Nietzsche - Filósofo Da CulturalarissafiloNoch keine Bewertungen
- Laboratório de Cultura e História Da Alimentação - Práticas de Ensino e PesquisaDokument341 SeitenLaboratório de Cultura e História Da Alimentação - Práticas de Ensino e PesquisaLarissa Alves100% (2)
- GE - Metodologia Científica - 01 PDFDokument21 SeitenGE - Metodologia Científica - 01 PDFFábio JoséNoch keine Bewertungen
- A Teoria Estética de KantDokument9 SeitenA Teoria Estética de KantJuliano BonamigoNoch keine Bewertungen
- Teorias Da Cultura - Laura PiresDokument231 SeitenTeorias Da Cultura - Laura PiresSophie PhiloNoch keine Bewertungen
- OGDEN, Thomas. Psicanálise OntológicaDokument25 SeitenOGDEN, Thomas. Psicanálise OntológicaVanessa ProençaNoch keine Bewertungen
- A Nocao de Identidade Etnica Na Antropol PDFDokument133 SeitenA Nocao de Identidade Etnica Na Antropol PDFMarion QuadrosNoch keine Bewertungen
- E-Book Calculo Numerico Computacional 01abr2019 PDFDokument530 SeitenE-Book Calculo Numerico Computacional 01abr2019 PDFFlavio YoshidaNoch keine Bewertungen
- NUMES MAIA Cirurgia - Moral PDFDokument52 SeitenNUMES MAIA Cirurgia - Moral PDFmanukenseNoch keine Bewertungen
- Her CDIDokument188 SeitenHer CDIIr Diego Faustino,MSNoch keine Bewertungen
- EXTENSÃO PUC MINAS Conexão de Conhecimentos Saberes e Realidades PDFDokument363 SeitenEXTENSÃO PUC MINAS Conexão de Conhecimentos Saberes e Realidades PDFIgor CamposNoch keine Bewertungen
- Fichamento Direito e Democracia HabermasDokument24 SeitenFichamento Direito e Democracia HabermasNatalia SilveiraNoch keine Bewertungen
- Revista Filosofia Da Educação v20 n1 1Dokument264 SeitenRevista Filosofia Da Educação v20 n1 1Renato AlexandreNoch keine Bewertungen
- Responsabilidade MoralDokument211 SeitenResponsabilidade MoralBeliniNoch keine Bewertungen
- 3 TESE-Sobre-a-dinâmica-da-Produção-de-Significados - P 47Dokument244 Seiten3 TESE-Sobre-a-dinâmica-da-Produção-de-Significados - P 47Douglas Oliveira0% (1)
- Comunicacao - Cultura Trecho PDFDokument21 SeitenComunicacao - Cultura Trecho PDFYohannNoch keine Bewertungen
- Eu MendigoDokument146 SeitenEu MendigodemétriusNoch keine Bewertungen
- A Escola de Medicina e A Construção deDokument121 SeitenA Escola de Medicina e A Construção deLeandro MendesNoch keine Bewertungen
- A Mulher - Revista EvaDokument157 SeitenA Mulher - Revista EvamafaldaNoch keine Bewertungen
- Jogo Sério e Património CulturalDokument133 SeitenJogo Sério e Património CulturalIsabela Mara SilvaNoch keine Bewertungen
- Tese FINAL 21-11Dokument126 SeitenTese FINAL 21-11pf36Noch keine Bewertungen
- Dissertação PMC - Kelly Lourenço PinheiroDokument155 SeitenDissertação PMC - Kelly Lourenço PinheiroVanderlei OrsoNoch keine Bewertungen
- Analise BioenergeticaDokument155 SeitenAnalise BioenergeticaCla Catua100% (3)
- Programas de Exercício Físico em Indivíduos Com Espondilite Anquilosante: Determinantes de Qualidade de VidaDokument147 SeitenProgramas de Exercício Físico em Indivíduos Com Espondilite Anquilosante: Determinantes de Qualidade de VidaanaNoch keine Bewertungen
- R - D - Edson Ronaldo Guarido FilhoDokument214 SeitenR - D - Edson Ronaldo Guarido FilholimareispalestrasetreinamentosNoch keine Bewertungen
- Itinerários VersadosDokument400 SeitenItinerários VersadosDyuliane KaczanNoch keine Bewertungen
- MiofascialDokument62 SeitenMiofascialRoberto CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Manual ABnt 2018Dokument78 SeitenManual ABnt 2018Nica Mbb Monica Brites100% (1)
- Olhares Sobre o Mínimo Existencial em Julgados BrasileirosDokument306 SeitenOlhares Sobre o Mínimo Existencial em Julgados BrasileirosAltair BatistaNoch keine Bewertungen
- TESESMiriam Guindani - Doutorado - PUCRSDokument377 SeitenTESESMiriam Guindani - Doutorado - PUCRSGisele Martins0% (1)
- Estudo Da Variabilidade Genética Inter e Intrapopulacional de Tityus Serrulatus (Scorpiones, Buthidae) : Um Estudo Sobre PartenogêneseDokument24 SeitenEstudo Da Variabilidade Genética Inter e Intrapopulacional de Tityus Serrulatus (Scorpiones, Buthidae) : Um Estudo Sobre PartenogêneseKeimelion - revisão de textosNoch keine Bewertungen
- 2021 LíviaMariaSantosdeSouzaDokument103 Seiten2021 LíviaMariaSantosdeSouzaMaryanne SilvaNoch keine Bewertungen
- Camacho BF Me SJRP PDFDokument170 SeitenCamacho BF Me SJRP PDFJosoé DurvalNoch keine Bewertungen
- As Fontes Na Sala de Aula de História: João Pedro Teixeira FidalgoDokument163 SeitenAs Fontes Na Sala de Aula de História: João Pedro Teixeira FidalgoMavillanizany Baka VillaNoch keine Bewertungen
- Simulaçoes de Potencia V. 01 - Valter A. RodriguesDokument280 SeitenSimulaçoes de Potencia V. 01 - Valter A. RodriguesValter A RodriguesNoch keine Bewertungen
- Joana Patrícia Caseiro de SáDokument120 SeitenJoana Patrícia Caseiro de SáFrancisca FrischknechtNoch keine Bewertungen
- Educação Ambiental para A EngenhariaDokument172 SeitenEducação Ambiental para A Engenhariamatheus735Noch keine Bewertungen
- Monografia Caroline Acromatopsia.Dokument95 SeitenMonografia Caroline Acromatopsia.Caroline PadilhaNoch keine Bewertungen
- III Fórum Institucional de EstágiosDokument460 SeitenIII Fórum Institucional de EstágiosUniversidade do Vale do Itajaí100% (1)
- ButaoDokument313 SeitenButaoLika35Noch keine Bewertungen
- Bessa Freitas Araújo 2019Dokument132 SeitenBessa Freitas Araújo 2019gtathloNoch keine Bewertungen
- Artículo de GV-V La Bildung de Simón Bolívar Revista-Filosofia-da-Educação-V20-n2-1Dokument348 SeitenArtículo de GV-V La Bildung de Simón Bolívar Revista-Filosofia-da-Educação-V20-n2-1Gregorio ValeraNoch keine Bewertungen
- Renata SartoriDokument128 SeitenRenata SartoriAssane ibraima RajaNoch keine Bewertungen
- Guimaraes 2010Dokument172 SeitenGuimaraes 2010LORRANE VICENTE FABRÍCIONoch keine Bewertungen
- 2008 LuizDokument239 Seiten2008 LuizHenrique Do Nascimento RicardoNoch keine Bewertungen
- Dissertacao - Joao Antonio Silva - Versao FinalDokument234 SeitenDissertacao - Joao Antonio Silva - Versao FinalAelyniaaNoch keine Bewertungen
- Depois Da RuaDokument242 SeitenDepois Da RualuizaNoch keine Bewertungen
- Ebook Calculo Numerico Computacional 17mai2022Dokument530 SeitenEbook Calculo Numerico Computacional 17mai2022AntonioNoch keine Bewertungen
- Internacionalizando A Universidade - Renée ZicmanDokument115 SeitenInternacionalizando A Universidade - Renée ZicmanPati RabeloNoch keine Bewertungen
- Histórico, Classificão e Análise de Centros de EA No BrasilDokument209 SeitenHistórico, Classificão e Análise de Centros de EA No Brasilitalo.mossiNoch keine Bewertungen
- TEoria Usos e Gratificações - Eliamara - Fontoura - BrunDokument121 SeitenTEoria Usos e Gratificações - Eliamara - Fontoura - BrunFernando NevesNoch keine Bewertungen
- Livro Nas - Cercanias - Da - Memoria João Carlos TedescoDokument357 SeitenLivro Nas - Cercanias - Da - Memoria João Carlos Tedescosilvânia almeidaNoch keine Bewertungen
- 73 99 PBDokument149 Seiten73 99 PBRegiane de O. AlmeidaNoch keine Bewertungen
- Stories Texto 2Dokument86 SeitenStories Texto 2Carlos SanchoteneNoch keine Bewertungen
- Araújo, 2020Dokument320 SeitenAraújo, 2020Administrador ContaNoch keine Bewertungen
- TESE - Representações Sociais e Conhecimento HistóricoDokument574 SeitenTESE - Representações Sociais e Conhecimento HistóricoGaius Iulius CaesarNoch keine Bewertungen
- O Multiculturalismo Na Escola Tese MestradoDokument660 SeitenO Multiculturalismo Na Escola Tese Mestradogacoroma-1Noch keine Bewertungen
- Estética da professoralidade: um estudo crítico sobre a formação do professorVon EverandEstética da professoralidade: um estudo crítico sobre a formação do professorNoch keine Bewertungen
- A Comunicação De Mercado E A Ressignificação De MarcaVon EverandA Comunicação De Mercado E A Ressignificação De MarcaNoch keine Bewertungen
- Serviço social e política social:: debates contemporâneosVon EverandServiço social e política social:: debates contemporâneosNoch keine Bewertungen
- Apostila De DendrologiaVon EverandApostila De DendrologiaNoch keine Bewertungen
- Blue Professional Extensive Mind Map GraphDokument1 SeiteBlue Professional Extensive Mind Map Graphlucas massonNoch keine Bewertungen
- Jürgen Habermas: Algumas Considerações em Torno Do Conceito de Verdade e Outras Descobertas Na Prática Reflexiva Da Sala de AulaDokument10 SeitenJürgen Habermas: Algumas Considerações em Torno Do Conceito de Verdade e Outras Descobertas Na Prática Reflexiva Da Sala de AulaRobson PandolfiNoch keine Bewertungen
- Aula 01 - Conceito de CosmovisãoDokument9 SeitenAula 01 - Conceito de CosmovisãoElton Roney CarvalhoNoch keine Bewertungen
- FILOSOFIA - Epistemologia Antiga e MedievalDokument1 SeiteFILOSOFIA - Epistemologia Antiga e MedievalMariana QueirozNoch keine Bewertungen
- Livro Base CTS OEIDokument168 SeitenLivro Base CTS OEIEvandro MiguellNoch keine Bewertungen
- Pré-Socráticos - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDokument7 SeitenPré-Socráticos - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDionísio BacoNoch keine Bewertungen
- Comunicação Oral: Resumo Expandido: (UfmaDokument5 SeitenComunicação Oral: Resumo Expandido: (UfmaluizNoch keine Bewertungen
- Como Fazer Minha Dança PrópriaDokument6 SeitenComo Fazer Minha Dança PrópriaValéria FerrazNoch keine Bewertungen
- A Psicoterapia Baseada Na Mentalização para o Tratamento Da Depressão Na AdolescênciaDokument111 SeitenA Psicoterapia Baseada Na Mentalização para o Tratamento Da Depressão Na Adolescênciacamcromance100% (1)
- Tricotomia e DicotomiaDokument14 SeitenTricotomia e DicotomiabsantosrjNoch keine Bewertungen
- Critrica A Regra de OuroDokument4 SeitenCritrica A Regra de OuroFrancisco ThainanNoch keine Bewertungen
- The Embodied Mind - A Mente CorporificadaDokument5 SeitenThe Embodied Mind - A Mente Corporificadalove youNoch keine Bewertungen
- Fichamento Psicologia Da Gestalt e PsicanáliseDokument9 SeitenFichamento Psicologia Da Gestalt e PsicanáliseLiliane FigueiredoNoch keine Bewertungen
- ED - FenomenologiaDokument17 SeitenED - FenomenologiaCarol TuntNoch keine Bewertungen
- Linha Do TempoDokument5 SeitenLinha Do Tempozerife heringerNoch keine Bewertungen
- Prova Sobre Baruch de EspinosaDokument3 SeitenProva Sobre Baruch de EspinosaWesley CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Fé, Razão e Verdade de Santo AnselmoDokument17 SeitenFé, Razão e Verdade de Santo AnselmoDavi CruzNoch keine Bewertungen
- O Problema Mente-Corpo: Uma Análise Filosófica Sobre O Naturalismo Biológico de John SearleDokument30 SeitenO Problema Mente-Corpo: Uma Análise Filosófica Sobre O Naturalismo Biológico de John SearleParoquia 2020Noch keine Bewertungen