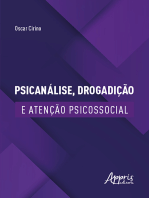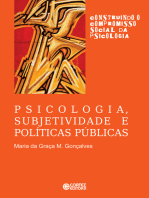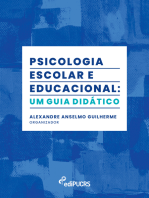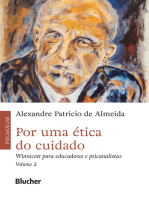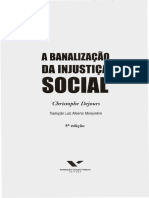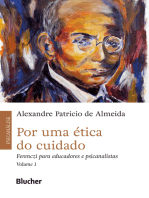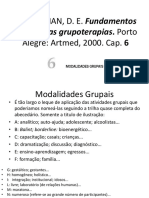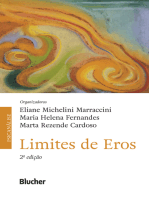Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ONOCKO-CAMPOS Psicanalise Saude Coletiva
Hochgeladen von
Bruno Chapadeiro RibeiroCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
ONOCKO-CAMPOS Psicanalise Saude Coletiva
Hochgeladen von
Bruno Chapadeiro RibeiroCopyright:
Verfügbare Formate
Sade em Debate
direo de
Gasto Wagner de Sousa Campos
Maria Ceclia de Souza Minayo
Jos Ruben de Alcntara Bonfim
Marco Akerman
Marcos Drumond Jnior
Yara Maria de Carvalho
SadeLoucura
direo de
Antonio Lancetti
Sade em Debate
PSICANLISE E SADE COLETIVA
Interfaces
ROSANA ONOCKO-CAMPOS
PSICANLISE E SADE COLETIVA
Interfaces
HUCITEC EDITORA
So Paulo, 2012
Direitos autorais, 2012,
de Rosana Onocko Campos.
Direitos de publicao da
Hucitec Editora
Rua Gulnar, 23 05796-050 So Paulo, Brasil
Telefone (55 11 5093-0856)
www.huciteceditora.com.br
lerereler@huciteceditora.com.br
Depsito Legal efetuado.
Coordenao editorial
M ARI ANA N ADA
Assessoria editorial
M ARI ANGELA GI ANNELLA
Circulao
S OLANGE E LSTER
CIP-Brasil. Catalogao-na-Fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ
Dedico este livro a quatro mulheres incrveis,
sem as quais a minha vida seria mais aborrecida, opaca e triste,
pois lhe faltaria o calor e o colorido da amizade.
s minhas amigas
S I LVA NA WE LLER
ANDREA MORO
MARI A CLARA DE SOUSA P AI XO
CLAUDI A PARTE L
Sumrio
11 Prefcio
Psicanlise e sade coletiva: interfaces
Captulo 1
17 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos em busca
de polticas pblicas potentes
Captulo 2
39 Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
Captulo 3
57 Humano demasiado humano: uma abordagem do mal-estar na
instituio hospitalar
Captulo 4
77 O encontro trabalhador-usurio na ateno sade: uma con-
tribuio da narrativa psicanaltica ao tema do sujeito na sade
coletiva
Captulo 5
97 Clnica: a palavra negada (sobre as prticas clnicas nos servios
substitutivos de sade mental)
Captulo 6
117 Elas continuam loucas: de que serviria aos servios pblicos de
sade uma releitura dos textos de Freud sobre a histeria?
11
10 | Sumrio
Captulo 7
137 E agora quem os educa? Holding, handing e continuidade: funes
claudicantes na poltica pblica de sade mental para crianas e
adolescentes .
Captulo 8
148 Sejamos heterogneos: contribuies para o exerccio da supervi-
so clnico-institucional em sade mental
P
Prefcio
Psicanlise e Sade Coletiva:
Interfaces
O ouvido no pisca. . .
ARTHUR HI PPLI TO DE MOURA
Comunicao pessoal
or que trazer tona o encontro da Psicanlise com a Sade Coletiva?
Quais as questes que no conseguimos no ouvir? como lembra
a epgrafe de meu querido e saudoso amigo Arthur. Ter ouvido uma sorte,
e t-lo treinado chega a hora que uma sina. . . Nunca tive ouvido musical,
coisa que lastimo. Mas minha histria, minha formao e acredito
minha condio de estrangeira (quase que de nascena) no me deixam
no escutar alguns rudos, barulhos, tons e dissonncias no campo da Sa-
de Coletiva. Campo que tanto valorizo e do qual me orgulho de fazer parte,
pelo seu tipo de compromisso tico, pela sua histria engajada.
Desde o advento da psicanlise, o pensamento freudiano tem ali-
mentado reflexes sobre cultura, sociologia e sobre inmeros outros cam-
pos. Por que no aconteceria no campo da sade coletiva? Mas a sade
coletiva brasileira tem se definido a partir de algumas recusas e de algumas
afirmaes histricas (recusou o carter prescritivo vertical da sade pbli-
ca, da qual quer diferenciar-se e deu nfase nos determinantes sociais nos
quais quer apoiar-se firmemente, por exemplo) e tem tido, nas ltimas trs
dcadas, no Brasil um desenvolvimento importante, bebendo sempre da
interdisciplinaridade, e indo ao encontro de certos referenciais tericos, aos
quais deu preferncia em relao a alguns outros.
11
12 | Psicanlise e Sade Coletiva
No Brasil, a sade coletiva dos anos 1970 tinha um forte vis estru-
tural marxista, que foi, ao longo dos anos 80 e 90, sendo deslocado por
aportes vindos das cincias sociais de bases emprico-sociolgicas ou fe-
nomenolgicas. Ao final dos anos 90, estudos interpretativos, etnogrficos
e de representaes trazem tona o tema do sujeito, como uma retomada
histrica da Sade Coletiva. A Abrasco (Associao Brasileira de Sade
Coletiva) realizou seu VI Congresso Brasileiro de Sade Coletiva em 2000,
em Salvador (BA), e trouxe como tema central de discusso O sujeito na
Sade Coletiva.
Naquele momento, os organizadores apontavam a necessidade de a
Abrasco refletir, aps vinte anos de atividades como associao cientfica da
rea, sobre quem o sujeito na e da Sade Coletiva(Abrasco, 2000b,
apud Belisrio, 2002).
No mesmo evento, defendia Paim (2000, p. 3):
Devemos recuperar a ideia de sujeito sem negar a ideia de estrutura,
resgatando o papel do sujeito histrico na conservao ou na mudan-
a dessas estruturas. Temos que considerar ainda que esse sujeito da
sade coletiva, capaz de processar tais mudanas, pode ser, alm do
sujeito individual, uma personalidade, uma liderana. Podemos falar
em sujeito social, que pode ser definido como uma entidade, a exem-
plo da prpria Abrasco, ou de um partido poltico, um sindicato, uma
associao de bairro, etc. . .
A organizao do Congresso realizou quatro grandes conferncias,
que apresentam o sujeito de diferentes formas: o sujeito tico, o histrico, o
social e o saudvel. Apresentaram-se, tambm, grandes debates que abor-
daram a transversalidade, a transdisciplinaridade, a transetorialidade, a
transformao, a transio e a transculturalidade, privilegiando os diferen-
tes deslocamentos a que o Sujeito estaria submetido, e apontando outras
disciplinas as quais a Sade Coletiva poderia e deveria recorrer em
busca de elementos para sua prpria construo (Belisrio, 2002).
Como podemos ver, as referncias aos trnsitos j estavam l, colo-
cadas h mais de uma dcada, mas no houve quase referncias consti-
tuio subjetiva do sujeito. O sujeito pode ser histrico, social, e at coletivo,
| 13 Psicanlise e Sade Coletiva
mas no h referncia a alguma estruturao que no seja racional. Nada
de inconsciente!
J em pleno sculo XXI o sujeito estava de novo perdido, em risco de
se dissolver em fluxos, heterogeneidades sem membranas e intensidades
vrias sem qualificao possvel. A crtica aos especialismos jogou fora o
beb com a gua do banho: encontramo-nos, apesar da retomada do sujei-
to, desarmados, incapazes de tematizar e pensar a questo de nossas em-
pobrecidas formaes tcnicas da rea da sade (como se isso no fosse um
problema no Brasil!!!). Repertrios tericos, habilidades tcnicas tudo foi
varrido por uma mar de boas intenes, como se elas no pavimentassem
o caminho aos infernos. . .
Tambm, em pleno sculo XXI, a psicanlise resiste sua morte
anunciada, alimenta prticas e intervenes, alinhava valores e sustenta
posturas ticas em inmeras situaes. E mais, ela fornece referencial te-
rico e instrumentos prticos para muitos trabalhadores da sade que se
dizem seus praticantes, que atravessaram a experincia da anlise pessoal
e dela saram com a vontade de contribuir para que outros humanos pos-
sam aceder a uma vida menos alienada de seus prprios desejos. Contudo,
algumas polarizaes excludentes precisam ser desconstrudas para per-
mitir a explorao dessa interface entre sade coletiva e psicanlise.
Por exemplo, atribui-se a uma certa psicanlise (quase sempre
tomada como a psicanlise) um trabalho no individual, interior, das
profundezas da pura singularidade; e se atribui sade coletiva inter-
venes no exterior, na sociedade, no que de muitos. Caberia psican-
lise desenvolver prticas privadas e lucrativas, ao passo que corresponderia
sade coletiva problematizar o que se passa no espao pblico. Rejei-
tamos essa dicotomia, assim como rejeitamos uma concepo de psican-
lise monopolizada por certas escolas de funcionamento quase religioso,
que cultuam esse mito da pura interioridade, como se houvesse um sujeito
do inconsciente possvel de se desenvolver em uma cpsula hermetica-
mente isolada do seu meio cultural e social. Abraamos uma psicanli-
se preocupada por desvendar os mecanismos pelos quais o lao fraterno
seria possvel, e com ele a criao e a cultura. Uma psicanlise que nos aju-
de a suportar um ns fortemente investido e a tolerar-nos em nossas
diferenas.
14 | Psicanlise e Sade Coletiva
Este livro rene alguns textos inditos, outros inditos em portugus
e algumas reedies de artigos originalmente publicados em peridicos
cientficos. Os dois primeiros textos buscam problematizar as polticas
pblicas e alertar para o recalcamento da dimenso da ideologia por
meio do dilogo com a psicanlise e algumas categorias e conceitos que
ela nos oferece.
O terceiro e quarto captulos se detm na anlise do prprio encontro
entre os trabalhadores da sade, os servios e os destinatrios chamados
de pacientes ou usurios. Ambos os nomes no ajudam e no conseguimos
uma opo melhor: um aponta a dimenso de espera e de padecer, e o outro
a questo dos direitos, mas tambm apontando a sade como algo que se
consome, o que nos desagrada, pois sabemos bem que o usurio de sade
poucas vezes tem opo de escolher o que consumir nesse campo (agora
uma fluoxetina, amanh uma cirurgia de joelho?). Neles buscamos destacar
como algumas formas organizacionais tm potencialidade para empurrar a
produo subjetiva para um lado ou outro.
Os outros quatro artigos conformam um conjunto no qual se mos-
tram diferentes aplicaes destinadas a melhorar a forma como trabalha-
mos com as equipes que trabalham com pessoas; a maior parte delas est
mais focada nas prticas da sade mental, seja para melhorar a clnica das
psicoses, ou das neuroses, e para pensar e produzir diferenas nas aes
comunitrias com jovens e crianas. O ltimo captulo pretende divulgar e
mostrar como temos conseguido operar o dispositivo de superviso clnico-
-institucional em Centros de Ateno Psicossocial.
Em todos eles esperamos que se possam achar pistas operacionais,
pontos de tenso que estimulem a reflexo sobre nossas prticas e, sobre-
tudo, o testemunho de um postura tico-poltica pela e na psicanlise. O
contexto brasileiro tem sido um grande estmulo e terreno frtil para todos
esses trabalhos e reflexes em virtude do desenvolvimento dos novos ser-
vios substitutivos de sade mental, articulados em redes cada vez mais
diversificadas, apoiada pela atitude interrogativa da pesquisa, essa rede foi
o caldo no qual esses relatos vieram luz.
Desejo manifestar meu agradecimento mais profundo s equipes
com as quais tenho trabalhado ao longo destes ltimos quinze anos, pela
coragem com que enfrentaram seus monstros, pela confiana que demons-
| 15 Psicanlise e Sade Coletiva
traram em minha pessoa, pela fora de que do testemunho no trabalho
cotidiano no Sistema nico de Sade. Como disse Winnicott, Aos meus
pacientes, que pagaram para me ensinar.
Agradeo tambm as leituras carinhosas de Silvana Weller, Gasto
Wagner de Sousa Campos e Renate Meyer Sanches.
Tambm meu agradecimento s revistas que gentilmente autoriza-
ram a reedio de textos originalmente publicados por elas: Salud Colectiva
e Salud en Debate da Argentina, Sade em Debate do Cebes, Cincia e
Sade Coletiva da Abrasco e Boletim de Sade da SES/RGS.
Referncias
Belisrio, S. A. Associativismo em Sade Coletiva: um estudo da Associao
Brasileira de Ps-Graduao em Sade Coletiva Abrasco. Doutorado
em Sade Coletiva. Campinas: Faculdade de Cincias Mdicas/
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2000.
Paim, J. In: Congresso Brasileiro de Sade Coletiva, VI, 2000, Salvador.
Boletim 1. Salvador: Abrasco, mai. 2000.
D
Captulo 1
Sade Coletiva e Psicanlise:
entrecruzando conceitos em busca de
polticas pblicas potentes*
Rosana Onocko Campos
Adriano Massuda
Iris Valle
Gustavo Castao||
Oscar Pellegrini
urante determinada parte do sculo XX, a tradio psicanaltica ar-
gentina
1
inclua entre suas prticas e corpo discursivo as problemti-
cas sociais que derivavam da condio de marginalidade, pobreza, desi-
gualdade, com relao a vrios campos de atuao, entre os quais o setor de
sade. Por motivos cuja anlise extrapola o presente texto, essa caracters-
tica de compromisso com o meio foi se perdendo durante a ditadura (1976-
1983). Prticas grupais (algumas delas chamadas sociais) foram reprimi-
das at quase desaparecer. A psicanlise argentina se torna cada vez mais
pura, mais lingustica mais estrutural.
* Publicado originalmente em Salud Colectiva, vol. 4, n.
o
2, pp. 173-85. mai.-ag. 2008.
Reedio aprovada pelos Editores.
Mdica, Universidade Nacional de Rosrio (UNR), Argentina. Doutora em Sade
Coletiva, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professora do Departamento de Me-
dicina Preventiva e Social, Faculdade de Cincias Mdicas, Unicamp, Brasil. <rosanaoc@mpc.
com.br>.
Mdico, Universidade Federal do Paran, Brasil. Especialista em Sade Coletiva e
Administrao em Sade, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mdico Sanitarista,
Hospital das Clnicas, Unicamp, Brasil. <a.massuda@gmail.com>.
Psicloga. Psicanalista. Docente da Carreira de Especializao em Psicologia Clnica,
Institucional e Comunitria, UNR, Argentina. <irisvalles@hotmail.com>.
|| Mdico, UNR. Psiquiatra, Colgio de Mdicos, Santa Fe. Diretor Estadual de Sade
Mental, Santa Fe, Argentina. <nogal59@hotmail.com>.
Mdico, UNR. Psiquiatra, UNR. Coordenador estadual de abordagens territoriais de
problemticas subjetivo-sociais, estado de Santa Fe, Argentina. <oscarpellegrini521@ hotmail.
com>.
1
Roberto Doria Medina Egua. Grandes psicoanalistas argentinos. Buenos Aires: Grupo
Editorial Lumen, 2001.
17
18 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Os psicanalistas, (pre)ocupados em/com o pblico, para pensar o
que se referia a pobreza/misria, passaram a recorrer, em geral, a textos
no psicanalticos. Identificamos que isso pode decorrer, ao menos, de trs
fatores:
a) No corpus terico tradicional da psicanlise, pobreza no nem
um conceito, nem sequer uma noo; no tem estatuto algum.
b) Em geral, os psicanalistas que publicam no trabalham no pblico.
c) Os psicanalistas que trabalham no pblico quase no publicam.
Desde o retorno das frgeis democracias, a abertura de espaos ins-
titucionais provoca um ingresso de profissionais psi nos servios pblicos,
incrementando-os prontamente por meio da sua progressiva proletariza-
o, agravada pela crise econmica dos anos 90. Voltam, ento, a formular
perguntas que so, na verdade, novas questes, apesar de no serem novi-
dades. So novas porque os agentes que as formulam e a sociedade qual
essas perguntas se dirigem so outros, diferentes dos dos anos 70.
Pretendemos, neste trabalho, revisitar algumas categorias psicanal-
ticas e discutir sua pertinncia e seu valor de uso (utilidade),
2
contrastados
com certas categorias clssicas da sade coletiva. Buscamos, desse modo,
contribuir com o debate e a experimentao de novas prticas em sade
coletiva. Prticas que gostaramos de imaginar menos desguarnecidas de
referencial terico e mais providas de referncias tico-polticas, e em per-
manente trabalho de elucidao, o trabalho pelo qual os homens tentam
pensar o que fazem e saber o que pensam.
3
Objeto
Este estudo realiza uma reviso terica de alguns conceitos prove-
nientes da Sade Coletiva e da Psicanlise. Colocando esses conceitos em
relao (entre eles e com o campo das prticas), buscamos propiciar o de-
senvolvimento de categorias para o estudo de questes pertinentes ao
sofrimento psquico e s novas constituies subjetivas que emergem nas
regies perifricas das grandes cidades na sociedade contempornea.
2
Gasto Wagner de Sousa Campos. Um mtodo para anlise e cogesto de coletivos. So
Paulo: Hucitec, 2000.
3
Cornelius Castoriadis. A instituio imaginria da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1986, p. 14.
| 19 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
De que se sofre na periferia e na cidade?
Tanto na Argentina quanto no Brasil, assistimos, na atualidade, a
conformaes sociais sumamente complexas, onde a violncia de todo tipo
substitui, muitas vezes, a mediao simblica ligada ao valor fundante da
palavra. Novas configuraes familiares, de redes sociais, de grupos. Virtua-
lidades, materialidade, modos de resoluo de conflitos que nos custam
compreender.
Subjetividades frgeis, precrias, violentadas e violentas (geralmen-
te, terceira gerao de desocupados, com modos migratrios complexos,
com territorialidades fragmentadas e sem redes ou com intercmbios so-
ciais restringidos), configuram caractersticas do que chamamos setores des-
validos e foram a diferenciar estratgias em mltiplos planos: sanitrio,
clnico, social, produtivo.
Assim como nas psicoses falamos da foracluso
4
do Nome do Pai em
relao no inscrio da lei simblica, devemos hoje diferenciar disso as
mltiplas formas de expresso destas degradaes do patrimnio simblico
que levam as loucuras a se expressarem de um s modo, mais ligado
impulsividade, imediatez e, no caso das mulheres, s vezes a um sofri-
mento silencioso, naturalizao da mortificao feita cultura
5
que fazem da
vida uma atualidade permanente, sem histria. Um sem palavras, muitas
vezes, somente inscrito no corpo, no prprio, no de seus filhos ou no corpo
dos filhos de suas filhas adolescentes (dos quais so avs-mes). Colapso
geracional das funes maternas e paternas que deixam impotente a pala-
vra e sua relao com a transmisso de uma histria, uma novela familiar.
Isso nos leva discusso sobre a infncia atual, que coloca sobre o
tapete conceitos prvios. Vamos defasados no tempo com estas novas sub-
jetividades, que sempre nos apontam como caminho uma abordagem de
suma complexidade. Aqui, ressurgem as teorias do amor e a famlia destas
crianas. No se trata de vitimiz-los pela caridade ou fascinao, seno de
ressituar, acompanhar, suplementar funes constitutivas para que exista
4
Jacques Lacan. Seminario 3: Las psicosis (1955-1956). Buenos Aires: Paids, 1988.
5
Fernando Ulloa. Novela clnica psicoanaltica. Historial de una prctica. Buenos Aires:
Paids, 1995.
20 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
uma criana, que se deve construir em cada espao possvel, em cada res-
qucio que se encontre, desde a esquina do bairro, os lugares da regio,
6,7
com gestes crticas nas escolas, com redes de assistncia e sem nos poupar
do desafio de uma ateno mais singularizada quando isso seja necessrio.
Vivemos um tempo de mudanas. Antigamente, o sujeito no lugar
estava submetido a uma convivncia longa e repetitiva com os mesmos
objetos, os mesmos trajetos, as mesmas imagens, de cuja construo parti-
cipava: uma familiaridade que era fruto de uma histria prpria, da socie-
dade local e do lugar, onde cada indivduo era ativo.
Hoje, a mobilidade tornou-se praticamente uma regra. Os homens
mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. Mas tambm os pro-
dutos, as mercadorias, as imagens, as ideias: desterritorializao ,
frequentemente, uma palavra para significar desculturalizao. Ir para a
cidade grande deixar para trs uma cultura herdada para encontrar-se
com outra. Quando o homem se encontra com um espao que no ajudou
a criar, cuja histria desconhece, esse lugar a sede de uma vigorosa aliena-
o. Muitos dos imigrantes se comportam como recm-chegados ou como
se estivessem ainda de passagem, depois de vinte ou trinta anos de viver
em certas vilas ou favelas. Se lhes perguntamos dizem no sou daqui. . ..
Mas ento, como interferir em seu ambiente se este no lhe pertence?
Assim, no se limpa um terreno baldio, nem se planta uma rvore. Tudo (ou
nada), espera-se. . ., morando margem, onde a cidade e suas legalidades
comeam a desaparecer, dependentes dos gatos de luz, em terrenos de
ningum, vivendo das sobras do consumo exacerbado da grande
urbanidade.
Apesar disso, a noo de residncia no desaparece. O homem vive
nos lugares durante muito menos tempo, mas vive a, ainda que seja como
desempregado ou imigrante. A residncia, o lugar de trabalho, por mais
breves que sejam, so espaos de vida que tm peso na produo humana.
Segundo Lowenthal,
8
o passado outro pas. Digamos que o passado
6
Maria Conceio Oliveira Costa et al. O perfil da violncia contra crianas e adolescen-
tes, segundo registros de Conselhos Tutelares: vtimas, agressores e manifestaes de violncia.
Cincia & Sade Coletiva, vol. 12, n.
o
5, pp. 1129-41, 2007.
7
Milton Santos. O lugar e o cotidiano. In: A natureza do espao. So Paulo: Edusp, 2002.
8
Apud Milton Santos, op. cit., p. 302.
| 21 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
outro lugar e, no lugar novo, o passado no est; mister encarar o futuro:
perplexidade primeiro, mas em continuao, necessidade de orientao. Os
imigrantes, em sua memria, trazem consigo recordaes e experincias
elaboradas em funo de outro meio, e que de pouco lhes servem para a
luta cotidiana. Precisam criar uma terceira via de entendimento da cidade.
Suas experincias vividas ficaram para trs e a nova residncia obriga no-
vas experincias. Trata-se de um embate entre o tempo da ao e o tempo
da memria. Obrigados a esquecer, seu discurso menos influenciado pelo
passado e pela rotina, s vezes nulo, um no discurso. Um sofrer silen-
cioso, demasiada exigncia para mecanismos de representao e simboli-
zao s vezes falidos.
Os papis do masculino e do feminino tambm esto desconfigura-
dos. O desemprego produz uma possibilidade de subemprego para as
mulheres, que podem ingressar no mercado de trabalho como empregadas
domsticas ou temporrias. Em muitos bairros perifricos de nossas gran-
des cidades, desde cedo, podemos ver nas ruas crianas e homens, homens
sentados em roda conversando com seus amigos ou em algum dos numero-
sos bares da regio. Outros estudos j constataram que essas rodas de
amigos so espaos relacionais por excelncia e nos quais, muitas vezes, se
consome lcool o dia inteiro.
9
Desse modo, o reconhecimento dessas novas formas de sofrer e de
adoecer, e a forte suspeita de que precisamos inventar estratgias poten-
tes para as novas crises subjetivas, leva-nos a realizar um priplo que nos
faz retornar a algumas tradies de duas reas: a psicanlise e a sade
pblica (coletiva).
Diz Gadamer
10
que o presente e seus interesses os que fazem o
investigador voltar-se ao passado, tradio. Assim, no de se estranhar
que no sculo XXI comecemos a preocupar-nos por aspectos antes mini-
mizados. Que potencialidades poderamos extrair colocando em contraste
referencial estas duas reas do saber?
9
Eduardo L. Menndez & Rene Di Pardo. De algunos alcoholismos y algunos saberes:
atencin primaria y proceso de alcoholizacin. Mxico: Ciesas, 1996.
10
Hans Georg Gadamer. Verdade e mtodo: traos fundamentais de uma hermenuti ca fi-
losfica. Petrpolis: Vozes, 1997.
22 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Resgatando algumas tradies da psicanlise
Um filsofo e psicanalista, Cornelius Castoriadis, j em 1989
11
fazia
referncia a uma crise das identificaes, das significaes imaginrias (SI)
sociais, que so as que mantm qualquer sociedade unida.
Para Castoriadis tais significaes imaginrias tm trs funes prin-
cipais:
Estruturam as representaes de mundo (a mais importante a
que a sociedade tem de si mesma).
Designam as finalidades da ao (o que se deve e no se deve
fazer).
Estabelecem os tipos de afetos caractersticos de uma sociedade.
Atravs de instituies mediadoras e dessas significaes imagin-
rias, institui-se um tipo de sujeito particular (o que faz com que um floren-
tino do sculo XVIII seja diferente de um rosarino de hoje).
Essa identificao social tem uma funo fundamental, posto que
trata de organizar uma defesa contra a morte. Mas essa defesa s opera se
as significaes que ela instaura podem, por sua vez, ser consideradas im-
perecveis. Mas o que haveria hoje de imperecvel nas sociedades contem-
porneas se a famlia no o que era, nem as regras de convivncia, nem o
espao urbano? E como seria isso em famlias recm-migradas, em meio a
crises financeiras, em que j nem a classe mdia pode crer que os bancos
em pleno capitalismo cuidaro de seu dinheiro?
Segundo esse autor, a sociedade de consumo tem criado um con-
formismo generalizado e pegajoso, todo igual. Um conformismo tal que
s pode existir ao preo de que no haja um ncleo de identidade impor-
tante e slido: individualidades em frangalhos. A ps-modernidade nos
havia liberado da tirania do estilo e simultaneamente do trabalho
de termos de ser ns mesmos. Hoje as individualidades parecem um col-
lage, uma colcha pathwork: Sou uma colcha de retalhos, todos da mes-
ma cor.
a
11
Cornelius Castoriadis. A ascenso da insignificncia: encruzilhadas no labirinto IV. So
Paulo: Paz e Terra, 2002.
a
Frase de Mrio Quintana, poeta e jornalista brasileiro (1906-1994).
| 23 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Nessa e por essa crise do processo de identificao, a sociedade per-
de a possibilidade de autorrepresentar-se como centro de sentido e de
valor. muito difcil construir assim um ns fortemente investido. Mui-
tos percebem a sociedade somente como uma entidade limitadora e de
controle que lhes foi imposta: iluso monstruosa e indicativa de um pro-
cesso de dessocializao. Ao mesmo tempo, esse mesmo indivduo (o
marginalizado) dirige a essa mesma sociedade pedidos ininterruptos de
assistncia.
No outro polo, est o indivduo que v a histria como uma paisagem
turstica, faz de tudo para esquecer-se que um dia vai morrer e que tudo o
que faz no tem o menor sentido, corre, compra, pratica esportes, v televi-
so, em suma: distrai-se, criando uma cultura da cosmtica e da banalidade,
contracara macabra da outra metade social, a arrojada luta por sobrevi-
vncia cotidiana nas margens. Uma sociedade com tais caractersticas tem
enormes dificuldades para pensar-se, refazer-se, reinventar-se a si mesma,
at cabe a pergunta de se se trata de uma sociedade.
Freud
12
mostrou que o aparato psquico , em grande medida, pro-
duto da cultura, e que a condio de mal-estar um componente essencial
da civilizao. Por sua vez, toda relao social pressupe jogos de lingua-
gem,
13
jogos que so, por um lado, o mnimo de relao exigido para que
haja sociedade e, por outro lado, para que haja ser humano, dado que antes
de seu nascimento e pelo nome que lhe dado o recm-nascido humano j
colocado como sujeito de uma histria contada por aqueles que o rodeiam.
Posio na qual, mais tarde, ter que dialetizar-se.
Na tica que caracteriza a psicanlise, todo sujeito mais que porta-
dor do cogito cartesiano. O descobrimento do inconsciente por Freud mar-
cou uma das grandes rupturas da modernidade, na opinio de alguns auto-
res.
14
Assumir que as pessoas, os pacientes e os trabalhadores de sade
tambm atuam movidos por reaes inconscientes, que eles mesmos des-
conhecem e sobre as quais no tm de todo o controle, muda nossa forma
12
Sigmund Freud. O mal-estar na civilizao (1931). In: Edio eletrnica brasileira das
obras psicolgicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1997.
13
Jean-Franois Lyotard. A condio ps-moderna. Rio de Janeiro: Jos Olmpio, 2006.
14
Miguel Benasayag & Edith Charlton. Esta dulce certidumbre de lo peor. Buenos Aires:
Nueva Visin, 1993.
24 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
de abordar as equipes de sade e as relaes que a se desenvolvem. O re-
conhecimento da dimenso inconsciente altera nossas anlises.
Para a psicanlise, estamos sempre desconhecendo uma parte de
ns mesmos. Nosso inconsciente irrompe quando menos esperamos no
meio de nossa ao mais racional. No se trata, portanto, de uma polaridade
consciente/inconsciente que se corresponderia com outra racional/irracional,
seno de que assumamos o ser humano como um ser que nunca ser ab-
solutamente dono de si, um ser barrado que no pode tudo, e que nunca
ter a certeza de conhecer perfeitamente o rumo de seu desejo. Essa carac-
terstica de nossa condio de humanos tambm nos marca em nossa con-
dio de trabalhadores, sendo central no caso dos trabalhadores de sade.
Alguns autores abordaram a concepo de homem como sujeito do
inconsciente e a vida na instituio.
15, 16
Segundo Kas,
17
a instituio
funciona para o psiquismo como asseguradora de funes da vida social e
psquica (como a me), uma das razes do valor ideal e necessaria-
mente persecutrio que ela assume to facilmente.
18
Ser um trabalhador da sade, do servio pblico, acreditar no valor
positivo do prprio trabalho, constituem funes estruturantes da subjeti-
vidade e ajudam a suportar o mal-estar que deriva das tarefas coletivas,
mal-estar em certa medida inevitvel, segundo Freud.
19
Kas
20
chama a isso aderncia narcsica tarefa primria. Ou seja, os
sujeitos necessitam identificar-se favoravelmente com a misso do esta-
belecimento no qual trabalham, acreditar que seu trabalho tem um valor de
uso.
21
Quando o contexto de trabalho pe obstculos tarefa primria, seja
por falta de recursos humanos, de materiais ou por excesso de autoritarismo
gerencial,
22
os sujeitos se valem de estratgias defensivas para atenuar o
prprio sofrimento psquico. Algumas delas seriam o chamado excessivo
15
Eugne Enriquez. A organizao em anlise. Petrpolis: Vozes, 1997.
16
Fernando C. Prestes Motta & Maria Ester de Freitas. Vida psquica e organizao. Rio
de Janeiro: Ed. FGV, 2000.
17
Ren Kas. Realidade psquica e sofrimento nas instituies. In: R. Kas et al.
(orgs.). A instituio e as instituies. So Paulo: Casa do Psiclogo, 1991, pp. 1-39.
18
Ibidem, p. 23.
19
Sigmundo Freud, op. cit.
20
Ren Kas, op. cit.
21
Gasto Wagner de Sousa Campos. Um mtodo. . ., cit.
22
Ibidem.
| 25 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
ideologizao, somatizao, burocratizao, desenvolvimento de estados
passionais:
O termo paixo descreve muito bem o intenso sofrimento psquico,
prximo aos estados psicticos, que se experimenta ali [na institui-
o]; o transbordamento da capacidade de conter e ser contido; a
capacidade de formar pensamentos paralisada e atacada: a repeti-
o, a obnubilao, servem de cobertura aos dios devastadores, con-
tra os quais surgem defesas por fragmentao. . .
23
Quantas vezes nos foi observada a dificuldade das equipes para
trabalhar conjuntamente, as falhas de comunicao, o contedo ideolo-
gizado de modo fundamentalista, no dialetizado, maniquesta, de certas
defesas das equipes? Parece-nos importante entender que esses sinto-
mas institucionais so parte da produo da prpria realidade de trabalho;
pelo prprio contato permanente com a dor, a morte e a dificuldade de
simbolizao que situaes como a pobreza extrema e a segregao nos
provocam.
Nas equipes de sade e de educao acontecem processos de iden-
tificao imaginria entre trabalhadores e usurios. Se a populao da rea
de cobertura vista como pobre, desvalida, degradada, sem valor, depois de
um tempo, a prpria equipe se sentir assim.
Pensamos que mecanismos como este conduzem produo de im-
potncia em srie das quais padecem muitas equipes de sade. Tambm
pode suceder que, na tentativa de defender-se desse espelho desagrad-
vel, a equipe se fecha tentando uma discriminao maior entre o ns e o
outros e, assim, a equipe monta fortes barreiras que evitam pr-se em
contato com aquilo que tanto di.
s vezes pior ainda, os trabalhadores podem se tornar agressivos e
praticar represlias contra os usurios. Outras, assumem uma funo
messinica colocando-se como nicos salvadores dessa pobre gente. Esta
ltima opo pareceria melhor a primeira vista, mas no , pois fixa a popu-
lao em um lugar de eternos carentes y dependentes de uma poltica
23
Ren Kas, op. cit., p. 33.
26 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
pblica que eles no tm nenhuma obrigao nem de formular, nem de
controlar: eles s tm direito de pedir e receber. A construo da passivi-
dade evidente.
Somemos a isso que as populaes a que nos referimos, tm srias
dificuldades para encontrar disposio valores que funcionem como n-
cora institucional para formar alguma significao imaginria. Nossas insti-
tuies esto cada vez mais frgeis. No havendo disponveis valores na-
cionais ou locais, em muitas oportunidades somente o fanatismo religioso
reeditado d conta de realizar algum lao subjetivo/simblico.
Lidar com estas dimenses do padecimento subjetivo atual requer
competncia tcnica. Oury
24
nos ensina que no trabalho no se trata sim-
plesmente de relaes individuais com algum, e que o trabalho em equipe
precisar sempre levar em conta os outros e a si mesmo, mas que deve
sempre ser tomado no mbito que mais especfico: um espao onde pos-
sa acontecer alguma coisa.
Kas
25
prope criar dispositivos de trabalho que permitam restabe-
lecer um espao subjetivo conjunto, uma rea transacional comum, relati-
vamente operatria.
Temos defendido que a gesto poderia exercer essa funo,
26
mas
para isso precisa constituir-se como instncia, com um lugar e um tempo
onde se possa experimentar o tomar decises coletivas e analisar situaes
com um grau de implicao maior em relao ao que produzido.
27
No se trata somente de criar espaos de circulao da palavra e inter-
cmbios autorreflexivos que proporcionariam a democratizao e um grau de
anlise maior sobre as prticas, coisa por si s j importante.
28
Mas de poder
compreender tambm que esses espaos so frequentemente locus de apre-
sentao de uma mise en scne de estados pulsionais inconscientes.
24
Jean Oury. Itinraires de formation. Revue Pratique de Psychologie et de la Vie Sociale et
d Hygine Mentale, vol. 1, pp. 42-50, 1991.
25
Ren Kas, op. cit.
26
Rosana T. Onocko-Campos. A gesto: espao de interveno, anlise e especificidades
tc-nicas. In: Gasto Wagner de Sousa Campos. Sade paideia. So Paulo: Hucitec, 2003, pp.
122-49.
27
Rosana T. Onocko-Campos. La planificacin en el laberinto: un viaje hermenutico.
Buenos Aires: Lugar Editorial, 2007.
28
Gasto Wagner de Sousa Campos. Um mtodo. . ., cit.
| 27 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Oury destaca a importncia de reconhecer essa dimenso incons-
ciente nas relaes de trabalho:
[. . .] na prpria equipe j existe uma forma de pr em prtica per-
manente tanto as relaes complementares, como as complementa-
riedades (mas no as complementaridades como: eu sou especialis-
ta nisto, ele naquilo, etc.). Trata-se, com efeito, de um registro quase
material: por um lado, a articulao de diferentes competncias, por
outro, as condies de um certo modo de convivncia. Existe a um
engano: no se trata de uma complementariedade mais ou menos
romntico-moderna, do tipo estamos todos do mesmo lado, que se
perde no especular, seno de uma complementariedade inscons-
ciente.
29
Resgatando algumas tradies da sade coletiva
Na medicina social latino-americana, houve uma clara crtica forma
predominante de organizao da prtica mdica.
30, 31
Crtica que se apro-
fundou com a entrada em cena das cincias sociais na rea da sade, assu-
mindo certo vis histrico-estrutural.
32
Partindo da medicina social latino-americana, a Sade Coletiva bra-
sileira se constituiu em uma linha terica original
33
que produziu ques-
tionamentos sobre a clnica, a biologizao das prticas, e chamou a ateno
sobre o processo de construo scio-histrica das categorias operat-
rias dominantes.
34
Herdeira do referencial terico estrutural-marxista, a
29
Jean Oury, op. cit.
30
Eduardo L. Menndez. Grupo domstico y proceso de salud/enfermedad/atencin.
Del teoricismo al movimiento continuo. Cuadernos Mdico Sociales, vol. 59, pp. 3-18, 1992.
31
Snia Fleury. Sade: coletiva? Questionando a onipotncia do social. Rio de Janeiro:
Relume-Dumar, 1992.
32
Luciene Burlandy & Regina Cele de A. Bodstein. Poltica e sade coletiva: reflexo
sobre a produo cientfica (1976-1992). Cadernos de Sade Pblica, vol. 14, n.
o
3, pp. 543-54,
1998.
33
Rosana T. Onocko-Campos. O encontro trabalhador-usurio na ateno sade: uma
contribuio da narrativa psicanaltica ao tema do sujeito na sade coletiva. Cincia & Sade
Coletiva, vol. 10, n.
o
3, pp. 573-83, 2005.
34
Madel T. Luz. A produo cientfica em cincias sociais e sade: notas preliminares.
Sade em Debate, vol. 24, n.
o
55, pp. 54-68, 2000.
28 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
sada da hegemonia desse marco deu-se a partir da incorporao de novas
referncias tericas e metodolgicas nos anos 70 e 80
35
dando entrada a
categorias como o cotidiano e as representaes sociais.
Em fins dos anos 90, o tema da subjetividade se destaca.
36,37,38
A
discusso sobre a reformulao dos modelos assistenciais, ou seja, sobre as
diversas formas de organizar o trabalho em sade, ainda recente e mais
retrica do que prtica.
39
Comeam a se destacar aspectos como as relaes
institucionais e as produes subjetivas nesses contextos.
40,41
Isso se pro-
duz no encontro com as prticas no territrio, e em seu trajeto histrico.
Contudo, preciso reconhecer que esse conjunto referencial que ajuda a
pensar as relaes entre as pessoas e as instituies, continua at hoje
pouco explorado.
No cruzamento de experincias, nos vrios experimentos de interven-
o institucional, e nas histrias que aparecem desde o territrio, vo se res-
gatando tambm categorias prprias deste campo: a sade pblica ou coletiva.
O territrio aparece tal como algo mais do que um espao no mapa,
um lugar. Como ressaltou Milton Santos,
42
a globalizao faz tambm
redescobrir a corporeidade. O mundo da fluidez, o vrtice da velocidade, a
frequncia dos deslocamentos e a banalidade do movimento e das aluses
a lugares e a coisas distantes, revelam, por contraste, no ser humano, o corpo
como uma certeza materialmente sensvel, ante um universo difcil de apre-
ender; ainda a dor moral di no corpo, ter isto alguma relao com o au-
mento das prevalncias das enfermidades psicossomticas? da diminuio
da faixa etria dos infartados?
35
Luciene Burlandy & Regina Cele de A. Bodstein. Poltica e sade coletiva: reflexo
sobre a produo cientfica..., cit.
36
Rosana T. Onocko-Campos. O encontro trabalhador-usurio na ateno sade. . .,
cit.
37
Gasto Wagner de Sousa Campos. Consideraes sobre a arte e a cincia da mudana:
revoluo das coisas e reforma das pessoas. O caso da sade. In: Luiz Carlos de Oliveira Ceclio
(org.). Inventando a mudana na sade. So Paulo: Hucitec; 1994, pp. 29-88.
38
Jos Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres. Sujeito, intersubjetividade e prticas em
sade. Cincia & Sade Coletiva, vol. 6, n.
o
1, pp. 63-72, 2001.
39
Cipriano Maia de Vasconcelos. Os paradoxos do SUS. Doutorado. Campinas: Uni-
camp, 2005.
40
Rosana T. Onocko-Campos. La planificacin en el laberinto, cit.
41
Jos Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres. Sujeito, intersubjetividade e prticas em
sade. . ., cit.
42
Milton Santos. O lugar e o cotidiano. In: A natureza do espao. . ., cit.
| 29 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Talvez possamos pensar a localidade como o que se ope globa-
lidade, mas tambm se confunde com ela. O mundo ainda nos estranho.
Sua existncia material e concreta se d em cada lugar. Em nosso lugar pr-
ximo se sobrepem as coexistncias, onde tudo se funde, enlaando, as
noes e as realidades de espao e tempo. A um cotidiano comparti-
lhado entre as mais diversas pessoas e instituies cooperao e conflito
so a base da vida comum. Porque cada qual exerce uma ao prpria, a
vida social se individualiza; e porque a contiguidade criadora de comu-
nicao, a poltica se territorializa com a contradio entre organizao e
espontaneidade.
O lugar, pensado desse modo, o marco de uma referncia pragm-
tica ao mundo, ao qual so encaminhadas demandas e ordens precisas de
aes condicionadas, mas tambm o teatro insubstituvel das paixes
humanas, responsveis das mais diversas manifestaes, da espontaneida-
de e da criatividade. Enfatizar uma vez mais que o cotidiano tem uma
dimenso espacial fazer dos lugares uma categoria operacional de territ-
rio. E retomar a nfase em que no h aes coletivas que no sejam
mediadas por sua extrema singularidade.
Conceitualmente, a categoria de vulnerabilidade d marco para
desdobrar algo dessa relao entre territrio e lugar, buscando que no seja
um aggiornamento da categoria de risco. Desse modo, podem-se articular
a aportes socioantropolgicos, sanitrios e conceitos provenientes do cam-
po da clnica psicanaltica. O paradigma do risco abriu novas possibilidades
para o conhecimento epidemiolgico e suas relaes com a medicina, e ao
faz-lo, restringiu a leitura sobre o espao de sade, pois
[. . .] no existe diferena epidemiolgica que possa aspirar legiti-
midade fora da consistncia dos critrios de validao estabelecidos
para as cincias que apreendem a sade em seu plano da individua-
lidade orgnica.
43
Nesse referencial, pensar em risco significa pensar em probabili-
dades de eventos. Por isso, formular intervenes no campo da sade com
43
Jos Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres. Epidemiologia, promoo da sade e o
paradoxo do risco. Revista Brasileira de Epidemiologia, vol. 5 (Supl. 1), pp. S28-S42, 2002.
30 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
o enfoque de risco significa deter-se apenas no que so medidas e regula-
ridades no territrio: um reducionismo.
44
O enfoque de risco no confere
discernimento suficiente para realizar intervenes reconhecendo as sin-
gularidades presentes no territrio.
O conceito de vulnerabilidade possibilitaria a incluso do sujeito/
singularidade nas aes de sade. Entretanto, tambm h possibilidades
de que seu uso sofra capturas:
Um dos problemas mais sinalizadores neste sentido o de continuar
promovendo uma discriminao negativa dos grupos mais afetados,
j no atravs do estigma, seno atravs de sua vitimizao e conse-
quente tutela, preocupao totalmente fundada [. . .]. Assumir tal
atitude negar o essencialmente positivo no interesse do uso do
conceito; perder de vista novamente o carter eminentemente rela-
cional e, em esse sentido, universalmente impactante das situaes
determinantes da vulnerabilidade.
45
Poderamos dizer que o uso do conceito de vulnerabilidade tem sen-
tido quando se analisa a sntese singular qual se aplica. Se o risco
probabilstico e quantitativo, a vulnerabilidade especulativa e qualitativa.
E como bem adverte Ayres,
46
relacional.
Isso nos levaria a outros conceitos, como o de busca ativa. A busca
ativa constitui uma atividade clssica das vigilncias sanitrias ou epide-
miolgicas. Constituem, em geral, atividades de equipe de sade que bus-
cam identificar casos (de enfermidades), focos de contgio e/ou contamina-
o. Como o nome indica, so atividades vigilantes de uma equipe sobre
seu territrio, quase uma espcie de grande olho epidemiolgico sobre o
lugar. Dada sua extenso e ao pressupor uma equipe com preocupao
ativa por sua populao de abrangncia tem-se utilizado em outros
casos como a busca ativa de egressos de hospitais psiquitricos, de crianas
44
Gustavo Nunes de Oliveira. O projeto teraputico como contribuio para a mudana das
prticas de sade. Mestrado. Campinas: Unicamp; 2007.
45
Jos Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres. O conceito de vulnerabilidade e as prticas
de sade: novas perspectivas e desafios. In: Dina Czeresnia (org). Promoo da Sade: conceitos,
reflexes, tendncias. Rio de Janeiro: Fiocruz, pp. 117-39 (p. 131), 2003.
46
Jos Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres. Epidemiologia, promoo da sade e o
paradoxo do risco..., cit.
| 31 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
em situaes de abandono, de pessoas que vivem na rua, etc. A busca ativa
pretende antecipar-se demanda (com tudo o que isso pode acarretar de
bom e de problemtico). Por um lado, tende a desburocratizar as equipes
que estariam mais motivadas e imbudas de sua tarefa, por outro, o grande
olho pode ser uma forma a mais de mecanismos de controle da populao.
Outro conceito que nos interessa dissemos o de ampliao da
clnica,
47
conceito formulado buscando a superao do paradigma bio-
mdico.
48
A ampliao da clnica pressupe a incorporao de outras ava-
liaes de risco (no s biolgicos, mas tambm as fragilidades subjetivas
ou de redes sociais), como assim tambm a necessidade de retomar a di-
menso de desvio da clnica, sempre vinculado a uma certa teraputica, a
um possvel prognstico ao retorno funo tica de contribuir para me-
lhorar a vida e defend-la, mas sem substituir as pessoas do protagonismo
de sua prpria trajetria.
49,50
Uma clnica que contribua com a produo
de autonomia.
Gostaramos de chamar a ateno sobre o carter do clnico como
aquilo reprimido nos discursos sanitaristas. A psicanlise nos ensina a estar
atentos quilo sobre o que no se fala. Eliminar a problematizao sobre
qual a clnica que se faz nas equipes de sade acarreta o risco de que
banalizemos a importncia dos aspectos tcnicos do trabalho. O que dife-
rencia os trabalhadores de sade do resto da populao em valor de uso (e
de troca) de sua prpria fora de trabalho a qualificao tcnica e ,
sempre, um determinado saber. Mas, tambm, acarreta o risco de que
problematizemos a clnica como uma disciplina tcnica e no como uma
prtica social, de um slido respaldo terico, mas que no se esgota na
dimenso tcnica, devendo sempre estar atenta produo de uma dimen-
so acolhedora como a outra de desvio (de transformao de um trajeto
predefinido) como muito bem sinalizaram Benevides & Passos.
51
47
Gasto Wagner de Sousa Campos. A clnica do sujeito: por uma clnica reformulada
e ampliada. In: Idem. Sade paideia. So Paulo: Hucitec, 2003.
48
Jos Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres. Sujeito, intersubjetividade e prticas em
sade. . ., cit.
49
Ibidem.
50
Rosana T. Onocko-Campos. Clnica: a palavra negada sobre as prticas clnicas nos
servios substitutivos de sade mental. Sade em Debate, vol. 25, n.
o
58, pp. 98-111, 2001.
51
Regina Benevides de Barros & Eduardo Passos. Clnica e biopoltica na experincia do
contemporneo. Revista de Psicologia Clnica, vol. 13, n.
o
1, pp. 89-100, 2001.
32 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Trabalhar em prol da transdisciplinaridade, buscar relaes mais
horizontais de poder entre os diversos saberes (mdico, popular, alterna-
tivos, psi. . .) implica por si s uma redefinio dos limites da clnica que
nos propomos.
Entrecruzando conceitos: que polticas pblicas
produzimos e que produzem nossas polticas pblicas?
Colocar em contraste os conceitos que vimos trabalhando (e de cuja
releitura nos ocupamos e responsabilizamos), deveria poder subsidiar no-
vos desenhos de polticas e a implementao de algumas estratgias de
interveno mais apropriadas ao cenrio atual e seus tipos de sofrimentos.
Para isso, faremos um exerccio que no esgota a questo, mas pre-
tende mostrar algo do qual poderamos ganhar ou perder a cada passo
nessa batalha contra a injustia e a dor intensa. Construiremos combina-
es indesejveis (as trs primeiras), ou desejveis (a quarta), de conceitos
potencialmente operacionais em nossas polticas pblicas. Com elas dese-
jamos enfatizar a possibilidade de enriquecimento de nossas prticas pol-
tico/clnicas, se fssemos capazes de aproximar esses conceitos provenien-
tes de duas tradies diferentes. Psicanlise e sade coletiva tornam-se
mais potentes juntas e ambas podem contribuir para modificar-se.
1. Vulnerabilidade sem escuta.
2. Busca ativa sem reconhecimento dos lugares e sua potncia.
3. Ampliao da clnica sem responsabilizao do sujeito (construo
de autonomia).
4. Significaes imaginrias e subjetividade de equipe: uma gesto.
Vulnerabilidade sem escuta
Deveramos perguntar-nos se isso valer-se da categoria de vulne-
rabilidade ou do uso da categoria de risco em sua pior acepo: determina-
o da condio de vulnervel exclusivamente por meio de valores e apre-
ciaes subjetivas dos agentes das polticas pblicas. Isso de fato ocorre,
assim vemos em casos como os que se concebem em certos tipos de famlias
chamadas problemticas nos territrios de nossas equipes de sade. Em
| 33 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
nome da vulnerabilidade (que pode ser consequncia de inumerveis cau-
sas), a equipe de sade da famlia, no caso brasileiro, ou as equipes dos
Centros de Ateno Primria da Sade na Argentina, realizam visitas
domiciliares. Nessas ocasies, multiplicam esforos para vincular essa fam-
lia problemtica a outros programas sociais, subsdios (bolsas) especiais,
coberturas de educao ou promoo social. Isso incide s vezes no coti-
diano desses grupos gerando algo identificvel a uma espcie de entrega
passiva, resignada, de encarnao do lugar de objeto (objeto das polticas
pblicas). Contribumos, assim, com a reproduo de figuras parentais des-
titudas, pais ineficazes simbolicamente na hora de encarar a lei em seus
lares, de mes desqualificadas em sua ternura. Enfim, objetos de nossas
aes, maneira do corpo do psictico, refm de intruses agressivas, des-
qualificadoras e alienantes do prprio desejo. Famlias assim tratadas so
levadas a maiores dificuldades para assumir uma legalidade e responsabi-
lizar-se de alojar consigo seus filhos transmitindo um legado. Esses filhos
que, sob a mesma lgica, sero rapidamente transformados em objetos de
polticas da infncia e assim at um futuro distante. Temos visto, inmeras
vezes, essas famlias se estigmatizarem e ficarem fixadas em sua impotn-
cia por causa de nossas intervenes, supostamente responsveis e bem
intencionadas. necessrio colocar em jogo uma escuta implicada com o
retorno ao rumo do prprio desejo desses pais e mes objetalizados, dessas
crianas. Devolver uma cota de responsabilidade a quem lhe cabe, dar
valor palavra, tentar fazer contratos, combinados com essas pessoas e no
dar tudo j resolvido e normatizado. Saber que sim, que possvel que em
momentos de muita fragilidade, uma famlia (um pai, ou uma me) esteja
em situao de no poder, mas tomar isto sempre como uma condio
provisria. Estar atentos aos sinais de potncia, estimular sua percepo.
Ressignificar o que eles sim sabem ou sim podem. Pensamos que essa
aposta com o outro em sua condio de ser humano,
52
em sua capacidade
de fazedor de outra cultura, de reinventar o desejo com o outro, (o desejo
o desejo do outro aponta em certo sentido necessidade de sua constru-
o coletiva), a oferta que desde uma certa tica e uma escuta respeitosa
podemos realizar, como praticantes da psicanlise, sem necessidade de
52
Franoise Dolto. A imagem inconsciente do corpo (1984). So Paulo: Perspectiva, 2001.
34 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
pensar todos os agentes de polticas pblicas como psicanalistas, nem todos
seus usurios como pacientes.
Busca ativa sem reconhecimento dos lugares
e de sua potncia
A noo de busca ativa, como sinalizamos, pressupe certa objetivi-
dade em jogo. Pois, determinam-se na equipe quais seriam as condies
que merecem esse tipo de esforo e, assim, discutem-se e padronizam-se
certos critrios de interveno. Isso sempre leva em conta os objetivos da
poltica do programa em questo: o que buscamos?. . . mosquitos, barbei-
ros, altas de hospitais psiquitricos, crianas fora da escola, crianas em
situao de rua. . .
Qualquer que seja a condio-objeto da busca ativa importan-
te recordar as conceitualizaes de Milton Santos que trabalhamos ante-
riormente. Por mais difcil que seja uma regio, por mais empobrecida
que possa estar em qualquer de seus aspectos: os recursos materiais, cultu-
rais (migraes recentes ou indesejadas, como no caso de novos bairros
criados para erradicar outros), educacionais (ndices elevados de anal-
fabetismo), sero sempre as pessoas que a vivem, que ocupam esses lu-
gares, quem podero dar-nos as pistas das potencialidades escondidas
nessas comunidades. A pobreza no nos deve fazer supor a ausncia total
de recursos.
Se se desconhece essa riqueza e variedade, a busca ativa se transfor-
ma no mais parecido polcia sanitria alem, no estaremos a coprodu-
zindo sade mas produzindo mero controle social, alimentando o grande
olho vigilante. . . Vigilncia sanitria, controle de populaes: uma tradio
que no nos interessa reeditar.
Mas, sobretudo, estaramos perdendo a possibilidade de contribuir
com a inveno e implementao de polticas como uma forma de estar no
mundo, de abonar a relao entre organizao e espontaneidade, ao na
polis respeitando a numerosidade social.
b
Um territrio onde a ao como
ncora na realidade, detonada em sua contradio, onde mudar o mundo
b
Fernando Ulloa define assim a numerosidade social: contam-se tantos sujeitos quanto
sujeitos contam.
| 35 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
possvel, no por eles (os pobres, as comunidades) seno com eles, no de
uma vez e para sempre seno em cada gesto cotidiano, na construo do
protagonismo da prpria vida.
Ampliao da clnica sem responsabilizao do sujeito
Propor-nos a realizar uma clnica ampliada significa que tentamos
estirar as bordas dessa clnica mais adiante do paradigma biomdico hege-
mnico vigente. Incluir certas anlises de vulnerabilidade, trazer a dimen-
so de uma escuta que sirva de aporte a projetos negociados, compartilha-
dos com os usurios e as comunidades.
Uma clnica menos prescritiva, que no desista, por isso, dos avanos
tecnolgicos nem desconhea a importncia de uma boa qualificao tcni-
ca e de recomendaes baseadas em evidncias. Mais ainda, uma clnica
que assuma a avaliao de riscos, sua dimenso de preveno (secundria,
terciria) e de negociao de reduo de danos: o que possvel neste caso,
para esta paciente, neste contexto? Esta clnica que, em certo sentido, se
ocupa do paciente em sua humanidade, interessa-nos por sua capacidade
de conseguir maior eficcia teraputica, ou seja: curar, melhorar, reabilitar,
mais e melhor.
53
Mas por obra e graa da prpria ampliao s vezes
facilmente a clnica resvala na tutela e no enquadramento.
H, claro, situaes em que o paciente ou a famlia em questo no
podem encarregar-se e algum tem que ajudar, isso verdade, e im-
portante como indicador de responsabilizao da equipe em relao aos
usurios cadastrados ou de sua rea de cobertura segundo cada caso. Mas,
muitas vezes, elimina-se o carter processual desse apoio circunstancial: o
que era uma ajuda passageira, torna-se um modo de operar em relao a
determinado sujeito que fica omitido, assim, da responsabilidade que lhe
incumbe. A equipe joga aqui uma espcie de cumplicidade com o usurio,
contribuindo para fix-lo no lugar de pobre, necessitado, incapacitado,
desvitalizado, impotente.
Ao mesmo tempo, muitas vezes, para no cair nisso, no se ajuda, e
renegando essa contradio se produz desassistncia. Um exemplo nos
53
Gustavo Tenrio Cunha. A construo da clnica ampliada na ateno bsica. So Paulo:
Hucitec, 2005.
36 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
ajuda a compreender: um paciente diabtico insulino-dependente queixa
por no poder ir buscar a insulina; uma agente de sade responde em
reunio de equipe na qual se discutia o caso: . . .no possvel levar a
insulina em casa a todos os diabticos por toda a vida!. . .. O exemplo
ilustra bem o mecanismo; no se tratava de todos os pacientes, nem se
concebia por toda a vida. Era o senhor fulano em um momento de fragili-
dade. Existe uma tendncia a estender a lgica sanitria a intervenes
que no necessitam ser padronizadas (por exemplo, em se tratando de um
caso de tuberculose com tratamento supervisado isso seria definido por
toda a durao do tratamento, digamos uns seis meses). Em sade h
muito mais caso por caso do que padres!
Responsabilizar-se, de uma perspectiva psicanaltica, seria, aqui, re-
tomar a marca do desejo nas impossibilidades ou repeties das que de
tanto em tanto nos queixamos equipes e pacientes. Assim, certa direo at
a autonomia do sujeito se realiza mediante a responsabilizao: busca de
sada da alienao, do gozo no sintoma, na construo de compromisso.
Aqui, uma concepo de sujeito que no seja erigida sobre o modelo do
cogito cartesiano torna-se fundamental.
54
Para alm do princpio do prazer
e dos ideais do bem comum, entender o ser humano como movido por sua
pulso de vida mas tambm de morte, ou inversamente, pulso de morte
mas tambm de vida.
Em nossa experincia, s a aceitao dessa premissa terica j ajuda
os profissionais a no se transformarem em juzes de seus pacientes, a
desistirem das abordagens meramente informativas. No porque as pes-
soas no sabem que no deixam de fumar ou no usam preservativos. No
necessrio interpretar. s vezes vale uma pergunta, ou a afirmao da
prpria castrao (a no onipotncia: no sei mais como ajud-lo, por
exemplo, pode abrir o caminho para que o sujeito se implique de novo com
a prpria vida antes entregue aos tcnicos).
54
Rosana T. Onocko-Campos & Gasto Wagner de Sousa Campos Campos. Co-
construo de autonomia: o sujeito em questo. In: Gasto Wagner de Sousa Campos Campos,
Maria Ceclia de Souza Minayo, Marco Akerman, Marcos Drumond Jnior e Yara Maria de
Carvalho (orgs.). Tratado de sade coletiva. So Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec-Ed. Fiocruz,
2006.
| 37 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Significaes imaginrias e subjetividade da equipe:
uma gesto
As questes que vimos afirmando e interrogando levam-nos nova-
mente dimenso da gesto, que entendemos no como mera adminis-
trao dos seres e das coisas, seno mais bem como um dos modos de
produzir as necessrias articulaes clnico-polticas na ingerncia do co-
tidiano. Todos os dias so dadas ordens nas cadeias de mando de nossas
polticas pblicas. As equipes se renem (mais ou menos eficazmente,
mais ou menos amigvel ou no amigavelmente) e decidem por deli-
berao ou omisso coisas importantes para a vida dos usurios, pa-
cientes, supostos beneficirios dessas mesmas polticas. E todos os dias as
pessoas do um jeito para continuar batalhando por uma vida um pouco
menos dolorida, um pouco menos sofrida. Criam, inventam, tentam novas
estratgias de viver.
Apesar de parecer bvia a coerncia entre essas duas tendncias,
muitas vezes elas se chocam, importunam-se, atropelam-se. Equipes que
tm imagens congeladas, cristalizadas e fixas de seus supostos usurios e
usurios que no mudam em nada pelo contato com os servios e as polti-
cas. A quem servimos ento? Ao statu quo?
Tentar produzir laos, redes, novas possveis significaes imagin-
rias nas comunidades (com educao, com cooperativas, com grupos de
discusso em centros de sade), parece imperioso. Torna-se necessrio con-
seguir que as equipes faam prxis em sua prpria prtica, mantendo ati-
vas e abertas as perguntas: para qu serve?, o que estamos produzindo?,
como conseguir isso se as equipes no tm um espao onde possam anali-
sar suas prprias dores de trabalhar, de ver, de ter de saber todos os dias
que existe toda essa injustia e essa desigualdade e essa pobreza de
todas as ordens? As equipes que trabalham nessas regies perifricas e
desfavorecidas necessitam ativamente de dispositivos desalienantes. Con-
forme Marx, poderamos dizer que todo o mundo precisa deles. Pode ser,
mas a vida em algumas margens uma ferida ainda mais absurda. . .
Milhes de seres humanos rogam todos os dias fazer de conta que
isso no existe. No que no saibam. Podem fingir no saber. Quem
trabalha em regies empobrecidas e degradadas no tem essa chance. Aqui
38 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
no bastam ordens, regras, organogramas ou resolues. Precisamos de
uma gesto que, produzindo articulaes poltico-clnicas, assuma-se em
seu carter de gesto incluindo a subjetividade da equipe e que assuma,
assim, sua cota de responsabilidade na produo do mundo.
Traduo de Thalita Camargo Angelucci.
| 39 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
B
Captulo 2
Ideologia e subjetividade:
a relao recalcada
Rosana Onocko Campos
O presente sempre constitudo por um
passado que o habita e por um futuro que
ele antecipa
CORNELIUS CASTORIADIS
uscamos no presente captulo interrogar os fundamentos da poltica
pblica, a partir de uma possvel abordagem pela psicanlise. Para tal,
parece-nos interessante lembrar o advento dos sistemas pblicos de sade
no mundo contemporneo. Na sade pblica, houve, desde o sculo XIX,
na Europa, forte tendncia a desenvolver polticas de saneamento e urba-
nas visando ao controle de epidemias como a do clera. A Europa no sculo
XX foi sobretudo no ps-guerra o espao pioneiro a desenvolver
polticas de Welfare State. A relao Estado-sociedade, nesses pases, prin-
cipalmente mediada pelas lutas sindicais, resultou em polticas pblicas de
cunho universal que deram cobertura grande massa trabalhadora (sade,
previdncia, educao, seguros de desemprego etc.).
Os sistemas pblicos de sade, no mundo contemporneo, podem
ser classificados segundo dois modos polares. Divergem fundamentalmen-
te em relao ao entendimento do acesso a bens e servios segundo mri-
to ou segundo necessidade e riscos; e tambm na valorizao da sade e
da educao como direito social. As concepes vigentes sobre a relao
capital-trabalho so as que marcam as caractersticas dos sistemas de pro-
teo social, classicamente diferenciados em: residual, meritocrtico, ou
39
40 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
40 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
universal. Essas formataes dependem das concepes vigentes, das acu-
mulaes histricas e das escolhas polticas feitas por diferentes pases.
O que leva uma sociedade a fazer um tipo ou outro de escolha?
Vrias disciplinas poderiam dar conta de uma tentativa de explicao: a
histria, a sociologia, a filosofia. . . Faremos nossa prpria busca interrogan-
do a psicanlise.
Freud, no incio do sculo XX, insere uma quebra na leitura iluminis-
ta da racionalidade ao nos apresentar o homem como ser de desejo, movido
por pulses a cuja lgica ele no tem acesso. As fronteiras entre sade
mental e doena so borradas pela descoberta do inconsciente: os sonhos,
os lapsos, os chistes pertencem vida de todos os seres humanos. Todos
deliramos em sonhos. E neles somos capazes de faanhas incrveis.
Para Freud, o sofrimento nos ameaa como humanos a partir
de nosso prprio corpo, condenado decadncia e dissoluo; do mun-
do externo, com suas foras esmagadoras; e do relacionamento com os
outros homens, fonte do sofrimento mais penoso. Os mecanismos defensi-
vos apareceram para proteger o ser humano da dor. O custo , s vezes, alto
demais: isolamento, neurose, uso de drogas, afinco excessivo no controle
tcnico da natureza.
Freud enxergava um mecanismo como privilegiado para a sublima-
o dos instintos, que obtm seu mximo benefcio quando consegue in-
tensificar a produo de prazer a partir do trabalho psquico ou intelectual.
Para Freud, nem a busca do amor romntico poderia se comparar, na sua
potncia sublimadora, criao e ao prazer esttico.
No livro Mal-estar na civilizao, de 1931, Freud empreende uma
crtica feroz civilizao ocidental de sua poca, e chega a uma interroga-
o que ele chama de espantosa: se a civilizao fonte de sofrimento,
deveramos voltar s rvores? Para ele, apesar do progresso tecnolgico a
partir do controle da natureza, a sociedade ocidental no conseguiu au-
mentar a satisfao prazerosa da humanidade, nem tornou seus membros
mais felizes. . .
Freud defende nesse texto que h uma dupla motivao para todas
as atividades humanas: a utilidade (o que o homem fez ao longo da histria
serve para algo) e a obteno do prazer. A substituio do poder do
indivduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo de
| 41 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 41
uma civilizao (Freud, 1997). Assim, a civilizao construda sobre uma
renncia ao instinto. Para Freud, a frustrao social domina o campo dos
relacionamentos humanos, pois, afirma ele, no se faz isso impunemente,
de onde adviria o mal-estar! Caracterstica constitutiva e no patolgica
ou excepcional da sociedade. Ao final, Eros e Ananke (amor e necessidade)
seriam os pais da civilizao humana.
Para ele, a sociedade visaria unir seus membros de maneira libidinal
e por isso:
favorece todos os caminhos pelos quais identificaes fortes possam
ser estabelecidas entre os membros da comunidade e [. . .] convoca
a libido inibida em sua finalidade,
1
de modo a fortalecer o vnculo
comunal atravs de relaes de amizade (Freud, 1997).
Por isso, o lao de amizade possvel entre alguns, que precisaro
constituir-se como alguns em relao aos outros e com os quais se cons-
truir um escoadouro, sob a forma de hostilidade contra intrusos. Isso ser
evidente entre comunidades prximas e relacionadas. Freud chamou esse
processo de narcisismo das pequenas diferenas; no fundo, uma satisfa-
o conveniente e relativamente incua
2
da inclinao para a agresso,
mediante a qual a coeso entre os membros de uma comunidade torna-se
mais fcil.
Nesse momento da obra, Freud acha importante lembrar e ressaltar
a introduo, em Mais alm do princpio do prazer, livro de 1920, do conceito
de pulso de morte.
3
Diz ele: uma parte do instinto desviada no sentido
do mundo externo e vem luz como um instinto de agressividade e destru-
tividade (Freud, 1997). O significado da evoluo da civilizao dever
doravante ser procurado como a luta permanente entre a pulso de vida e
a pulso de morte. Nessa luta consiste [. . .] a luta da espcie humana
pela vida (Freud, 1997).
1
Freud refere-se aqui libido sem finalidade genital.
2
Incua se pensada em relao ao extermnio material do outro, mas no inerte do ponto
de vista institucional, como veremos adiante.
3
Mantivemos o termo instinto nas citaes literais por ser o escolhido pela traduo.
Contudo, numerosos autores preferem se referir a esse conceito como pulso de morte. Ver a
interessante discusso sobre o assunto em Green et al. (1988).
42 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
42 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
Para a psicanlise, portanto, todo sujeito portador de algo mais do
que o cogito cartesiano. A descoberta do inconsciente marcou uma das
grandes quebras da modernidade. Assumir que as pessoas, incluindo os
pacientes e os trabalhadores da sade, tambm atuam movidos por reaes
inconscientes, que eles mesmos desconhecem e sobre as quais no tm
controle muda nossa forma de abordar os equipamentos de sade e as
relaes que ali se desenvolvem, pois estaramos sempre desconhecendo
uma poro de ns mesmos. Nosso inconsciente irrompe quando menos
esperamos em meio de uma ao racional.
No se trata, contudo, de uma polaridade consciente/inconsciente
que se corresponderia com outra racional/irracional, mas de assumirmos
o ser humano como um ser que nunca ser absolutamente dono de si, um
ser que no pode tudo, e nunca ter certeza de conhecer apuradamente o
rumo de seu desejo.
Freud mostrou que existe uma funo psquica da cultura, e que a
condio de mal-estar um inevitvel componente da civilizao ocidental.
Para alguns autores, toda relao social pressuporia jogos de linguagem,
jogos que so o mnimo de relao exigido para que haja sociedade (Lyo-
tard, 2006). Todo ser humano, desde antes de seu nascimento, colocado
como tema de uma histria contada por aqueles que o cercam, posio da
qual, mais tarde, ter de se mover em face de suas prprias escolhas. Na
criao freudiana podemos encontrar, ento, uma teoria que afirma ser o
afeto a base, o cimento, a cola de uma dada sociedade.
Seguindo essa trilha, alguns autores, apoiados na psicanlise, como
Castoriadis, postulam que a psicanlise deveria contribuir para desmasca-
rar o melodrama, a falsa tragdia da vida humana, no perseguindo, com
isso, a iluso de eliminar o lado trgico inevitvel da vida.
Perseguiria eu a quimera de querer eliminar o lado trgico da exis-
tncia humana? Parece-me mais certo que quero eliminar o melo-
drama, a falsa tragdia aquela onde a catstrofe chega sem neces-
sidade, onde tudo poderia ter-se passado de outro modo se apenas
os personagens tivessem sabido isto ou feito aquilo [. . .]. E se a
humanidade perecer um dia sob o efeito de bombas de hidrognio,
recuso-me a chamar isso de tragdia. Chamo de imbecilidade [. . .]
| 43 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 43
quando um neurtico repete pela dcima quarta vez a mesma con-
duta de fracasso [. . .] ajud-lo a sair disso eliminar de sua vida a
farsa grotesca e no a tragdia [. . .] (Castoriadis, 1986, p. 115).
Para Castoriadis, a descoberta freudiana deve ser entendida na sua
dimenso histrico-social; a questo da socializao da psiqu, da fabrica-
o social do indivduo, comea com seu nascimento. Ele destaca que Freud
e a psicanlise se inscrevem numa tradio democrtica e igualitria, pois:
o mito da morte do pai [referncia a Totem e tabu, de Freud] no
poderia jamais ser relacionado fundao da sociedade, se no in-
clusse o pacto dos irmos, portanto tambm a renncia de todos os
viventes a exercerem um domnio real e seu compromisso em alia-
rem-se para combater quem quer que isso pretendesse [. . .]. O
assassinato do pai nada e a [. . .] conduz (seno a repetio sem
fim da situao precedente) sem o pacto dos irmos [. . .] (Casto-
riadis, 1987, p. 89; grifos e aspas do autor).
nessa tradio que desejamos inscrever nossa contribuio. No
direito a ter desejos a uma vida institucional mais justa e fraterna, na pro-
cura de democracia e de participao institucional que no se baseiem
simplesmente na culpa pela morte do pai fundador, mas, sobretudo, no
pacto fraterno entre os irmos, que se comprometem a solidariamente no
deixar para ningum o exerccio absoluto do poder: tendo esse desejo que
o meu, s posso trabalhar para sua realizao (Castoriadis, 1986, p. 114).
Castoriadis (2002) elabora o conceito de significaes imaginrias
(SI), que, achamos, pode contribuir para aprimorar nossa compreenso so-
bre o funcionamento social. As significaes imaginrias teriam trs fun-
es principais:
estruturar as representaes do mundo (a mais importante a
que a sociedade tem dela mesma);
designar as finalidades da ao (o que deve e o que no deve ser
feito);
estabelecer os tipos de afetos caractersticos de uma sociedade.
44 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
44 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
Seria por meio de instituies mediadoras e dessas significaes ima-
ginrias que se instituiria um tipo de sujeito particular: o brasileiro do scu-
lo XXI diferente do ingls do comeo do sculo XX. Que imagem a
sociedade brasileira tem de si mesma (esperta? gentil?)? O que deve ou
no deve ser feito (receber propina? tirar vantagem de algum parente bem
assentado no governo de turno?)? Quais os afetos caractersticos da socie-
dade brasileira contempornea (solidariedade? concorrncia deslavada?)?
Por quais caminhos da histria, da poltica e dos afetos chegamos a ter hoje
um sistema de sade nico que de tudo, menos nico (fragmentado, cada
vez mais privatizado), e uma sistemtica transgresso das regras, quase um
esporte nacional?
Para Castoriadis, as SI operariam uma espcie de cola social, uma
identificao. Tal identificao seria uma defesa contra a morte. Assim, os
humanos responderiam questo do sofrimento apontado por Freud com
algo assim como: tudo bem, eu vou morrer, mas no a sociedade na qual eu
vivo e que contribuo para construir. Entretanto, essa defesa s operaria
quando as fossem tidas como perenes. Mas, hoje, o que h de perene?
Como se d isso em famlias recm-migradas, em meio crise financeira,
etc.? E ainda, na vertigem do contemporneo?
Ao contrrio do que se fala frequentemente, para Castoriadis, a so-
ciedade de consumo no teria criado um individualismo, seno um confor-
mismo generalizado e grudento: todos iguais. Essa uniformizao teria nos
liberado do maior trabalho da subjetividade humana: tornarmo-nos um si
mesmo. Porm, esse conformismo s pode existir ao preo de que no haja
um ncleo de identidade consistente. . . Ento, o nosso problema no seria
identitrio como pretendem algumas correntes autointituladas ps-mo-
dernas ou ps-estruturalistas, mas bem ao contrrio. Sofremos no contem-
porneo de individualidades em frangalhos, frgeis, serializadas, caren-
tes de verdadeira diferena ou originalidade.
Em razo dessa crise do processo de identificao a sociedade perde
a capacidade de se enxergar como centro de sentido e de valor. Assim,
perde-se a possibilidade de construir um ns fortemente investido. Mui-
tos s percebem a sociedade como uma entidade limitadora e de controle
que lhes teria sido imposta: iluso monstruosa e indicativa de um processo
de dessocializao. Se assim for, para que nos esforaramos de maneira
| 45 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 45
conjunta em prol de alguma mudana ou melhora social? Sendo assim,
como poderia a sociedade operar de fato com uma noo de justia social,
poltica pblica ou direito de todos? Ao mesmo tempo, esses mesmos indi-
vduos (em farrapos) dirigem a essa mesma sociedade pedidos ininterrup-
tos de assistncia. Seria possvel termos uma poltica de sade de carter
universal nesse contexto? E se sim, qual seria a universalidade possvel? A
de servios pblicos prestando assistncia, por exemplo, ou, como defen-
dem alguns autores brasileiros recentemente, uma cobertura universal
francesa, universalizando o acesso a seguros de sade, uma espcie de
Programa Universidade para Todos (ProUni) da sade?
No outro polo, est o indivduo que faz de tudo para esquecer
que um dia vai morrer e que tudo o que faz no tem o menor sentido
corre, compra, pratica esportes, v televiso; se distrai, criando una cul-
tura da cosmtica, da banalidade, contracara macabra da outra metade
social, a arrojada luta pela sobrevivncia cotidiana nas margens. Uma
sociedade assim no capaz de recriar outra forma de estar unida. A hist-
ria, para ela, uma paisagem turstica. Os sujeitos se distraem, mas no
criam cultura. Uma sociedade com tais caractersticas tem enorme dificul-
dade para se pensar, se refazer, se reinventar a si mesma. . . Cabe a per-
gunta de se se trata de uma sociedade. . . ou se est to fragmentada que
so, na verdade vrias sociedades diferentes. . . Como chegamos a esse
ponto? Como esse statu quo se reproduz? Seria esse o nico caminho?
Castoriadis responde:
Penso que existem outros fins que a sociedade pode fazer emer-
gir, reconhecendo nossa mortalidade, uma outra maneira de ver o
mundo e a mortalidade humana, a obrigao em relao s gera-
es futuras que so a contrapartida de nossas dvidas com as
geraes passadas, visto que cada um de ns s o que em
funo desses milhares de anos de trabalho e esforo humano.
Uma tal emergncia possvel, mas ela exige que a evoluo
histrica tome outro caminho e que a sociedade pare de adorme-
cer sobre uma pilha imensa de gadgets de todo tipo (Castoria-
dis, 2002, p. 160).
46 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
46 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
Continuando nossa busca pelas possveis explicaes para os meca-
nismos de identificao (e reproduo) social valeria a pena revisitar outro
autor, que est fora de moda: Louis Althusser e sua concepo sobre os
aparelhos ideolgicos de Estado (AIE).
Para Althusser, como bom marxista, toda formao social o resul-
tado de um modo de produo dominante, produto de foras produtivas
existentes e sob vigncia de determinadas relaes de produo. Toda pro-
duo requer da reproduo dos meios de produo e todas as foras pro-
dutivas precisam da reproduo da fora de trabalho. A ideia de um salrio
mnimo, por exemplo, determinada historicamente, no pelo componente
biolgico necessrio reproduo da fora de trabalho. O salrio mnimo
reconhecido pela classe capitalista e imposto pela luta proletria.
A reproduo da fora de trabalho precisaria da reproduo da qua-
lificao (escolas) e da reproduo da submisso s regras da ordem esta-
belecidas. E isso se d no mesmo processo, o da reproduo das relaes de
produo. Ao refletir sobre o aparelho repressor que Marx equipara ao
aparelho de Estado (governo, exrcito, tribunais, polcia, etc.), Althusser
(1996) destaca que o poder estatal e o aparelho de Estado devem ser
distinguidos. A luta de classes prope-se tomar o poder estatal e destruir o
aparelho de Estado, substitudo pelo aparelho de Estado proletrio. A
destruio do Estado poria fim ao poder estatal.
J os AIE constituiriam instituies distintas e especializadas. O
aparelho repressivo do Estado funciona pela violncia. Os AIE funcionam
pela ideologia. No importa se essas instituies so pblicas ou privadas.
O importante como funcionam. Os AIE so o alvo e o lugar da luta de
classes. Para Althusser (1996), o AIE dominante nas formas capitalistas
maduras o escolar. O par escola-famlia substituiu o par escola-igreja. Isso
seria condio fundamental para a reproduo das condies materiais da
produo capitalista.
No Brasil de hoje, h uma desistncia introduo ou reproduo
de valores nas escolas (independente de serem pblicas ou privadas), desis-
tncia que opera em nome do politicamente correto e de certo relativismo
cultural, como veremos. Contudo, deveramos perceber que tal desistncia
abre o caminho para a operao do mercado e da regra do salve-se quem
puder. Assim, como valorizar uma poltica pblica de carter universal?
| 47 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 47
A sociedade brasileira se aproxima, cada vez mais, em seus valores,
da norte-americana com suas pretenses meritocrticas. Quais so os valo-
res da dita nova classe C? Algum acredita que se todo esse enorme
exrcito recm-sado da pobreza pudesse escolher, elegeria um sistema de
sade pblico e de carter universal como o Sistema nico de Sade (SUS)?
Ou se pronunciaria por um sistema de seguro com prestao privada de
servios, o mesmo que atende classe abastada desde tempos imemoriais?
Tento sustentar a tese de que, criticando o papel de controle e de domina-
o da ideologia e do estruturalismo, jogamos a criana junto com a gua do
banho e perdemos a chance da utilizao positiva, de ligao, de instaura-
o de valores que criem identidade na sociedade.
Zizek (1996) resgata essas duas tradies em sua discusso sobre
ideologia, na qual aponta para duas teses principais:
Tese I: a ideologia representa as condies imaginrias dos ho-
mens com suas condies reais de existncia.
Tese II: a ideologia tem existncia material, existe em um apare-
lho e em suas prticas.
No existe prtica a no ser atravs de uma ideologia e dentro dela;
no existe ideologia exceto pelo sujeito e para o sujeito. A ideologia interpe-
la o indivduo como sujeito. Ela se impe como reconhecimento (as evidn-
cias!). preciso estar fora da ideologia para poder dizer estou (ou estive) na
ideologia, isto , no saber cientfico. Ela no tem um exterior, e, ao mesmo
tempo, no nada seno exterior.
Para tornar evidente o papel da ideologia hoje, Zizek (1996) faz a
seguinte pergunta: no mundo contemporneo, em pocas de crise climti-
ca, o que mais fcil: imaginar o fim do mundo ou o fim do capitalismo?
Como se o capitalismo fosse o nico real que sobreviver eventual cats-
trofe ecolgica mundial!
Esse autor consegue indicar vrios exemplos interessantes de fun-
cionamento ideolgico; um desses exemplos o da relao novo/velho
(des)apreendida: quando se interpreta tudo o que novo como alguma
reedio do j visto/vivido, ou, ao contrrio, algum acontecimento totalmen-
te inscrito na lgica atual se apresenta como uma ruptura radical.
48 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
48 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
Exemplo do primeiro tipo de atitude poderia ser visto na dificuldade
de analisar o fenecimento de uma noo de cidado abstrato identificado
com a ordem jurdica constitucional (queda do Leste Europeu), certa resis-
tncia do Ocidente para reconhecer a limitao da soberania estatal, sendo
evidentes para o autor pelo menos duas razes marcantes: o carter trans-
nacional da crise ecolgica e da ameaa nuclear. Exemplo do segundo tipo
de atitude poderia ser evidenciado na novidade do sexo virtual, o qual, na
realidade, s evidencia a estrutura fantasmtica de toda relao sexual j
referida por Lacan.
Zizek menciona alguns procedimentos claramente ideolgicos na
vida cotidiana. Por exemplo, quando a contingncia do real carente de
sentido internalizada, simbolizada, provida de lgica. Ao falarmos Achei
o amor de minha vida, parece que toda nossa vida pregressa ganha
sentido s por esse novo fato. No processo inverso, tambm claramente
ideolgico o fato de no se reparar na necessidade de tratar como uma
contingncia externa insignificante fatos cuja produo social se procura
iludir. Vide a crise financeira: externaliza-se o resultado (a crise) como se
ele viesse de fora, de maneira atvica, e no de uma contingncia interna
(o modo de funcionamento capitalista). Zizek aponta, ento, uma tarefa
da crtica da ideologia: discernir a necessidade oculta (a quem serve essa
contingncia?)
Criativamente revela tambm alguns truques discursivos clara-
mente ideolgicos: o do recurso retrico complexidade da situao que
nos liberaria de agir ou de tomar posio; ou o da crtica esquerdista lei,
que visa desconstruo da culpabilizao do sujeito, pois deixaria de fora
as condies de sua produo (clssico argumento que isenta o pobre, trans-
gressor da lei). Contudo, a culpa posta eternamente nas circunstncias no
nos levaria ao cinismo? O ser humano, sujeito falante, est desde sempre
empenhado em nomear e em descrever suas circunstncias. . .
Pensemos quantos desses recursos poderamos identificar em algum
funcionrio de turno da sade em alguma das esferas de governo: novas
propostas para o SUS que nada mais so que novos programas que pre-
tendem se tornar peas de marketing eleitoral, velhos e conhecidos pro-
blemas, quando em realidade estamos diante de questes totalmente
inditas, como as relaes entre degradao ecolgica e urbana e epide-
| 49 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 49
mias, por exemplo. Ou a naturalizao da inevitvel falta de recursos do
SUS, sua crnica falta de um plano de cargos e salrios, como se fossem
caractersticas advindas da vontade de alguma divindade, e no da tomada
de decises polticas e sociais de um pas enorme e poderoso. Um dos mais
poderosos e desiguais do planeta Terra.
Zizek oferece uma matriz de anlise da ideologia:
A ideologia em-si: ideologia como doutrina, destinada a nos con-
vencer de sua veracidade, mas sempre servindo a algum interesse de poder.
Seu estratagema fundamental referncia evidncia. A luta pela hege-
monia discursiva se d pelo encadeamento de significantes, nenhum dos
quais verdadeiro em si. Zizek menciona Habermas como o ltimo ex-
poente crtico dessa tradio. Para Habermas, a ideologia se expressa em
todo lugar no qual, em virtude da violncia e da dominao, se produz m
comunicao. Por isso, para ele cincia e tcnica podem ser ideolgicas. A
tarefa continua a ser a crtica da ideologia. Lidaramos com uma tenso no
refletida entre o texto enunciado explicitamente e seus pressupostos prag-
mticos. Porm, Zizek nos lembra que mais recentemente, para a anlise do
discurso, a prpria ideia de uma acesso realidade que no seja distorcido
por nenhum dispositivo discursivo ideolgica! Por exemplo, quando
Pcheux aponta para os mecanismos discursivos que geram evidncias
de sentido.
Ideologia para-si: ideologia em sua alteridade, momento sinteti-
zado pelo conceito dos aparelhos ideolgicos de Estado (Althusser) que
apontam a existncia material da ideologia nas prticas, rituais e institui-
es. O ritual cria a f, num mecanismo de fundao autopoitica retroativa.
A contrapartida foucaultiana aos AEIs seria os processos disciplinares que
funcionam como micropoderes e operam se inscrevendo no corpo, contor-
nando a ideologia, razo pela qual Foucault nunca utiliza o termo ideologia.
Foucault destaca a emergncia de baixo para cima desse poder, em um
complexo emaranhado de relaes laterais e transversais, no emanando
de um topo nico. Para Zizek (e compartilhamos de sua opinio), torna-se
muito mais difcil chegar ao cerne do poder com esse procedimento. A
concepo foucaultiana tornaria o abismo, que separa os microprocessos do
50 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
50 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
espectro do poder, intransponvel. Para Althusser, esses microprocessos
pressuporiam desde sempre a presena macia do poder de Estado, mar-
cando a relao transferencial do indivduo com o poder de Estado (o gran-
de Outro ideolgico).
Poderamos nos perguntar agora se parte dessa falta de sada para
os entraves do SUS no foi tambm reforada por uma tendncia recente
da sade coletiva brasileira de beber no campo ps-estruturalista, produ-
zindo anlises que constituem erros intelectuais ou beiram a ingenuidade.
Argumentos micropolticos sero sempre bem-vindos para a anlise de
situaes concretas de uso de poder (outra caracterstica frequentemente
negligenciada: a de que algum est sempre usando o poder indepen-
dentemente de onde seja que ele provm). Estamos tentando provocar
uma reflexo que permita dissociar a j consolidada relao micropoltica-
-subjetividade e chamando a ateno para a velha relao ideologia-subje-
tividade. . . A to comemorada entrada do sujeito no campo da sade
coletiva e a sada do estruturalismo teriam nos deixado entregues ao relati-
vismo mais brutal? Vejamos outro lembrete de Zizek.
Ideologia em-si-e-para-si: nessa externalizao do conceito de
ideologia, ela se reflete sobre si mesma, produzindo a desintegrao, a au-
tolimitao e a autodisperso da noo de ideologia. Ela j no mais vista
como um mecanismo de reproduo social, nem como o cimento da socie-
dade. No seu lugar, atuariam supostos mecanismos extraideolgicos, como
o culto a franqueza liberal em matria de opinies do capitalismo tardio
ps-moderno, no qual todo mundo livre para acreditar no que bem quiser
(pois isso s diz respeito privacidade e aos direitos de cada um) e no qual
encoberta toda possibilidade de anlise de pressupostos ideolgicos, he-
donistas e patticos. Na verdade, sustenta Zizek (1996), continua a ser
uma operao ideolgica (sobre uma srie de valores, sobre a vida real e
sobre as liberdades pessoais, etc.) que nada mais faz do que colaborar para
a reproduo das relaes sociais existentes.
Uma operao formal de aspecto de profundidade ento denun-
ciada por Zizek (1996) como defesa para fugir de um debate mais profun-
do ou como defesa contra uma verdadeira tomada de posio. Podemos
conferir isso em qualquer entrevista a algum tecnoburocrata da sade, que,
| 51 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 51
quando perguntado sobre algum desafio do SUS, provavelmente respon-
der assim: veja bem, o tema muito complexo. . ..
Essa atualidade do conceito de ideologia explica a pressa em renun-
ciar ao conceito de ideologia hoje (uma funo ento!). O grande paradoxo
que a sada da ideologia parece indicar a escravizao a ela. Haveria
sempre um espao ideolgico no modo como o contedo se relaciona com a
postura subjetiva envolvida em seu processo de enunciao. Quando o
contedo empregado a favor de alguma forma de dominao social (po-
der, explorao), a legitimao da relao de dominao precisa permanecer
oculta. Por exemplo, mentir sob o disfarce da verdade (invadimos o Iraque
em defesa dos direitos humanos). Para complicar nossa anlise, algo pode
ser verdadeiro e ideolgico (ao mesmo tempo!).
Mas ento existir alguma realidade que no se desintegre no mo-
mento em que dela retiramos seu componente ideolgico? O problema
que a noo de ideologia torna-se forte demais, comea a abarcar tudo. . .
Aqui outra armadilha ps-moderna revelada a eliminao da noo de
realidade, pois tudo seriam fices simblicas, pluralidade discursivas, e
nunca a realidade.
Afirma Zizek:
essa soluo ps-moderna, rpida e astuta, a ideologia por exceln-
cia. Tudo depende de persistirmos nesta posio impossvel: embora
nenhuma linha demarcatria clara separe a ideologia e a realidade,
embora a ideologia j esteja em ao em tudo que vivenciamos como
realidade, devemos, ainda assim, sustentar a tenso que mantm
viva a crtica da ideologia (Zizek, 1996, p. 22).
Para sustentar a tenso que mantm viva a crtica da ideologia, Zizek
prope manter um lugar vazio de onde se possa denunci-la. E a estaria,
para ele, o papel da psicanlise: conceituar um buraco existente no mate-
rialismo histrico, como constitutivo e irredutvel. Insistindo em que a
inveno democrtica exige a afirmao do lugar vazio e puramente simb-
lico do poder que ningum pode nunca ocupar.
Para certa crtica psicanlise, Freud teria interiorizado a proble-
mtica social: em vez de criticar a sociedade burguesa e patriarcal e as
52 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
52 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
condies sociais que levaram guerra, nos ofereceu complexos libidinais
inconscientes, pulso de morte, etc. Contudo, o sujeito no deveria evitar o
confronto com o real de seu desejo. Colocando as causas fora, de si mes-
mo ele no mais se compromete com o que lhe acontece: no se organiza,
no se junta com outros no lao social para produzir mudanas.
morte do pai da horda primitiva alguns atribuem a afirmativa de
que o social impossvel. Para o lacanismo, a tentativa de fazer funcionar o
lugar do pai (da lei, da gesto) fracassaria sempre porque o pacto social foi
selado pela culpa. Como vimos, para outros autores, o pacto social o pacto
dos irmos, que sela o nascimento do social com o compromisso de criar
uma sociedade na qual nunca jamais ningum voltaria a ter todo o poder
(Castoriadis, 1986). Pacto fundado no na culpa, ento, seno na solida-
riedade. Disse Castoriadis: Lacan e os lacanianos dizem a verdade quan-
do dizem que o Real (isto , o social) impossvel. Esquecem apenas de
acrescentar: para eles (1987, p. 90).
Outro autor que revisitamos em nossa busca foi Paul Ricur. Para
ele, assim como para Castoriadis, haveria uma funo positiva da ideologia.
E essa funo positiva est ligada necessidade sempre existente para um
dado grupo social de conferir uma imagem de si mesmo, de representar-se.
Essa funo estaria sempre ligada distncia que separa a memria social
de um acontecimento fundador que se trata de repetir para reafirmar os
valores originais.
Seu papel no somente o de difundir a convico para alm do
crculo dos pais fundadores, para convert-la em um credo de todo o
grupo, mas tambm o de preservar sua energia inicial para alm do
perodo de efervescncia (Ricur, 1990, p. 68).
Para Ricur seria ento muito cedo que comea o fenmeno ideolgi-
co, pois no haveria grupo social sem uma relao de interpretao com seu
prprio advento. Por isso, para ele, a ideologia , para o grupo social, o que
um motivo para o sujeito. Seria por meio dela que comea o consenso e a
racionalizao. Ela s continua sendo mobilizadora sob a condio de ser
justificadora. Para Ricur, a ideologia argumenta. Empreendimentos e ins-
tituies recebem da ideologia a crena no carter justo e necessrio de sua
prpria existncia.
| 53 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 53
Pensemos na saga da criao do SUS. Com variantes mnimas, ela
sempre contada de forma meio pica, quase ufanista, na qual nossos pais
fundadores nos deixaram o triunfo de um SUS, inserido na Constituio
como sade direito de todos e dever do Estado. No haveria nessa saga,
que repetimos no movimento sanitrio como um mantra, nenhuma falha,
nenhum erro poltico que tenha nada a ver com a situao do SUS atual.
Todas as maldades, todos os erros, todas as omisses, todas as nossas li-
mitaes teriam acontecido depois. Da mesma forma, no teramos res-
ponsabilidade nenhuma (coloco-me em uma primeira pessoa do plural
equivalente a ns do movimento sanitrio) sobre o que vem acontecendo
nos ltimos vinte e trs anos apesar de sempre haver membros consp-
cuos do movimento nas vrias esferas de governo, como gestores, legislado-
res ou assessores.
Ricur afirma que:
a ideologia depende daquilo que poderamos chamar de uma teoria
da motivao social. Ela para a prxis social aquilo que para um
projeto individual um motivo um motivo ao mesmo tempo aqui-
lo que justifica e que compromete [. . .]. Ela movida pelo desejo de
demonstrar que o grupo que a professa tem razo de ser o que .
Contudo no se deve tirar da, de modo apresado, um argumento
contra a ideologia: seu papel mediador permanece insubstituvel; ele
se exprime da seguinte forma: a ideologia sempre mais que um
reflexo, na medida em que tambm justificao e projeto (Ricur,
1990, pp. 68-9).
Retomemos agora a interrogao sobre as polticas pblicas no con-
temporneo e a ideologia hoje. Qual seria seu valor como operador social?
Como sermos portadores de projetos sem sermos ideologizantes, ou ma-
nipuladores, ou ainda, autoritrios? Como no perder o conceito na tenta-
tiva de ampliar o campo das polticas pblicas com o ingresso de novas
categorias de estudo, como tem sido, na sade coletiva brasileira, a entrada
das discusses sobre as micropolticas e o tema do sujeito?
Ricur tambm nos lembra que a ideologia consegue conservar seu
dinamismo, pois sempre simplificadora e esquemtica. Ela uma grelha,
um cdigo para se dar uma viso de conjunto. O nvel epistemolgico da
54 | Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
54 | Ideologia e subjetividade: a relao recalcada
ideologia o da opinio, o da dxa dos gregos. Ou, em termos freudianos, o
momento da racionalizao. Por isso, ela se exprime de maneira retrica, de
forma provvel e persuasiva. Mas, diz-nos Ricur: mais uma vez no
devemos ser demasiadamente apresados em denunciar a fraude ou pato-
logia: esse esquematismo, essa idealizao, essa retrica, so o preo a ser
pago pela eficcia social das ideias (1990, p. 70).
por esse motivo que Ricur sustenta sua tese de que a ideologia
operatria e no temtica. Assim pensaramos atravs dela mais do que
sobre ela. Da derivaria o carter no reflexivo e no transparente da
ideologia, tema central para podermos pensar na interpretao. Para o fil-
sofo francs isso explica que nem tudo pode ser tematizado e se tornar
objeto de pensamento para um determinado grupo e num determina-
do momento histrico. Pelo mesmo motivo toda interpretao se produz
em um campo limitado. De onde Ricur deriva outra funo da ideolo-
gia (alm, pois, da identificao e da dominao) que ele denomina funo
de deformao.
Algumas interpretaes de nossa histria recente poderiam se ins-
crever nessa modalidade de operatria ideolgica. Inmeros gestores de
sade, supostamente bem-intencionados, declaram ocupar espaos de go-
verno pelo bem do SUS quando na realidade acabam sendo cmplices de
seu desmanche.
O SUS definha emparedado entre a saga dos fundadores que nunca
erraram e a dos gestores que nada podem nem sequer se demitir. Porm j
esto depostos, pois no ocupam a funo que seria cabvel esperar do pos-
to (claro que h excees, estamos generalizando para construir uma hip-
tese). No meio, muitos do movimento sanitrio assistimos crnica dessa
morte anunciada como se nada pudssemos fazer. Ento, como intervir?
Por um lado, achamos que a poltica de sade no pode procurar sua
potncia longe da clnica ou em estratgias neocolonizadoras. Tampouco a
achar se desiste de produzir mudanas. Pensamos que nossas prticas
deveriam se afirmar como experincia limite entre o psquico e o social,
entre o que diz respeito a uma interioridade e s formas de organizao da
sociedade, entre a clnica e a poltica. Uma compreenso da produo de
sade que, comprometida com a defesa da vida, se disponha a interferir e
ser por sua vez interferida. Assim, talvez, possamos sair das receitas
| 55 Sade Coletiva e Psicanlise: entrecruzando conceitos
Ideologia e subjetividade: a relao recalcada | 55
prontas, possamos interromper a viso estereotipada de ns e dos outros
(os pobres, os necessitados, os neoclasse mdia que no sabem), na qual
sempre so os outros os que tm de mudar, aprender, incorporar. . . Como
produzir mudanas sem mudarmos a ns mesmos? Isso nunca ocorrer se
ficamos defendidos em nossos prprios valores e modus operandis j esta-
belecidos. Isso nos coloca na trilha de nossa prpria mudana. Esforarmo-
-nos para estimular processos de mudana, para produzir novas leituras
sobre ns mesmos e sobre o mundo nas comunidades , sem dvida, fun-
damental. Porm, devemos retomar o debate ideolgico, a construo de
valores, a dimenso macropoltica. Claro que tal dimenso sempre estar
de mos dadas com sua contrapartida micropoltica, no negamos isso. Mas,
se em nossa funo de intelectuais, de formadores, desistimos de pro-
duzir valor, de colocar as perguntas fundamentais, ento, a sorte do SUS
est traada.
Entendo por poltica a atividade coletiva, refletida e lcida, que surge
a partir do momento em que colocada a questo da validade de
direito das instituies. Nossas leis so justas? Nossa Constituio
justa?Ela boa? Mas boa em relao a qu? Justa em relao a qu?
E precisamente por essas perguntas interminveis que se constitui o
objeto da verdadeira poltica, que pressupe, pois, o questionamento
das instituies existentes seja para confirm-las no todo, seja em
parte (Castoriadis, 2002, p. 138).
Damos relevncia gesto nesse processo. Uma importante parte da
construo das significaes imaginrias que poderiam sustentar um siste-
ma nico mais justo se d, como vimos, nas prticas e pelas prticas.
Assim, se a populao pode vir a defender uma poltica pblica inclusiva e
justa, ser por sentir concretamente seus efeitos como ganhos. por isso
que falamos de significaes imaginrias e subjetividade: uma gesto
subjetividade.
Referncias
Althusser, L. Ideologia e aparelhos ideolgicos de Estado. In: i ek, S. (org.). Um
mapa da ideologia. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
56 | Ideologia e subjetividade: a relao
recalcada
Castoriadis, C. A instituio imaginria da sociedade. Trad. Guy
Reynaud. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1986.
. As encruzilhadas do labirinto 1. Trad. Carmen Guedes &
Rosa Boaventura.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
. A ascenso da insignificncia: encruzilhadas
no labirinto IV. Trad. Regina Vascon-
cellos. So Paulo: Paz e Terra, 2002.
Freud, S. O mal-estar na civilizao [1931]. Rio de Janeiro: Imago,
1997 (Edio
eletrnica brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud).
Green et al. A pulso de morte. Trad.
Claudia Berliner. So Paulo: Escuta, 1988.
Lyotard, J. F. A condio ps-moderna.
Trad. Ricardo Corra Barbosa. Rio de
Janeiro: Jos Olimpio, 2006.
Ricur, P. Interpretao e ideologia. Trad. e apresentao de Hilton
Japiassu. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1990.
Zizek, S. Um mapa da ideologia. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:
Contraponto,
1996.
D
Captulo 3
Humano demasiado humano:
uma abordagem do mal-estar
na instituio hospitalar*
Rosana Onocko Campos
Quando se considera que por centenas de
milhares de anos o homem foi um animal
extremamente sujeito ao temor, e que qual-
quer coisa repentina ou inesperada o prepa-
rava para a luta, e talvez para a morte, e
mesmo depois, nas relaes sociais, toda
seguridade repousava sobre o esperado, so-
bre o tradicional no pensar e no atuar, ento,
no deve surpreender-nos que, diante de
tudo o que seja repentino e inesperado em
palavra e ao, quando sobrevive sem peri-
go ou dano, o homem se desafogue e pas-
se ao oposto do temor: o ser encolhido e
trmulo de medo ergue e expande-se o
homem ri.
FRIEDRI CH NIETZSCH E, 1886. Hu-
mano demasiado humano.
izer que um hospital deve ser humanizado parece bvio, se pensamos
que, realmente, o hospital, um, todos, a instituio hospitalar na rea-
lidade, existe para atender pessoas e criado por pessoas. Sua apario
social foi determinada por questes profundamente humanas.
* Publicado originalmente na Coleo Sade em Debate, da Editora Lugar, Buenos
Aires, Argentina, 2004. Reedio autorizada pelos Editores.
57
58 | Humano demasiado humano
Existem numerosas abordagens da organizao hospitalar, analisan-
do sua constituio histrica e social, sua transformao no tempo, seus
valores, sua complexidade, sua dependncia do saber mdico, etc. (OPS,
1989; Pitta, 1990; Ribeiro, 1993).
Em geral associamos o humano a um valor positivo em si. Algum
humanitrio quando se mostra solidrio e compassivo, por exemplo. E quan-
do algum cria intrigas, calnias ou preso pela paixo e pela inveja, no
humano? A violncia, a desigualdade social, o abuso de poder, no so
fenmenos profundamente humanos? Algum j viu seu gato com inveja
do alimento balanceado do gato do vizinho?
Para pensar um lugar para o conceito humanizado no hospital,
preciso desestabilizar a noo do sentido comum que sustenta o humano
associado a um valor positivo em si. Somos humanos, nunca seremos so-
mente bons.
O hospital moderno massacra seus sujeitos. Todos os seus sujeitos. E
todos eles de maneira diferente, segundo sua insero institucional. Os
usurios foram reduzidos a objeto h bastante tempo pela medicina, mas
em nenhum espao de ateno sade isso to forte e evidente como na
mquina hospitalar. No hospital contemporneo, os equipamentos tecno-
lgicos (incluo aqui desde aparatos de ressonncia magntica at o saber
mdico) subestimam o valor das perguntas mais bsicas. Quanto vale uma
vida? E quanto custa?
As vidas que se jogam dia a dia nos hospitais modernos no so
unicamente as dos pacientes. Mas so tambm as dos pacientes. Nossa
vida se ganha e se perde muito mais do que na tnue divisria entre a vida
e a morte. evidente que quando algum morre marca-se um ponto sem
regresso. Mas morremos e vivemos em numerosas situaes nas quais no
esto em jogo nossas batidas cardacos, seno o pulso do nosso desejo.
Preterido, esquecido, escondido embaixo de muitas camadas impossveis.
Esses impossveis em boa medida so produzidos. Material e subje-
tivamente produzidos. A eles rendemo-nos, levantando o altar de nossa
impotncia. O possvel consegue-se tensionando as fronteiras do imposs-
vel. Forando-as, num esforo consciente e deliberado. Esforo que para ter
sentido deve ser agenciado por um grupo, por um coletivo de humanos. Um
esforo que pode, e deve, tambm, ser produzido.
| 59 Humano, demasiado humano
O que temos feito, hegemonicamente, na gesto, com nossa humani-
dade? Expuls-la do foco de nosso objeto? Trabalhamos durante anos
como se uma organizao pudesse ser pensada vazia de gente. Ou somente
ocupada por pessoas domesticadas pela racionalidade gerencial hegemnica
(Campos, 2000). Nossa humanidade resiste a ns mesmos. Nossas organiza-
es continuam cheias de paixes, rancores, concorrncias, narcisismos feri-
dos e floridos. Inevitavelmente levamos nossa humanidade a todas partes.
Sem dvida, se h um humano fragilizado, o semelhante acometi-
do por uma doena, ou uma dor, ou qualquer sintoma que lhe produza um
sofrimento que, estando no corpo, ou alm do corpo, sempre lhe evocar a
fantasia da prpria morte. Por isso defendemos uma verdadeira centralidade
no usurio, centralidade que tem que ver com o reconhecimento desse fato.
A senhora poliqueixosa, que tortura todas as noites os mesmos mdicos de
planto, pode no ter nenhum risco iminente de morte. Mas sem dvida
sofre. Que fazemos com esse sofrimento na maioria das vezes? Colocamo-
-lo de lado como resto, o banalizamos, rimos um pouco s suas costas. . .
Por que fazemos isso? A descrio anterior poderia parecer a de um
bando de sdicos organizados, para quem nunca entrou num planto de
hospital. E sabemos que ns no somos sdicos. Somos gente decente,
trabalhadores, que at elegemos ser mdicos, ou nutricionistas, ou enfer-
meiros porque tnhamos um compromisso com o combate dor e ao sofri-
mento. Queremos salvar vidas!
Ocorre que o processo de salvar vidas realiza-se custa de gastar
nossa prpria vida. Ou seno, que estamos fazendo quando vendemos
nossa fora de trabalho? No estamos trocando tempo e suor por um
salrio? E esse salrio, no o usamos para reproduzir nossa prpria vida
pessoal, o humano que somos fora do trabalho?
Quando trabalhamos em servios de sade, sofremos um desgaste
que diferente do desgaste do operrio. Nas organizaes de sade que
trabalham diretamente com gente, uma grande parte do cansao dos traba-
lhadores deve-se permanente exposio ao sofrimento e morte; da a
necessidade de repor-se.
Se toda instituio nos causa mal-estar, os servios de sade em geral,
e o hospital em particular, pem-nos beira do sofrimento. Mal-estar e sofri-
mento institucional no so o mesmo, ainda que suas fronteiras se paream.
60 | Humano demasiado humano
Mal-estar na cultura e sofrimento no hospital
Freud, em O mal-estar na cultura (1997), mostrou que existe um
preo que todos os humanos pagam por concordar com a vida social. A
substituio do poder de um indivduo pelo poder de uma comunidade
constitui o passo decisivo de uma civilizao; assim as civilizaes so cons-
trudas sobre uma renncia ao instinto. Para Freud, a frustrao domina
o campo das relaes humanas, pois dir no se faz isso impunemen-
te. Esse mal-estar constitutivo do viver em sociedade e indissocivel
de nossa condio de humanidade. Esse mal-estar inevitvel. Desde
que nascemos, passamos a vida tentando aprender a suport-lo. Os hos-
pitais, como parcelas do social que so, no esto isentos dele. Mas
necessrio diferenciar mal-estar de sofrimento. O sofrimento psquico
produzido pela vida institucional diferente do mal-estar, ainda que
suas fronteiras se confundam muitas vezes, possvel, e til, diferen-
ciar suas polaridades.
Outro psicanalista, Kas (1991), reconhece as instituies como
portadoras de um valor constitutivo para a vida psquica. A instituio
deve ser permanente: com isso ela assegura funes estveis e necessrias
para a vida social e psquica (Kas, p. 23). Para esse autor existe uma
aderncia narcisista ao objeto institucional. Isso quer dizer que nos estru-
turamos como humanos tambm (e fundamentalmente) por nossa inser-
o institucional.
O objeto institucional a que se refere Kes, est constitudo pelos
objetivos institucionais: a misso, diriam alguns planejadores; a tarefa prim-
ria, diriam alguns institucionalistas; a produo de valor de uso, diria Cam-
pos (2000). Em realidade, seja desde a gesto, seja desde a anlise institucio-
nal, quando definimos uma misso com um grupo de uma organizao, ou
suas tarefas primrias, estamos contribuindo para a apario da aderncia
narcisista, de um mecanismo psquico pelo qual as pessoas se autorizam a
dizer, ou a pensar, ou a sentir que trabalhar a vale a pena e tem um sentido.
Atravs desse mecanismo, as pessoas sentem-se parte da organizao.
Kas tambm nos dir que essa mesma aderncia narcisista, to
importante, fonte de problemas. Esses se manifestam no momento das
reformas. A reforma, qualquer reforma, proposta de mudana ou refor-
| 61 Humano, demasiado humano
mulao, pe em xeque o processo de identificao entre a organizao
e seus agentes. Novos referenciais no esto ainda disponveis para iden-
tificar-se, e a angstia provocada pela mudana, geralmente, se expres-
sa por meio de reaes psicossomticas ou ideolgicas. Ou seja: as pessoas
adoecem, ou renunciam, ou faltam muito ao trabalho, ou fazem discursos
cheios de valores ideologizados. Essa sada para a ideologizao (seja de
direita ou de esquerda) fonte de sofrimento. So os discursos prontos,
cheios de palavras de ordem que impedem sua problematizao ou anli-
se: uma coisa ou outra boa ou m em si, porque sim. Esse o exemplo
tpico do comportamento ideologizado. Em nossa prtica, vimos suceder
esse mecanismo com muita frequncia e pensamos que de central im-
portncia reconhecer esse comportamento como um sintoma de sofrimen-
to. Como todo sintoma, ele serve para alguma coisa e no pode ser retirado
por decreto, nem sem consequncias. Mas no se acaba por a a possi-
bilidade de sofrimento. Kas identifica ademais quatro formas de sofri-
mento institucional:
1. Sofrimento do inextricvel: ao mesmo tempo que se constitui uma
aderncia narcisista necessria que traz junto com ela o benefcio do vncu-
lo, aparece a indiferenciao e o que este autor chama de angstia de
dissoluo. Dito de outra forma, o efeito de vestir a camisa: ok, sou deste
hospital, mas ento quem sou?
2. Sofrimento associado a uma perturbao da funo instituinte:
uma parte do sofrimento deve-se perda da iluso. Para Kas, a falha da
iluso institucional debilita o espao psquico comum dos investimentos
imaginrios que sustentam o projeto da instituio. Ou como diria Testa
(1997), necessrio saber para qu trabalhamos, lutamos e sofremos na
organizao. Toda organizao cria uma mitologia de sua origem, a falha por
excesso, ou por falta, essa mitologia institucional ser fonte de sofrimento.
Toda instituio, por outro lado, administrar uma parte de seu prprio
reprimido nesse vnculo. Kas chama a isso de pacto denegatrio; so essas
as zonas escuras, o lugar da utopia e o no lugar do vnculo. Existe tambm
uma tendncia do mito fundador a criar uma narrativa de filiao fixa, em
outras palavras: a histria oficial. Se as instituies no se perguntam sobre
essas questes, correm o risco de inscrev-las em seu funcionamento. (Ou
dito de outra maneira: quando isso no se fala, isso se atua).
62 | Humano demasiado humano
3. Sofrimento relacionado a obstculos para a realizao da tare-
fa primria: existe, nas instituies de sade (e educao), uma tendncia
a defender os sujeitos de sua prpria tarefa. Exemplos disso so as horas
que se gastam em atividades no destinadas assistncia. Mdicos que
passam horas enchendo formulrios, enfermeiros que gastam seu tem-
po em outras coisas que no so o atendimento dos pacientes. Kas diz
que isso no casual. A experincia emprica confirma-o. Existem pro-
cessos identificatrios entre tcnicos e usurios que pem em risco a auto-
estima do pessoal. A instituio acaba criando mecanismos que protegem
os agentes da prpria tarefa. Outros obstculos realizao da tarefa
primria so as carncias bsicas de insumos, pessoal, etc. A ideia sub-
jacente, o no dito, dessa forma, que o trabalho pouco valorizado ou
no vale a pena. Em contextos como esses, a autoestima dos profissionais
fica debilitada.
Geralmente, e apesar de bem-intencionadas, as mudanas de ges-
to ocorrem e nos encontramos com um servio empobrecido, degradado
em sua infraestrutura ou sem recursos bsicos para realizar as tarefas. Com
frequncia, como novos gestores, em situaes como essa, chegamos e pro-
pomos produzir mudanas na estrutura hospitalar; desconhecemos assim
esse momento psquico particular e propomos reformas sem dar tempo,
nem espao, para que seja possvel a reconstruo de uma verdadeira ade-
rncia narcisista. Do ponto de vista subjetivo, isso insuportvel. Seria
necessrio, primeiro e antes, dar aportes suficientemente trficos (Kas,
1991) para essa reconstruo narcisista para depois, sim, poder trabalhar as
propostas de reformas.
4. Sofrimento associado manuteno do espao psquico: para Kas,
o espao psquico o espao do ser-conjunto. Espao construdo entre os
sujeitos, espao intermedirio. Esse espao diminui com a prevalncia do
institudo, com as estratgias de dominao, ou com a sensao de amea-
a. Geralmente, ideias inovadoras sero cooptadas pelo estabelecimen-
to institucional e postas ao servio da mentira institucional (Bion, apud
Kas, 1991).
| 63 Humano, demasiado humano
Projetos institucionais como fenmenos transicionais
humanos
juguemos en el bosque mientras el lobo no
est, lobo est? (antiga cantiga infantil)
De alguma maneira sempre est; escondido em algum lugar, vestin-
do as calas. . . O importante perguntar-nos o que fazemos no espao
intermedirio. A, nesse espao, enquanto o lobo no chega, enquanto est
ocupado com outras coisas.
Winnicott (1999) elaborou sua teoria sobre os processos transicio-
nais a partir de sua descrio inicial dos objetos transicionais nascrianas: a
manta ou o urso que as crianas carregam de c para l. Esse objeto, para as
crianas, no est dentro nem fora, e contm um paradoxo que no deve ser
resolvido. Dir Winnicott: nunca perguntaremos ao menino se esse objeto
lhe foi dado ou se ele o inventou.
Esse autor vincular os processos transicionais ao que ele chama de
regio da experincia. Espao em que ns gastamos pelo menos um tero
de nossa vida e que est fortemente relacionado com o papel da iluso.
com base em nossas iluses comuns que ns adultos conseguimos agrupar-
-nos. No existe objetividade possvel, nosso espao cultural no est nem
dentro nem fora, seno no transicional.
Defendemos que os projetos humanos so tipicamente atividades
do espao transicional (Onocko, 2001b). Tpicos processos transicionais.
Como tais, requerero um suporte suficientemente trfico para poderem
ser experimentados. Espaos protegidos, onde alguns paradoxos possam
ser tolerados e a iluso institucional recriada. Para Winnicott, o que carac-
teriza os fenmenos transicionais (como brincar) o fazer, no o puro pen-
sar. Esses processos requerem um lugar e um tempo.
O papel de suporte (holding) necessrio precisa, muitas vezes e du-
rante algum tempo, de algum que o desempenhe. Uma vez desencadea-
do o processo, o prprio grupo pode constituir-se nesse suporte. No en-
tanto, inicialmente e com frequncia, uma ajuda externa ao grupo ser
fundamental para a criao desse espao protegido. Cada organizao po-
der resolver segundo suas possibilidades quem desempenhe esse papel.
64 | Humano demasiado humano
Um supervisor institucional, um assessor, ou at mesmo um gerente ou
coordenador de outro grupo, segundo o caso. O importante ser a postura
dessa figura.
Gesto hospitalar: produzindo valor de uso e sujeitos
Para Campos (2000), as instituies de sade existem para produzir
valor de uso e realizao pessoal dos trabalhadores. Ou seja, tm uma
dupla finalidade. Essa teoria da dupla finalidade permite que trabalhemos
com nfase nos fins sem acabar com os sujeitos que ali trabalham. Dessa
maneira, a gesto passa a incumbir-se de uma funo complexa que j no
mais a mera administrao de recursos, nem pode mais reduzir seus
sujeitos a recursos humanos. A realizao pessoal dos trabalhadores passa
a ser tambm um objetivo da instituio e no simplesmente um meio para
aumentar a produo. Uma instituio que produz, sim, mas produz valo-
res de uso e sujeitos. Para isso, necessria uma teoria sobre a produo de
sujeitos que no se acabe na primeira infncia. Os espaos institucionais, as
relaes de trabalho e de execuo tambm produzem subjetividade o
tempo todo (Campos, 2000). No estamos prontos ao sair do dipo, nem
podemos mudar e transformar-nos somente no div do psicanalista.
Essa concepo de instituio de Campos, que nos de utilidade
para repensar a gesto e o planejamento, est ligada viso de instituio
de alguns psicanalistas. Psicanalistas que inclumos numa linha narrativa
particular, dentro da prpria psicanlise, por enfatizar o valor estrutural
dos espaos institucionais, como espaos privilegiados de controle social.
Entre eles o prprio Freud, Franoise Dolto, o j citado Kas e Cornelius
Castoriadis.
Freud, em O mal-estar na cultura, dir que nem a busca do amor
pode ser comparada, em sua potncia sublimadora, ao prazer produzido
pelo trabalho criativo e esttico.
Castoriadis far uma leitura de Freud em Totem e tabu, para dizer
que o mito da morte do pai no poderia jamais ser relacionado fundao
da sociedade, se no inclusse o pacto dos irmos, portanto, tambm a renn-
cia de todos os viventes a exercer o domnio real e seu compromisso de
aliar-se para combater a quem queira que pretenda isso [. . .]. O assassi-
nato do pai nada e a nada conduz (seno repetio sem fim da situao
| 65 Humano, demasiado humano
precedente) sem o pacto dos irmos [. . .] (Castoriadis, 1987, p. 89;
grifos do autor).
nessa tradio libertria da psicanlise, no direito a defender uma
vida social mais justa e fraterna que queremos inscrever nossa contribui-
o. Pensamos que o planejamento em sade no pode manter-se alheio
a essas questes. Todo projeto s ser possvel num espao transicional,
de experincia, que nunca ser objetivo, que no est dentro nem fora. Por
isso impossvel recort-lo objetivamente. Todo querer estar sempre
nessa regio intermediria, marcado indefectivelmente pela percepo de
mundo, pela postura subjetiva e pela relao entre os sujeitos, que assu-
mem num dado lugar e tempo e pelos condicionantes do real concreto
(Onocko, 2001b).
A ampliao da clnica: uma questo de eficcia
Na instituio hospitalar, outra parte de sua produo, a de valor de
uso, est fortemente unida s concepes clnicas a vigentes e ao compro-
misso com a produo de sade como eficcia.
Campos (2000) resgata Marx e sua concepo de valor de uso para
aplic-la aos servios. O valor de uso permanente e socialmente produzi-
do. Um valor que muda o tempo todo e sobre o qual, como trabalhadores da
sade, tambm podemos influir. No natural, nem est dado a priori. De
um referencial marxista (Marx, 1985), o no reconhecimento da produo
de valor de uso e de mais-valia o que caracteriza a alienao. Dito de
outra forma: os trabalhadores no sabem para que trabalham, ignoram que,
no mesmo momento e ato que produzem valor de troca, esto produzindo
valor de uso, mais-valia e seu prprio desgaste.No caso dos servios assis-
tenciais, como os hospitais, defendemos que o valor de uso estar sempre
vinculado s modalidades clnicas existentes de cada lugar e que isso uma
questo de eficcia (Onocko, 2001b). Nos grandes hospitais contempor-
neos, mas tambm em muitssimos outros servios de sade, faz tempo que
a lgica da produo de procedimentos substituiu a de produo de sade.
Os gestores e planejadores tm uma parte de responsabilidade nis-
so, j que durante anos se difundiu a ideia (hoje hegemnica) de que os
servios precisam ser eficientes.
A eficincia uma medida relacionada produo no tempo, em
66 | Humano demasiado humano
relao a seu custo. Quanto mais produzo, em menos tempo e a menor
preo, mais eficiente sou. Mas a grande pergunta : produzo mais de qu?
Produzo para qu?
Testa nos diz: a eficincia satisfaz os requerimentos no terreno
econmico geral, em base ao suposto de que o que se produz da quali-
dade adequada [. . .] no caso da sade conveniente mais bem indis-
pensvel introduzir a categoria eficcia, definindo-a como a probabili-
dade de que uma atividade atinja o mximo de seu efeito potencial [. . .]
(1993, p. 183).
Ensinaram-nos a produzir procedimentos, que so coisas fceis de
contar, para mostrar produtividade: consultas, radiografias, suturas, endos-
copias. Mas esses procedimentos, o que produzem? Digo, essas consultas
produzem sade? Melhoram a vida das pessoas? Diminuem seu risco de
morrer ou sua dor e sofrimento?
Sabemos que muitas dessas consultas s produzem mais pedidos de
procedimentos e de novas consultas. Quando avaliamos uma planilha de
produo de um planto de urgncias, por exemplo, ou de qualquer ambu-
latrio, poderemos ver, com grandes chances, que somos relativamente efi-
cientes. Responder sobre a eficcia sem dvida bem mais difcil.
Como quase nunca incorporamos a dimenso subjetiva no atendi-
mento, tambm no teremos uma medida de quanto, alis, essas consultas
produziram de acting-out, iatrogenia ou mais sofrimento (Balint, 1984).
Milhares de poliqueixosos submetidos a exames desnecessrios. . . Quan-
tas vezes criticamos o saber mdico dizendo que tinha reduzido os pacien-
tes a um rgo enfermo ou a uma doena? Pois bem, agora estamos piores.
Em muitssimos servios de planto, de urgncias, ou at nos consultrios
externos, as pessoas esto sendo reduzidas a uma coleo de sintomas sem
sentido. J no somos nem um fgado enfermo nem uma colite e, claro,
muito menos gente.
O reinado da eficincia institui-se a partir do pressuposto jamais
questionado de que os servios de sade precisam ser baratos. Quem
precisa de que sejam baratos? Os servios de sade vieram ao mundo para
produzir sade, no para serem eficientes. Se para serem viveis precisam
de uma eficincia mnima, essa outra questo.
O paradigma da eficincia nasce entrelaado reificao da tcnica.
| 67 Humano, demasiado humano
Na tcnica, a relao meios-fins encontra-se desde sempre resolvida. Toda
tcnica pressupe que a adequao dos meios est garantida pela correo
dos fins. E tudo isso resolvido por um saber prvio.
Pelo contrrio, na frnhsij (prudncia) aristotlica, ou no saber tico,
o fim nunca garantiria a justia dos meios. Ser necessrio, sempre e em cada
situao, interrogar-se (reflexionar, analisar a situao) para, a sim, acionar
um saber prvio (fazer, produzir efeitos). A mesma caracterstica ser resga-
tada por Castoriadis em seu conceito de prxis: A prxis na verdade uma
atividade consciente [. . .] mas diferente da aplicao de um saber preli-
minar (no podendo justificar-se pela invocao de um tal saber o que
no significa que no possa justificar-se) (1986, p. 95). Para esse autor, a
verdadeira medicina, a verdadeira pedagogia, pertence ao terreno da prxis.
Campos (1997) props utilizar o conceito de clnica ampliada para
designar uma clnica que resgata as dimenses subjetiva e social dos pacientes:
uma clnica do sujeito. Sujeito humano que sempre ser biolgico, subjetivo
e social. Uma clnica que se preocupe com a produo de sade e a defesa
da vida e no simplesmente com a produo de procedimentos. Uma clnica
que avalie os riscos no s biolgicos de morrer ou adoecer, mas tambm os
riscos subjetivos e sociais de cada sujeito. Uma clnica que incorpore uma
dimenso de preveno secundria e de reabilitao quando seja necessrio.
Esse autor contrape a clnica ampliada clnica tradicional (a antiga e relati-
vamente boa clnica que aprendemos a fazer nas faculdades) e clnica de-
gradada (essa a clnica predominante nos servios de urgncia e em mui-
tos outros, onde somente se trata de sintomas sem sentido: queixa-conduta).
E quando transformamos nossa prtica em aplicao de tcnicas e
deixamos de fazer prxis em nossa prpria prtica? Quando nos submete-
mos ao reinado da eficincia, quando deixamos de perguntar-nos para qu,
quando perdemos de vista o sentido de nosso trabalho. . . ento que
comeamos a viver nossa pequena morte cotidiana, transformamos os
usurios em objetos, que sero submetidos a intervenes tcnicas e deixa-
mos de lado nossa prpria humanidade.
impossvel humanizar um hospital sem repensar nossa prpria
posio institucional, sem recriar nossa regio de experincia, sem voltar a
tomar p em nossa prtica para transform-la em prxis reflexiva. Para
recriar a iluso, para refundar um espao psquico do ser-conjunto, para
68 | Humano demasiado humano
envolver-nos ludicamente em nosso prprio espao intermedirio, deve-
mos comear por abrir espao a essas perguntas.
Gerenciando no intermedirio: alguns conceitos,
arranjos e dispositivos institucionais
No assumir uma posio tcnico-centrada de ter todas as respos-
tas no quer dizer que estejamos desarmados. Incorporamos alguns con-
ceitos, arranjos e dispositivos institucionais para ajudar-nos a reformar a
estrutura hospitalar.
As organizaes ou estabelecimentos (bem como as instituies)
1
funcionam com base em contratos explcitos ou implcitos, regras, etc. Se-
gundo a concepo que tenhamos delas, poderemos fazer diversos recortes
para aproximar-nos.
Trabalhamos em gesto com a convico de que as organizaes e/ou
as instituies apareceram no mundo humano como espao privilegiado para
a sublimao, a vida social e cultural. Assim, sem organizao ou instituio
no haveria humanidade (uma colnia de abelhas no uma instituio. . .).
Campos (2000) coloca a formao de compromisso e a formulao
de contratos como duas categorias centrais para o entendimento das rela-
es entre a organizao eseus sujeitos:
Formao de compromisso, de modo semelhante ao definido pela
psicanlise, indica articulaes em que predominam processos in-
conscientes. Ao invs, construo de contratos indica o predomnio
de movimentos deliberados, mediante processos de anlise seguidos
de interveno sobre os diferentes planos de existncia (Campos,
2000, p. 233).
Para esse autor, uma forma de trabalhar com essas duas categorias
incorporar gesto os conceitos de oferecimento e demanda. Nos encontros
com as pessoas, trabalhar temas demandados pelo grupo, entendendo essa
1
A anlise institucional discriminou entre os conceitos de organizao, estabelecimento
e instituio. Sem desconhecer essa contribuio (ver Lourau, 1995), utilizamos aqui os trs
termos sem distines, pois no nos estamos referindo a suas diferenas conceituais, seno a sua
caracterstica comum, pelo que representam para ns no mundo humano: espaos privilegiados
para que aparea a sublimao criadora.
| 69 Humano, demasiado humano
demanda como uma sntese dialtica e transitria de valores, desejos e
interesses das pessoas. E trabalhar tambm com oferecimentos, ou seja,
temas propostos ou levantados pelo apoiador institucional ou agente exter-
no, tendo como objetivo a produo de novas snteses, incorporando novas
informaes e desestabilizando crenas e valores j naturalizados pelo
grupo (Campos, ibidem).
Como bem mostrou Freud (1997), a passagem da animalidade
vida social no se realiza impunemente. Por isso, claro, podemos reconhecer
nos espaos organizacionais uma srie de preos pagos por ns, humanos,
para a vida social. O controle, a dominao, o narcisismo das pequenas
diferenas, etc. florescem com horrvel frequncia nesses espaos e tanto
que nos esquecemos de para qu apareceram na vida humana.
A organizao ou estabelecimento produz ativa e estruturalmente
dominao, alienao e controle. No vou me aprofundar nisso, s record-
-lo para ressaltar que essa produo, instituda numa direo, pode e deve
ser estimulada para produzir outros sentidos: criao, solidariedade, amiza-
de, etc. Por isso, necessrio desenvolver no somente dispositivos, mas
tambm arranjos que estimulem a produo de autonomia, criatividade e
desalienao de maneira permanente.
1. Arranjos
H certa estruturao e permanncia: a mquina de produzir con-
trole no opera pulsando (de modo intermitente), opera como fluxo cont-
nuo. Por isso, trabalhamos tentando desenvolver arranjos que tm a poten-
cialidade de produzir esse fluxo na direo contrria. Digo potencialidade,
pois, como toda coisa ou estrutura que num dia se institui, esses arranjos
no esto a salvo de ser cooptados pela lgica dominante. Neles, mais do
que nunca o preo da liberdade a eterna vigilncia!
Alguns deles:
Colegiados de Gesto e Unidades de Produo:
2
Impem uma mudana estrutural nas linhas formais de coman-
do. Eliminam-se todas as coordenaes, gerncias, ou direes verticais
especializadas, e se instituem as Unidades de Produo. O que caracteriza
2
Baseado em Campos (1998).
70 | Humano demasiado humano
uma Unidade de Produo seu produto, ou seja: que produz? Procuran-
do uma verdadeira homogeneidade do produto (isso em sade sempre
pouco), por exemplo: a produo de uma Unidade peditrica diferente da
de uma Unidade de queimados. Assim, nessa nova estrutura organizacio-
nal todos os que trabalham com um mesmo objeto (que em sade sempre
so sujeitos) esto obrigados a trabalhar juntos sob o mesmo comando
gerencial. Toda Unidade de Produo deve ter um espao colegiado de
deliberao e discusso clnica. sua vez, os coordenadores dessas Unida-
des, todos juntos, constituem o Colegiado Gestor da organizao. Esse
Colegiado delibera sobre diretrizes gerais, rumos da organizao, etc. Os
coordenadores das Unidades de Produo levam para esse espao as ques-
tes sobre as quais a prpria Unidade no tem autonomia para decidir, em
forma de demandas que desencadeiam deliberaes. Exemplo: necessi-
dade de ampliar a infraestrutura, contratao de pessoal, etc. Na medida do
possvel, todas as outras decises so tomadas pela equipe na unidade de
produo, ou em comunicao lateral com as outras Unidades, e s chegam
ao Colegiado se no conseguiram entender-se. Isso cria um efeito setting,
institui as reunies peridicas e abre a possibilidade de recriar processos
intermedirios entre os membros da equipe. Abre possibilidades, no ga-
rante nada. Esses espaos devem ser permanentemente recheados de sen-
tido e onde inicial e preferencialmente um apoio institucional pode ser
desenvolvido no papel de suporte (holding) do grupo. A discusso sobre a
tarefa primria ou objetivos nesse espao centra-se na discusso do campo
3
comum de trabalho da equipe, o que todos devem ter como compromisso
grupal, a produo de sade ou de clnica ampliada de maneira geral.
Apoio matricial:
4
Neste formato no existe mais aquilo de que a enfermeira trabalha
nesta Unidade de Produo, mas seus horrios e funes dependem da
chefia da enfermagem. O suporte especializado (tcnico) continua existin-
3
Utilizamos os conceitos de campo e ncleo tal como foram elaborados por Campos et al.
(1997). O campo contribui tarefa comum, o que todos devem fazer ou cuidar que seja produ-
zido; o ncleo refere-se parte mais especfica de qualquer tarefa, o que s este ou aquele espe-
cialista sabe fazer. Assim, esses conceitos tensionam a reflexo sobre o trabalho como prxis social.
4
Baseado em Campos (1998).
| 71 Humano, demasiado humano
do como um apoio matricial e desvinculado das linhas de comando. Assim,
pode haver uma enfermeira que ensina tcnicas de enfermaria, faz forma-
o em servio, etc., s que agora ela no manda, no elabora os horrios de
trabalho, nem organiza os plantes, nem recursos. Esse apoio tcnico matri-
cial essencial para mitigar a angstia de dissoluo, uma vez que propor-
ciona um estmulo permanente da identidade profissional ameaada pelo
desenvolvimento do espao da equipe multiprofissional. Esse apoio ali-
menta o desenvolvimento tcnico profissional no ncleo (Campos et al.,
1997) disciplinar de cada um.
Equipe de referncia, adscrio do usurio:
5
Esse arranjo est fundamentado na importncia do vnculo entre
pacientes e profissionais. Uma das caractersticas das organizaes con-
temporneas ter eliminado o reconhecimento do outro como ser singular.
medida que os profissionais conhecem os pacientes e estes os tcnicos,
possvel criar graus de confiana maiores, os usurios autorizam-se a pergun-
tar e participar mais de seu prprio tratamento e as respostas profissionais
deixam de ser estereotipadas. Da mesma forma, quando um usurio tem
nome, cara e histria, o envolvimento da equipe melhora, produz-se um
efeito desalienante e aumenta o compromisso com o paciente e seu trata-
mento. muito mais fcil dizer volte amanh s 7 a quem no se conhece.
Esse arranjo consiste em que todo usurio tem um profissional de re-
ferncia, responsvel por seu tratamento, que ele conhece e de quem sabe o
nome. Isso, p.ex., muda as condies de contratao. Para trabalhar nessa
lgica no posso trabalhar com sistema de plantes, preciso trabalhar com
diaristas que passam pelo menos um turno por dia na Unidade. Isso
cria vnculo com o usurio, estimula a responsabilizao, e amplia a clnica.
Em hospitais, possvel atribuir um nmero de leitos a cada equipe,
conforme as possibilidades de cada estabelecimento. Exemplo: um mdico,
uma enfermeira e dois auxiliares de enfermaria cuidam de quinze leitos.
Ser essa mesma equipe que se responsabilizar por derivaes, intercon-
sultas, conversar com a famlia, etc.
O vnculo tem a potencialidade de melhorar e ampliar a clnica.
5
Baseado em Campos (1999) e Carvalho & Campos (2000).
72 | Humano demasiado humano
Conhecer o caso outorga aos profissionais a possibilidade de decidir com
mais calma condutas e avaliaes. difcil avaliar um paciente desconheci-
do sem numerosos estudos complementares quando nos encontramos com
ele num momento crtico. Se conhecemos esse paciente, a forma como lida
com sua doena e at o tipo de respostas biolgicas que apresenta, menos
angustiante tomar decises. Isso muito evidente em casos de doenas
crnicas como diabetes, asma, hipertenso, etc.
2. Dispositivos
Segundo Baremblitt, um dispositivo caracteriza-se porque o impor-
tante nele seu funcionamento, sempre simultneo a sua formao e sempre
a servio da produo, do desejo, da vida, do novo (1992, p. 74). Um dis-
positivo, portanto, seria, sempre o contrrio a um equipamento, ou seja:
trabalha para subverter as linhas de poder. O que caracteriza um disposi-
tivo seu funcionamento, nunca poderemos definir um a priori, s teremos
evidncias de que , alis, dispositivo ao analisar como est funcionando. E
o gerndio aqui fundamental, pois tambm no teremos nunca garantias
de que um bom dispositivo se mantenha funcionando como tal. Depois de
um tempo, pode ser cooptado pela lgica da organizao e voltar burocratizado
e funcional aos poderes institudos. Por isso, em vez dos arranjos, muitos dos
exemplos que daremos podem ser atividades transitrias, que so postas em
ao segundo necessidade ou demanda, que depois de um tempo cessam e
do lugar a outras. Algumas das que experimentamos em vrios servios so:
Cursos/capacitaes/formao;
Anlise/superviso institucional;
Assembleias;
Planejamento de projetos;
Grupos-tarefa: destinados a desenvolver projetos pontuais e es-
pecficos.
Planejamento analtico institucional: papel do apoiador
O planejamento em sade constantemente se ocupou de operacio-
nalizar a equao meios-fins. Em vrias propostas de planejamento desen-
volvidas durante anos na Amrica Latina sempre se considerou que os fins
| 73 Humano, demasiado humano
j estavam definidos a priori (Onocko, 2001a). Ou seja, comeava-se um
processo de planejamento com o projeto j definido (os fins). Dada essa
situao, o planejamento podia constituir-se num terreno tecnolgico, em
que, com este mtodo ou com aquele, se operacionalizavam meios e fins
(Programao em sade, Planejamento estratgico situacional).
Pelo contrrio, em nossa experincia de assessoramento em planeja-
mento a diferentes grupos e servios comprovamos que, geralmente, o pro-
jeto no est pronto. As finalidades no esto definidas, ou existem dispu-
tas e controvrsias sobre elas no grupo.
Pensamos que um grupo s consegue embarcar num projeto comum
quando desenvolveu um espao intermedirio conjunto. Para sonhar um
futuro conjunto necessrio recriar a iluso num territrio intermedirio
(Onocko, 2001b). Nesse sentido, nossa proposta condiz com as ideias de
Testa (1995) para quem o importante desencadear processos e no defi-
nir pontos de chegada.
E esta uma tarefa que requer, segundo o referencial winnicottiano,
suporte (holding) e manejo (handing). Esse suporte, quando o pensamos
em relao ao planejamento, tem relao com o componente subjetivo dos
grupos que planejam. Algum tem de suportar a outros em seu esforo de
constituio como grupo intersubjetivo.
Nesse novo papel, os planejadores de ontem precisam menos de
tcnicas de planejamento, e mais de conhecimentos e formao para tratar
com pessoas. Sabendo o que est em jogo: identificaes, ameaas narcsi-
cas, pactos denegatrios, etc. O deslocamento do eu ao ns paradigmtico
do mal-estar freudiano. Todos tero de pagar um preo para que a iluso do
trabalho comum possa ser recriada. Como no se faz isso sem dor, neces-
srio criar espaos suficientemente trficos, que alimentem o grupo. Espa-
os protegidos, mediados inicialmente por um terceiro, em que os temores
possam ser explicitados e o no dito possa ter um lugar em palavras. Espao
no qual as questes de poder possam ser formalmente suspendidas por
alguns momentos.
Formalmente quer dizer no contrato, ou seja, em espaos como esse,
ningum chefe por umas horas. Simultaneamente ningum deixa de ser
chefe, sup-lo seria uma ingenuidade sem medida. O que propomos que,
durante esse espao de tempo e encontro, essa qualidade (ser chefe) possa
74 | Humano demasiado humano
ser experimentada de maneira diferente. S quando o lugar do chefe
destitudo formalmente do poder por algumas horas, que esse lugar pode
aparecer em suas dimenses mtica e simblica. Sem anlise sobre essas
dimenses, nunca se operaro mudanas na estrutura formal do poder
institucional.
O papel de manejo, da forma que o pensamos quando aplicado ao
planejamento de projetos, tem relao com os oferecimentos. E nunca se
exercer separado do de suporte. Quem entra nesse tipo de proposta deve-
r ter o que oferecer. No caso dos servios assistenciais que nos ocupam, as
questes derivadas dos modelos clnicos, suas formas de operar, as formas
de organizar o trabalho que lhe do sustentao, etc. sero centrais. Portan-
to, deveremos saber o que fazer, ter caminhos para mostrar. Nosso handing
inclui outras competncias, diferentes das dos analistas institucionais. No
ofertamos somente analisadores.
6
Ofertamos tambm arranjos institucio-
nais. Isso nos distingue.
Isso recoloca nossa nfase nos projetos e no nos planos. Um plano
corresponde ao momento tcnico de uma atividade, quando os recursos
podem e devem ser operacionalizados. Para fazer planos, as tcnicas de
planejamento mostraram-se eficazes (PES, Zoop, etc.).
Mas para poder elaborar planos necessrio contar primeiro e antes
com um projeto. Atribumos o carter de fenmeno intermedirio (transi-
cional) ao projeto, no ao plano. E defendemos que o projeto e sua possvel
existncia sempre ter relao com os sujeitos envolvidos em seu desen-
volvimento e suas relaes intersubjetivas. O projeto tenta sua realizao
como momento essencial e guiado por um sentido. no momento do
projeto que posso desejar projetar(me) com os outros para transformar o
mundo. Todo projeto parte de um desejo, e dir Castoriadis: tendo esse
desejo que meu, s posso trabalhar para sua realizao (1986, p. 114).
Para apoiar a elaborao de projetos, um formato tecnolgico fica
estreito. J que nos ocupamos de trabalhar nessa linha, nunca teremos
certeza sobre a justia dos meios e jamais o fim justificar os meios. Assim,
estaremos obrigados a sair dos formatos de mtodos de planejamento
prescritivos, tcnicos, e seremos estimulados a fazer prxis em nossa pr-
6
Para detalhes sobre o conceito de analisador, ver Lourau (1995).
| 75 Humano, demasiado humano
pria prtica como apoiador institucional. Tarefa complexa, diferente da que
nos ensinaram em nossa formao como especialistas, e que s pode ser
possvel se, ademais, nos abrimos a outros referenciais disciplinrios. De-
fendemos que a interdisciplinariedade, como o jogar, tambm possvel
fazendo e no somente pensando. Outra atividade na qual o fazer cons-
titutivo e que requer um lugar e um tempo.
Se talvez devamos, eu e os outros, encontrar o fracasso nesse cami-
nho, prefiro o fracasso numa tentativa que tem um sentido a um
estado que permanece aqum do fracasso e do no fracasso, que
permanece irrisrio (Castoriadis, 1986, p. 113).
Referncias
Balint, M. O mdico, seu paciente e a doena. Trad. Roberto Musachio. Rio de
Janeiro-So Paulo: Livraria Atheneu, 1984, 231 pp.
Baremblitt, Gregrio, Compndio de anlise institucional e outras correntes: teoria e
prtica. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1992, 204 pp.
Campos, Gasto Wagner de Sousa. Uma clnica do sujeito: por uma clnica refor-
mulada e ampliada. Campinas, mimeo, 1997.
. O anti-Taylor: sobre a inveno de um mtodo para cogovernar instituies de
sade produzindo liberdade e compromisso. Cadernos de Sade Pblica, Rio
de Janeiro, vol. 14, n.
o
4, pp. 863-70, out.-dez. 1998.
. Equipes de referncia e apoio especializado matricial: um ensaio sobre a reor-
ganizao do trabalho em sade. Cincia & Sade Coletiva, Rio de Janeiro,
vol. 4, n.
o
2, pp. 393-403, 1999.
. Um mtodo para anlise e co-gesto de coletivos. So Paulo: Hucitec, 2000, 236
pp.
Campos, Gasto Wagner de Sousa; Chakour, Maurcio & Santos, Rogrio. No-
tas sobre residncia e especialidades mdicas. Cadernos de Sade Pblica,
Rio de Janeiro, vol. 13, n.
o
1, pp. 141-4, jan.-mar. 1997.
Carvalho, Srgio R. & Campos, Gasto W. S.. Modelos de ateno sade: a
organizao de equipes de referncia na rede bsica da Secretaria Municipal
de Sade de Betim, Minas Gerais. Cadernos de Sade Pblica, Rio de
Janeiro, vol. 16, n.
o
2, pp. 507-15, abr.-jun. 2000.
Castoriadis, Cornelius. A instituio imaginria da sociedade. Trad. Guy Reynaud.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, 418 pp.
Castoriadis, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto - 1. Trad. Carmen Guedes &
76 | Humano demasiado humano
Rosa Boaventura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 335 pp.
Freud, Sigmund. O mal-estar na civilizao. In: Edio eletrnica brasileira das
obras psicolgicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago,
1997.
Kas, Ren. Realidade psquica e sofrimento nas instituies. In: Kas, R.; Bleger,
J.; Enriquez, E.; Fornari, F.; Fustier, P.; Roussillon, R. & Vidal, J. P. (orgs.).
A instituio e as instituies. Trad. Joaquim Pereira Neto. So Paulo: Casa
do Psiclogo, 1991, pp. 1-39.
. O grupo e o sujeito do grupo: elementos para uma teoria psicanaltica do grupo.
Trad. Jos de Souza e Mello Werneck. So Paulo: Casa do Psiclogo,
1997, 333 pp.
LOURAU, Ren. A anlise institucional. Trad. Mariano Ferreira. Petrpolis:
Vozes, 1995, 294 pp.
Marx, Karl. O capital: crtica de economia poltica, vol. I, livro primeiro, tomo 1.
Trad. Regis Barbosa & Flvio Kothe. So Paulo: Nova Cultural, 1985.
Matus, Carlos. Poltica, planejamento & governo. Braslia: Ipea. 2 vols., 1993, 591
pp.
Onocko-Campos, Rosana, 2001a. O planejamento em sade sob o foco da her-
menutica. Cincia & Sade Coletiva, vol. 6, n.
o
1, pp. 197-207, 2001.
. O planejamento no labirinto, uma viagem hermenutica. Doutorado. Campinas:
DMPS/FCM/Unicamp, 2001b.
OPS. Analisis de las organiaciones de salud. Serie Paltex para executores de progra-
mas de sade. Washington, D.C., 1989.
Pitta, Ana. Hospital: dor e morte com ofcio. So Paulo: Hucitec, 1990.
Ribeiro, Herval P. O hospital: histria e crise. So Paulo: Cortez, 1993.
Testa, Mario. Pensar en salud. Buenos Aires: Lugar Editorial, 1993, 233 pp.
. Pensamento estratgico e lgica de programao: o caso da sade. Trad. Angela
Maria Tijiwa. So Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1995, 306 pp.
. Anlisis de instituciones hipercomplejas. In: Merhy, E. & Onocko, R. (orgs.).
Agir em sade. So Paulo: Hucitec, 1997, pp. 17-70.
Winnicott, D. W. Realidad y juego. Trad. Floreal Mazi. Barcelona: Gedisa,
1999, 199 pp.
Traduo de Luciana Hagoyi Hiranoyama.
E
Captulo 4
O encontro trabalhador-usurio
na ateno sade: uma contribuio
da narrativa psicanaltica ao tema
do sujeito na sade coletiva*
Rosana Onocko Campos
Abordagem hermenutica: crtica e narrativa
screver sobre os encontros encarar o prprio paradigma da escrita.
Toda escrita ao mesmo tempo um encontro e um desencontro. E toda
escrita somente poder surgir de algum encontro. Ensina-nos Paul Ricur
que todo texto a vinda linguagem de um mundo (1990). Portanto,
concordando com ele, diramos que no h escrita que no tenha sido
provocada, produzida, pela vida real e concreta, ao menos para quem escreve.
Na sua proposta de uma hermenutica crtica, Ricur (1990) faz
algumas proposies, visando superar a diviso entre terica crtica e her-
menutica. Sua obra interessa-nos por produzir uma reconexo entre es-
colas do pensamento que em muito contriburam metodologicamente nas
ltimas dcadas para alguns dos principais trabalhos da sade coletiva
brasileira.
Achamos que h inovaes importantes trazidas por Ricur (op.
cit.), pois ele prope uma sntese diferente, com interessantes pontos de
sutura, que no separam a crtica da hermenutica, porm destacam a
inegvel potncia da crtica, de certa forma sempre j implicada no exerc-
cio hermenutico.
A empreitada de Ricur parte, fundamentalmente, da Escola de
Frankfurt (como expoente da teoria crtica, e notadamente da crtica de
* Publicado originalmente na revista Cincia e Sade Coletiva, vol. 10, n.
o
3, pp. 573-83,
2005. Reedio autorizada pelos Editores.
77
78 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Habermas a Gadamer), e das elaboraes sobre hermenutica realizadas
por Gadamer em Verdade e mtodo.
Dentre as principais contribuies de Gadamer (1997) nessa obra,
destacam-se as de mundo do texto, histria efeitual, tradio, e o
reconhecimento da funo positiva, como mola do movimento hermenuti-
co, dos preconceitos. Se Habermas critica que o conceito de tradio
conservador (pois a tradio assentada sobre sculos de dominao, po-
der e trabalho), Gadamer tambm argumenta que clssico aquilo que
permanece em face da crtica histrica. Talvez, poderamos dizer, hoje, que
nossos clssicos mantm-se vigentes, pois falam de algo que se repete.
Psicanaliticamente diramos: os clssicos falam de nossa neurose no con-
temporneo. Gadamer destaca o fato de que, ao lermos um clssico, ele
reatualiza-se na leitura, parecendo que diz algo especificamente dirigido a
quem o l. Isso o que Ricur chama de agenciamento formal do texto. O
mais importante nos diz ele no procurar segredos por trs do texto,
pois interpretar nada mais que explicitar o tipo de ser-no-mundo mani-
festado na frente do texto (Ricur, 1990).
Com Freud (1975) e Roudinesco & Plon (1998), trabalhamos a
interpretao como composta sempre de dois movimentos: a anlise e a
construo. s construes que fazem, no dizer de Freud, uma espcie
de aposta na produo de sentido, a vinda tona de uma nova histria
chamamos, junto com Ricur, de narrativas. As narrativas, para este autor,
nada mais so do que o agenciamento dos fatos, histrias no (ainda)
narradas (Ricur, 1997), mas que se podem ser contadas, porque esto
j inseridas em alguma prxis social. Nessa linha, o que caracteriza uma
narrativa fundamentalmente sua linha argumental, o mqoj (mitos): agen-
ciamento dos fatos.
Em trabalho anterior (Onocko-Campos, 2003a), consideramos que,
antes de assistir a uma mudana paradigmtica (Kuhn, 1997), consegui-
ramos descobrir o aparecimento de novas narrativas disciplinares. Talvez
possamos pensar a transio paradigmtica como uma fase que poderia ser
preferencialmente estudada com a abordagem narrativa. Em relao ao
tema em estudo, arriscamos a hiptese de se tratar de um momento de
mudana nas abordagens clssicas sobre a subjetividade na ateno sa-
de, no campo da sade coletiva brasileira.
| 79 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
No contexto da ateno sade, o tema dos encontros profissionais/
usurios clssico e ao mesmo tempo novo no seu enfoque: [. . .] o velho
e o novo crescem sempre juntos para uma validez vital [. . .]) (Gadamer,
1997). Tentaremos fazer uma anlise hermenutico-crtica desse tema.
Para isso, procuramos primeiro fazer uma reflexo sobre o tema dos encon-
tros, para depois fazer um breve percurso por algumas linhas narrativas
que nas ltimas dcadas problematizaram a questo. Voltamos a seguir ao
contemporneo, s grandes cidades brasileiras, suas periferias e o contexto
do SUS, buscando aproximar algumas reflexes advindas da psicanlise ao
cenrio atual. Ao final, recorremos Julia Kristeva e sua conceituao da
experincia e da narrativa poltica guisa de concluso provisria.
O que um encontro?
Diz o dicionrio que encontro o ato de encontrar. E que encontrar
: deparar com, achar, dar com, atinar com, descobrir, achegar, unir, mas tam-
bm opor-se a, contrariar, chocar-se com (Ferreira, 1997). Pr-se em contato,
portanto, sempre com resultado incerto. O encontro pode ser cordial ou
pode ser um rijo encontro. Quem se contata com quem? Corpos e afetivi-
dades em jogo. Se entendermos por instituies as formaes discursivas
que adquiriram valor de verdade, quantas instituies medeiam esse en-
contro quando se trata de uma situao de ateno sade?
Na sade coletiva costumamos lembrar que o usurio sempre com-
parece a esse encontro movido por demandas mais ou menos explcitas,
munido de seu corpo e sua singular subjetividade. Mas so muito menos
frequentes os estudos que procuram analisar o que acontece com esse su-
jeito que um dia se transformou, por obra da academia, ou da vida, em um
trabalhador de sade. Categoria que propositalmente, por enquanto, pre-
feriremos manter assim, ampla e mal definida de maneira que, neste
ponto de nosso estudo, caibam nela desde profissionais universitrios at
agentes de sade e pessoal da recepo. Isso no pressupe apagar suas
diferenas em relao s divises tcnicas e sociais do trabalho, mas manter
aberta a possibilidade de pensar alguns aspectos da subjetividade dessas
pessoas que, com graus de qualificao diversos, compartilham o espao de
trabalho nos servios de sade.
80 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Algumas linhas narrativas que pensaram esse encontro
Pretendemos a seguir mapear algumas linhas narrativas, no com o
objetivo de fazer um estudo exaustivo ou historiografia, porm com o intuito
de poder situar em relao a elas nossa prpria contribuio narrativa, [. . .]
num sentido verdadeiramente hermenutico, isto , com a ateno posta no
que foi dito: a linguagem em que nos fala a tradio, a saga que ela nos
conta (Gadamer, 1997). Portanto, procuraremos nelas os traos fundamen-
tais de uma estrutura argumentativa e ilustr-las-emos com alguns exemplos
de autores, sem desconsiderar que o rico universo de produo dessas li-
nhas narrativas muito mais amplo do que pode ser abordado neste estudo.
Para tentar situar nossa prpria produo, importante recuperar na
tradio a linha que chamarei de medicina social latino-americana, cujo
marco, segundo Fleury (1992), foi a Conferncia de Cuenca. Ali houve
uma clara crtica forma predominante de organizao da prtica mdica.
Desde os estudos de Juan Csar Garca sobre educao mdica, passando
pelo termo cunhado por Menndez (1992) modelo mdico hegemni-
co , a crtica aprofundou-se com a entrada em cena das cincias sociais
na rea da sade, dedicando grande parte de sua produo, nas dcadas de
1970-1980, a questionar o positivismo vigente, a denunciar a falta de
considerao de outras categorias e adentrando-se ferrenhamente num
certo furor preventivista de vis histrico-estrutural.
Como destaca Fleury, o paradigma histrico-estrutural no campo
da sade, partindo do reconhecimento da insuficincia das teorias prece-
dentes para darem conta da explicao dos determinantes do processo de
sade e doena e da organizao social da prtica mdica, procurou na
relao entre medicina e estrutura social o caminho para tais explicaes
(1992). Essa linha no produziu estudos sobre o encontro assistencial que
inclussem o corpo e a subjetividade de profissionais e de usurios como
categorias de anlise.
a partir da medicina social latino-americana que a sade coletiva
brasileira (Onocko-Campos, 2003a) conforma-se como uma linha narra-
tiva original que desabrocha em uma rica produo terica, em ncleos de
ps-graduao e pesquisa e em elaboraes originais que pouco a pouco a
diferenciam, por sua riqueza e volume, da produo latino-americana.
| 81 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Duas dcadas passadas, essa linha conta no seu acervo com clssicos
(no sentido gadameriano) do peso de Ceclia Donnangelo (1975) e Srgio
Arouca (2003). No o propsito deste artigo fazer uma anlise exaustiva
dos numerosos autores da sade coletiva brasileira, porm pretendemos,
ancorados nesses dois exemplos, caracterizar a narrativa produzida em
relao subjetividade no encontro assistencial. E possvel vermos, assim,
partindo dos estudos pioneiros de Donnangelo sobre o trabalho mdico, ou
da crtica de Arouca no Dilema preventivista, que pouco se pensava, nos
anos 1970, na subjetividade e no corpo dos trabalhadores da sade e que
o tema da clnica ficou fora das anlises, a no ser para contrap-la s aes
coletivas. Essa linha, preocupada com a crtica, produziu intensos questio-
namentos sobre a clnica, a biologizao excessiva das prticas e chamou
muito bem a ateno para o processo de construo scio-histrico das
categorias operatrias dominantes (Luz, 2000).
Herdeira do referencial terico estrutural-marxista, outros trabalhos
j mostraram que a sada da hegemonia desse referencial terico deu-se a
partir da incorporao de novos referenciais tericos e metodolgicos entre
o fim dos anos 70-80 (Burlandy & Bodstein, 1998), dando entrada a
categorias como cotidiano e representao social, na tentativa de alargar o
debate em relao s explicaes macroestruturais.
na dcada de 1990 que essa questo entra na pauta das argu-
mentaes de alguns autores. Abordados do ponto de vista do sofrimento
dos tcnicos (Pitta, 1990) ou da incorporao do tema da clnica (Campos,
1991) sob vrias formas de organizao (Gonalves, 1994), essa temtica
comea a ser abordada no fim dos anos 80 e tem sido cada vez mais incor-
porada nos ltimos anos (Carvalho, 2003; 2002; Minayo, 1995).
J a finais dos anos 1990, o tema da subjetividade destaca-se e
temos, assim, uma produo que comea a argumentar sobre essas ques-
tes (Campos, 1994; 2000; Ayres, 2001; Merhy, 1997; Luz, 2000). A
discusso sobre a reformulao dos modelos assistenciais, como bem mos-
tram alguns autores, recente e mais retrica que prtica (Vasconcelos,
2005). Em alguns trabalhos anteriores, argumentamos que a reforma
da clnica e a mudana do modelo assistencial so questes importantes
de serem encaradas em prol da eficcia do SUS (Onocko-Campos,
2003a; 2003b).
82 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Poderamos afirmar que, no interior da grande narrativa constituda
pela sade coletiva brasileira, algumas linhas narrativas comeam a se dife-
renciar; elas caracterizam-se precisamente por destacarem nos seus argu-
mentos aspectos pouco explorados pela produo clssica, cujo destaque se
produz do encontro com as prticas no SUS, no seu percurso histrico.
Diz Gadamer (1997) que so o presente e os seus interesses os que
fazem o pesquisador voltar-se para o passado, para a tradio. Assim, no
de estranhar que no sculo XXI os autores comecem a problematizar
aspectos antes negligenciados.
A partir do tema da subjetividade esboa-se uma preocupao com
as instituies de sade. LAbbate (2003) mostra que h uma relao entre
anlise institucional e sade coletiva: h a anlise institucional na sade
coletiva e da sade coletiva; e h tambm a sade coletiva como instituio.
Contudo, a entrada do chamado no Brasil institucionalismo foi muito
mais estimulada pelo movimento da Reforma Psiquitrica que pelo da
Reforma Sanitria (Luz, 2000). Nascidos de um momento poltico comum,
os dois movimentos ora se aproximam, ora se separam (Furtado & Ono-
cko-Campos, 2005). No Brasil, vrias correntes como a socioanlise, esqui-
zoanlise e psicoterapia institucional combinaram-se de formas diversas e
pouco ortodoxas para caracterizar o que alguns autores tm chamado de
institucionalismo (Rodrigues, 1993).
Todavia, preciso reconhecer que essas contribuies tiveram relati-
vamente pouca penetrao. Talvez seja por se valer de um referencial te-
rico que no fazia parte das disciplinas clssicas estudadas pelos sanitaristas;
o fato que esse conjunto de referenciais que tem grande potncia para
pensarmos as relaes entre as pessoas e as instituies continua pouco
explorado na sade coletiva at hoje.
Algumas categorias da psicanlise
na busca de novas narrativas
Alguns autores, ainda, transitaram o caminho entre sade coletiva e
psicanlise (Birman, 1980; Campos, 1994, 2000; Figueiredo, 1997). A
redescoberta do tema do sujeito faz-nos insistir em trilhar esse caminho.
Procuramos aproximar alguns conceitos dessa disciplina e da psico-
patologia institucional ao campo da gesto em sade.
| 83 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Na tica que caracteriza a psicanlise, todo sujeito mais do que
portador do cogito cartesiano. A descoberta do inconsciente por Freud mar-
cou uma das grandes quebras da modernidade na opinio de alguns au-
tores (Benasayag & Charlton, 1993). Assumir que as pessoas, os traba-
lhadores de sade, tambm agem movidas por reaes inconscientes, que
elas prprias desconhecem, e sobre as quais no detm o controle mudar
nossa forma de abordar os equipamentos de sade e as relaes que ali
se desenvolvem. O reconhecimento da dimenso inconsciente mudar
nossas anlises.
Portanto, seria importante neste ponto fazer uma distino (no sen-
do uma separao) entre psicanlise e hermenutica. Para a hermenutica,
lidamos conscientemente o tempo todo com um conjunto de valores de cujo
significado no nos damos conta imediatamente, mas ao qual poderamos
aceder por meio da reflexo sistematizada. Para a psicanlise, porm, esta-
ramos fadados a desconhecer para sempre uma poro de ns mesmos. O
nosso inconsciente irrompe quando menos o esperamos no meio de nossa
ao mais racional. No se trata, portanto, de uma polaridade consciente/
inconsciente que se corresponderia com outra racional/irracional, mas de
assumirmos o ser humano como um ser que nunca ser absolutamente
dono de si, um ser barrado que no pode tudo, e nunca ter a certeza de
conhecer apuradamente o rumo do seu desejo.
Alguns autores puseram em contato a concepo do homem como
sujeito do inconsciente e a vida na instituio (Enriquez, 1997; Motta &
Freitas, 2000). Segundo Kas (1991), a instituio funciona para o psiquis-
mo como asseguradora de funes da vida social e psquica (como a me)
uma das razes do valor ideal e necessariamente persecutrio que ela
assume to facilmente.
Ser um trabalhador da sade, do SUS, e acreditar no valor positivo do
prprio trabalho constituem funes estruturantes da subjetividade e aju-
dam a suportar o mal-estar advindo das tarefas coletivas (mal-estar inevi-
tvel, segundo ensinou Freud, 1997).
Kas (1991) chama isso de aderncia narcsica tarefa primria. Ou
seja, os sujeitos necessitam identificar-se favoravelmente com a misso do
estabelecimento no qual trabalham, acreditar que seu trabalho tem um
valor de uso (Campos, 2000). Quando o contexto de trabalho pe entraves
84 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
tarefa primria, seja por falta de recursos humanos, de materiais ou por
excesso de autoritarismo gerencial (Campos, 2000), os sujeitos valem-se
de estratgias defensivas para atenuar o prprio sofrimento psquico. Al-
gumas delas: apelo excessivo ideologizao, somatizao, burocratizao,
desenvolvimento de estados passionais. . .
O termo paixo descreve muito bem o intenso sofrimento psquico,
prximo dos estados psicticos, que ali [na instituio] se experi-
menta, o transbordamento da capacidade de conter e ser contido, a
capacidade de formar pensamentos paralisada e atacada: a repeti-
o, a obnubilao servem de cobertura a dios devastadores, contra
os quais surgem defesas por fragmentao [. . .] (Kas, 1991).
Quantas vezes no dizemos da dificuldade das equipes em traba-
lhar conjuntamente, das falhas de comunicao, do contedo excessiva-
mente ideologizado de certas defesas do SUS, em cujo nome, e segundo a
ocasio, tudo pode ou tudo no pode?
Tentamos mostrar que esses sintomas institucionais so produzidos
pela prpria realidade do trabalho; pelo prprio contato permanente com a
dor e a morte e a dificuldade de simbolizao que situaes como a pobreza
extrema nos provocam.
Nos equipamentos de sade e educao acontecem processos de
identificao entre trabalhadores e usurios. Se a populao da rea de
abrangncia vista como pobre, desvalida, desrespeitada, sem valor, aps
um tempo, a prpria equipe se sentir assim. Pensamos que mecanismos
como esse esto por trs da produo de impotncia em srie de que adoe-
cem muitas equipes de sade. Tambm pode acontecer que, na tentativa
de se defender desse espelho desagradvel, a equipe se feche tentando
uma discriminao maior entre o ns e os outros, e assim a equipe monta
fortes barreiras que evitam pr-se em contato com aquilo que tanto di.
Ou, pior ainda, pode tornar-se agressiva e retaliadora com os usurios.
Se isso assim, o que lhes receitaremos? Div para todos os traba-
lhadores? Maior comunicao (e ento como ajudar a comunicar o que
permanece inominvel?). Doses maiores e deliberadas de boa vontade?
Faremos, acaso, mais apelos ideolgicos na defesa do SUS?
| 85 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Lidar competentemente com essas dimenses tambm requer com-
petncia tcnica. Ensina-nos Oury (1991) que no trabalho no se trata
simplesmente de relaes individuais com algum, e de que o trabalho de
equipe precisar sempre levar em conta os outros e a si prprio, mas que
deve sempre ser tomado no mbito que lhe mais especfico: um espao
onde possa acontecer alguma coisa.
Kas (1991) prope criar dispositivos de trabalho que permitam
restabelecer um espao subjetivo conjunto, uma rea transicional comum,
relativamente operatria.
Temos defendido que a gesto poderia exercer essa funo, mas,
para isso, ela precisa constituir-se como uma instncia, como um lugar e um
tempo, onde e quando se possa experimentar a tomada de decises coleti-
vas e analisar situaes com um grau de implicao maior em relao ao que
produzido (Onocko-Campos, 2003c).
Portanto, seria necessrio incorporar novas disciplinas na formao
de gestores e planejadores que lhes permitissem entender as vrias dimen-
ses com que esto lidando na hora das decises e conflitos no palco grupal,
pois no se trata somente de criar espaos de fala e trocas autorreflexivas
que propiciariam a democratizao e um grau de anlise maior das prticas,
coisa por si j importante. Trata-se de poder compreender tambm que
esses espaos so frequentemente locus de apresentao de uma mise-en-
-scne de estados pulsionais inconscientes.
Oury destaca a importncia de reconhecermos essa dimenso in-
consciente nas relaes de trabalho:
Ora, na prpria equipe j existe uma forma de colocar em prtica
permanente as relaes complementares, assim como as comple-
mentaridades (mas no as complementaridades tais como: sou es-
pecialista nisso, ele naquilo, etc. . .). Trata-se, com efeito, de um
registro quase material: de um lado a articulao de diferentes com-
petncias, de outro as condies de uma certa forma de convivncia.
A existe uma armadilha: no se trata de uma complementaridade
mais ou menos romntico-moderna, do gnero estamos todos do
mesmo lado, que se perde no especular, mas de uma complementa-
ridade inconsciente (Oury, 1991).
86 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Gesto-subjetividade-clnica
Qual seria a sada para o SUS se no houvesse uma profunda refor-
mulao da clnica que nele se pratica? Teria o Estado brasileiro as condi-
es para financiar um sistema de carter universal nos moldes, por exem-
plo, do modelo norte-americano? E, ainda, imaginando que houvesse
recursos sem fim, seria justo submeter a populao a tal grau de medicali-
zao, que beira a iatrogenia?
Recentemente, tem-se reavivado o debate sobre a integralidade.
interessante esse ponto, pois durante anos a grande diretriz do SUS a ser
conquistada foi a do acesso. E devemos reconhecer que houve avanos em
relao ao acesso, contudo, muitas vezes se avanou sem interrogar acesso
a qu (Onocko-Campos, 2003a, 2003b).
Na moda de finais dos anos 1990, no furor pela eficincia e pelo
Estado mnimo, praticamente se eliminou a discusso sobre a eficcia das
prticas de sade, e isso se viu agravado por um certo discurso ps-moderno
que, amparado em forte relativismo, desqualificou as anlises tcnicas.
Todavia, preciso reconhecer no caso dos encontros assistenciais,
da clnica que sempre haver uma dimenso tcnica do trabalho en-
volvida. O recalcamento de algumas categorias sempre interessante de
ser interrogado. Por exemplo, o tema do cuidado tem sido muito abordado
ultimamente. Entendo que vrios autores procuram com isso chamar a
ateno para a dimenso no tcnica sempre (tambm) envolvida nos en-
contros assistenciais. Valorizar o aspecto intersubjetivo, comunicativo, as
chamadas tecnologias leves (Artman, Azevedo & Castilho S, 1997; Ayres,
2001; Rivera, 1995, 1996; Merhy, 1997). essa uma questo premente e
importante no desenfreado consumo de tecnologias duras que o mercado
mdico tem colocado, sem dvida.
Porm, gostaramos de chamar a ateno para o carter de recalcado
da categoria clnica. A psicanlise ensina-nos a ficar atentos ao que no se
fala. Eliminarmos a problematizao sobre qual a clnica que se faz nos
equipamentos de sade acarreta o risco de banalizarmos a importncia dos
aspectos tcnicos do trabalho. O que diferencia os trabalhadores de sade
do restante da populao no que se refere a valor de uso (e de troca) de sua
prpria fora de trabalho a qualificao tcnica e , sempre, um dado
| 87 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
saber. Mas, tambm, acarreta o risco de no problematizarmos a clnica
como uma disciplina que, precisando sempre de uma slida ancoragem
terica, no se esgota na sua dimenso tcnica, devendo sempre ficar aten-
ta produo tanto de acolhimento quanto de desvio, como muito bem
chamaram a ateno Passos & Benevides (2001).
Trabalharmos em prol da transdisciplinaridade, buscarmos relaes
mais horizontalizadas de poder entre os diversos saberes (mdico, popular,
alternativos, psi, etc.) no nos deveria ofuscar o reconhecimento do avano
que o domnio de certa competncia tcnica traz produo de sade, no
tratamento e reabilitao de algumas doenas. Sendo crticos com uma
leitura tecnicista da sade, porm, desejamos ressaltar que, a nosso ver,
fundamental no descartar a clnica e sua qualidade tcnica, como se fosse
o beb com a gua do banho.
Essa questo parece-nos central, tambm, porque a definio de
quais meios tcnicos um dado trabalhador possui, ou no, na sua prtica,
ser fundamental tanto para a eficcia dessas prticas quanto interferir
tambm no grau de resistncia e tolerncia com que o sujeito em questo
conta para enfrentar o dia a dia em contato permanente com a dor e o
sofrimento.
Deter o domnio de uma ou vrias tcnicas no bom ou ruim em si.
Segundo tentamos mostrar, dependendo do seu funcionamento, do tipo de
processos de subjetivao que um dado equipamento favorece ou no, a
tcnica poder constituir-se em alavanca de novos processos criativos, aber-
tos diversidade, acolhedores da diferena; ou funcionar como receita pres-
critiva, guarda-chuva defensivo contra aquilo que no outro nos ameaa.
Mas isso no uma qualidade da tcnica, depender do contexto de expe-
rimentao da tcnica em questo.
Oury destaca claramente essa funo em relao clnica:
[. . .] exige uma disposio particular que se adquire pelo exerccio
de uma tekn, espcie de ateno trabalhada que a torna sensvel
qualidade do contexto, polifonia dos discursos, s manifestaes
paradoxais de um sentido iluminado. A est um dos objetivos funda-
mentais a que uma formao bem conduzida poderia se propor. Para
desvendar tal ou tal forma de manifestao patolgica preciso estar
88 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
advertido. Problema banal semelhante aprendizagem da escuta
dos barulhos do corao: se no estamos preparados, no adianta
escut-los com o estetoscpio, pois no ouvimos seno rudos con-
fusos (Oury, 1991; grifo nosso).
Digamos que o trabalhador de sade que no conte com razovel
formao tcnica ser submetido a mais um fator de sofrimento, a angstia
que provoca o nada saber, ou, no dizer de Oury, o fato de no estar
advertido. Quando a insegurana tcnica grande, toda demanda ampli-
ficada, no possvel discernir em relao a riscos e urgncias. Tudo se torna
to intenso que, para aplacar essa angstia, tudo acaba por ser banalizado,
caracterizando uma das formas da burocratizao. Tambm, essa insegu-
rana est por trs dos mecanismos que perpetuam certos usos do poder na
instituio, como, por exemplo, o excessivo poder mdico: se eu nada sei,
suponho que outro saiba, delego a ele o saber e o poder. . . Por esses argu-
mentos todos, consideramos os trabalhadores menos qualificados, do ponto
de vista tcnico, mais vulnerveis a sofrimento psquico no contexto dos
equipamentos do SUS que analisaremos a seguir.
Os conhecimentos tcnicos teriam, na nossa argumentao, duas
funes produtoras de eficcia: uma especfica na produo de sade dos
usurios, e outra importante na produo de sade dos trabalhadores. Eles
poderiam ser a mola da ampliao da clnica (Campos, 2003), do resgate da
dimenso do cuidado, da melhora nos processos intersubjetivos de
comunicao, etc.
Cremos, portanto, que, em sade, a ampliao da clnica uma ques-
to de eficcia do sistema e, sendo preciso diferenciar, sempre necessrio
no separar, nem dissociar a questo clnica das formas de organizao do
trabalho e sua coordenao (gesto). E a gesto estar sempre entrelaada
s questes subjetivas.
Por que gesto-subjetividade? O contato
com o irrepresentvel da misria, no contemporneo
Detenhamo-nos brevemente, ento, para analisar a que est expos-
to um trabalhador de sade na periferia das grandes cidades brasileiras no
contemporneo, no SUS.
| 89 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Se estar em contato significa expor-se a afetos e, portanto, a ser
afetado, deveramos pensar na realidade dos grandes bolses de pobre-
za. Quem trabalha nesses locais sabe quo difcil resulta colocar-se em
contato com tanta intensidade cotidianamente. No estamos falando
somente da j dura experincia (que podemos ter em qualquer hospital
universitrio) de conviver com a dor e a morte, o excesso de demanda, a
falta de recursos.
O grau de miserabilidade dessas populaes extrapola nossa capaci-
dade de resistncia. Uma coisa saber em tese que o Brasil um pas
cheio de pobres. Outra bem diferente tentar uma interveno teraputica
com pessoas que estruturaram sua prpria resistncia morte por meio de
formas de subjetivao que no conseguimos compreender. Uma me que
no demonstra preocupao com seu filho gravemente enfermo e malnu-
trido. Um contexto em que vida e morte (trfico, violncia material e subje-
tiva) significam outra coisa e no a que estamos costumados a entender.
Desejamos destacar a intensidade dessa experincia e a sua singularidade.
O grau de esgaramento simblico que percebemos em algumas dessas
comunidades, nas quais, por exemplo, em vez de conversar, mata-se, pe
em xeque todas as nossas propostas interpretativas. Falta-nos suporte,
arcabouo conceitual ou categorial para a sade coletiva poder de fato
apoiar os seus agentes nesse percurso. nessa busca que trabalhamos com
a ideia da gesto como importante produtora de processos de subjetivao.
A gesto como produtora de passagens, para dar cabida a tanta intensida-
de como h no trabalho em sade na rede pblica.
s vezes, afirma-se que os usurios no esto preocupados com os
destinos do SUS, que esto desapropriados dele. Discordamos: eles no
esto desapropriados do que lhes interessa ou daquilo que lhes diz respei-
to s suas prprias estratgias de sobrevivncia. Montar servios de sa-
de, criar PSFs so estratgias nossas. Eles no tm de se apropriar. A me
do menino desnutrido no est desapropriada de nada, ela inventa uma
forma de resistir.
Por isso, a relao equipes/populao deve ser mediada por ofere-
cimentos (Campos, 2000). Um oferecimento como um cavalo encilha-
do passando. A nossa funo multiplicar as oportunidades para que
algumas pessoas o montem. uma questo tica: ns no saberamos
90 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
sobreviver a situaes que vemos nos bolses de pobreza das grandes
cidades brasileiras. Eles sabem. Ns que temos muito que apreender.
Ns s podemos ofertar nossa diferena, nosso estranhamento como
um convite a experimentar outras formas de ser na comunidade. E no
porque a nossa seja melhor, seno porque temos um compromisso tico
em desviar a produo em larga escala de miserveis. Tudo o que vivo
resiste. E muitas dessas comunidades inventaram estratgias muito efica-
zes de reproduo. De fato, vrios sculos de Brasil no conseguiram elimi-
n-los. Nossa estratgia desviar essa reproduo e p-la na trilha da
produo do novo. . . Talvez seja a nica coisa que nos d um pouco de
consistncia.
Nesse contexto, em publicaes recentes, afortunadamente destaca-
se a ideia da integralidade. E a se pe a questo sobre qual o conceito de
integralidade que permeia a clnica. a integralidade dos encaminhamen-
tos? Nada como um bom encaminhamento para nos proteger do estranha-
mento de nos pormos em contato. . . Cada vez que um caso cria alguma
angstia na equipe ele encaminhado outra, at que esta no aguente
mais o medo, ou a sensao de impotncia e assim vai. . . deriva, derivado
para sempre. Contudo, muitas equipes defensivamente chamariam isso de
integralidade, pois sempre h para onde encaminhar. A integralidade est,
a nosso ver, profundamente relacionada com a ampliao da clnica para
alm do puramente biolgico, na direo dos riscos subjetivos e sociais
(Campos, 2003).
claro que no estamos com isso desconhecendo os gargalos do
SUS. Em muitos locais no h para onde encaminhar, ou no h vagas para
procedimentos importantes; esse continua a ser um entrave do sistema
como macropoltica.
Contudo, a soluo macropoltica, por si s, sempre ser insuficiente
(a oferta gerando cada vez mais demanda), se no operarmos desvios nas
formas de produzir sade. Por isso, sustentamos que a gesto tem um
compromisso de dar um certo suporte, de criar instncias de anlise para as
equipes. Mas isso no sentido psicanaltico, ajudando a compreender que o
turbilho de emoes que nos acompanha no trabalho inseparvel de
nossa condio de humanidade. Como diz Kas sofremos tambm, na
instituio, por no compreendermos a causa, o objeto, o sentido e a prpria
| 91 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
razo do sofrimento que a experimentamos (Kas, 1991). Ser que a
gesto nos pode ajudar nessa tarefa?
Cremos que isso no ser possvel na dimenso e escala que a reali-
dade brasileira hoje nos demanda, se no nos valermos de alguns dispo-
sitivos para propiciar a tomada de consistncia.
Diretrizes como as de responsabilizao, resolutividade e acolhimento
poderiam funcionar como uma espcie de operador lgico (Oury, 1991)
para a reorganizao dos servios em prol da ampliao da clnica e da
humanizao da ateno sade.
Para conseguir operar com diretrizes como operadores lgi-
cos (disparadores de anlises e mudanas, e no como camisas de fora
ideolgicas), seria necessrio criar nos equipamentos uma certa ambin-
cia. Ambincia que no dependeria de engenharias cosmticas nos
prdios e salas de espera, porm, no dizer de Oury, seria constituda
pelas maneiras da civilizao local que permitem acolher o inslito. Para
esse autor,
[. . .] poder decifrar naquilo que se apresenta o que importante
acolher, e de qual maneira acolh-lo. A funo de acolhimento a
base de todo trabalho de agenciamento [. . .] No se trata, certa-
mente, de se contentar com uma resposta tecnocrtica tal como
funo de acolhimento = hspede de acolhimento! O acolhimento,
sendo coletivo na sua textura, no se torna eficaz seno pela valorizao
da pura singularidade daquele que acolhido. Esse processo pode-se
fazer progressivamente, por patamares, e s vezes no seno ao fim
de muitos meses que ele se torna eficaz para tal ou tal sujeito [. . .]
deriva (Oury, 1991; grifo nosso).
Como vemos, tais mudanas desejveis nos encontros assistenciais
requerem intervenes complexas (no sentido do grande nmero de vari-
veis) e de grande investimento tcnico, tico e poltico. No acontecero
somente com boa vontade, no demoram somente por causa de falhas na
comunicao, nem por falta de humanizao. Mas bem acontecem por
inevitvel humanidade dos humanos ali envolvidos.
92 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Volta abordagem metodolgica,
da hermenutica-crtica narrativa poltica
Gadamer (1997) pe o tema da aplicao logo antes da discusso
sobre saber tico e saber tcnico. Ele afirma enfaticamente que seria falso
pensar que com o desenvolvimento tecnolgico poderamos prescindir da
reflexo tica. Pensamos que no mago dessa discusso, e na sua elabora-
o sobre o destaque do objeto (lembrando que, para esse autor, so o
presente e os interesses do pesquisador os que operam o destaque), est
a questo da prxis. No universo gadameriano h sempre uma relao j
existente entre linguagem e ao. Essa a causa pela qual a hermenutica
est sempre em busca do sentido, diferena de certos ramos da lingustica
preocupados com a estrutura da linguagem.
Gadamer diz-nos: aquele que atua lida com coisas que nem sempre
so como so, pois que so tambm diferentes [. . .] Seu saber deve orien-
tar sempre seu fazer (1997). Parece-nos importante destacar esse aspecto
que vincula indissociavelmente a prxis tica. Sempre que nos depara-
mos com dilemas ticos em relao a alguma ao, raramente a um discur-
so. A retrica est salva dessas indagaes, ou seno no existiriam os
sofismos. retrica interessa convencer e no a busca da verdade. Destar-
te, enquanto a retrica afirma, a hermenutica interroga.
Recentemente Julia Kristeva, reflexionando sobre as novas doenas
da alma, interpela-nos: Voc tem uma alma? Essa pergunta filosfica,
teolgica ou simplesmente incongruente encerra hoje uma nova dimen-
so. Confrontada aos neurolpticos, aerbica e ao massacre da mdia, a
alma ainda existe? (2002a).
Para essa autora, toda interpretao uma revolta (Kristeva, 2000).
Na etimologia da palavra revolta, lembra-nos, est contida a acepo rejei-
o da autoridade (autores como Foucault e Nietzsche teriam concorda-
do). Gadamer, na sua elaborao sobre o mundo do texto, afirma que no
fcil pensar que o que est escrito no seja verdade. O prprio movimento
de fixao pela escrita outorga ao texto escrito um estatuto de autoridade.
Mas, para ele, a autoridade algo que aceita ser inspecionado e no uma
submisso. na volta tradio, na escuta das mltiplas vozes com que ela
nos fala que podemos achar a nossa prpria voz.
| 93 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Kristeva lembra-nos que somos indivduos e h muito tempo. Hou-
ve de fato, na modernidade, diversas figuras da subjetividade e diversas
modalidades do tempo. Dentre elas, a psicanlise nos diz que a felicidade
s existe ao preo de uma revolta: A revolta que se revela acompanhando
a experincia ntima da felicidade parte integrante do princpio do prazer.
Alis, no plano social a ordem normalizadora est longe de ser perfeita e
gera os excludos [. . .] (Kristeva, 2000).
Portanto, esta autora chama-nos a ateno para a necessidade de
uma cultura-revolta numa sociedade que vive, se desenvolve e no estag-
na. Para ela, quando essa cultura no existe, a vida transforma-se em uma
vida de morte, de violncia fsica e mortal, de barbrie. No interessante,
nesse momento, voltar a refletir sobre a periferia das grandes cidades bra-
sileiras, as relaes equipes-usurios que tentamos mapear acima, e a for-
mulao de polticas pblicas luz das questes trazidas por Kristeva?
Tenho dvidas sobre se a palavra barbrie, oferecida pela autora,
seja a mais apropriada para se pensar na misria brasileira. Contudo, care-
cendo de maior criatividade, penso que pelo menos seria uma tentativa de
tirar a situao de seu carter inominvel. Parece-me que poderamos acei-
tar uma frase do tipo: a produo em larga escala de miserveis no Brasil
constitui-se em uma barbrie.
O dicionrio diz que barbrie vem de barbaria, selvageria, cruelda-
de, atrocidade, barbaridade, barbarismo. Talvez devamos dizer, narrar de
novo e de outra forma essa atrocidade que no contemporneo se apresenta
naturalizada. Sabemos que produzida, no natural. E preciso uma
certa revolta para poder recuperar a experincia ntima de felicidade no
lao social. Operao que s pode acontecer no interesse: entre a palavra
e a ao (Kristeva, 2002b).
Para essa autora, o inter-esse prprio da poltica, e assim ela volta
a pr em contato a narrativa e a poltica: pela narrativa, e no pela lngua
em si (que no lhe perdura menos como via e passagem) que se realiza o
pensamento poltico (Kristeva, 2002b). Lembra-nos com isso que a narra-
tiva sempre memria da ao e estranheza incessante. A ao nunca
possvel no isolamento desde que sempre estar inserida no mundo social.
Portanto, seria preciso ainda fazer uma outra tarefa: Ultrapassar a noo
de texto, [. . .] Hei de me esforar para introduzir, em seu lugar, a noo de
94 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
experincia, que compreende o princpio de prazer e o de renascimento
de um sentido para o outro, e que s seria possvel compreender luz da
experincia-revolta (Kristeva, 2000).
Experincia que, para essa autora, a psicanlise poderia propiciar a
cada sujeito humano individualmente.
Tentamos alinhavar uma narrativa que argumenta que a psicanlise
tambm teria uma contribuio a dar no contexto da sade coletiva brasi-
leira, dos encontros entre trabalhadores e usurios, e nas instncias de
gesto do cotidiano. Procuramos mostrar as potencialidades que algumas
categorias da psicanlise poderiam trazer para os nossos servios de sade.
O de um reconhecimento de um sentido para o outro que no se baseie
no recalque de nossa afetividade, que possa aceitar um certo grau de mal-
-estar, precisamente porque inserido no lao social.
E, na trilha aberta por Kristeva, autorizar-nos-amos a dizer que
o que traz para o texto sua dimenso tica constituir-se em uma narra-
tiva poltica, alis, nica maneira de constituir uma memria organizada
desde os tempos de Pricles. Assim, queremos deixar nossa contribuio
na Sade Coletiva brasileira, nossa maneira de responder metodolgi-
ca, terica e praticamente pergunta de Kristeva: sim, ainda temos uma
luta e uma alma.
Referncias
Arouca, S. O dilema preventivista. So Paulo-Rio de Janeiro:Unesp-Fiocruz, 2003
[1975].
Artman, E.; Azevedo, C. & Castilho S, M. Possibilidades de aplicao do enfoque
estratgico do planejamento no nvel local de sade: anlise comparada de
duas experincias. Cadernos de Sade Pblica, vol. 13, n.
o
4, pp. 723-40, 1997.
Ayres, R. Sujeito, intersubjetividade e prticas em sade. Cincia e Sade Coletiva,
vol. 6, n.
o
1, pp. 63-72, 2001.
Benasayag, M. & Charlton, E. Esta dulce certidumbre de lo peor. Buenos Aires:
Nueva Visin, 1993.
Birman, J. Enfermidade e loucura. Rio de Janeiro: Campos, 1980.
Burlandy, L. & Bodstein, R. C. A. Poltica e sade coletiva: reflexo sobre a
produo cientfica (1976-1992). Cadernos de Sade Pblica, vol. 14, n.
o
3,
pp. 543-54, 1998.
Campos, G. W. S. A sade pblica e a defesa da vida. So Paulo: Hucitec, 1991.
. Consideraes sobre a arte e a cincia da mudana: revoluo das coisas e
reforma das pessoas. O caso da sade. In: Ceclio, L. C. O. (org.). Inven-
tando a mudana na sade. So Paulo: Hucitec, 1994, pp. 29-88.
| 95 O encontro trabalhador usurio na ateno sade
. Um mtodo para anlise e co-gesto de coletivos. So Paulo: Hucitec, 2000.
. A clnica do sujeito: por uma clnica reformulada e ampliada. In: Idem. Sade
paideia. So Paulo: Hucitec, 2003, pp. 51-67.
Carvalho, S. R. Sade coletiva e promoo sade: uma reflexo sobre os temas
do sujeito e da mudana. Doutorado. Campinas: DMPS/FCM/Unicamp,
2002.
Carvalho, I. M. Educao fsica e sade coletiva: uma introduo. In: Luz, M.
Novos saberes e prtica em sade coletiva. So Paulo: Hucitec, 2003, pp. 19-36.
Donnangelo, C. Medicina e sociedade. So Paulo: Pioneira, 1975.
Enriquez, E. A organizao em anlise. Petrpolis: Vozes, 1997.
Ferreira, A. B. H. Dicionrio Aurlio da lngua portuguesa. CD-ROM. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
Figueiredo, A. C. Vastas confuses e atendimentos imperfeitos: a clnica psicanaltica
no ambulatrio pblico. Rio de Janeiro: Relume-Dumar,1997.
Fleury, S. Sade: coletiva? Questionando a onipotncia do social. Rio de Janeiro:
Relume-Dumar, 1992.
Freud, S. 1997. O mal-estar na civilizao. Edio eletrnica brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud (CD-ROM). Rio de Janeiro:
Imago, 1997 [1931].
. 1975. Construes em anlise. In: Idem. Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, V. XXIII. Rio de Janeiro: Ima-
go, 1975, pp. 289-304 [1937].
Furtado, J. P. & Onocko-Campos, R. A transposio das polticas de sade men-
tal no Brasil para a prtica nos novos servios. Revista Latino-Americana de
Psicopatologia Fundamental, vol. VIII, n.
o
1, pp. 109-22, 2005.
Gadamer, H. G. Verdade e mtodo: traos fundamentais de uma hermenutica filos-
fica. Trad. Flvio Meurer. Petrpolis: Vozes, 1997.
Gonalves, R. B. M. Tecnologia e organizao social das prticas de sade. So
Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1994.
Kas, R. Realidade psquica e sofrimento nas instituies. In: Kas, K.; Bleger, J.;
Enriquez, E.; Fornari, F.; Fustier, P.; Roussillon, R. & Vidal, J. P. (orgs.). A
instituio e as instituies. Trad. Joaquim Pereira Neto. So Paulo: Casa do
Psiclogo, 1991, pp. 1-39.
Kristeva, J. As novas doenas da alma. Trad. Joana Anglica dAvila Melo. Rio de
Janeiro: Rocco, 2002a.
. O gnio feminino: a vida, a loucura, as palavras. Hanna Arendt, t. I. Trad.
Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Rocco, 2002b.
Kristeva, J. Sentido e contrassenso da revolta: poderes e limites da psicanlise I. Trad.
Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
Kuhn, T. A estrutura das revolues cientficas. Trad. Beatriz Boeira & Nelson
Boeira. So Paulo: Perspectiva, 1997.
LAbatte, S. A anlise institucional e a sade coletiva. Cincia e Sade Coletiva, vol.
8, n.
o
1, pp. 265-74, 2003.
96 | O encontro trabalhador usurio na ateno sade
Luz, M. A produo cientfica em cincias sociais e sade: notas preliminares.
Sade em Debate, vol. 24, n.
o
55, pp. 54-68, 2000.
Menndez, E. Grupo domstico y proceso de salud/enfermedad/atencin. Del
teoricismo al movimiento contnuo. Cuadernos Mdico Sociales, vol. 59, pp.
3-18, 1992.
Merhy, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropoltica do trabalho vivo. In EE
Merhy, E. E. & Onocko-Campos, R. (orgs.). Agir em sade. So Paulo:
Hucitec, 1997, pp. 71-112.
Minayo, M. C. (org.). Os muitos brasis, sade e populao na dcada de oitenta. So
Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1995.
Motta, F. C. P. & Freitas, M. E. 2000. Vida psquica e organizao. Rio de Janeiro:
Ed. FGV, 2000.
Onocko-Campos, R. O planejamento no labirinto: uma viagem hermenutica. So
Paulo: Hucitec, 2003a.
. Planejamento em sade: a armadilha da dicotomia pblico-privado. RAP
Revista de Administrao Pblica, vol. 37, n.
o
2, pp. 189-200, 2003b.
. A gesto: espao de interveno, anlise e especificidades tcnicas. In: Cam-
pos, G. Sade paideia. So Paulo: Hucitec, 2003c, pp. 122-49.
Oury, J. 1991. Itinerrios de formao. Revue Pratique, vol. 1, pp. 42-50, 1991.
Passos, E. & Benevides, R. Clnica e biopoltica na experincia do contempor-
neo. Revista de Psicologia Clnica PUC/RJ,vol. 13, n.
o
1, pp. 89-100, 2001.
Pitta, A. Hospital dor e morte como ofcio. So Paulo: Hucitec, 1990.
Ricur, P. Interpretao e ideologias. Trad. Hilton Japiassu. Rio de Janeiro: Francis-
co Alves, 1990.
. Tempo e narrativa, t. I. Trad. Constana Marcondes Csar. Campinas: Papirus,
1997.
Rivera, F. J. U. Agir comunicativo e planejamento social. Rio de Janeiro: Fiocruz,
1995.
. A gesto situacional (em sade) e a organizao comunicante. Cadernos de
Sade Pblica, vol. 12, n.
o
3, pp. 357-72, 1996.
Rodriguez, E. B. C. As subjetividades em revolta institucionalismo francs e novas
anlises. Mestrado. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social/Uerj, 1993.
Roudinesco, E. & Plon, M. Dicionrio de psicanlise. Trad. Vera Ribeiro. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
Vasconcelos, C. M. Os paradoxos do SUS. Doutorado. Campinas: DMPS/FCM/
Unicamp, 2005.
N
Captulo 5
Clnica: a palavra negada
sobre as prticas clnicas nos servios
substitutivos de sade mental*
Rosana Onocko Campos
as ltimas dcadas, poucos trabalhos no campo sanitrio brasileiro
levantaram a importncia da clnica nos servios pblicos de sade.
Contudo, poderiamos reconhecer que as questes mdicas e sanitrias
encontram-se interligadas desde o sculo XVIII (Snow, Vigilancia Sanita-
ria alem, Wirchow, etc.).
Segundo Foucault (1989), a estruturao da clnica contempornea
aconteceu no sculo XIX, e, pelo menos na Frana, a clnica moderna se
constitui sobre bases anatomopatolgicas, morfolgicas, ou seja, desde a
sua origem estrutura-se como um certo olhar.
J no comeo do sculo XX, com as elaboraes de Freud, a escuta
entra em cena: o pai da psicanlise dir que as histricas tm o que dizer. O
advento da psicanlise o resgate da escuta. Mas essa escuta permanecer
at hoje descolada do olho que examina.
Freud inventa o espao psicanaltico no movimento de ruptura com
a rotina da consulta mdica e a entrevista teraputica. Aquilo que,
como costume sustenta o vnculo estabelecido no face a face fica
agora suspenso: o olhar, a presena frontal dos corpos, sua semitica
postural e gestual (Kas, 1997, p. 50).
* Publicado originalmente em Sade em Debate, Rio de Janeiro, vol. 25, n.
o
58, pp. 98-
111, mai.-ago. 2001. Reedio autorizada pelos Editores.
97
98 |Clnica: a palavra negada
Assim, criam-se settings diferentes para escutar e para ver. O doente
tambm, e nesse mesmo movimento, cindido na suas dimenses subjeti-
va e biolgica.
Em Amrica Latina, desde a dcada de 1960, desenvolveu-se com
grande nfase a epidemiologia social, que deriva em uma assim chama-
da medicina social, que no conseguiu desenvolver uma proposta clni-
ca. Nesse caso, o escopo do olhar abriu-se tanto que ele j no mais enxer-
gava os indivduos: os problemas de sade seriam problemas dos grupos e
comunidades. E deve-se reconhecer que, apesar das crticas empreendidas
pela medicina social clnica (pela reduo do social com que a clnica
opera), a prpria medicina social, constituda ela mesma sobre bases epide-
miolgicas, atribuiu-se o direito de definir necessidades sociais, estruturan-
do-se tambm como um certo olhar. Neste enfoque podem ser olhados
grupos de risco e comunidades, que jazem a nossa frente para que desven-
demos seus segredos e necessidades, mudando de escala: igual maca de
qualquer consultrio mdico.
A dimenso social continua cindida, pois agora se pode olhar e at
escutar as comunidades, mas elas no se encarnam em doentes concre-
tos. No Brasil, aps a criao do Sistema nico de Sade, aparece a fi-
gura do conselheiro: o sujeito com voz. Contudo, Dona Joana tem direitos
no Conselho local, e pode ser ouvida na qualidade de conselheira, mas
ela tem pouco a nos dizer sobre a doena de sua filha quando se encon-
tra na fila do Centro de Sade. Os cidados devem ser escutados; os doen-
tes, nem tanto.
O Planejamento em Sade, em seu processo de constituio discipli-
nar no interior da Sade Coletiva brasileira, manteve-se, em geral, afastado
das questes clnicas, compartilhando, assim, caractersticas gerais do cam-
po da Sade Coletiva (Onocko, 2001). Contudo, no mbito dos servios
assistenciais de Sade, quando samos da pergunta para qu (finalidade)
e chegamos pergunta o qu ou como (nvel operativo), nos deparamos
sempre com uma escolha clnica.
Estamos chamando, aqui, de clnica s prticas no somente mdi-
cas, mas de todas as profisses que lidam no dia a dia com diagnstico,
tratamento, reabilitao e preveno secundria. Isto refora nosso argu-
mento sobre a especificidade do Planejamento em Sade: quem quer con-
Clnica: a palavra negada| 99
tribuir para planejar mudanas em servios de sade deve dispor de um
certo leque de modelos clnicos, e isso uma questo de eficcia. Se o
Planejamento em Sade quer ser eficaz promovendo mudanas nos servi-
os, ele precisa, necessariamente, de interlocuo com a clnica.
Campos (2000) defende que os servios de sade tm dupla finalida-
de: produzir valores de uso (prticas produtoras de sade, curadoras, cuida-
doras e preventivas) e sujeitos trabalhadores mais autnomos e prazerosos.
Pensamos o Planejamento em sade como dispositivo (Onocko, 1998).
Aquilo que, segundo Jullien (1998) propicia, faz advir, ou, segundo Barem-
blitt (1994), abre espaos para a criao do novo radical. Assim sendo, ele
se constitui como uma prxis
1
que visa produo e no somente ao, e
defendemos que essa produo pode, muito bem, ser compromissada com
essa dupla finalidade. Assumirmos essa postura trar consequncias de
impacto sobre nossa prtica como planejadores. Precisamos resgatar para o
Planejamento em Sade uma preocupao fundamental com os sujeitos
que trabalham nos servios de sade, com a finalidade de subsidiar um
exerccio profissional que estimule novas maneiras de subjetivao, e tam-
bm, nos preocupar com o desenvolvimento de uma reflexo sobre as mo-
delagens clnicas que possa se constituir em suporte para novas prticas.
Essa reflexo sobre a clnica no pode ser amarrada s vises redu-
cionistas predominantes no discurso sanitrio. A tradio dessa rea tem
tratado a clnica como uma prtica que no interessa ao campo dos nossos
saberes efetivos prvios. Mais ainda, s vezes ela aparece como oposta e
estruturalmente contraposta preveno e promoo da sade.
Contudo, deve-se reconhecer que uma parte da eficcia da Sade
Coletiva depende, em alguma medida, dos que tratam. Alguns auto-
res propuseram-se a falar em processo de sade/doena/ateno (Me-
nndez, 1992), e, assim, a nosso ver, recolocaram certa nfase nos servi-
os assistenciais. Mas, como a rea de Planejamento, mesmo no interior
da Sade Coletiva, tem se ocupado dos servios de sade? Como se fos-
sem estabelecimentos e organizaes passveis de serem submetidos a
1
Chamamos de prxis este fazer no qual os outros so visados como seres autnomos
[. . .] A prxis por certo uma atividade consciente, s podendo existir na lucidez; mas ela
diferente da aplicao de um saber preliminar (no podendo justificar-se pela invocao de um tal
saber o que no significa que ela no possa justificar-se) (Castoriadis, 1986, p. 95).
100 |Clnica: a palavra negada
tcnicas gerenciais, de maneira semelhante s fbricas de sapatos ou os servi-
os de txis.
Uma evidncia disso pode ser encontrada na contratao de geren-
tes sem nenhuma vinculao prvia com a sade para dirigir grandes
estabelecimentos assistenciais. No melhor dos casos, os planejadores tm
tratado os servios de sade como organizaes de tipo profissional, em
cujo caso tratar-se-ia de intervenes em nvel da cultura organizacional,
ou comunicativa (Rivera, 1996). Partindo desse olhar, tratar-se-ia de en-
xertar novos valores na organizao (como se isso pudesse ser conseguido
independentemente das formas de subjetivao a vigentes), e de limitar-
-nos a reconhecer o poder diferenciado que os mdicos detm nas orga-
nizaes de sade (o que acaba por reforar o patrimnio exclusivo dos
mdicos sobre a clnica, e sustenta a degradao das prticas clnicas sob a
forma de procedimentos mdicos).
Para a tradio da sade coletiva, a clnica tradicional opera pre-
dominantemente no setting individual, do encontro singular. E a prpria
rea de Sade Coletiva estruturou-se contrapondo as prticas coletivas s
individuais; , portanto, compreensvel, que o tema da clnica tenha ficado
fora de foco para a maioria dos sanitaristas.
Pensamos que uma reflexo sobre a clnica se faz necessria se pre-
tendemos avanar na discusso sobre a eficcia. Campos (1997) props as
seguintes categorias para repensar a clnica:
Clnica degradada: queixa-conduta, no avalia riscos, no trata nem a
doena, trata sintomas. a Clnica mais comum nos Prontos-Atendimen-
tos, mas, tambm a de grande parte de nossa ateno demanda (encai-
xes ou programadas) em muitos outros servios. esta a clnica da eficin-
cia: produz muitos procedimentos (consultas), porm, com muito pouco
questionamento sobre a eficcia (de fato, que grau de produo de sade
acontece nessas consultas?).
Deve-se reconhecer que aps a crio do SUS a clnica adquiriu
tambm um valor ideolgico: ter acesso equivale a possuir cidadania. Mas
quase ningum interroga a quais tipos de cuidados se tem acesso. Assim, a
degradao da clnica tem sido estimulada por essa associao de valores
transcendentes: o acesso do cidado e a eficincia. Paradoxo da extenso
de direitos!
Clnica: a palavra negada| 101
Clnica tradicional: trata das doenas enquanto ontologia, na sua se-
rialidade, o que h de comum nos casos. Nem sempre trabalha com riscos,
ainda que devesse; est focada no curar, no na preveno, nem na reabilita-
o. Intervir sobre o prognstico dos casos cada vez menos frequente. O
sujeito reduzido a uma doena, no melhor dos casos, ou a um rgo doente.
Contudo, e independentemente de sua nfase no biologico, podemos reco-
nhecer esta como a clnica dos especialistas, que estritamente protegidos
nos seus corpus profissionais j no podem fazer prxis na prpria prtica e
interrogar a eficcia do que produzem. Toda vez que a clnica fica fortemente
amarrada a prescries tcnicas, restringe-se sua possibilidade de amplia-
o. Na sade mental, alguns, em nome da clnica, praticam essa clnica.
Clnica ampliada: (clnica do sujeito) a doena nunca ocuparia todo o
lugar do sujeito, a doena entra na vida do sujeito, mas nunca o desloca
totalmente. Seu Joo est doente e continua a ser trabalhador metalrgico,
obsessivo, pai, etc. Nem na pior das doenas, nem beira da morte, pode-
ramos, nunca, ser totalmente reduzidos condio de objeto. O sujeito
sempre biolgico, social, e subjetivo. O sujeito tambm histrico: as de-
mandas mudam no tempo, pois h valores, desejos que so construdos
socialmente e criam necessidades novas que aparecem como demandas.
Assim, clnica ampliada seria a que incorporasse nos seus saberes e incum-
bncias a avaliao de risco, no somente epidemiolgico, mas tambm
social e subjetivo, do usurio ou grupo em questo. Responsabilizando-se,
no somente pelo que a epidemiologia tem definido como necessidades,
mas tambm pelas demandas concretas dos usurios. Campos (2000) en-
tende que as demandas so tambm manifestao concreta de necessida-
des sociais produzidas pelo jogo social e histrico, que foram se constituin-
do, e que aparecem na sua singularizao. evidente que para desenvolver
esse tipo de clnica a formao do superespecialista fica estreita, pois esta
proposta gera tenso nas barreiras disciplinares, estimulando o trabalho em
equipe. Trabalho esse que vem acontecer como uma nova prxis e no mais
como aquele lugar idealizado, utpico e que ningum teria visitado jamais,
da equipe transdisciplinar perfeita.
Para o Planejamento em sade vir a ser uma prxis preocupada com
o mundo das finalidades e com a eficcia, preciso que ns, planejadores
da Sade Coletiva, no continuemos surdos s questes relativas aos
102 |Clnica: a palavra negada
modelos clnicos. Deveramos desenvolver reflexes sobre a clnica nas suas
mltiplas especialidades: assim, na Sade Mental, ou no combate s dro-
gas, ou na Sade da criana, ou da famlia, ou da mulher, a clnica deveria ser
sempre interrogada luz da sua produo, da sua eficcia. O substantivo
clnica seria, assim, sempre plural e adjetivado (Campos, 1997).
O espao da clnica na organizao de servios
substitutivos de sade mental: um conjunto vazio?
Se a constituio da clnica no espao dos servios pblicos de sa-
de se relaciona com sua produo social e histrica, nos servios de sade
mental encontraremos situao semelhante, ainda que neles possam ser
reconhecidas outras influncias, diretamente vinculadas sua especifici-
dade e crtica do sistema manicomial que marcou fortemente essa rea.
Assim, aps a criao do SUS, fortaleceu-se a crtica ao modelo de
tratamento asilar, com tudo o que ele acarreta de submisso, isolamento e
discriminao negativa. O mpeto da Luta Antimanicomial criou focos de
cegueira, espaos recalcados, nossos prprios pactos denegatrios.
2
Nisso,
nossa luta se assemelha a toda luta.
Como lembra Amarante (1996), na inspirao basagliana a doena
colocada entre parnteses, o olhar deixa de ser exclusivamente tcnico,
exclusivamente clnico. Ento, o doente, a pessoa o objetivo do trabalho,
e no a doena. Dessa forma a nfase posta no processo de inveno da
sade e de reproduo social do paciente. Mas, nos diz tambm esse
autor: a operao colocar entre parnteses , muitas das vezes, entendi-
da como a negao da existncia da doena, o que em momento algum
cogitado [. . .] (Amarante, ibidem, p. 84).
Essa influncia, em muitos casos mal interpretada como abolio da
doena e da clnica, tem contribudo para um certo esvaziamento da discus-
so sobre a clnica nos servios substitutivos de sade mental.
Na nossa experincia, com superviso institucional de vrios servios
de sade mental nos ltimos anos, temos a impresso de que a doena no
2
Chamo de pacto denegatrio a formao intermediria genrica que, em qualquer
vnculo [. . .] conduz irremediavelmente ao recalque, recusa, ou reprovao [. . .] o que
pudesse questionar a formao e a manuteno desse vnculo e dos investimentos do que objeto
(Kas, 1991, p. 27).
Clnica: a palavra negada| 103
foi posta entre parntesis, para recolocar o foco no doente, a doena foi
negada, negligenciada, oculta por trs dos vus de um discurso que, s
vezes, e lamentavelmente, transformou-se em ideolgico. Nessa linha,
possvel reconhecer no discurso de alguns membros da comunidade anti-
manicomial certa idealizao da loucura, negao das dificuldades concre-
tas e materiais do que significa viver como portador de sofrimento psquico
e minimizao do verdadeiro sofrimento que se encarna nesses pacientes,
por exemplo, no surto psictico.
Na contramo, um sendeiro que se bifurca: em nome da doena e da
clnica os idelogos da psiquiatria organicista continuam a sustentar teses
bizarras, como a da origem puramente gentica, o tratamento condutista
que repete o asilo fora dele, a continuidade das camisas de fora e, lamen-
tavelmente, at do eletrochoque.
E, alguns psicanalistas que, ainda que bem-intencionados, preten-
dem transformar todo servio de sade em uma reproduo do consultrio
particular, como se o salto entre pblico e privado pudesse ser dado sem
consequncias. Ao nosso ver, se opera, em algumas abordagens, uma certa
neurotizao do psictico: nada se sabe, o sujeito tem de demandar, tomar
decises e advir. Ora, se um psictico pudesse fazer isso no precisaria de
servios especiais. Sem dvida, existem concepes clnicas embasando
essas prticas. O que desejamos ressaltar a necessidade de ampliar o
debate sobre a clnica possvel no servio pblico de Sade Mental. Parti-
culamente sobre uma clnica das psicoses.
No interregno, continuam sofrendo milhares de pacientes psic-
ticos. Apesar de tudo que temos avanado, ainda, em muitos lugares do
pas, poucas vezes se oferece a esses usurios, como alternativa teraputi-
ca, algo mais que remdios, uma internao de vez em quando, e, no me-
lhor dos casos, uma luta para ele tambm se engajar. Diga-se de passagem,
que, quando isso acontece, a conscincia da equipe, entendendo do que se
trata, e sem manipular os usurios, pode vir a ser um magnfico recurso
teraputico.
Lentamente, muito mais lentamente do que gostaramos, os servios
asilares vo sendo substitudos por outros equipamentos: Centros de
Ateno Psicossocial (Caps), Ncleos de Ateno Psicossocial (Naps), Hos-
pitais Dia (HD), equipes de sade mental no Programa de Sade da
104 |Clnica: a palavra negada
Famlia, etc. Desejamos destacar alguns entraves que identificamos neles,
pois, pensamos, no se devem a uma concepo tcnica sobre a organiza-
o do trabalho, mas a uma impossibilidade que se constitui no interme-
dirio das relaes entre os sujeitos que ali trabalham e seu objeto de
trabalho. Assim, coloca-se a questo da subjetividade dos que tratam,
de sua insero institucional, s ameaas narcsicas a que so submetidos
pelo prprio fato de trabalharem com pessoas com sofrimento psquico
(Marazino, 1989), (Kas, 1996).
Pr a doena entre parnteses trazer para o centro do foco o usurio
do servio. Um usurio que muitas vezes est dissociado, e que o servio
contribui para dissociar ainda mais. Remdio com psiquiatra. Escuta
com psiclogo. Trabalho com o terapeuta-ocupacional. Intercorrncia cl-
nica, outra: no conosco. Surto? Vai ter de internar.
Claro, nem todos os lugares funcionam exatamente assim, estamos
procurando reconhecer alguns entraves, e sugerir algumas linhas de refle-
xo para serem aprofundadas.
No fundo, essa uma postura clnica: crer que fazer consciente algu-
mas coisas resolve outras. Como disse Japiassu,
a conscincia no imediata, porm mediata; no uma fonte, mas
uma tarefa, a tarefa de tornar-se consciente, mais consciente ( Japias-
su, 1990, p. 10).
Alguns eixos para pensar a clnica na organizao dos
servios substitutivos na rede pblica
No propomos estes eixos na pretenso de esgotar a discusso, nem
de fechar uma proposta clnica nica para os servios substitutivos. Esta-
mos chamando-os de eixos, precisamente por identific-los como ncleos
temticos, em volta dos quais agrupam-se inmeras prticas que, constata-
mos, acontecem em servios dos mais variados. Ressalt-los como eixos tem
a inteno de criticar a naturalizao dessas prticas, resgatar seu valor de
uso do ponto de vista do que, de fato, pretende ser produzido. Destaque
que fundamentamos na necessidade de nos interrogarmos sobre o sentido
de nosso trabalho, sobre o valor de nossas prticas, sobre a eficcia.
Clnica: a palavra negada| 105
A crise
Os equipamentos substitutivos: a que ser que se destinam? Ou,
perguntando a partir de um referencial do Planejamento: para que servem?
Deixando de lado a grande carncia de servios destinados aten-
o de pacientes com problemas de drogadio e/ou lcool (pois mereceria
estudo particular), na maioria dos casos os servios de ateno sade
mental vem se definindo com uma vocao especial para o atendimento de
psicticos e neurticos graves. Na maioria deles, tambm, colocando-se com
maior ou menor nfase a necessidade de serem de fato substitutivos
internao psiquitrica integral.
Na nossa experincia pessoal, e na maioria dos servios com que
tivemos contato, essa funo cumprida, com variaes, porm nunca com
taxa zero de internaes. Quer dizer que, comparados os pacientes com
eles mesmos, a reduo da frequncia de internaes muito importante
depois que se vinculam a algum servio substitutivo, e considerados o mon-
tante de pacientes e a quantidade de encaminhamentos feitos para unida-
des de internao a taxa relativamente baixa (num servio da cidade de
Campinas: 1,5% ao ms). Isso quer dizer que nesse servio de cada
cem pacientes acompanhados, um paciente e meio ser encaminhado a
internao cada ms. Ainda que sem fontes de comparao, parece-nos
que possvel sustentar a tese da frequncia baixa. (Pois, por exemplo, em
um outro servio que acompanhamos e que funciona ainda na lgica do
ambulatrio, a taxa de 3,5% ao ms.) Ento, autorizamo-nos a dizer que
os servios substitutivos so definitivamente eficazes em prevenir interna-
es. Ainda assim no pudemos constatar taxa zero de internao. O que
talvez se deva ao fato de nossa experincia acontecer em servios sem leitos
(Caps, HD, ambulatrios).
O que temos visto acontecer com os usurios que acabam sendo
internados que, muitas vezes, esse episdio da internao produz uma
quebra de sua vinculao com o servio, que resulta, aps ela, que ele volte
a ficar fragilizado e exposto ao risco de novas internaes.
A relao entre os servios de um sistema de sade mental comple-
xa. Mas gostaramos de salientar que por trs dessa complexidade locali-
za-se uma questo fortemente entrelaada com a concepo clnica que
106 |Clnica: a palavra negada
tenhamos da psicose. Tudo isso permeado pelo valor fortemente ideolo-
gizado de no internars!.
Se assumirmos que o momento do surto , para pacientes e tcnicos,
momento de fundamental importncia, poderemos escapar da simples rei-
terao do valor ideolgico e propor outras sadas.
[. . .] o surto psictico, vivido com enorme angstia, a falncia dos
referenciais que sustentavam este indivduo. Esta quebra joga o su-
jeito no medo, confuso mental, perda dos limites corporais, nem
mesmo o tempo como uma dimenso tem consistncia suficiente:
deixa de existir como tal (Carrozzo, 1991, p. 33).
Entendermos esse momento apontar para ns a necessidade de
qualificar os servios substitutivos para intervir na crise. E deveremos reco-
nhecer que em alguns usurios e em algumas situaes a necessidade de
resguardo, proteo e conteno sero fortemente colocadas pelo apareci-
mento do surto. Assim, quando o servio no dispe nem mesmo do espao
fsico (s vezes tambm no do psquico, nem do tcnico) para acolher a
crise, a nica sada que pode ser enxergada pela equipe encaminhar para
internao.
No seu momento de maior sofrimento e fragilidade, o paciente
exposto a uma quebra extra de seus referenciais e vnculos. Se ele j no
reconhece o espao, ir parar em um espao que, de fato, ele no conhece,
entre pessoas que ele nunca viu, e ser tratado por uma equipe que no
conhece sua histria. Dessa forma, a possibilidade de produzir da crise uma
passagem para alguma outra coisa fica prejudicada.
No melhor dos casos, se o usurio consegue no episdio da interna-
o ligar-se de alguma maneira a algum da equipe de internao, logo ele
ser submetido a uma nova perda. O sistema coloca o imperativo (antima-
nicomial) de essas Unidades de Internao trabalharem na lgica de uma
porta giratria: entrou, melhorou, saiu. Pouqussimas perguntas em relao
a essas trs fases: assim uma experincia dolorida e inesquecvel transfor-
mar-se-, por obra do Sistema, em mais um episdio banalizado.
Estamos fazendo essa anlise pressupondo como exemplo o melhor
dos casos, pois, em grande parte do Brasil, ainda no existindo suficiente
Clnica: a palavra negada| 107
oferta de Servios substitutivos, grande nmero de pacientes psicticos,
com longas histrias de evoluo, s conhecem como nica experincia
teraputica esse lamentvel entra-e-sai em diversas internaes. Alguns
anos atrs, em levantamento realizado numa Unidade de Internao, ana-
lisando pronturios numa amostra selecionada aleatoriamente, encontra-
mos que 70% dos casos s tiveram essa oferta de tratamento (ou seja,
nunca tiveram contato com outro tipo de servio de sade mental) e, ainda,
muitos deles haviam passado a maior parte do ltimo ano internados (lem-
bro de um caso que havia passado em internao oito meses dos doze do
ano anterior), somente que ento, eles no eram mais asilares, pois o Siste-
ma de financiamento pretende modular internaes curtas (para sermos
politicamente corretos e antimanicomiais). Essa grande parcela de pacien-
tes psicticos no Brasil vive no pior dos mundos: em nome da desinstitu-
cionalizao, eles no tm nem vnculo, nem histria, nem lugar.
A possibilidade de acompanhar a crise dos usurios est colocada
para grande parte dos servios. Um compromisso com essa questo exigir
da equipe a possibilidade de sustentar sua prpria crise. Transformar o
surto em passagem, em algo que pode ser tratado e acompanhado e no
somente abafado por grande quantidade de remdios. Para isso ser supor-
tvel a prpria equipe precisar de cuidados. Sabemos que tal no sem-
pre fcil no setor pblico.
Sustentada nessa posio clnica, pensamos ser possvel uma primei-
ra diretriz para a organizao de um sistema de sade mental. A da neces-
sidade de trabalhar com equipamentos no intermedirios, mas verdadei-
ramente substitutivos: capazes de preservar o vnculo com seus usurios
nos diversos momentos, e nas diversas fases em que se apresenta seu
sofrimento. Fugindo da lgica do entra-e-sai e substituindo-a pela da res-
ponsabilizao. Para isso acontecer deveria ser possvel contar com um
apoio institucional para a prpria equipe.
A famlia
obvio que existem nas famlias dos psicticos caractersticas, con-
dies, que tm a ver com a produo dessa psicose. Como trat-los fora do
manicmio, seno intervindo nesses ncleos familiares, propiciando o res-
tabelecimento de vnculos desde algum outro lugar. Sem esperar que se
108 |Clnica: a palavra negada
faam normticos (Hyppolito dixit, 1997); porm que sejam capazes de
gastar melhor sua prpria vida.
Muitas dessas famlias tm uma relao culposa com a instituciona-
lizao do parente. E uma sensao tremendamente doda e contraditria
entre quer-los de volta (para mitigar a culpa) e o medo e o incmodo
concreto e terrvel de ter um louco em casa. No caso dos manicmios brasi-
leiros, a questo agravada pelo quadro de pobreza extrema a que esto
submetidas muitas dessas famlias.
Penso que vrias questes da clnica de crianas de Franoise Dolto
(1989, 1996 a, 1996b) merecem ser exploradas em relao a uma clnica da
psicose. Sobretudo tratando-se de pessoas com muitos anos de evoluo e
em propostas nas quais se pretende recuperar certo vnculo familiar.
Dolto no rejeitava entrevistar terapeuticamente famlias, pais. Ou-
tros autores tambm defendem essa proposta de aproveitar-se da trans-
ferencia parental, j que, obvio, no so as crianas as que demandam
anlise (Manonni, 1980; Rosemberg, 1999). Essa questo mais ou me-
nos reconhecida no campo da anlise de crianas, mas, cremos, no tanto no
das psicoses. Todavia, deve-se reconhecer que, frequentemente, os psicti-
cos tampouco demandam: a sociedade ou a famlia o fazem em seu nome.
Contudo, no caso de Dolto, o compromisso nunca era com o desejo
dos pais (que em geral atuam em nome do desejo de seus prprios pais, o
que sustenta a tese de alguns autores de que so necessrias varias gera-
es para se produzir um psictico), mas, sim, com o desejo da criana. Ela
colocava esses pais no trilho da genealogia de sua prpria paternidade.
Assim, no caso dos servios substitutivos, o objetivo declarado de
evitar as perdas de laos sociais e familiares aponta o imperativo de tratar
tambm as famlias.
Na maioria dos servios que conhecemos existe algum espao desti-
nado a trabalhar com famlias. Porm, muitas vezes, esse espao, funda-
mental para o sucesso da proposta, alarmantemente esvaziado de senti-
do. Fazem-se grupos de famlia para quase qualquer coisa: informar as
famlias da evoluo do paciente (o grupo transforma-se em uma degrada-
o eficiente do direito informao, para no falar da complicada situao
na qual posto o usurio, pois se est dentro do grupo v-se tratado como
um objeto do qual h de se ter informao, e se est fora v-se ameaado,
Clnica: a palavra negada| 109
exacerbando-se paranoias), pedir informaes s famlias sobre os usurios
(a o mesmo ao avesso: a histria no mais do sujeito, seno a que sua
famlia conta, e as famlias so constrangidas a se exibirem na frente de
outras, nos aspectos mais ntimos e dodos doidos? de sua relao).
Atribumos uma parte dessa dificuldade falta de formao; difcil
trabalhar com famlias, e h na rede pblica poucas pessoas com essa capa-
citao especfica. Mas outra, e nesse sentido desejamos inserir esta contri-
buio, est relacionada com a perda de sentido das nossas prticas, com o
vu produzido nas equipes, que imprime sua marca acrtica no dia a dia dos
trabalhadores de sade. Esquecemos o valor da pergunta para qu.
Sabemos que o lugar que coube ao psictico em sua famlia foi de
carregar algo que nas geraes precedentes foi ficando impossvel ser
elaborado [. . .] Se podemos entender a importncia muitas vezes
vital para este ncleo familiar desta funo que o psictico corpori-
fica, sabemos que os pais, a famlia no devem ser culpados ou res-
ponsabilizados por esta violncia. No foi uma opo [. . .] (Carro-
zzo, 1991, p. 35).
Assumirmos essa posio nos permite aceder a um para qu tra-
tar essas famlias. Essa carga de geraes, que o psictico encarna, bem
pesada. Trabalhar isso com cada famlia pode vir a ser fundamental. Para
isso, o espao tem de ser apropriado, protegido. O que a famlia nos trans-
fere deve poder ser redirecionado, dificilmente ser possvel em reunies
multitudinrias.
Podemos assim sugerir uma outra diretriz para o sistema pblico: ao
se pensar na populao-alvo de um dado servio, talvez seja necessrio
redimensionar a oferta de atendimento incrementando aos usurios po-
tenciais, reservando uma percentagem para as famlias. Sabendo disso,
avaliar tambm a necessidade de aprimorar a formao dos profissionais
que trabalham na rede pblica de maneira especfica.
O grupo
Na maioria dos servios constatamos tambm a existncia de espaos
para grupos. Grupos de verbalizao, de terapia ocupacional, de trabalho
110 |Clnica: a palavra negada
corporal, as variaes so inmeras, e diversas tambm as correntes ou
abordagens em que os terapeutas se inserem. Nada errado: h riqueza
nessa diversidade.
O grupo pode ser um espao privilegiado para vivenciar-se de uma
nova maneira as transferncias macias dos psicticos, viver experincias
afetivas realmente novas, fundantes, que permitam um cerzido (no per-
feito) na trama desta subjetividade (Carrozzo, ibidem, p. 34). De novo um
espao que possa constituir-se em passagem: um lugar no qual algumas
coisas possam ser reparadas, as invases prpria subjetividade no sejam
vividas como mortferas, e a dificuldade de viver possa ser acompanhada.
Contudo, gostaramos de salientar o peso da estruturao do servio
pblico sobre esse dispositivo de tratamento. Se as pessoas que oferecem o
grupo no tm clareza de para qu o fazem, o espao banalizado, os
usurios so encaminhados para o grupo e devem ir, nunca ningum se
perguntando sobre o qu esse espao significa para esse usurio em parti-
cular. O grupo transforma-se assim, s vezes, em um vu sobre o mandato
de fazer eficiente o servio: atende-se oito ou dez pessoas em uma hora
(garantindo produtividade), mas se degrada a singularidade dos casos.
Em muitos servios, os grupos oferecidos modulam at quem pode
ou no pode ter acesso ao servio. Parodiando os programas clssicos da
sade pblica, oferecem-se unicamente cardpios fechados. A pardia est
no fato de que na sade pblica, pelo menos, os programas eram baseados
em critrios de risco, nos servios de sade mental vimos muitas vezes eles
se justificarem simplesmente pelo gosto de tal ou qual terapeuta em ofere-
cer isto ou aquilo. Nenhuma interrogao sobre o sentido de nossas prticas.
Temos visto muitos chamados grupos de medicao nos quais se
realiza-se de fato uma consulta mdica coletiva, um simples passar receita,
e no um espao para que os usurios, entre eles, possam, com a ajuda do
terapeuta, construir novas outras relaes com os remdios.
O trabalho
Outra questo que mereceria ser resgatada na clnica e explorada
com psicticos o uso de outros mediadores que no a palavra. Desenhos,
tintas, argila. . . H coisas de que os loucos no falam. No podem falar.
Todavia, as desenham, as amassam, as vomitam.
Clnica: a palavra negada| 111
Uma paciente pintou barcos durante anos. Metros de tela e quilos
de pintura em mares azuis e barcos coloridos. Havia chegado de outra insti-
tuio, com anos de internao e nenhum dado pessoal ou familiar. Chama-
vam-na de Rita e resultou ser Maria Aparecida, quando conseguiu recuperar
a carteira de identidade pelas marcas digitais. Anos passou des-Aparecida,
pintando barcos, antes de conseguir contar que havia nascido em uma cida-
de-porto. Hoje vive com a famlia e enviou uma estrela de mar de presente
ao servio. Foram vrios litros de pintura que a ajudaram a voltar para casa.
Outro paciente, jovem, delirante e sem conseguir falar de nada no
setor de agudos. Um dia no trabalho de colagge viu em uma revista a foto de
um cachorro. E disparou a falar de uma vez em que houve um cachorro, e
uma casa, e uma me. . . e saiu da crise.
Com esses exemplos desejamos mostrar uma diferena bsica entre
fazer alguma coisa (ou qualquer coisa), e fazer coisas que possam vir a ter
sentido para cada usurio. Temos visto numerosas oficinas que chaman-
do-se de teraputicas se estruturam somente em base do produzido
(em produto para a cooperativa vender, por exemplo) e no do que produ-
zem concretamente sobre a singularidade de cada usurio que se encontra
inserido na linha de produo.
Claro que, na direo de pr a doena entre parnteses, o fato de
estar inserido em uma produo que lhe traz algum pagamento produz
efeitos: o usurio deixa de ser uma carga para a famlia e pode vir a desem-
penhar outros papis, que no somente o de enlouquecido da casa. Essa
a parte da interveno psicossocial que pode e deve ser preservada; o que
gostaramos de ressaltar que o espao da produo, com tudo o que ele
tem potencialidade de produzir no usurio, frequente e lamentavelmente
banalizado. Quais as consequncias para um psictico de trabalhar numa
linha de produo na qual ele s enxerga um pedao do produto? Por que
muitas das oficinas que do certo trabalham com tcnicas que partem do
fragmento (papel reciclado, vitral, mosaico) para produzir um objeto? O
que est sendo cerzido nessa criao, quando ela pode ser encarada como
processo produtivo de si e do mundo? Pensamos que essas questes no
podem desaparecer para a equipe que trata nem para o paciente, sob o
risco, j denunciado por outros autores, de a ao social prevalecer sobre a
interlocuo (Figueiredo, 1997).
112 |Clnica: a palavra negada
Mais uma considerao sobre as consequncias que poderamos
extrair disso para a estruturao dos servios pblicos: pensarmos espaos
nos quais possam se fazer coisas alm de se dizer coisas. E pensarmos no
trabalho tambm como produo do sujeito em si, no somente como re-
produo material. Procurando sempre que possvel a construo de senti-
do dessa reproduo social, para ela no vir a ser simples adaptao social.
A equipe e o projeto como processo intermedirio
Inseridos no campo do planejamento de servios de sade, defende-
mos que um projeto em um servio de sade deve incluir uma proposta clnica.
E tambm que todo projeto s ser possvel se explorado a partir da subje-
tividade da prpria equipe em questo (Onocko, 2001).
Se pensamos o Planejamento em Sade como dispositivo, ele se
torna mais uma explorao do dado do que uma aplicao de receitas
tecnolgicas prontas. Essa forma de encarar o planejamento ressalta o es-
pao do Projeto e faz relativo o do Plano.
Enfatizamos que o subjetivo prprio do projeto, como o tcnico o
do plano. O momento que indaga o sentido, o para qu das prticas,
o momento em que posso desejar projetar(me) com os outros para trans-
formar o real, o projeto. O projeto visa sua realizao como momento
essencial (Castoriadis, 1986, p. 97). E este o momento mais complexo
do ponto de vista da constituio da grupalidade, momento no qual con-
sensos e representaes diversas viro tona, assim como conflitos e de-
sencontros. O projeto tem permanncia, o plano uma figura fragmentria
e provisria. Se tenho um projeto, passar dele ao plano resulta, a sim, de
uma aplicao tcnica, depende de um saber prvio e relativamente fcil
de conseguir.
Como trabalhar em planejamento, ajudando a formular projetos,
fazendo de nossa prtica uma prxis, a no ser admitindo e estimulando os
sujeitos que formulam esses projetos a fazerem prxis na sua prpria pr-
tica? Na prxis, o sujeito faz a experincia na qual est inserto e a experin-
cia o faz.
Defendemos que a possibilidade de sair da eterna repetio do mes-
mo, ousar, fazer acontecer, reorganizar o trabalho, depender:
Clnica: a palavra negada| 113
[. . .] de criar um dispositivo de trabalho e de jogo, que restabelea,
numa rea transicional comum, a coexistncia das conjunes e das
disjunes, da continuidade e das rupturas, dos ajustamentos regu-
ladores e das irrupes criadoras, de um espao suficientemente subje-
tivizado e relativamente operatrio Kas, 1991, p. 39; grifos nossos).
Para Kas, a instaurao do espao psquico do ser-conjunto se sus-
tenta na possibilidade de recriar a iluso institucional, oferecendo referen-
cias para a aderncia narcsica de seus membros, pois
a falha de iluso institucional priva os sujeitos de uma satisfao
importante e debilita o espao psquico comum dos investimentos
imaginrios que vo sustentar a realizao do projeto da instituio
(Kas, ibidem, p. 34; grifo do autor).
E essa no uma tarefa fcil nos servios pblicos, muitos dos quais
se encontram burocratizados ou submetidos ao gerenciamento autoritrio.
A compreenso dos aspectos subjetivos envolvidos pode contribuir para
repensar nosso papel como apoiadores das equipes.
Parece irrisrio pedir a grupos que se encontram espremidos nas
suas prprias dores institucionais, que consigam criar um espao suficien-
temente trfico para os usurios. Frequentemente, umas das sadas insti-
tucionais a esse sofrimento o apelo exagerado ao ideolgico. Ideologia que
funciona a como falsa conscincia, vu, obturando a possibilidade de se
interrogar sobre o sentido das prprias prticas.
Sobre esse sofrimento o movimento da luta no tem tempo para
pensar. O paradoxo, que qualquer estrategista enxergaria que essa im-
possibilidade de autocrtica constitui-se em nossa fraqueza. Nunca ficamos
to vulnerveis aos outros como quando no conseguimos nos enxergar.
A distncia entre a cultura da instituio e o funcionamento psquico
induzido pela tarefa est na base da dificuldade para instaurar ou
manter um espao psquico de conteno, de ligao e de transforma-
o (Kas, 1991, p. 36; grifos do autor).
114 |Clnica: a palavra negada
E no tambm disso que precisa uma clnica da psicose? No basta
manter a tica da psicanlise na sua lgica privada, oferecendo consultrios
ainda que tornados pblicos (Figueiredo, 1999, p. 11). Tratar psicticos,
pondo a doena entre parnteses, fazendo advir uma clnica do sujeito, nos
desafia a sermos capazes de mudar nosso setting. Nada contra o div, mas
temos certeza que a clnica que almejamos para o servio pblico no ser
construda somente em volta dele.
Deveramos criar uma rede de sustentao, de suporte, na qual os
pacientes possam experimentar, de novo, suas transferncias macias, com
resultados diferentes. Mas destacamos que, para isso, a prpria equipe
deve ter suporte, holding (Winnicott, 1999). Assim, essa funo faz parte
do novo papel do apoiador institucional. Nos servios de sade mental a
anlise da situao institucional estar sempre fortemente entrelaada com
a discusso clnica. No possvel discutir casos sem pr em anlise o
funcionamento da equipe. A natureza do que ali tratado faz essa separa-
o indesejvel.
Qualquer profissional da sade precisar de maternagem para ousar
sair dos compartimentos estanques dos saberes prvios. A equipe s con-
segue recriar seus contratos de trabalho se tiver desenvolvido um espao
intermedirio suficientemente trfico, de suporte. Assim, o projeto institu-
cional ser possvel. Pensamos que o projeto, como o brincar, faz parte
desses processos intermedirios (Onocko, 2001). Como diz Winnicott
(1999), referindo-se ao brincar, isso exige um lugar e um tempo. E no se
resolve somente refletindo, ou desejando, mas no fazer. Projetar fazer.
E ns, planejadores, deveremos estudar, compreender e aprimorar
nosso entendimento em relao s modelagens clnicas: tomar posio, no
sermos mais neutros, em relao s propostas clnicas. Nisso consiste nos-
so handing: manejo, e j no mais apenas no domnio de tcnicas para
preencher planilhas de um plano, que talvez nunca venha a ser executado.
Precisamos assumir declaradamente a necessidade de ampliao da
clnica nos servios pblicos de sade; se no o fizermos, ainda que invo-
luntariamente ou por omisso, continuaremos trabalhando a favor da pro-
posta hegemnica: a degradao da clnica, a criao de servios pobres
para pobres, e a inviabilidade do Sistema nico de Sade no que se refe-
re aos custos crescentes derivados do alto consumo de tcnicas diagnsti-
Clnica: a palavra negada| 115
cas e teraputicas que acabam sendo caras, ineficazes, e, s vezes, at
iatrognicas.
Sustentamos que o Planejamento em Sade estar sempre ligado s
questes advindas das modelagens clnicas e da subjetividade dos grupos
que esto em ao.
Tarefa complexa, distinta das que nos foram colocadas na nossa
formao como planejadores, difcil e que s pode ser pensada como poss-
vel se abrirmos o campo do planejamento a outras disciplinas e saberes, e
se, assim feito, continuarmos a refletir sobre a nossa prpria prxis como
planejadores.
Se acaso devemos, eu e os outros, encontrar o fracasso nesse cami-
nho, prefiro o fracasso numa tentativa que tem um sentido a um
estado que permanece aqum do fracasso e do no fracasso, que
permanece irrisrio (Castoriadis, 1986, p. 113).
Referncias
Amarante, Paulo Duarte de Carvalho. O homem e a serpente: outras histrias para
a psiquiatria e a loucura. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996, 141 pp.
Baremblitt, Gregrio. Compndio de anlise institucional e outras correntes: teoria e
prtica. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1992, 204 pp.
Campos, Gasto Wagner de Sousa. Uma clnica do sujeito: por uma clnica refor-
mulada e ampliada. Campinas, mimeo, 1997.
. Um mtodo para anlise e co-gesto de coletivos. So Paulo: Hucitec, 2000, 236
pp.
Carrozzo, Nelson. Campo da criao, campo teraputico. In: Equipe de Acom-
panhantes Teraputicos do Hospital Dia A Casa. A rua como espao clnico.
So Paulo: Escuta, 1991, pp. 31-40.
Castoriadis, Cornelius. A instituio imaginria da sociedade. Trad. Guy Reynaud.
Rio de Janeiro: Paz e Terra,1986, 418 pp.
Dolto, Franoise. Inconsciente e destinos, seminrio de psicanlise de crianas. Trad.
Dulce Estrada. Rio de Janeiro: Zahar,1989, 193 pp.
. No jogo do desejo: ensaios clnicos. Trad. Vera Ribeiro. So Paulo: tica, 1996a,
295 pp.
. Quando surge a criana. Trad. Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1996b,
200 pp.
Figueiredo, Ana Cristina. Vastas confuses e atendimentos imperfeitos: a clnica
psicanaltica no ambulatrio pblico. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1997.
116 |Clnica: a palavra negada
Foucault, Michel. El nacimiento de la clnica. Trad. Francisca Perujo. Mxico: Siglo
XXI, 1989, 293 p.
Japiassu, Hilton. Paul Ricur: filsofo do sentido, In: Ricur, P. Interpretao e
ideologias. Trad. Hilton Japiassu. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990, pp.
1-13.
Jullien, Franois. Tratado da eficcia. Trad. Paulo Neves. So Paulo: Ed. 34, 1998,
236 pp.
Kas, Ren. Realidade psquica e sofrimento nas instituies. In: Kas, R.; Bliger,
J.; Enriquez, E.; Fornari, F.; Fustier, P.; Roussillon, R. & Vidal, J. P. (orgs.).
A instituio e as instituies. Trad. Joaquim Pereira Neto. So Paulo: Casa
do Psiclogo, 1991, pp. 1-39.
. O grupo e o sujeito do grupo: elementos para uma teoria psicanaltica do grupo.
Trad. Jos de Souza e Mello Werneck. So Paulo: Casa do Psiclogo,
1997, 333 pp.
Marazina, Isabel. Trabalhador de sade mental: encruzilhada da loucura. In: Lan-
cetti et al. Sadeloucura 1. So Paulo: Hucitec, 1989, pp. 69-74.
Menndez, Eduardo. Grupo domstico y proceso de salud/enfermedad/atencin.
Del teoricismo al movimiento contnuo. In: Cuadernos Mdico Sociales, n.
o
59, pp. 3-18. Rosario: Cess, 1992.
Mannoni, M. A primeira entrevista em psicanlise. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
Onocko, Rosana. O planejamento no div ou anlise crtica de uma ferramenta na
gnese de uma mudana institucional. Mestrado. Campinas: Departamento
Medicina Preventiva e Social/FCM/Unicamp, 1998.
. O planejamento no labirinto: uma viagem hermenutica. Doutorado. Campinas:
Ps-graduao em Sade Coletiva, DMPS/FCM/Unicamp, 2001.
Rivera, Francisco Javier. A gesto situacional (em sade) e a organizao comuni-
cante. In: Cadernos de Sade Pblica, Rio de Janeiro, vol. 12, n.
o
3, pp. 357-
72, jul.-set. 1996.
Rosemberg, A. M. S.. Psicanlise com crianas: a legitimidade de um campo. In:
Revista Sobre a Infncia com Problemas, vol. IV, n.
o
7, pp. 121-31. So Paulo,
1999.
Winnicott, D. W. Realidad y juego. Trad. Floreal Mazi. Barcelona: Gedisa,
1999, 199 pp.
Agradecimentos
A autora agradece as valiosas crticas e sugestes recebidas para este artigo
de Fernando Cembranelli, Gasto Wagner de Sousa Campos, e Stella Maris
Chebli.
Q
Captulo 6
Elas continuam loucas:
de que serviria aos servios pblicos de
sade uma releitura dos textos de Freud
sobre a histeria?*
Rosana Onocko Campos
[. . .] Elas so insanas, como somos todos
nos sonhos.
FREUD , 1980a.
uando Freud comea em 1893 suas publicaes sobre a histeria, ele
estava de fato preocupado com uma doena prevalente? Digo, seriam
as histricas no sculo XIX em Viena to incmodas e numerosas como as
poliqueixosas dos Centros de Sade hoje? Procuraremos uma aproxima-
o aos textos do homem que surpreendentemente para a poca se
props a escutar o sofrimento dessas mulheres e que assim se fez famoso,
fez-se autor por meio delas, mas devolveu-lhes em troca a possibilidade da
palavra, ali onde ela faltava, fazendo sentido no corpo.
1
Em pleno sculo XXI, depois de Lvi-Strauss e Malinowski, aps a
lingustica estrutural, Saussure e Jackobson, falar de simblico parece-nos
bvio. Uma categoria quase natural que teramos desde sempre conosco,
prestes a coloc-la em operao. Hoje as estratgias teraputicas neocon-
dutistas ou centradas exclusivamente no biolgico parecem ter enviado o
simblico ao poro das tralhas velhas. . . Em 1893, Freud e Breuer (1980a),
escrevem:
* Publicado originalmente em Boletim da Sade, vol. 23, pp. 149-61, 2009. Porto
Alegre: SES/RGS. Reedio autorizada pelos Editores.
1
O mesmo teria feito Ulisses com as Sereias, salv-las do esquecimento. . . Assim lhes
agradecendo por ter-se tornado o primeiro grande narrador graas a elas (Gagnebin, 1997).
117
118 |Elas continuam loucas
Em outros casos a conexo causal no to simples. Consiste apenas
no que se poderia denominar uma relao simblica entre a causa
precipitante e o fenmeno patolgico uma relao do tipo da que
as pessoas saudveis formam nos sonhos. Por exemplo, uma nevral-
gia pode sobrevir aps um sofrimento mental, ou vmitos aps um
sentimento de repulsa moral [. . .].
Freud havia descoberto que as pacientes no se lembravam da cau-
sa do seu sofrer. Nesse momento de sua obra, o que lhe interessava mos-
trar era a possibilidade de uma cura dos sintomas aps sua rememorao:
que verificamos, a princpio com grande surpresa, que cada sinto-
ma histrico individual desaparecia, de forma imediata e permanen-
te, quando conseguamos trazer luz com clareza a lembrana do
fato que o havia provocado e despertar o afeto que o acompanhara, e
quando o paciente havia descrito esse fato com o maior nmero de
detalhes possvel e traduzido o afeto em palavras. A lembrana sem
afeto quase invariavelmente no produz nenhum resultado. O pro-
cesso psquico originalmente ocorrido deve ser repetido o mais niti-
damente possvel; deve ser levado de volta a seu status nascendi e
ento receber expresso verba (Freud & Breuer, 1980a).
Para Freud, no o trauma o agente provocador que desencadearia
o sintoma, sua lembrana:
[. . .] Da mesma forma que um sofrimento psquico que recordado
no estado consciente de viglia ainda provoca uma secreo lacrimal
muito tempo depois de ocorrido o fato. Os histricos sofrem princi-
palmente de reminiscncias (Freud & Breuer, 1980a).
Assim, nesse momento da construo da obra freudiana, o que inte-
ressava a ele no era contestar a teoria traumtica, mas detalhar como os
afetos estavam associados a lembranas antigas, mostrar como esses afetos
poderiam estar em jogo na histeria e, tambm, sua relao simblica com
os sintomas apresentados. Freud conclui:
Elas continuam loucas| 119
Nossas observaes no trazem nenhuma nova contribuio para
esse assunto, mas lanam luz sobre a contradio entre a mxima a
histeria uma psicose e o fato de que, entre os histricos, podem-se
encontrar pessoas da mais lcida inteligncia, da maior fora de von-
tade, do melhor carter e da mais alta capacidade crtica. Essa carac-
terizao vlida em relao a seus pensamentos em estado de
viglia, mas, em seus estados hipnoides, elas so insanas, como somos
todos nos sonhos. Todavia, enquanto nossas psicoses onricas no
exercem nenhum efeito sobre nosso estado de viglia, os produtos
dos estados hipnoides intrometem-se na viglia sob a forma de sinto-
mas histricos (Freud & Breuer, 1980a).
Freud, que no fugia das regras da produo do conhecimento cien-
tfico de seu tempo, oferece-nos algumas descries meticulosas que pode-
ramos reconhecer em muitas de nossas pacientes de hoje: o mundo conti-
nua cheio de Annas!
A prpria paciente fora sempre saudvel at ento e no havia mos-
trado nenhum sinal de neurose durante seu perodo de crescimento.
Era dotada de grande inteligncia e aprendia as coisas com im-
pressionante rapidez e intuio aguada. Possua um intelecto po-
deroso, que teria sido capaz de assimilar um slido acervo mental e
que dele necessitava embora no o recebesse desde que sara da
escola. Anna tinha grandes dotes poticos e imaginativos, que es-
tavam sob o controle de um agudo e crtico bom-senso. Graas a esta
ltima qualidade, ela era inteiramente no sugestionvel, sendo in-
fluenciada apenas por argumentos e nunca por meras asseres.
Sua fora de vontade era vigorosa, tenaz e persistente; algumas
vezes, chegava ao extremo da obstinao, que s cedia pela bon-
dade e considerao para com as outras pessoas.
Um de seus traos de carter essenciais era a generosa solidarieda-
de. Mesmo durante a doena, pde ajudar muito a si mesma por ter
conseguido cuidar de grande nmero de pessoas pobres e enfermas,
pois assim satisfazia a um poderoso instinto. Seus estados de espri-
to sempre tenderam para um leve exagero, tanto na alegria como
120 |Elas continuam loucas
na tristeza; por conseguinte, era s vezes sujeita a oscilaes de
humor. A noo da sexualidade era surpreendentemente no desenvol-
vida nela (Freud & Breuer, [1895] 1980b; grifos nossos).
Na um pouco longa citao acima, destacamos com negrito alguns
aspectos que aparecem com bastante frequncia em consultas de mulhe-
res nos servios pblicos de sade. Quantas das numerosas chefes de
famlia que conhecemos na periferia das grandes cidades brasileiras no
so assim: mulheres dotadas de inteligncia, sensibilidade e chegadas em
um exagero. Essa capacidade de doar-se ao outro faz parte da estratgia
de sobrevivncia de muitas comunidades ao mesmo tempo em que exacer-
ba a nouvelle familiar de muitas famlias em crise, choros e reproduo sem
fim de famlias sem pai, sem sada.
Alba
2
conta-me que professora, igual ao seu marido, e sofre dos
nervos h alguns anos. Diz-me que quando mais se sabe mais se sofre e
que precisa de um psiclogo de cabeceira. Descobre meu sotaque e convi-
da-me para que trabalhemos em portunhol
3
(Talvez algum possa aju-
d-la a se traduzir a partir de outra lngua? Como Anna, que s falava
ingls ao seu analista que falava alemo). Sofreu com uma operao de
hipfise e desde ento toma hormnios e outra medicao para os nervos.
Ela solidria, preocupa-se com os outros e tem amigos. O mari-
do no gosta disso, ele s se preocupa com coisas materiais. Ela no. Mi-
nha vida so meus filhos. Quero morrer porque meu filho no mora mais
conosco. J na nossa primeira sesso, quando dela me despeo e combino
nosso prximo encontro, comea a chorar e a contar que ela no tem libido,
no dorme com o marido, usam quartos separados (Mais ainda? Ela estica
a sesso e me deixa com vontade de saber mais).
No veio segunda sesso e depois me conta que chegou atrasada.
Diz que outra pessoa do ambulatrio ligou para ela, mas que ela queria
fazer comigo. Pergunta se serei sua amiga. Ofereo-me para ajud-la a
reescrever sua histria, serei sua secretria, proponho (com a ideia de pro-
duzir um deslocamento entre o que ela demanda que da ordem da ami-
2
Nome fictcio.
3
A autora argentina. . .
Elas continuam loucas| 121
zade e uma outra posio possvel de trabalho (secretria), isso pareceu
sustentar o incio de uma relao transferencial). Ela parece contente com
essa ideia. Ela prpria trabalha como secretria da escola desde que foi
readaptada, sente-se meio caf-com-leite (meio pouca coisa) nesse cargo.
Da mesma forma, insiste: no ela que deveria fazer terapia; o marido,
mas ele no quer (o que ela quer?).
Fala de suas oscilaes de humor: passa da felicidade tristeza
muito rapidamente. Ela foi escolhida para puxar o grupo de orao do
bairro. Ter sido escolhida a deixa muito feliz. E ao marido, feito uma fera. O
marido no tem cime de amor, cime de posse. . . Odeio grito, ele se
realiza quando consegue me fazer perder o controle. . . Ele me pertur-
ba. . .. Conta que a famlia do marido da roa e de muito gritar e falar
palavro. . . O ano que casei foi o ano da seca. O que me mata desde o
comeo a aspereza (morre pelo filho que sai de casa, morre pela aspereza,
aspectos que ela associa a falta de amor), me faltou esse carinho. Ele s d
esse suspiro assim na hora do sexo (ela deseja dele suspiros de amor?).
Alba conta durante toda a sesso e com profuso de detalhes os gestos
grossos do marido. . .
Utiliza a metfora do gato e do cachorro; ora so o gato e o rato. . .
Tom e Jerry, diz se ver assim: correndo em crculos com seu marido. Conta
de uma briga na qual ela jogou guaran no rosto dele e ele lhe atirou um
garfo, que a espetou logo embaixo do olho. As marcas do garfo esto no seu
rosto, visveis (j o guaran no rosto dele no deixou a sua marca). Comea
a perguntar-se: e se no tivesse casado? Mas a no teria os filhos que so
a sua vida (a vida est nos filhos! e no casamento, o que h?). Casar, en-
to, tudo bem, mas no deveria ter vindo para So Paulo; ficar l, no inte-
rior, perto de sua me. Pergunta-se mais: ser que est certo isso de bri-
gar assim, dar maus exemplos aos filhos? Intrigas entre casais? (sic: quais
casais?) Ela pergunta pelo certo e pelo errado, mas deixa uma entrada
que permite questionamentos sobre sua posio subjetiva. O que se faz
possvel, pois quem escuta se mantm em uma posio de no deter as
respostas que ela busca (seno desandaria para uma espcie de aconse-
lhamento. . .).
Alba precisa controlar a durao da sesso. Ela olha o relgio e decide
quando parar. O libi o horrio do nibus. s vezes chega mais cedo no
122 |Elas continuam loucas
caso de eu estar livre. Ela marca sempre o final de nosso encontro, como
se no aguentasse que eu fizesse o corte (trabalhar com o corte da sesso
na transferncia poderia ser uma forma de abrir mo do controle permi-
tindo que surja algo que lhe indique uma posio possvel sobre o seu
prprio desejo).
Alba se diz carente; mas no de sexo. S de carinho: mos dadas,
chamego; isso o que ela quer. Ele no: ele consegue separar sexo de amor.
Conta, muito ofendida, que lhe apareceu um admirador. o ex-marido de
uma amiga: ela se sente revoltada, ofendida, pois acha que seu pretenden-
te quer tirar-lhe a amizade da amiga. Amizade: o que ela mais preza.
Pergunto como foi para ela se sentir desejada apesar da saia justa. Ela
responde: justa? Rasgada, rasga tudo. . . Tudo o qu?, pergunto. Ela
responde: at a periquita.
4
Mas a volta para o cachorro e o gato. Fala em
sair da roda, ficar margem. . .
Est desapontada, pois s come: tem ansiedade de comer. Ficou com
barriga da poca do cushing (doena por excesso de um hormnio que
efetivamente produz esse efeito), quando descobriram o tumor de hipfise.
Divorciar? No, ela no teria coragem de colocar ele na rua, ela que deveria
sair. Para um quarto e cozinha, por ela tudo bem, mas a tem pena da filha,
que perderia suas comodidades, coitada, no merece. . . Seus filhos so
timos! Tm fora de vontade, o menino passou no vestibular e a menina
far este ano. Isso eles puxaram dela. Ela tem muito orgulho.
Conta-me que seus pais brigavam muito. Mas que eles colocavam
o amor que sobrava nas filhas (Alba e sua irm mais nova). No tem trau-
ma. Eles no gritavam. Meu marido no vai comigo no supermercado, vai
com minha filha. . . Eu tambm colocava a roupa de meu pai na cama. Eu
me casei virgem. Eu dengava meu paizinho.
Ela e seu marido conheceram-se na escola, ele era um menino mui-
to puro. . . Ele falou que eu ia me casar, mas no ia ficar com ele e eu
prometi que ficaria com ele a vida toda. . . Achei que era por ele ser pobre,
mas no. . .. Alba diz que ele s foi estudar porque ela insistiu. Formado
professor, ele veio para So Paulo e ela comeou a estudar tambm. Ficou
(1998).
4
Um trao l onde literalmente no h nada, nem representao, como diria Serge Andr
Elas continuam loucas| 123
quatro anos morando l com os sogros e ele c. Quando veio para c j tinha
os dois filhos. Lindos! Ele (o marido) s grita, ele s sossega quando a faz
perder o controle. Acabou o encanto. Quando estava doente, ele cuidava
de mim. Agora no: ele me cobra, ele me perturba. Repete que ela no
suporta grito. Esse um dos motivos pelos quais foi readaptada no seu
trabalho escolar (no suportava a gritaria das crianas). Diz que seu av
paterno era muito possessivo. Isso interroga sobre a sua necessidade de
manter o controle, at que o marido com o grito faz com que ela perca o
controle e a ela se perde? Perde-se no qu? E o que ela deseja?.
Antes das frias, pergunta-me se pode trazer um doce caseiro para
mim. Respondo que sim. E na sesso seguinte chega com uma pequena
travessa de bolinhos de chuva, que fritara logo de manh. Ela que coloca
a data de volta das frias. . . Alba: sempre no comando.
A incapacidade para o atendimento de uma demanda amorosa real
um dos traos mais essenciais da neurose; os doentes so domina-
dos pela oposio entre a realidade e a fantasia. Aquilo por que mais
intensamente anseiam em suas fantasias justamente o de que
fogem quando lhes apresentado pela realidade, e com maior gosto
se entregam a suas fantasias quando j no precisam temer a reali-
zao delas (Freud, [1905], 1980c).
Como Alba, que no pode aceitar o amor do marido (que, apesar de
grosso, convida-lhe a voltar para a cama conjugal toda semana), nem do novo
pretendente, apesar de passar a vida a lamentar que carece dele, desse amor!
Serge Andr (1998) diz-nos que o que quer uma mulher o amor. . .
Atendo Alba em um ambulatrio pblico de psicanlise, o que faci-
lita um pouco a questo do enquadramento de trabalho. Combinamos os
horrios, a frequncia semanal e a regra do tudo dizer. Um dia em que
precisei trocar um horrio de atendimento, disse ter ficado muito prestigia-
da pelo fato de eu ter ligado para sua casa, pessoalmente. Minha mdica
liga para mim: um luxo, diz, mas, s vezes, me chama de psicloga. Trago
este caso para exemplificar a possibilidade de trabalho clnico em um lugar
pblico e como pouco a pouco, apesar de ser recente nosso encontro, a
paciente pode comear a implicar-se sob a forma de algumas perguntas. . .
124 |Elas continuam loucas
Alba faz parte desta legio de mulheres lutadoras, trabalhadeiras,
que desejaram sair do seu lugar de origem (de nascimento), mas que se
enrolaram no meio do caminho de sua identidade, com os sintomas no
corpo, perdendo a possibilidade de acessar a sua prpria sexualidade
de uma maneira um pouco menos sofrida (Alonso; Gurfinkel & Brey-
ton, 2002; Kehl, 2007).
Surgem agora vrias perguntas importantes. Em que condies ocor-
rem semelhante formao simblica patolgica [e] (por outro lado)
semelhante recalcamento? Qual a fora ativa que intervm? Em que
estado se encontram os neurnios da ideia excessivamente intensa e
os da ideia recalcada?
Nada se poderia depreender disso e nada mais se poderia construir, se a
experincia clnica no nos ensinasse dois fatos. Primeiro, que o recalca-
mento invariavelmente aplicado a ideias que despertam no ego um
afeto penoso (de desprazer) e segundo, as ideia[s] provenientes da vida
sexual (Freud, [1895], 1980a).
Freud, nas Psiconeuroses de defesa [1894] (Freud, 1980d), explicava
uma das modalidades de clivagem do Ich e a existncia de uma represen-
tao irreconcilivel (sexual). Nessa clivagem, a representao separada
do afeto (excitao) que a acompanha, de tal modo que a representao
forte se transforme em inofensiva, sendo a excitao referida ao corpo, o
que caracteriza a defesa por converso.
No Projeto, na parte II do caso Emma, Freud expe a cadeia de
significantes e alinha como os significantes conscientes e os recalcados
articulam-se. O susto (do trauma) agiria s depois e ele estaria associado
na histeria ao desprazer. Neste momento, Freud tambm mantm a
importncia da passividade da experincia. Por isso, a passividade sexual
natural da mulher estaria por trs da prevalncia da histeria entre as mu-
lheres. Ele associava at ento a libido ao masculino e o recalque ao femi-
nino, mas abandonaria essa ideia em carta a Fliess, de 1897 (Andr, 1998).
Nos estudos sobre a histeria, no caso da senhorita Anna O., Freud
tenta durante longos pargrafos convencer seus leitores de que sua pacien-
te no mentia. Da mesma maneira, na escuta desses casos, no deveria
Elas continuam loucas| 125
ser a tentativa de elucidar o que de verdade aconteceu em certas famlias,
o que oriente os casos, seno um manejo da relao verdade/mentira
maneira como a analista tomou os relatos de Alba, algo que leve ao sujeito
a se perguntar sobre suas verdades e a se responsabilizar pelos seus atos:
Surge agora a questo de determinar at que ponto se pode confiar
nas declaraes da paciente e de saber se as ocasies e o modo de
origem dos fenmenos foram realmente tais como ela os representou.
Quanto aos fatos mais importantes e fundamentais, o grau de con-
fiabilidade de seu relato me parece estar fora de dvida. Quanto ao
fato de os sintomas desaparecerem depois de verbalizados, no
posso empregar isso como prova; bem possvel que isso se explique
pela sugesto. Mas sempre achei que a paciente era inteiramente
fiel verdade e digna de toda confiana. As coisas que me relatou
estavam intimamente vinculadas com o que lhe era mais sagrado
(Freud, [1895] 1980a).
Freud insiste em encontrar algum sentido naquilo que se apresenta
sem sentido: como que uma msica para danar fazia sua paciente tossir?
E para isso aposta em uma aliana de f e coragem com suas pacientes. O
de que Anna se recorda durante a hipnose faz sentido, mas no estado de
viglia ela no tinha conhecimento de tudo isso. Anna vivia entre dois
estados de conscincia que se alternavam lado a lado: o primrio, em que
ela era bastante normal e o secundrio, que se assemelhava a um sonho
pela abundncia de produes imaginrias e alucinaes, constituindo as-
sim um tipo de alienao. Igual a Belm.
5
Belm foi internada por uma depresso. Tinha ento vinte e um
anos. Na alta, vinculada a um Caps da cidade no qual atendida por um
curto perodo de tempo e depois some. Volta seis meses depois muito de-
sorganizada, falando de um aborto. Comporta-se de maneira um pouco
pueril e infantilizada no Caps, mas a famlia conta que em casa ela
competente e sumamente cuidadosa com os afazeres domsticos. Fez o
colegial e tinha um namorado, o primeiro e nico at a internao. Naquela
5
Nome fictcio.
126 |Elas continuam loucas
depresso ela ficou trancada por dias a fio em casa quase sem comer, a me
disse no saber como ela no morreu.
A equipe solicitou um benefcio para ela, que chegou em nome da
me. Isso desencadeou uma crise de agitao e agressividade contra a me.
6
Ela foi criada pela av. A famlia enorme e muito pobre. Belm sofreu
uma drstica reduo de deveres e afazeres desde que adoeceu. H pocas
em que sofre de alteraes alimentares: come muito pouco e diz que est
magra, pois tem uma cobra dentro dela que come pedaos do corpo dela.
Belm se parece a Anna com seus dois estados de conscincia. A
equipe debate-se com dvidas diagnsticas (ela louca ou atua?), que-
rendo saber se o que Belm diz verdade ou no. Receitam lanzapina; nos
ltimos quatro anos tm buscado formas de coloc-la em um lugar de maior
investimento, mas ela nunca conseguiu, ela no suporta ser investida. A
uma profissional, que saiu de brao dado com ela para uma caminhada, diz:
por que minha me nunca saiu assim comigo?. Belm atendida h
quatro anos no Caps e assistida com bastante dedicao, mas ningum se
disps a escut-la de alguma maneira que no fosse ao p da letra, nin-
gum pde oferecer hipteses diagnsticas que no fossem humorais.
importante aqui marcar a diferena entre fazer uma hiptese diagnstica
sobre os sintomas (CID) e sobre a posio subjetiva, questo que a equipe
tem dificuldade de diferenciar da mera coleo de sintomas. A equipe
muito responsvel no seu tratamento, porm ningum a responsabilizou
at agora por nada. Tentam convenc-la de que deve trabalhar, de que
deve tomar cuidado com sua agitao e com certa exposio de si mesma
que ela faz, mas j nos dizia Freud:
Todos os que assim falam dos pacientes esto certos, a no ser num
nico ponto: desconsideram a distino psicolgica entre consciente
e inconsciente, o que talvez seja permissvel quando se trata de crian-
as, mas com adultos j no tem cabimento. Por isso que de nada
servem todas essas afirmaes de que apenas uma questo de
vontade e todas as exortaes e insultos dirigidos ao doente. Primei-
ro preciso tentar, pelas vias indiretas da anlise, fazer com que a
6
Isso lembra a pulseira que a me de Dora desprezava e Dora cobiava....
Elas continuam loucas| 127
pessoa convena a si mesma da existncia dessa inteno de adoecer
(Freud, [1905] 1980c).
Ali onde podemos ver e ouvir uma mulher s voltas com sua femini-
dade, com seu sexo, com sua me, com as cobras (como as que temia Anna
O. paciente de Freud), os dispositivos de sade mental no puderam trazer
tona sua fala, seu discurso com suas falhas e no somente seus sinto-
mas. . . Um pouco de Freud a?
Os fenmenos patolgicos so, dito de maneira franca, a atividade
sexual do doente. Um caso isolado nunca permitir demonstrar uma
tese to geral, mas s posso repetir vez aps outra, pois jamais cons-
tato outra coisa, que a sexualidade a chave do problema das psico-
neuroses, bem como das neuroses em geral. Quem a desprezar nun-
ca ser capaz de abrir essa porta. Ainda aguardo as investigaes
capazes de refutar ou restringir essa tese. O que tenho ouvido at
agora no passam de manifestaes de desagrado pessoal ou de in-
credulidade, s quais basta contrapor o dito de Charcot: a nem-
pche pas dexister
7
(Freud, [1905]1980c).
Freud sustentar claramente as teorias da etiologia sexual no caso
Dora. No que ele no viesse apontando isso antes, como mostra o Proje-
to. Mas ele fez sua teraputica evoluir; parte das mudanas de sua tcnica,
ele apresenta-nos assim:
[. . .] desde os Estudos, a tcnica psicanaltica sofreu uma revoluo
radical. Naquela poca, o trabalho [de anlise] partia dos sintomas e
visava a esclarec-los um aps outro. Desde ento, abandonei essa
tcnica por ach-la totalmente inadequada para lidar com a estru-
tura mais fina da neurose. Agora deixo que o prprio paciente deter-
mine o tema do trabalho cotidiano, e assim parto da superfcie que
seu inconsciente oferea a sua ateno naquele momento. Mas des-
se modo, tudo o que se relaciona com a soluo de determinado sin-
toma emerge em fragmentos, entremeado com vrios contextos e
7
A traduo que isto no impede de que exista.
128 |Elas continuam loucas
distribudo por pocas amplamente dispersas. Apesar dessa aparen-
te desvantagem, a nova tcnica muito superior antiga, e
incontestavelmente a nica possvel (Freud, [1905] 1980c).
Em Dora, Freud brinda-nos com os detalhes de como trabalha.
Apresenta alguns princpios que vigoram at hoje na psicanlise e que
poderiam ajudar em muito as prticas clnicas nos servios de sade. Aque-
la senhora poliqueixosa, que vem todo santo dia UBS, diz a verdade?
Mas eu resolvera desde longa data suspender meu juzo sobre o
verdadeiro estado de coisas at que tivesse ouvido tambm o outro lado,
responde Freud (1905). E ainda nos aconselha:
Pela natureza das coisas que compem o material da psicanlise,
compete-nos o dever, em nossos casos clnicos, de prestar tanta aten-
o s circunstncias puramente humanas e sociais dos enfermos
quanto aos dados somticos e aos sintomas patolgicos. Acima de
tudo, nosso interesse se dirigir para as circunstncias familiares do
paciente e isso, como se ver mais adiante, no apenas com o
objetivo de investigar a hereditariedade, mas tambm em funo de
outros vnculos (Freud, [1905] 1980c).
Com relao Belm, vale a pena acentuar a importncia de se
poder escutar a verdade do sujeito, e tambm a da funo do sintoma em
relao a prpria histria de vida. Ela entra em crise quando recebe um
benefcio que no a diferencia da me, pois vem marcado pelo nome da
me, reforando uma relao de espelhamento, especular, e espetacular.
Pode-se pensar na anorexia, quando ela refere que algo a come por den-
tro. . . Sintoma que de fato ela apresenta de vez em quando.
Como no caso de Tlia, de seis anos, que chegou a um Centro de
Sade (CS) encaminhada pela escola, pois ela no se defende. Parece
uma pequena adulta disse a professora me. A me se queixa da vida e
diz que vivem com o pai da menina, um av e um tio que bebe. Todos da
famlia do pai. Dormem pai, me e filha, todos no mesmo quarto, pois no
h outro. A cama da menina e a dos pais esto em contiguidade. A me
diz que vive para e pela filha. Na conversa, a menina desenha um corpo no
Elas continuam loucas| 129
qual saem como duas cabeas: ela e a me, me informa. Proponho me
que nos encontremos algumas vezes para conversar e sugiro que ela colo-
que algo entre as camas: ter algo no meio! Solicito que peam permisso ao
pai para vir me ver.
No seguinte encontro, a me me conta que separou as camas, que a
menina dormiu melhor e o pai ficou contente. Ele autorizou nossas con-
versas. Est desempregado. A filha faz chilique quando no compram tudo
o que ela quer conta-me a me na frente da menina. A menina diz
me que essa fala a envergonha. A seguir, conta-me que est com cimes
do pai, pois ele d muita ateno ao irmo alcolatra. Falo com ela sobre a
importncia dos pais, de como poder ter sua ajuda sem precisar de pitis.
Nossos encontros acabam em poucas semanas, segundo combinamos. No
ano seguinte, encontro a me, grvida e sorridente. Tlia est bem me
diz vai bem na escola, est com um pouco de cimes do irmo que
nascer em breve.
No caso acima gostaria de ilustrar como uma escuta qualificada pode
sustentar prticas embasadas de intervenes breves, que no sendo psica-
nlise, no se constituam mera perfumaria: uma me e um pai em apuros,
um momento difcil de suas vidas, no qual fraquejam no exerccio de sua
funo, isso no quer dizer que seus cargos estejam vacantes. Um pai que
est perdido em sua prpria cadeia de masculinidade: mora com seu pr-
prio pai, seu irmo alcolatra, ele perde o trabalho: como sustentar nesse
momento um no firme filha? E a me, que se sente de repente casada
com um infeliz, como reconhec-lo no seu devido papel masculino e poten-
te? Ali pequenas dicas podem pr um mundo a funcionar: peamos per-
misso ao pai, digamos a ele que queremos sua ateno, devolvamos a ele
a cama com sua mulher. . . E me lembremos que seu lugar no gruda-
da filha, mas ao lado do seu companheiro, de p para a prxima batalha.
No Fragmentos da anlise de um caso de histeria, Freud empre-
ende uma tarefa difcil para sua poca. Apresentar explicitamente para a
comunidade cientfica a etiologia sexual das neuroses. s vezes, pergun-
to-me se ele de fato teve xito, pois apesar de a psicanlise ter se consti-
tudo como uma disciplina marcante para o sculo XX, hoje em pleno XXI
vemos ressurgir um aluvio de tecnologias que dariam conta de descobrir
as causas de uma dor. Do que no do de achar um sujeito a. Contudo, s
130 |Elas continuam loucas
vezes, algum profissional pode se mostrar mais sensvel, pode pedir ajuda a
outro, vejamos. . .
O Dr. A. jovem, recm formado e trabalha nesse Centro de Sade
(CS), pois no entrou na residncia que gostaria. Est se preparando para
tentar de novo no fim do ano. um bairro muito carente de servios, no h
gua encanada nem esgoto e o CS novo na regio. Vou a essa Unidade
uma vez por semana com os alunos de medicina. A. me confessa sofrer
com a quantidade de casos de sade mental, diz se sentir inseguro e sem
saber o que fazer em muitos casos. Ofereo-me para ver com ele ou para
ele alguns casos, talvez se ele escolhesse os casos que lhe deram mais
trabalho na semana. . . Ele aceita encantado e espera-me toda semana
com uma pilha de histrias clnicas; para algumas, mais duvidosas, combi-
namos que conversarei com os pacientes e assim so agendados para a
semana seguinte.
Assim conheo Sandra.
8
Ela vai todo dia ao CS para pedir uma
tomografia computadorizada da cabea de sua filha, pois diz a meni-
na retrasada. O Dr. A. j tinha perguntado pelo rendimento escolar e a
me diz que bom. Recebo as duas, me Sandra e filha Joana
9
de
quinze anos. Joana fala pouco, a me fala dela e por ela. Joana parece um
pouco pueril, infantilizada. Sandra conta que moravam em So Paulo e
uma psicloga l forou a barra para contar Joana que o marido de
Sandra no seu pai. O marido de Sandra no quer que Joana veja o pai,
mas eles se conhecem apesar da distncia, j que o pai continua a morar em
So Paulo. O pai enviou menina uma bicicleta de presente, mas o padras-
to no a deixa utilizar.
Peo licena para entrevistar Joana a ss, j que vejo que no fala na
presena da me e Joana me diz: minha me no acredita em mim, ela
acredita na fala de meu padrasto que diz que eu tenho miolo mole. Ela diz
que gostaria de ver mais seu pai e falamos de como isso ser possvel
medida que ela cresa, estude e trabalhe para se tornar autnoma de sua
famlia. Essa ideia parece agradar muito Joana. Essa ser a nica entrevista
com Joana, a quem encontraria brevemente na semana seguinte, sorriden-
8
Nome fictcio.
9
Nome fictcio.
Elas continuam loucas| 131
te, e que me contaria que, apesar de no saber espanhol, passou um dia
inteiro falando essa lngua!
J Sandra encontrar-se-ia comigo durante vrias semanas e contar-
-me-ia sua vida: no ama o marido, no gosta de nada. S da filha. O pai da
Joana foi seu grande amor e a traiu, pois no quis a gravidez. Mas ela
sustentou a gravidez contra a vontade do companheiro. Ele se foi. O atual
marido a acolheu ainda grvida. No quer que ela viaje a So Paulo por
cime do outro. Tem mais um filho, ao qual ele paparica e valoriza, afinal ele
um menino!
Sandra perdeu a me com trs anos, ela morreu de cncer, ela tinha
se preterido pelos filhos e definhou. Sandra v-se semelhante sua me.
Diz que escolheu uma vida como a dela, dedicada aos outros. irm mais
nova e apanhou em mos de suas irms que nunca a souberam ajudar. Elas
so invejosas. Reclama de que a filha no feminina. Pergunto por que
seria se ser mulher to ruim. O tempo todo ela foge de implicar-se e
embrulha-se em um discurso sobre os outros. Tudo muito pobre, nada
ser possvel. Nada pode. Trago a questo da Joana como uma oportunida-
de: a adolescncia de uma filha mulher outorga a uma mulher uma chance
indita de repensar a prpria feminidade, a prpria sexualidade. . . Per-
gunto: cad a Sandra? Ela chora e depois ri. Comea a vir mais sorridente e
arrumada. Nunca falta, chega no horrio. Conta que comeou a ensinar a
escrever a um vizinho, que analfabeto, e acha que est se apaixonando
por ele, pois ele lhe d valor. . .
Freud, no caso Dora, redefine a histrica como la apaixonada pelo
pai, j no mais sua vtima. O pai no mais seria o perverso que impe sua
filha sua seduo seno aquele a quem ela elege. Neste momento de sua
obra, Freud ainda pensa no dipo feminino como um simtrico do mascu-
lino: a menina veria sua me como uma rival, nada mais. Isso o impede de
avanar nesse caso em particular, ele prprio far essa autocrtica.
muito depois em sua obra (entre 1920 e 1925), que ele articular
a dupla polaridade do dipo feminino e destacar a fixao primria na
me. A identificao com a figura materna na mulher a mola mestra da
sada do dipo, mas isso ser sempre difcil e tenso, um amor ambguo.
Vemos nos casos de Alba, Belm, Sandra e Joana como essa cadeia de
identificaes femininas entre as geraes estava atrapalhada. O que ser
132 |Elas continuam loucas
uma mulher? O que transmitiram as mes delas sobre isto? Se sua me fala
o tempo todo que s sofrer, ento melhor no ser. . .
As sesses semanais ao longo de um semestre permitiram a Sandra
se no obviamente resolver essas questes ter um espao para depa-
rar-se consigo mesma. Pelo menos ela j no estava preocupada em saber o
que a filha tinha dentro da cabea (o pedido de tomografia cessou), seno
se perguntando o que fazer com sua vida. . .
Haveria como que converses no corpo do outro? Vemos cotidiana-
mente mulheres histricas fazendo sintoma no corpo dos seus filhos(as). Se
em vez de uma escuta tivesse sido oferecida a Sandra uma tomografia, o
desfecho seria melhor? Provavelmente Joana teria entrado numa cadeia de
medicalizao e teria um monte de estudos em vez de um sonho: crescer,
sair dali, fazer sua vida.
Como j dissemos, Freud desenvolve no caso Dora (cheio de justifi-
cativas) suas teses sobre a etiologia sexual, exemplifica o uso clnico da
interpretao dos sonhos e fundamenta a existncia dos fenmenos in-
conscientes. Ainda nesse texto, ele desenvolve a questo da histeria como
um modo de funcionamento que organiza a transferncia e no mais como
um conjunto de sintomas que se deveriam desmontar uns aps outros,
como na poca dos Estudos sobre a histeria. A partir de ento o tratamento
psicanaltico apoiar-se- nesse dispositivo para abrir caminho. . .
O que so as transferncias? So reedies, reprodues das moes
e fantasias que, durante o avano da anlise, soem despertar-se e
tornar-se conscientes, mas com a caracterstica (prpria do gnero)
de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do mdico. Dito de
outra maneira: toda uma srie de experincias psquicas prvia
revivida, no como algo passado, mas como um vnculo atual com a
pessoa do mdico. Algumas dessas transferncias em nada se dife-
renciam de seu modelo, no tocante ao contedo, seno por essa subs-
tituio. So, portanto, para prosseguir na metfora, simples reim-
presses, reedies inalteradas. Outras se fazem com mais arte:
passam por uma moderao de seu contedo, uma sublimao, como
costumo dizer, podendo at tornar-se conscientes ao se apoiarem em
alguma particularidade real habilmente aproveitada da pessoa ou
Elas continuam loucas| 133
das circunstncias do mdico. So, portanto, edies revistas, e no
mais reimpresses [. . .] (Freud, [1905] 1980c).
O tratamento psicanaltico no cria a transferncia, mas simples-
mente a revela, como a tantas outras coisas ocultas na vida anmica, ensina-
-nos Freud em 1905. O estudo dA dinmica da transferncia (1912) e As
observaes sobre o amor transferencial (1915) ocuparo, todavia, muito de
seu tempo. No caso Dora, Freud afirma que errara ao no compreender
completamente o que estaria levando interrupo do tratamento. Quanto
no aprenderiam inmeros profissionais da rea da sade fazendo a si
mesmos essa pergunta? Quantos teriam a coragem de formul-la e no
simplesmente culpar o paciente porque no retornou ou no adere ao
tratamento, como se gente fosse band-aid?
A sexualidade continua a ser a categoria recalcada de vrias outras
clnicas. Nem falar na Sade Coletiva, em que at a palavra clnica fre-
quentemente recalcada. A palavra dos pacientes cada vez mais excluda
do tratamento. Contudo, em algumas abordagens retoma-se a ideia de
uma escuta, o que j bom, mas qual escuta essa? Uma escuta que
continua ao p da letra? Sobre a qual poderamos montar dispositivos de
controle e/ou aconselhamento? E o que aconselharamos? Usurpando qual
poder autorizar-nos-amos a isso?
Teramos sade pblica para domesticarmos a neurose? E ser que
isso seria possvel? Centros de Sade e Centros de Ateno Psicossocial
(Caps) que frequento e conheo ficam sempre s voltas com o tratamento
moral. Nada injuria mais a equipe de um Caps que ousar sugerir o diagns-
tico de uma histeria. Apesar de existir na portaria ministerial a encomenda
de que cabe aos Caps o tratamento das psicoses e das neuroses graves,
essas equipes, acostumadas a lidar com a psicose e sua falta de pragmatis-
mo, irritam-se com pacientes mais conservadas do ponto de vista pragm-
tico ou cognitivo. Assim as histricas a no teriam lugar! Elas, que j enche-
ram asilos e manicmios, teriam negado o lugar substitutivo de atendimento
que supostamente lhes foi destinado. Onde o ter ento na rede pblica?
Nas Unidades Bsicas de Sade tambm no, j que nem todas tm
pessoal destinado sade mental e, quando tm, a demanda impede que
se pense em tratamentos longos e individualizados. Mas haveria outras
134 |Elas continuam loucas
formas de mantermos a psicanlise viva e continuar a ajudar a tantas mu-
lheres perdidas em sua prpria identidade? Poderamos fazer da psican-
lise uma disciplina que embasasse nossas prticas assistenciais e a formu-
lao de polticas pblicas que no viessem a usurpar os papis familiares
seno a fortalec-los, como tentamos mostrar no caso de Tlia?
Se no, como tirar do crculo vicioso a produo em massa da pobre-
za brasileira, de sua desigualdade que reproduzida no somente pelas
estruturas produtivas seno pelas formas de subjetivao a que tm acesso
milhares de pessoas. Dentre elas, muitssimas mulheres repetindo gera-
o aps gerao o conflito com suas mes, a maternidade precoce ou
indesejada como sada que as leva direto para a armadilha do ressenti-
mento ou da doao. . . Histrias circulares que constroem a histria de um
pas sem pais.
Se no formos capazes de oferecer uma escuta que provoque dvi-
das, que responsabilize, que implique essas mulheres com seus prprios
sintomas, acabaremos oferecendo o libi para a cronificao, muitas vezes
em forma de remdios. Precisamos pensar, recriar e inventar novas formas
de acesso a essa escuta que nos ensinou Freud. A escuta da suspeita, do
simblico, da falha ou do branco na linguagem. . . Uma interveno no
momento da queixa que possa organizar uma demanda a onde apare-
cem somente sintomas soltos (e isso impe estar presente ali na hora certa,
no um ms depois!).
Intervenes preventivas no sentido de fortalecer os laos pa-
rentais e culturais e no da usurpao falsa e inconstante desses papis.
Quantas vezes no vemos equipes, injuriadas pela fraqueza de um pai
ou de uma me, contriburem para desqualific-los simbolicamente pe-
rante os filhos quando pouco tempo depois eles tambm no sustentaro
mais esse cuidado. A isso me refiro como usurpao falsa e inconstante.
Se a sociedade fosse capaz de fato de pr a funcionar estabelecimentos e/
ou instituies alternativos a certas famlias. . . Mas, como no tem sido,
obriga-nos a repensar nossas propostas para a infncia, por exemplo.
Assim, pensamos em constituir apoios que possamos sustentar transfe-
rencialmente e assim dar-lhes consistncia: que no resolvam tudo, mas
que colaborem para desatar ns que os aprisionam a repeties de gera-
o em gerao, que impliquem os sujeitos em suas escolhas e suas vidas.
Elas continuam loucas| 135
Apoios que permitam suplncias muito mais breves que na psicose: pe-
quenos andaimes.
Trabalhar por polticas pblicas que tornem isso possvel parece-me
uma atividade de relevncia tica e clnico-poltica. Por isso me interessa a
formao, como uma interveno com/nos outros que os implique, que os
desvie de sua prpria forma de estar no mundo, ou seno pelo menos que
se deixe explcito que se trata de uma flagrante omisso.
Pretendemos com essas notas chamar a ateno para a articulao
entre psicanlise e histeria hoje, para o valor da retomada dos estudos
clssicos os estudos de Freud e a utilidade dessa abordagem nos
servios pblicos de sade. Achamos importante retomar essas ligaes
para contestar muitos que pensam que a histeria j acabou ou que uma
categoria psicopatolgica obsoleta, em um mundo cheio somente de
borders, de fluxos e de subjetivao, sem levar em conta a complexidade do
feminino, da sexualidade, da fantasia, da ciso entre sexo e amor, etc.
Perseguiria eu a quimera de querer eliminar o lado trgico da exis-
tncia humana? Parece-me mais certo que quero eliminar o melo-
drama, a falsa tragdia aquela onde a catstrofe chega sem neces-
sidade, onde tudo poderia ter-se passado de outro modo se apenas
os personagens tivessem sabido isto ou feito aquilo [. . .] E se a
humanidade perecer um dia sob o efeito de bombas de hidrognio,
recuso-me a chamar isso de tragdia. Chamo de imbecilidade [. . .]
Quando um neurtico repete pela dcima quarta vez a mesma con-
duta de fracasso [. . .] ajud-lo a sair disso eliminar de sua vida a
farsa grotesca e no a tragdia [. . .] (Castoriadis, 1986, p. 15).
Referncias
Alonso, Silvia Leonor; Gurfinkel, Aline Amargo & Breyton, Danielle Melanie.
Figuras clnicas do feminino no mal-estar contemporneo. So Paulo: Escuta,
2002, 349 pp.
Andr, S. O que quer uma mulher? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
Castoriadis, Cornelius. A instituio imaginria da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1986, 418 pp.
Freud, S. & Breuer, J. [1893]. Sobre o mecanismo psquico dos fenmenos hist-
ricos: comunicao preliminar. In: Idem. Obras psicolgicas completas de
136 |Elas continuam loucas
Sigmund Freud, vol. II. Verso eletrnica da Edio Standard Brasileira.
Rio de Janeiro: Editora Imago (1960-1980),
10
1980a.
Freud, S. & Breuer, J. [1895]. Estudos sobre a histeria: o caso Anna O. In: Idem.
Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, vol. II. Verso eletrnica da
Edio Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980b.
Freud, S. [1895]. Projeto para uma psicologia cientfica: parte II (Caso Emma).
In: Idem. Verso eletrnica da Edio Standard Brasileira. Rio de Janeiro:
Imago, 1980a.
. [1901]. Fragmentos da anlise de um caso de histeria. In: Idem. Verso eletr-
nica da Edio Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980b.
. [1905]. Trs ensaios sobre a sexualidade. In: Idem. Verso eletrnica da Edio
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980c.
. [1894]. As psiconeuroses de defesa. In: Idem. Verso eletrnica da Edio
Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1980d.
Gagnebin, Jeanne-Marie. Homero e a dialtica do esclarecimento. Boletim do
CPA, Campinas, n.
o
4, jul.-dez. 1997.
Kehl, Maria Rita. Deslocamentos do feminino. Rio de Janeiro: Imago, 2007, 281 pp.
Onocko-Campos, Rosana et al. Salud Colectiva y Psicoanlisis: entrecruzando
conceptos en busca de polticas pblicas potentes. Revista de Salud Colecti-
va, Buenos Aires, vol. 4, n.
o
2, pp. 171-83, abr.-ago. 2008.
Roudinesco, E. & Plon, M. Dicionrio da psicanlise. Rio de Janeiro: J. Zahar,
1998.
Agradecimentos
A autora agradece s equipes de sade com as quais tem tido a sorte
de compartilhar a discusso de alguns dos casos aqui referidos e ao Dr.
Mario Eduardo Pereira cujo curso de leituras de Freud foi fonte de inspira-
o para este trabalho.
10
A Edio Standard Brasileira, publicada pela Imago (1969-80) sob a coordenao de
Jayme Salomo, segue, passo a passo, a organizao da Standard Edition, seja no que diz respeito
sequncia dos textos e diviso dos volumes, seja no que concerne s notas e demais material
editorial, assumindo papel importante no desenvolvimento da psicanlise no Brasil. Dessa forma
a apresentao de uma verso eletrnica da Edio Standard Brasileira das Obras Psicolgicas
Completas de Sigmund Freud no expressa a inteno de mudana no padro editorial estabele-
cido, e internacionalmente consagrado, mas sim a apresentao da obra em um outro tipo de
mdia, diferente da tradicionalmente apresentada, em papel.
C
Captulo 7
E agora, quemos educa?
Holding, handing e continuidade: funes
claudicantes na poltica pblica de sade
mental para crianas e adolescentes*
Rosana Onocko Campos
Que los jvenes modifiquen la sociedad y
enseen a los adultos a ver el mundo de for-
ma renovada; pero donde existe el desafo
de un joven en crecimiento, que haya un
adulto para encararlo. Y no es obligatorio
que ello resulte agradable.
En la fantasa inconsciente, esas son cues-
tiones de vida o muerte.
D.W.WI NNI COT T, 1969
ontemporaneamente, nos servios pblicos de sade desponta como
demanda emergente crianas e adolescentes que so denominados
problemticos. A demanda, endereada sade, parte, segundo o caso,
dos pais, da escola, do conselho tutelar, de vizinhos, enfim de vrios locais
da sociedade organizada.
Jullien (2000) mostra que, a partir do sculo XIX, quando as ques-
tes da conjugalidade, que constituam a base do Estado monrquico, fo-
ram substitudas pelas da parentalidade (que caracterizaria depois a socie-
dade burguesa) em nome dos interesses do Estado algum terceiro
social passou a intervir em defesa das crianas. Professores, psiclogos,
servio social entraram em cena em nome do Estado, a quem essas crianas
interessavam como futuros cidados e como futuros produtores e/ou
consumidores.
* Baseado em leitura feita no IV Colquio Winnicott de Campinas, nov. de 2010. Indito.
137
138 |E agora, quem educa?
Como tm sido feitas essas intervenes, em pocas recentes, no
Brasil? Quando tentamos intervir no caso brasileiro vem-nos cabe-
a a dificuldade de pensar e realizar intervenes em nome do Estado, sem
repetir algumas das marcas de injustia e opresso que tm caracterizado o
Estado brasileiro em suas relaes com a populao. Como lidar com a
desigualdade encarnada em bairros sem asfalto, escolas sem infraestrutura e
com somente trs horas dirias de aula? O que pode ser cobrado de mes
trabalhadoras que saem de casa quase sem retaguarda do Estado, sendo as
creches, uns dos servios mais escassos nas grandes cidades brasileiras?
Apesar das boas intenes do Estatuto da Criana e do Adolescen-
te, os conselhos tutelares, o servio social (Cras) e os servios de sade (seja
na ateno bsica, seja na sade mental) quando so chamados a intervir,
em geral, fazem, muitas vezes, leituras preconceituosas dessas famlias so-
mente por serem pobres, com outra cultura, outros hbitos, pondo-lhes a
pecha de problemticas e realizando intervenes invasivas, atropelando
as frgeis redes possveis para esses sujeitos.
Winnicott (1999) desenvolveu a ideia de que o exerccio confivel e
continuado das funes de holding e handing o que permite a entrada do
beb humano nos processos transicionais. Como sabemos, para esse autor,
uma me suficientemente boa no necessariamente uma me muito
abnegada, seno, nas palavras de Winnicott, uma devotada comum. Para
se constituir como tal, ela precisa ser confivel, mais ou menos previsvel ao
longo do tempo. Poderamos dizer que pouco a pouco o filho vai sacando
o estilo da me. figura paterna caberia ser o provedor de um ambiente de
suporte para a dupla me-filho inicialmente, sendo logo percebido como
parte desse ambiente de maturao pela criana. Essa posio de suporte
no deveria ser compreendida somente no seu aspecto material ainda
que esse seja importante mas deve ser entendido na complexidade de
um relacionamento vivo no qual a me possa se sentir suficientemente
amparada para poder dedicar-se ao beb.
Em inmeros casos de crianas e adolescentes, que consultam em
nossos servios pblicos de sade, confirmamos como a falncia ou claudi-
cao dessas funes resultam em transtornos graves, problemas com dro-
gas ou delinquncia. Em contextos seriamente afetados pela pobreza ex-
trema e a violncia, muitos desses jovens tiveram srias dificuldades em
E agora, quem educa?| 139
estabelecer um si mesmo e no raramente nunca tiveram um lar.
Foram passando da me para tias e/ou avs, s vezes at vizinhas, e, o
tempo todo, apoiando-se em relacionamentos que sempre se mostram pre-
crios. O ambiente apresenta-se, para eles, como no confivel de maneira
repetida e insistente. disso que sofrem quando os vemos s voltas com
drogas, problemas escolares, e autoagresses vrias. . .
Que formas de vida, em sociedade, temos desenvolvido os adultos
que fazem, agora, sintomas em nossos jovens? Que mensagens paradoxais
a sociedade oferece a esses jovens e crianas? O que acontece nas nossas
sociedades para que a lida com jovens e crianas em desenvolvimento e
seus percalos sejam transformados muitas vezes em problemas mdicos
ou policiais? Teramos perdido a capacidade de educar as geraes mais
novas? E onde poderamos buscar as causas dessa desistncia?
Objetivos
Este texto prope-se revisar como alguns conceitos da clnica psica-
naltica de crianas, na sua verso winnicottiana, puderam ajudar no mane-
jo concreto de alguns casos atendidos em servios pblicos de sade. Essa
ajuda foi oferecida no contexto de uma superviso clnico-institucional,
1
que aqui compreendido como um espao de suporte e manejo para as
prprias equipes. Objetiva-se tambm discutir alguns possveis subsdios
tericos para orientar a formulao de polticas pblicas e a formao de
pessoal no setor sade luz desse embasamento terico.
Casos
CAS O 1. Tiago 2 anos e 11 meses de idade. Me Tmara (17 anos)
e pai Tcito (23 anos). Irm Tnia de 4 anos. A famlia de Tiago de
Macei. Quando a me tinha oito anos, veio para Campinas. Voltou a
Macei com doze anos, quando conheceu Tcito. Teve a Tnia com treze a
e aos catorze engravidou de Tiago. Quando estava de cinco meses de
gestao separou-se de Tcito. Com oito meses voltou para Campinas
1
Essa superviso aconteceu semanal ou quinzenalmente (segundo demanda) da equipe
multiprofissional de um Caps i, servio destinado a assistir crianas com graves problemas de
sade mental. Esse servio no momento das supervises trabalhava tambm com adolescentes
com problemas de uso de substncias psicoativas.
140 |E agora, quem educa?
onde Tiago nasceu. Tcito veio conhecer o filho e Tmara conta que eles
nessa poca viviam como amigos (sic). Tcito fazia uso de cocana e lcool.
Tiago teve um comeo de desenvolvimento normal: engatinhou e
sentou com oito, nove meses de idade, comeou andar aos nove meses e
falava algumas palavras: mame, papai, vov e gua. Era um beb calmo
que passava o dia vendo TV e imitava os bonecos dos programas. Quando
Tiago tinha um ano e trs meses a famlia voltou para Macei e a me
comeou a trabalhar. Pouco depois Tiago passa a gritar, se joga no cho e
para de falar.
H dois meses Tmara e Tcito esto separados. Ele voltou para
Macei e ela est em Campinas.
A equipe que atende Tiago num CS suspeita de problemas auditivos,
que logo so descartados. Passa tambm por uma consulta na psiquiatra
infantil e lhe receitam risperidona. encaminhado para o Caps infantil.
Tmara s mostra emoo quando fala do divrcio, ento chora. Ela
est estudando supletivo e sai de casa escondida dos filhos que ficam com
a av materna. A av cuida dos netos, mas trabalha de dia. Disse ter dificul-
dades de lidar com Tiago.
Nos acompanhamentos do Caps infantil Tiago se mostra com com-
portamentos restritos e repetitivos, dificuldade de comunicao, e ataques
de birra. Na creche do bairro os profissionais no conseguem trabalhar com
ele e pedem me que o leve embora.
Nos atendimentos Tiago tem evoludo com boa apropriao do espao
e ampliao do contato com o terapeuta. A equipe parece estar se envolvendo
em articular parcerias com a creche e com uma ONG que trata de crianas
com problemas de desenvolvimento, mas a ONG tem regras que no permi-
tem que uma criana seja atendida por duas instituies ao mesmo tempo!!!
CAS O 2. Geraldo 17 anos. Segundo filho de uma prole de sete ir-
mos. Pai de paradeiro desconhecido. Me portadora de HIV, mora com os
cinco filhos mais novos. De um a onze anos foi criado por dona Elvira que
a av biolgica paterna de seu irmo mais velho. Ela acolheu a me de
Geraldo quando estava grvida e acabou assumindo os cuidados do beb.
Na ocasio que o conheceu, dona Elvira diz ter percebido que ele estava
muito magro e pedido me que o levasse ao Pronto-Socorro. Ele ficou
ento internado por quarenta e cinco dias e na sada seus cuidados foram
E agora, quem educa?| 141
assumidos por dona Elvira. Esta afirma que a me nunca teve uma relao
afetiva com Geraldo.
Dona Elvira disse que G sempre foi mais agitado, teve dificuldade
de se adaptar creche e com onze anos comeou a cometer pequenos
furtos e aprontar com a vizinhana o que fez que ela o enviasse de volta
para a casa da me, em uma cidade prxima de Campinas.
Com onze anos foi pego pelas ruas, referindo uso frequente de crack,
maconha e lcool. Ficou circulando entre Campinas e a cidade da me.
Percorreu repetidos abrigos, de onde sempre fugia. E tambm fugiu de
uma comunidade teraputica. Ficou nesse entra-e-sai da casa de dona E e
a rua. Quando dona E o acolhe ele briga com o irmo e de novo expulso.
Ele atendido de forma intermitente pelo servio de adolescentes.
Entre 2008 e 2009 Campinas o acolhe numa repblica assistida.
2
Fica nesse servio por dois meses e durante esse perodo ele solicita aten-
dimentos, contribui para a organizao da casa, e estabelece uma rotina de
visitas semanais a dona E. Foi inserido na escola em uma sala de transio.
Nesse mesmo perodo, apresentou episdios de agressividade contra
monitores e outros adolescentes da repblica, alguns associados a delrios
persecutrios. Pela primeira vez aventa-se a hiptese diagnstica de psicose.
Em um desses episdios internado. Essa internao se prolonga
por no haver na cidade um espao para ele. A equipe tenta se envolver em
construir esse espao com dona E e, nesse meio tempo, ele foge da interna-
o e vai para casa dela.
Enquanto isso a repblica assistida fechada, pois os adolescentes
davam muitos problemas. Enfim, o curso de vida do Geraldo tem conti-
nuado entre servios, fundao Casa por pequenos delitos e a rua.
Discusso
Gostaramos de refletir sobre os efeitos de intervenes dos servios
pblicos que mais esvaziam e desautorizam as funes materna e paterna
do que as apoiam para seu bom e legtimo exerccio. . . No raramente,
produzem assim, novas perdas e quebras de continuidade.
2
Servio destinado a servir de moradia para adolescentes em situao de rua, contando
com suporte de monitores vinte e quatro horas e operando na lgica da participao dos adoles-
centes na gesto do cotidiano da casa.
142 |E agora, quem educa?
No caso do Tiago vemos como uma adolescente (a Tmara) no pde
ser auxiliada em sua difcil tarefa de tornar-se me e mulher muito preco-
cemente. Ela teve seu filho em um servio pblico de Campinas no qual
com certeza foi qualificada como gravidez de risco. . . E isso,
para qu lhe serviu? Ela no obteve com isso nenhum tipo de apoio ex-
tra, nenhum suporte: nem material nem subjetivo. Estava frgil e solitria,
a assim ficou. . . No houve interveno da sade da famlia, nem da sade
mental, nem do centro de assistncia social mais prximo para ajud-la a
recompor uma rede social, agenciar seus amigos e familiares, enfim, o que
seria possvel ativar para criar um ambiente minimamente seguro para ela
e seu beb.
Em relao ao Tiago, numa cidade com grande e propagandeado
investimento pblico nas creches, no se consegue intervir em uma criana
cujo caso ainda no esteja claro. Trata-se sem dvida de uma criana com
risco de comprometer sua organizao subjetiva. Viveu quebras importan-
tes, foi deixado aos cuidados do televisor. . . Poucas palavras pem-se sobre
sua situao. Os cuidados so fragmentados, as instituies no conversam
entre si e a funo de Tmara lanada aos seus prprios recursos e/ou
sorte. No mximo conta com a ajuda da prpria me. Mas assim, como
interferir para mudar esse circuito de pobreza e fragilidades de todo tipo?
Ser assim que nos tornaremos um pas sem pobreza?
Winnicott (1984) desenvolveu sua concepo das consultas tera-
puticas com base em sua experincia de campo como pediatra e analista.
Talvez uma de suas maiores provocaes tenha sida a frase no existe essa
coisa chamada beb, quando ele procurou chamar a ateno para a rele-
vncia da dupla me-beb.
Conhecendo suas contribuies, no h como atendermos crianas
gravemente perturbadas, ou em risco srio de s-lo, sem acolhermos e tra-
balharmos tambm clinicamente com suas mes, e com seu ambiente.
O fato essencial que baseio meu trabalho no diagnstico. Continuo
a elaborar um diagnstico com o continuar do tratamento, um diag-
nstico individual e outro social, e trabalho de acordo com o mesmo
diagnstico (Winnicott, 1983 p. 154).
E agora, quem educa?| 143
As equipes de sade se comportam muitas vezes como se isso fosse
uma espcie de nus agregado, algo que extrapolaria sua funo. Afinal o
Caps i (de infantil) no foi criado para cuidar de crianas? Seria necess-
ria uma concepo clnica para entendermos que no planejamento de um
servio de sade mental, como o Caps i, o trabalho com a dupla me-filho
faz parte de suas tarefas primrias e no um acrscimo inesperado!
Qual deveria ser a funo da poltica pblica, a funo do Estado
como referente terceiro que deveria comparecer ali onde, por exemplo, no
h um pai que possa garantir o ambiente minimamente favorvel a essa
me? O Estado exige o tempo todo coisas dessas mulheres: que cumpram
horrios, que compaream, que cuidem, que se adaptem aos servios e, o
que bem pior, muitas vezes que se adaptem aos valores dados pelos
trabalhadores sociais e de sade desde sua posio neurtica de classe
mdia. Pensemos em Tamara: foi me aos treze e voltou a s-lo aos catorze,
no houve servio de sade capaz de ajud-la em seu planejamento fami-
liar. Quando ela decide encarar uma estratgia de progresso (voltar escola,
ao efetiva segundo mostram alguns estudos) ela s acudida pela sua
prpria me. No h creches, no h outro tipo de apoio para essa jovem
mulher s voltas com seu futuro e o de seus filhos.
Contudo, aps a equipe se repensar na superviso clnico-instituci-
onal, ela pde ajudar essa me a retomar comunicao com o filho, propiciar
um espao de trocas ldico e confivel onde eles pudessem experimentar
estar juntos sob os cuidados e proteo dos profissionais. Em atendimentos
semanais, essa me era auxiliada no espao chamado de ambincia a de-
senvolver com seu filho brincadeiras, outras formas de olhar, outras manei-
ras de conversar. A equipe ofertava o espao, o ambiente seguro e mais ou
menos tranquilo ou animado segundo o dia, e s vezes a companhia para as
reflexes dessa me, se comportando prximo do que Winnicott aponta
como prprio da funo paterna.
Essa mesma equipe passou a se responsabilizar por tecer uma fina e
delicada rede de relaes entre polticas, servios, setores: que apoio social
teria essa me, como ela poderia ser acolhida na creche, na ONG, no seu
prprio trabalho?
Para isso deveria ser possvel trabalhar na adaptao de vrios des-
ses setores a ela, e no ao contrario, continuar a exigir que ela se adapte o
144 |E agora, quem educa?
tempo todo. Rejeitando a culpabilizao moralizante por algum erro que
supostamente ela cometeu. . . Porm, quando? Apaixonando-se com doze
anos? Quantas meninas de classe mdia no se apaixonam tambm com
melhores resultados? A hipocrisia de uma sociedade dividida como a bra-
sileira, que reclama para si direitos que nega aos outros. Se todas as Tma-
ras receberam esse tipo de suporte, ao final no haver mais Tmaras para
lavar e passar a roupa da classe B por um salrio mnimo ao ms.
Vejamos agora o caso do Geraldo: ele exemplifica de modo pattico
a nossa ineficcia. Ele conhecido desde os onze anos pela poltica pblica
local que supostamente se ocupa de crianas e adolescentes em situao de
risco. H j quase nove anos usurio de servios pblicos. E foi possvel
interferir em sua trajetria tragicamente anunciada? Houve um claro mo-
mento em que tudo pareceu andar bem: na repblica assistida. E por que
aconteceu o fechamento da repblica assistida? Como, por que, da cabea
de quem sai uma suposio de que uma repblica destinada a adolescen-
tes com problemas poderia se desenvolver sem problemas?
Winnicott em seu texto Privao e delinquncia nos mostra, com
base em vrios casos clnicos, que precisamente quando os jovens come-
am a confiar em um novo ambiente que eles o testaro, realizando alguma
transgresso. Em nossas supervises, temos chamado isso do teste de
aprontou. Como ajudar uma equipe a suportar essas transgresses, so-
brevivendo sem retaliar, como nos pede Winnicott ao falar do papel da
agressividade? No seu prefcio a esse livro Clare Winnicott (mulher de
Winnicott) afirma:
a questo prtica como manter um ambiente que seja suficiente-
mente humano, e suficientemente forte, para conter os que prestam
assistncia e os destitudos e delinquentes, que precisam desespera-
damente de cuidados e de pertencimento, mas fazem o possvel para
destru-los quando os encontram (p. xvi).
Aqui, a formao das pessoas, que compem essas equipes, torna-se
central. Sem um referencial no qual eles tambm possam amparar-se, esses
trabalhadores no conseguem suportar as afrontas juvenis, nem resistir a
elas. O exerccio da superviso clnico-nstitucional tem sido para ns um
E agora, quem educa?| 145
momento trfico, de alimento intelectual, no qual o acesso a textos, o debate
de casos e a oferta de referncias tericas ajudam a suportar a prpria
equipe e lhe oferecem repertrio para elaborarem seu prprio manejo. A
superviso clnico-institucional tambm necessria para se constituir em
terceiro, ajudando a equipe a fugir das identificaes fceis, nas quais mui-
tas vezes se (re)produzem tratamentos morais, projees de valores pes-
soais de membros da equipe sobre os usurios. Trata-se sempre de relaes
de poder, e elas devem poder ser analisadas coletivamente para no serem
atuadas e atualizadas sobre os corpos e vidas dos pacientes.
Vejamos dona Elvira, a nica pessoa que parece ter condies de
representar algum papel estvel na vida do Geraldo, ela tambm no con-
segue ter um suporte adequado. Isso tem a ver com as ambiguidades de
dona Elvira? Estaria ela inconscientemente preocupada em mostrar que
essa (a me do Geraldo) no merecia seu filho (da dona Elvira); afinal,
no conseguiu ser me nem para seu neto (o irmo mais velho de Geraldo
que mora com dona E) nem para o Geraldo. E assim limparia um pouco a
barra desse filho que abandona seus prprios rebentos? E ela, dona Elvira,
no teria claros ganhos narcsicos se mostrando competente para tal?
possvel, muito provvel at. Mas, qual seria a funo da poltica pblica:
julg-la por isso? E a me de Geraldo, que nem nome tem nessa histria?
Em oito anos no conseguimos nem saber seu nome? Quem , o que lhe
acontece, o que pensa desse filho? Por que a poltica pblica faz de conta
que a pessoa no responsvel pelo seu papel na vida? O qu ela esco-
lheu? Quero chamar a ateno aqui para uma cumplicidade (inconsciente)
das equipes e trabalhadores com a posio alienada do sujeito (neste caso
a me sem nome de Geraldo). Pode ser que no resulte em nada, mas no
correto que essa pessoa no seja submetida ao teste da realidade, valo-
rizando o prprio papel na produo de sua vida e os efeitos dessa pro-
duo sobre os outros.
Debate-se intensamente hoje o diagnstico de Geraldo. A psicose,
paradoxalmente, pode abrir-lhe as portas de um Caps, onde ele teria uma
referncia, algum tipo de amarrao simblica. Pode ser. Mas tambm j lhe
ofereceram acesso medicao, a ser colocado no lugar de objeto das inter-
venes e decises de outros. Desse lugar, entretanto, ele foge; gesto ltimo
de um sujeito que, de alguma maneira, ainda ali sobrevive.
146 |E agora, quem educa?
Intervenes ineficazes ou pior, danosas, do tipo que tentamos mos-
trar s tem utilidade para o reforo narcsico de quem as realiza, parecendo
at mesmo obedecer, muitas vezes, necessidade dos trabalhadores de se
sentirem reparados de processos de privao que sua condio de traba-
lhadores no servio pblico lhes provoca. Coloquem-se nessa conta: baixos
salrios, infraestrutura inadequada, pessoal em nmero insuficiente, che-
fias omissas ou autoritrias, etc. Aspectos todos que Kas (1991) denomi-
na de entraves realizao da tarefa primria.
Ainda, a alta rotatividade de profissionais nos servios de sade
tambm contribui para a descontinuidade da assistncia, impedindo que
vnculos mais duradouros possam contribuir para reparar alguma dessas
funes falidas. Ali o Estado age como um pai omisso, no conseguindo
apesar do desenvolvimento do Sistema nico de Sade de mais de vinte
anos criar planos de cargos e salrios que permitam o desenvolvimento
de uma carreira na qual as pessoas se sintam teis e saibam as regras pelas
quais sero julgadas em seu desempenho.
Diz-nos Winnicott:
qualquer plano amplo que envolva cuidados para com crianas pri-
vadas de uma vida familiar adequada deve, por conseguinte, permi-
tir e facilitar ao mximo a adaptao local, e atrair pessoas de mente
aberta para trabalhar nele (op. cit., p. 61).
Nesse sentido, as supervises e discusses coletivas de caso teriam a
funo de criar algo dessa continuidade, uma espcie de suplncia da con-
tinuidade impossvel s equipes nessa conjuntura.
Eplogo
Tempo depois da fuga de Geraldo da internao, fui chamada para
uma superviso de um abrigo, no qual ele se encontrava, claro, provisoria-
mente (pois j tinha ento dezoito anos). Fui tentando, com ajuda de
membros das antigas e da nova equipe, reconstruir o caso e fizemos todos
juntos uma leitura da necessidade desse jovem de encontrar um lugar no
mundo, e pensamos e debatemos estratgias para conseguir algumas con-
dies de suporte para que dona Elvira aceitasse cuidar dele.
E agora, quem educa?| 147
Foram feitas trs visitas, com ele junto, casa de sua me, da qual,
finalmente, descobrimos o nome. Constatamos que a casa dela estava ra-
chando, a alvenaria literalmente desmoronando. Ele teve vrios episdios
de agressividade no abrigo, sempre desencadeadas por algum fato aparen-
temente banal, mas claro, para ele muito srio como no acreditarem
nele, por exemplo. Trabalhamos na construo de uma possibilidade de
essas crises serem enfrentadas de maneira que se conseguisse passar por
elas e no reagir a elas (Clare Winnicott, op. cit.). buscando renovar a
confiana e a esperana. . .
Quase um ano depois recebi o seguinte e-mail do pessoal do abrigo,
junto com um novo pedido de superviso:
Gostaria de dizer, que as supervises que realizaste foram de grande
valia para que aprimorssemos nossa interveno junto ao G e hoje
ele pode colher os frutos de nossa contribuio. Talvez voc tenha
interesse em saber que ele esta morando com a av, desde outubro
do ano passado e agora trabalhando, com carteira assinada como diz
ele, conta em banco. . . enfim, continuamos acompanhando e aju-
dando esta famlia a se fortalecer e temos tido xito. Ele est muito
feliz e sua famlia tambm.
Referncias
Julien, P. Abandonars teu pai e tua me. Trad. Procpio Abreu. Rio de Janeiro: Ed.
Companhia de Freud, 2000.
Kas, R. Realidade psquica e sofrimento nas instituies. In: Kas, R.; Bleger, J.;
Enriquez, E.; Fornari, F.; Fustier, P.; Roussillon, R. & Vidal, J. P. (orgs.). A
instituio e as instituies. Trad. Joaquim Pereira Neto. So Paulo: Casa do
Psiclogo, 1991, pp. 1-39.
Winnicott, D. W. Realidad y juego. Trad. Floreal Mazi. Barcelona: Gedisa,
1999, 199 pp. (original de 1971).
. Consultas teraputicas em psiquiatria infantil. Trad. Joseti Marques Xisto Cunha.
Rio de Janeiro: Imago, 1984 (original de 1971).
. O ambiente e os processos de maturao. Trad. Irineo Schuch Ortiz. Porto
Alegre: Artmed, 1983 (original de 1962).
. Privao e delinquncia. Prefcio de Clare Winnicott. Trad. lvaro Cabral. So
Paulo: Martins Fontes, 2005 (original de 1984).
148 |Sejamos heterogneos
N
Captulo 8
Sejamos heterogneos:
contribuies para o exerccio da
superviso clnico-institucional
em sade mental*
Rosana Onocko Campos
o campo da sade mental e, fundamentalmente, no marco das prti-
cas psi o termo superviso vinculado, desde os primeiros tempos das
escolas de psicanlise, ao processo de formao de novos terapeutas. Inau-
gurado nos primrdios da psicanlise pelo prprio Freud que se disps a
ajudar a seus formandos/analisandos a fazerem, acompanhados, o cami-
nho que ele mesmo tinha percorrido sozinho. Assim, no campo da psican-
lise o conceito de superviso (somado anlise pessoal) articula as ideias de
conhecimento de si e de formao clnica.
No contexto da Reforma Psiquitrica brasileira, ao longo dos ltimos
anos, buscou-se instituir nos servios substitutivos a prtica da superviso
qualificada como clnico-institucional. Qual o sentido que o termo super-
viso ganha quando qualificado pelo complemento clnico-institucional?
Com quais concepes em relao instituio, ao sujeito que sofre e s
relaes entre agentes e instituio poderamos operar?
H uma relao de imanncia entre a clnica e o servio: as caracters-
ticas do equipamento, o seu modo de operar, a forma como se organiza a o
processo de trabalho definem a clnica, e vice-versa. A juno clnico-ins-
titucional ainda nos permite destacar, no processo de adoecimento, uma
dimenso que social, porque fruto das relaes entre os indivduos com
seu modo de viver e estar no mundo. Quando colocamos essa questo em
relao aos servios substitutivos de sade mental (particularmente quanto
* Indito.
148
Sejamos heterogneos| 149
aos Caps Centros de Ateno Psicossocial) e refletimos sobre a ainda
premente necessidade de combater o estigma e a excluso vinculados
loucura, isso faz a nosso ver ainda mais sentido.
Nossa concepo de instituio
Pensamos, com Freud (1997), que as organizaes, instituies e
estabelecimentos
1
surgiram no mundo humano como espaos privilegiados
para a sublimao. Para Freud, o sofrimento nos ameaa na qualidade
de humanos a partir de nosso prprio corpo, condenado decadncia e
dissoluo; a partir do mundo externo, com suas foras esmagadoras; e do
relacionamento com os outros homens, fonte do sofrimento mais penoso.
Os mecanismos defensivos aparecem para proteger o ser humano da
dor. s vezes, contudo, o preo a ser pago torna-se alto demais: isolamento,
neurose, uso de drogas, afinco excessivo no controle tcnico da natureza.
Dentre todos esses mecanismos Freud apontava um como privilegiado: a
sublimao dos instintos, que obtm seu mximo benefcio quando se con-
segue intensificar a produo de prazer a partir do trabalho psquico ou
intelectual. Para Freud, nem a busca do amor romntico poderia se compa-
rar, na sua potncia sublimatria, criao e ao prazer esttico.
Pensar que os espaos institucionais so permanentemente atraves-
sados pela fora da sublimao, permite-nos compreender melhor suas
potencialidades e reverberaes e entend-los como fonte de prazer e de
sofrimento, de criao e de frustrao, caractersticas que lhes so constitu-
tivas e no patolgicas ou excepcionais. A substituio do poder do indi-
vduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo de uma
civilizao (Ibidem), assim, a civilizao construda sobre uma renncia
ao instinto. Para Freud, a frustrao social domina o campo dos relaciona-
mentos humanos, pois, diz ele: no se faz isso impunemente (Ibidem). A
sociedade visa unir os membros de maneira libidinal:
1
A socioanlise francesa tem feito distino entre instituies, organizaes e estabele-
cimentos. Propositalmente, utilizamos neste trabalho os trs termos sem distines, j que no
estamos aprofundando as suas diferenas conceituais, mas sim o que eles representam de comum
no mundo humano: espaos coletivos, produtores de sentido social e settings privilegiados para
a sublimao criadora aparecer.
150 |Sejamos heterogneos
favorece todos os caminhos pelos quais identificaes fortes possam
ser estabelecidas entre os membros da comunidade e [. . .] convoca
a libido inibida em sua finalidade,
2
de modo a fortalecer o vnculo
comunal atravs de relaes de amizade (Ibidem).
Apesar do esforo social, o homem continua a ser agressivo. O lao de
amizade possvel entre alguns, que precisaro constituir-se como alguns
em relao a outros, e com os quais ser possvel construir um escoadouro,
sob a forma de hostilidade contra intrusos. Isso ser evidente entre comu-
nidades prximas e relacionadas. Freud chamou esse processo de narcisis-
mo das pequenas diferenas, no fundo uma satisfao conveniente e rela-
tivamente incua
3
da inclinao para a agresso, mediante a qual a coeso
entre os membros de uma comunidade torna-se mais fcil.
Nesste ponto, Freud achou importante lembrar e ressaltar a introdu-
o, em sua prpria obra, do conceito de pulso de morte,
4
o que ele fizera
em 1920 em Mais alm do princpio do prazer. Diz ele: uma parte do
instinto desviada no sentido do mundo externo e vem luz como um
instinto de agressividade e destrutividade (Ibidem). O significado da evo-
luo da civilizao dever doravante ser procurado como a luta permanen-
te entre a pulso de vida e a pulso de morte. nessa luta que o devir
institucional se debate, ao longo da histria e no seu cotidiano. No haver
nunca tecnologia que nos separe da nossa condio primeira de humanida-
de, e a vocao para concretizar projetos coletivos esbarra, o tempo todo,
com as dificuldades do narcisismo das pequenas diferenas e com o mal-
-estar advindo do recalque pulsional em prol da vida social.
Defendemos que esse processo de criao de alguma identidade
fundamental e fundante para os agrupamentos humanos. Como vimos,
para Freud, esse apelo libidinal o cimento das relaes de amizade e
cooperao, destacam tambm esse aspecto, entre outros, Dolto (1989,
2
Freud refere-se aqui libido sem finalidade genital.
3
Incua se pensada em relao ao extermnio material do outro, mas no inerte do ponto
de vista institucional, como veremos adiante.
4
Mantivemos o termo instinto nas citaes literais por ser o escolhido pela traduo que
utilizamos. Contudo, numerosos estudos preferem se referir a esse conceito como pulso de morte
(ver a interessante discusso sobre isso em Green et al., 1988).
Sejamos heterogneos| 151
1996a, 1996b) e Castoriadis (1986, 1987). Se bem dissemos que nossa
posio em relao contribuio da psicanlise para as instituies funda-
se na compreenso dos espaos institucionais como espaos que tm sen-
tido, como locus privilegiado de sublimao, isso no equivale a pensar nas
instituies como bolhas cor-de-rosa. A existncia da pulso de morte nos
permitiria abordar de uma maneira diferente o mal-estar na instituio,
pois ele constitutivo e no patolgico. Ao diferenciarmos este mal-estar
do sofrimento institucional (que pode, este sim, ser tratado e no deve ser
tido como inevitvel ou constitutivo), teremos alguns fios condutores:
A instituio deve ser permanente: com isso ela assegura funes
estveis e necessrias vida social e psquica. Para o psiquismo, a
instituio encontra-se, como a me, na base dos movimentos de
descontinuidade instaurados pelo jogo do ritmo pulsional e de satis-
fao. Ela se confunde com a experincia mesma da satisfao.
uma das razes do valor ideal e necessariamente persecutrio
que ela assume to facilmente (Kas, 1991, p. 23).
Para Kas, h uma aderncia narcsica ao objeto institucional. Esse
objeto institucional , geralmente, algum dos objetivos primrios, ou o que
Campos (2000) chama de valor de uso, e tem um papel constitutivo na
identidade organizacional. Nos servios pblicos de sade, nos quais a
desagregao interpessoal e a alienao nas tarefas, lamentavelmente, ain-
da predominam, conseguir essa aderncia narcsica contribuiria para o esta-
belecimento de contratos
5
(Campos, 2000, p. 233).
Diferentemente de ns, alguns autores mostraram, tambm a partir
de um referencial psicanaltico, como a organizao moderna opera sobre o
narcisismo de seus agentes e os manipula num jogo de infantilizao (Frei-
tas, 1999; Motta & Freitas, 2000). Nesses trabalhos, a nfase posta na
fragilidade do sujeito perante a seduo institucional. A nosso ver, essa
seduo, muito bem descrita por eles, assemelha-se mais a uma encenao
histrica do que a um verdadeiro apelo amoroso, no lao fraterno do projeto
comum. Atribumos esse vis ao fato de os estudos citados serem realiza-
dos a partir de uma descrio de empresas lucrativas onde a extrao de
todo tipo de mais-valia se torna imperiosa.
152 |Sejamos heterogneos
Esse vis tambm pode ser explicado pela posio puramente passiva
que alguns autores atribuem aos agentes. Essa viso dos sujeitos prontos,
j produzidos e limitados a repetir o ritual da pulso de morte, ou presos ao
fascnio infantil, parece-nos uma reduo, que restringe a leitura freudiana.
Pensamos que para a maioria das pessoas tambm existe o desejo de
fazer junto com outros sendo, pulso vital, criativa, criadora do lao frater-
no. Contudo, uma vez estabelecida a importncia das instituies em nos-
sas vidas apontamos que nelas que temos tambm o foco dos problemas.
Diz-nos Kas:
conhecemos as peripcias das instituies [. . .] quando se trata de
reformar os programas ou as tcnicas de tratamento [. . .] reformar
refundar, e, portanto, destruir, na fantasia, a comunidade institucio-
nal. Nessa distncia que a vida no pode evitar, os novos significan-
tes ainda no esto disponveis e ainda no recebem o investimento
necessrio para a investidura do novo contrato. Nessas situaes
indecisas duas sadas so frequentemente utilizadas: o recurso ao
agir psicossomtico, ou ao agir ideolgico, sendo que geralmente um
surge pela falta do outro (1991, pp. 26-7).
Para Kas, importante compreender que h vrias fontes de sofri-
mento institucional. A instituio palco tanto do sofrimento prprio dos
sujeitos individuais que ela exprime como do sofrimento ligado ao ser-
-conjunto. Portanto, nem todo sofrimento psquico que nela se manifesta
tem valor e sentido de sintoma para o funcionamento institucional.
No entanto, ns tambm sofremos mal-estar pelo fato institucional
em si: como analisamos em Freud, haver sempre um exerccio de violncia,
uma distncia entre a exigncia (restrio pulsional, sacrifcio dos interesses
do Eu) e os benefcios esperados (identificao narcsica). Mas sofremos
tambm, na instituio, por no compreendermos a causa, o objeto, o senti-
do e a prpria razo do sofrimento que a experimentamos (Kas, ibidem,
p. 32). Assim como Franoise Dolto (1996b) defendia que o conhecimento
de alguns mecanismos psquicos por parte dos pais teria efeito preventivo
sobre as neuroses dos filhos, pensamos que o reconhecimento dessas ques-
tes nos espaos de gesto teria efeitos preventivos nas instituies. Se
Sejamos heterogneos| 153
soubermos do mal-estar inevitvel, ser possvel criar espaos de anlise e
de crtica que permitam enfrent-lo e distingui-lo do sofrimento extremo.
Nos servios pblicos em que trabalhamos h tambm que conside-
rar as caractersticas da rede pblica, seus ritmos, ora muito rpidos, ora
vagarosos na administrao de recursos. Inmeras instituies (aqui, sim,
na acepo de Loureau 1995) comparecem dia a dia nesses servios.
Poderamos mapear nos centros de ateno psicossocial:
o saber mdico, encarnado na Psiquiatria, que tem srias dificul-
dades para se inserir nos novos equipamentos;
a loucura em cujo nome quase tudo pode (ou no pode, segundo
o caso);
o conceito de reabilitao psicossocial que funciona muitas ve-
zes dessa mesma maneira;
a instituio da violncia nos bairros;
as formas de subjetivao marcadas pela marginalidade que pu-
lulam no contemporneo, etc.
Bleger afirmava que:
por ter as mesmas estruturas sociais as instituies tendem a ado-
tar a mesma estrutura dos problemas que tm de enfrentar [. . .]
nas instituies que atendem doentes mentais estes problemas se
tornam mais agudos. Um dos que se apresentam sempre (at ago-
ra) o de uma forte dissociao entre os objetivos explcitos e im-
plcitos da instituio [. . .] neste sentido a instituio tende, em
sua organizao total, alienao e segregao do doente mental
(1984, p. 62).
Os Centros de Ateno Psicossocial no so imunes a esse tipo de
ao e cabe superviso clnico-institucional tratar disso, evitar que a enco-
menda social sobre a loucura (isto , exclu-la do convvio social) seja cum-
prida pelos novos equipamentos da Reforma.
Nossa concepo do sujeito que sofre
Todo sujeito tem uma capacidade criativa e capaz de construir
modos diferentes de estar no mundo e com ele se relacionar.
154 |Sejamos heterogneos
Os chamados casos graves, pacientes dentro do espectro psictico,
ou que foram diagnosticados nesse campo, possuem uma forma muito
peculiar de habitar o espao-tempo. Sua capacidade de tolerar frustraes
costuma ser muito diminuda e sua tendncia passividade amide re-
forada por doses pesadas de medicao psicotrpica. Oury as chama de
Pessoas que descarrilaram no simblico (Oury, 1991). Winnicott (1983)
aponta na gnese desses distrbios falhas muito precoces no ambiente.
Assim, para alguns desses sujeitos, na fase de integrao do self, a distino
entre o eu e o no-eu viu-se interrompida ou alterada. A integrao psi-
que-soma tambm se ver afetada nesses casos. Para esse autor, a regres-
so dependncia seria um dos mecanismos de acesso ao teraputico
nesses pacientes e por isso as funes de manejo (handing) e suporte (hold-
ing) tornar-se-iam fundamentais. Oury (2009) nos fala do Coletivo como
uma mquina abstrata, uma mquina de tratar a alienao, todas as for-
mas de alienao, tanto a alienao social, coisificante, produto da produ-
o, como a alienao psictica (Oury, 2009, p. 39). Nele a heterogeneida-
de condio para atingirmos qualidade teraputica.
No psictico, por exemplo, na esquizofrenia, h dissociao, Spaltung,
clivagem. Disso resulta que a transferncia no pode se fazer a no
ser sobre uma multiplicidade de pontos: pessoas, lugares, coisas, lin-
guagens, hbitos. Ora essa multiplicidade de pontos de transfern-
cia necessita da presena de vrias pessoas e de diferentes lugares
(Oury, 1980, p. 97 apud Campos Silva).
e continua:
Criar um coletivo orientado de tal modo que tudo seja empregado:
(teraputicas biolgicas, analticas, desembaraamento dos sistemas
alienantes socioeconmicos, etc.) para que o psictico aceda a um cam-
po onde ele possa redelimitar seu corpo numa dialtica entre parte e
totalidade, participar do corpo institucional pela mediao de objetos
transicionais, os quais podem ser o artifcio do Coletivo sob o nome
de tcnicas de mediao, que ns podemos chamar de objetos institu-
cionais. Esses objetos institucionais so tanto os atelis, as reunies,
Sejamos heterogneos| 155
os lugares privilegiados, as funes, etc. como a participao dos siste-
mas concretos de gesto ou organizao (Oury, 1980, p. 270 apud
Campos Silva).
com base nessas proposies tericas, que pensamos que se apro-
ximar desses pacientes requer ateno a vrias dimenses. Inicialmente
a do acolhimento. Diz-nos Jean Oury: o acolhimento sendo coletivo na
sua textura, no se torna eficaz seno pela valorizao da pura singula-
ridade daquele que acolhido (Oury, 1991). A nosso entender apon-
ta-nos, assim, a necessidade de singularizar o tratamento j desde o pri-
meiro contato. A estratgia de acolhida que funcionou para um pode
muito bem no funcionar para outro. Faz-se necessrio algum disposto
a reconhecer a onde no foi reconhecido ou enxergado em seu mo-
mento uma pura singularidade, no um paciente a mais, no um psi-
ctico a mais.
Mas acolher s faz sentido se assumirmos nossa responsabilidade
clnica, acolher para: nesse ambiente acolhedor, preciso, insiste Oury
(1991), estarmos muito atentos a momentos privilegiados no qual algo se
passar de maneira diferente um dia. Para podermos apreender essa emer-
gncia de signos precisamos estar em uma posio de espera ativa, que em
nada se parece omisso ou neutralidade. Para consegui-lo, alerta-nos
Oury (1991), preciso estar advertidos, isto , ter passado por um proces-
so de formao que torne nossa sensibilidade trabalhada, atenta a esses
fatos. Tambm Passos & Benevides (2001) apontam a importncia da
produo de desvios na clnica, componente fundamental da articulao do
clnico com o poltico. Acolher para manter as pessoas quietas no Caps ou
hipermedicadas no faz sentido. Para poder realizar o percurso da aliena-
o de si e da dependncia responsabilizao (Marazina, 1991) neces-
srio produzir desvios e mudanas nas vidas dessas pessoas. Com eles, no
para eles. Contudo, isso no implica eximir de sua prpria responsabilida-
de o sujeito j que a pessoa, mesmo dissociada permanece uma pessoa,
com um nome (Oury, 1991).
Mas, de qual sujeito falamos? Com certeza no do sujeito do cogito
cartesiano, aquele que se define pela racionalidade. No tambm do
sujeito moral. Nem somente do sujeito de direitos, cidado, apesar de tra-
156 |Sejamos heterogneos
balharmos sempre em prol de graus maiores de exerccio de cidadania
plena. Pensamos no ser humano: sujeito do inconsciente. Move-nos uma
tica assentada no que Franoise Dolto (1990) denominava de f no outro
enquanto humano.
O encontro com o servio pode favorecer mudanas nessa relao
usurio-mundo. preciso caracterizar as principais formas de sofrer dos
usurios de cada servio (a caracterizao dos pacientes como graves
muito genrica, preciso conhec-los melhor). Por exemplo, o manejo
de pacientes com muita desorganizao psquica pode beneficiar-se de
um vnculo forte com um membro da equipe que inicialmente ser o prin-
cipal encarregado de exercer as funes de suporte e de manejo. Porm,
esse mesmo tipo de manejo pode exacerbar as reaes paranoides de um
sujeito com outro tipo de organizao subjetiva. Quanto mais paranoi-
co encontra-se o sujeito, mais sentido far multiplicar seus contatos, ma-
neira que o descreve Oury. Porm isso nunca equivale massificao ou
anonimato, seno que, pelo contrrio, deve ser assumido como uma estra-
tgia de manejo.
Tomamos sempre a clnica como analisador e defendemos que toda
clnica institucional. Nossa clnica ampliada (Campos, 2003) no nega as
tcnicas da clnica stricto sensu, mas as incorpora em um conjunto mais
amplo de aes, entrelaando clnica e poltica, tratamento, organizao
institucional, gesto e subjetividade.
Os cuidados buscam a produo de sade e de cidadania. Muitos
so os resqucios manicomiais a serem desconstrudos na clnica ampliada;
a inveno de uma nova clnica, a clnica do cotidiano que nos convida (uma
obrigao tica?) a ampliar nosso foco de viso como estratgia para dar
conta da multiplicidade que a vida.
Pensamos que o modo de operar o sintoma de cada sujeito sempre
uma inveno. Com o que desejamos destacar que o saber est sempre
do lado do sujeito e relativizar o lugar de saber da equipe. As pistas e
indicaes que o sujeito d para dirigir a construo de seu projeto terapu-
tico so preciosas e devem ser sensivelmente escrutadas. Conseguir essa
sensibilidade advertida como a nomeia Oury requer cuidados e
suporte especficos s equipes.
Sejamos heterogneos| 157
Nossa forma de trabalho em superviso e a relao
entre agentes e instituio
Trata-se de criar um dispositivo de trabalho e de jogo, que restabele-
a, numa rea transicional comum, a coexistncia das conjunes e
das disjunes, da continuidade e das rupturas, dos ajustamentos regu-
ladores e das irrupes criadoras, de um espao suficientemente sub-
jetivizado e relativamente operatrio (Kas, 1991, p. 39, grifos nossos).
Em nossa prtica, na montagem do dispositivo de superviso clnico-
-institucional, levamos em considerao algumas premissas:
a importncia de os trabalhadores construrem certa grupalidade
entre eles (propiciando um espao de confiana, de trocas, de circulao de
afetos),
a necessidade de se distanciarem um pouco da prtica cotidiana
para estimular a reflexo sobre elas (uma pausa, um breque, uma vrgula
(Onocko-Campos, 2003), um momento no qual no se faz nada, se pensa),
e o suporte propiciado pela incorporao de novos conceitos e
teorizaes, que vem a alimentar a reflexo com novas categorias de anlise.
Inicialmente, para conseguirmos isso, propomos um primeiro contra-
to com a equipe que inclui a necessidade de respeitarmos os horrios e o
espao. Pontualidade e no interrupo da superviso, ainda que paream
coisas banais costumam ser difceis de conseguir num primeiro momento,
pois as equipes esto habituadas a trabalharem em ritmo acelerado, com
pouco cuidado de si e com escassa reflexo. Estabelecemos tambm a
necessidade de sigilo, discrio e restituio dos contedos trabalhados.
Isso implica reconheceremos que haver muito frequentemente actings out
(ou in) superviso que devero voltar para sua anlise no coletivo. Dessa
forma, procuramos oferecer uma sensao de segurana e contribuir para a
criao da confiana: haver a quem reportar o que se passa fora da super-
viso, sempre que tenha tido relao com o falado na superviso. E ainda,
propomos a suspenso da autoridade do gestor no perodo que dura a
superviso, isto , ele no coordena essa reunio, seno o supervisor. o
supervisor quem zela pela circulao da palavra, encaminhamentos, uso do
tempo, etc. No h ingenuidade nisso: como j defendemos em outro texto
158 |Sejamos heterogneos
(Onocko-Campos, 2003a) a suspenso formal do poder permite fazer
emergir as dimenses mticas do mesmo e, at, aos poucos, ir pondo em
anlise os usos do poder.
Trabalhamos o tempo todo assumindo que esse dispositivo um
dispositivo de formao, porm sem nos desimplicar de nosso compromisso
com a construo de uma rede de servios eficaz. No nos achamos deten-
tores de nenhuma verdade sobre os outros, porm, indagadores de nossas
prprias prticas e posies. Visamos a aquisio pela equipe de uma pos-
tura teraputica (que sempre e necessariamente tico-poltica) no sen-
tido de se trabalhar at o limite a necessidade da defesa da vida, do com-
promisso com a produo de sade, e com o fortalecimento do sistema
pblico de sade como ferramenta fundamental para a promoo da cida-
dania e o logro da equidade.
A forma como a instituio opera produz modos de subjetivao,
efeitos tanto sobre os pacientes, quanto sobre os profissionais. Estes, por
sua vez, tambm so produtores da prpria instituio. Buscamos revelar
os efeitos dessa prtica sobre a instituio, sobre os profissionais e sobre os
pacientes. Assumimos que existe uma distino, porm tambm uma in-
dissociabilidade, entre clnica e poltica e entre gesto e subjetividade.
Kas (1997) teoriza sobre as relaes entre os grupos empricos (o
quadro das organizaes psquicas organizadas) e os grupos internos (for-
ma e estrutura de uma organizao intrapsquica). Interessa-nos particu-
larmente seu reconhecimento de que os grupos empricos tm efeito na
subjetividade e so possveis e operacionais a partir das subjetividades
singulares envolvidas (Kas, 1997). Estas relaes se do nas formaes
psquicas intermedirias, formaes essas que no pertencem ao sujeito
individual nem ao agrupamento, mas sua relao. E o autor baseia-se
para sua elaborao em Freud, Pichon-Rivire e Winnicott (Kas, 1991).
Kas (1991) tipifica quatro fontes de sofrimento institucional que
nos parece importante lembrar, desde que tem nos sido de muita utilidade
para compreender o que se passa no palco institucional.
Sofrimento do inextrincvel
A apario de identidade, ou aderncia narcsica, traz junto com o
benefcio do vnculo a indiferenciao e a angstia de dissoluo. O desafio
Sejamos heterogneos| 159
seria criar dispositivos capazes, ao mesmo tempo, de salvaguardar o vnculo
e as formas diferenciadas desse vnculo.
Tivemos, na nossa prtica, evidncias desse tipo de sofrimento. Nos
Caps as pessoas oscilam entre defender suas formas de trabalhar anterio-
res, o conhecido, ou se diluir em uma prtica mais generalista. Nesses casos,
o trabalho de anlise e reflexo sobre as categorias de campo e ncleo
(Campos et al., 1997) no espao das reunies semanais foi capaz de ajudar.
O conceito de ncleo foi fundamental, pois permitiu o resgate de uma
identidade profissional, sentida sob ameaa pela nova proposta de traba-
lho interdisciplinar (equipes de referncia), identidade que pde ser re-
construda por meio de um contrato claro em relao s competncias de
cada um, ao mesmo tempo em que se criava um consenso sobre o campo de
trabalho comum da equipe. O campo contribuiu, assim, para a aderncia
narcsica e o vnculo entre os membros do grupo.
Sofrimento associado a uma perturbao da funo instituinte
Outra fonte de sofrimento institucional associa-se perda da ilu-
so: a falha de iluso institucional priva os sujeitos de uma satisfao
importante e debilita o espao psquico comum dos investimentos imagi-
nrios que vo sustentar a realizao do projeto da instituio (Kas, ibi-
dem, p. 34, grifo do autor). Essa identificao narcsica com um conjunto
suficientemente idealizado necessria para suportar as dificuldades in-
ternas e externas.
No setor pblico brasileiro, as mudanas de gesto, as tenses pelo
financiamento e as carncias de planos de longo prazo atentam, o tempo
todo, contra essa identificao. Nas vrias experincias das quais participa-
mos temos insistido no valor da pergunta para qu. Pergunta que, segundo
Testa (1997), interroga o futuro e tem a ver com o sentido dado s prticas
desenvolvidas. Dito de outra forma: a teleologia possvel a partir das
posies subjetivas dos sujeitos singulares e, uma vez explicitada, ela
age sobre a subjetividade singular e grupal. Toda vez que um grupo con-
segue escrever um para qu comum, est embarcando junto numa iluso,
num sonho, ou, num projeto. Na sade mental, os valores inspiradores da
reforma psiquitrica possuem grande potencial para contribuir nesse pro-
cesso de construo da iluso.
160 |Sejamos heterogneos
Para Winnicott, alm do reconhecimento do mundo interno e exter-
no de cada sujeito, seria necessrio reconhecer a regio intermediria da
experincia: la tercera parte de la vida de un ser humano, una parte de la
cual no podemos hacer caso omiso, es una zona intermedia de experiencia
a la cual contribuyen la realidad interior y la vida exterior (1999, p. 19, grifo
do autor). Ele estende o conceito de fenmenos transicionais ao mundo dos
adultos por meio da arte, da cultura e dos projetos que aglutinam pessoas
em prol de um sentido comum.
Estudio, pues, la substancia de la ilusin, lo que se permite al nio y
en la vida adulta es inherente del arte y la religin, pero que se con-
vierte en el sello de la locura cuando un adulto exige demasiado de la
credulidad de los dems cuando los obliga a aceptar una ilusin que
no les es propia. Podemos compartir un respeto por la experiencia
ilusoria, y si queremos nos es posible reunirlas y formar un grupo
sobre la base de la semejanza de nuestras experiencias ilusorias.
Esta es una raz natural del agrupamiento entre los seres humanos
(Ibidem).
Para ele, a iluso parte dessa regio intermediria, transicional, da
experincia, que guarda relaes com os objetos internos e externos, mas
distinta deles. Ese aspecto de la ilusin es intrnseco de los seres humanos,
e individuo alguno lo resuelve en definitiva por si mismo [. . .] (Ibidem, p.
30). Diz-nos Winnicott: el juego debe ser estudiado como un tema por si
mismo, complementario del concepto de sublimacin del instinto (1999, p.
62). Para ele, isso deveria ser considerado tanto em relao s crianas,
como aos adultos, manifestando-se, nestes ltimos, atravs da eleccin de
las palabras, en las inflexiones de la voz, y por cierto que en el sentido del
humor (Ibidem, p. 63).
Experimentamos la vida en la zona de los fenmenos transicionales,
en el estimulante entrelazamiento de la subjetividad y la observacin
objetiva, zona intermedia entre la realidad interna del individuo y la
realidad compartida del mundo [. . .] (Winnicott, ibidem, p. 91).
Sejamos heterogneos| 161
Todo projeto possvel num espao transicional, de experincia, que
nunca ser objetivo, que no est dentro nem fora. Por isso impossvel
recort-lo objetivamente. Todo querer-fazer estar sempre marcado, ine-
vitavelmente, pela percepo de mundo, pela postura subjetiva, pelas for-
mas que a relao entre os sujeitos assume naquele lugar e tempo e pelos
entraves do real concreto.
Contudo, essa iluso, que sustenta o risco e o sacrifcio de participar
da inovao, quando mantida na recusa, provoca o fracasso. Para Kas,
todos os fracassos contratuais podem ser considerados um sofrimento da
fundao e da funo instituinte. O mito, a utopia, a ideologia so forma-
es intermedirias estruturantes e defensivas, tanto seu excesso, quanto
sua falta, so fonte de intenso sofrimento. As instituies devem criar uma
histria sobre sua origem, devem tambm imaginar uma utopia e uma
figura da sua negatividade, se no as imaginarem correm o risco de inscre-
v-las no seu funcionamento (Ibidem, p. 35).
Porm, como em qualquer vnculo, o agrupamento administra uma
parte do recalque de cada sujeito. Kas chama isso de pacto denegatrio,
que seriam estas zonas de obscuridade profunda, cuja frmula cultural a
utopia, o lugar de parte alguma e o no lugar do vnculo. H tambm
tendncia do mito fundador de fixar a narrativa desse tempo e criar uma
genealogia afiliativa fixa.
Por isso damos valor s narrativas institucionais para pensar os gru-
pos em sua relao com seu trabalho. H sempre uma histria, h sempre
um mito fundacional e algumas outras mitologias que operam como recal-
cadas. Na nossa experincia temos assistido inmeras vezes a comporta-
mentos do tipo disso no se fala, mas, adverte-nos Kas, quando disso
no se fala, disso se atua. E o mito a narrativa recalcado atua como
fonte de sofrimento evitvel. Em geral, a histria das dores, dos sofreres, dos
quereres e frustraes das pessoas concretas que ali sonham e trabalham
sempre velada, apagada, silenciada. Nosso trabalho haver se abrir s nar-
rativas ocultas, s vozes silenciadas. . .
Pensamos que este momento narrativo pode ser eficaz (isto , ter
efeitos) ainda que ele trate do insucesso. Se todos os fracassos contratuais
podem ser interrogados sob a tica do sofrimento da funo instituinte, sua
narrao contribuiria para a eficcia, uma vez que o grupo se dedicaria a
162 |Sejamos heterogneos
entender o porqu do descumprimento do contrato. Nunca se deixa de
cumprir um contrato por nada.
Cada vez que isto acontece, esto em jogo outras questes que de-
vem ser interrogadas. Na maioria das vezes, essas questes esto no pas-
sado do porqu, que, como diz Testa, explica. E na anlise dessa explicao
que as mitologias recalcadas podero vir tona, no momento de uma nova
narrativa vir tona que alguma coisa se produz no grupo.
Sofrimento associado aos entraves para a realizao da tarefa
primria
A tarefa primria o que classicamente se entende por finalidade.
Kas ressalta que, s vezes, outros dispositivos acabam por suplant-la. A
instituio protege os seus sujeitos da prpria tarefa. O que faz uma equipe
qualificada dedicar seu tempo a outras tarefas (preencher formulrios, agen-
dar viaturas, etc.), em prejuzo da sua funo teraputica? A natureza do
investimento psquico aqui uma varivel importante. Nas instituies
que trabalham com pessoas, a agressividade volta-se contra elas mesmas
(estudantes, doentes, colegas), ao passo que nas que trabalham com outro
objeto, ela se volta para o externo ou para a estrutura de direo. Kas
(1991) destaca que as identificaes mobilizam os trabalhadores, aumen-
tando o risco narcsico. Seria, ento, necessrio fornecer uma contribuio
narcsica suficientemente trfica para a realizao da tarefa.
Os entraves realizao da tarefa podem ser entendidos, ento,
como um ataque comunidade de realizao de desejo sustentada pela
representao identificatria. Em contextos institucionais adversos, quan-
do no existem condies mnimas de trabalho nem do ponto de vista
operacional: faltam materiais e pessoal grande parte do sofrimento ps-
quico produzido pela sensao de desvalorizao narcsica que prima
entre os trabalhadores.
Nesses espaos, a principal e primeira tarefa do supervisor clni-
co-institucional dever ser abrir espao para a recriao de um contrato
narcsico. Dar tempo e espao para as pessoas se orgulharem do que fa-
zem, ou, se no for possvel, pelo menos propiciar o orgulho por serem capa-
zes de sonhar um projeto comum. Ao contrrio do que acontece em contex-
tos polticos ditos progressistas, quando no costumamos dar tempo e
Sejamos heterogneos| 163
avanamos sobre o pessoal propondo mudanas. Ora, do ponto de vista
psquico, essa proposta insuportvel, pois no considera os efeitos sobre o
narcisismo grupal.
Sofrimento associado instaurao e manuteno do espao
psquico
O espao psquico, aqui entendido como o espao psquico institu-
cional ou do ser-conjunto, como o chama Kas, diminui com a prevalncia
do institudo, com o desenvolvimento burocrtico, com a supremacia das
formaes narcsicas repressivas, denegadoras e defensivas, com a estrat-
gia de dominao de alguns dos seus sujeitos, ou quando parte deles se v
ameaada. A distncia entre a cultura da instituio e o funcionamento
psquico induzido pela tarefa est na base da dificuldade para instaurar ou
manter um espao psquico de conteno, de ligao e de transformao
(1991, p. 36, grifos do autor).
As mudanas institucionais profundas mobilizaro sentimentos de
angstia, fantasias de aniquilamento, ameaas aos vnculos intersubjetivos,
etc. Kas ressalta alguns mecanismos defensivos contra tais mudanas: a
ideologia, que tampouco permanente, e cujas mudanas deixaro ressur-
gir angstias paranoicas muito profundas (com recursos delirantes ou psi-
cossomticos como sada); ou a cooptao por parte do establishment insti-
tucional dos novos pensamentos, que passam assim a ser dominados,
controlados e banalizados para se pr a servio da mentira institucional
(Bion, apud Kas, op. cit.). Enquanto isso, e ao mesmo tempo, a instituio
transmite a ideia nova, deformando-a.
Se no se analisam essas questes, se o prprio supervisor no revisa
seu trabalho e procura manter uma salutar alteridade, o risco o de ser co-
optado pela lgica institucional, ao preo de ficar dentro da instituio (man-
tendo a prpria iluso narcsica de ser suficientemente bom para ficar) para
nada (reforar o recalcado e engrossar mais uma mentira institucional).
Nosso modo concreto de trabalhar
Tentamos at aqui, mostrar quais conceitos da psicanlise temos
valorizado na nossa prtica e como eles baseiam e podem dar sentido e va-
lorizar alguns dispositivos e arranjos com os quais temos trabalhado. Por
164 |Sejamos heterogneos
tanto, poderamos neste ponto afirmar que tomamos a superviso clni-
co-institucional como um dispositivo de formao e interveno, cujas
principais estratgias de trabalho so:
a) A anlise permanente da organizao do processo de trabalho e do
cotidiano. A partir da definio da funo social de um Caps tratar
pacientes graves em regime de liberdade, no territrio, e com o propsito de
substituir o dispositivo hospitalar definida pela poltica pblica (Lei
10.216) ser sempre necessrio redesenhar a sua finalidade no territrio
em que est inserido, considerando a realidade local, as caractersticas da
rede de servios de sade, os suportes sociais e comunitrios existentes, o
fluxo dos pacientes graves nesse territrio, e as potencialidades e possibili-
dades da equipe.
S ento ser possvel desenhar o projeto que favorecer o seu alcan-
ce. Esse exerccio ser sempre processual e nunca esttico e definitivo. Por
isso a organizao do processo de trabalho e do cotidiano pode e deve
mudar na mesma velocidade em que mudam a forma de percepo, a
relao e as prioridades que emergem no territrio.
Castoriadis fala do projeto como projeo de desejos realizvel junto
com os outros: a projeo de desejos que possvel como esperana para a
humanidade e no simples produo neurtica. Para esse autor, a psican-
lise deveria contribuir para desmascarar o melodrama, a falsa tragdia da
vida humana, no perseguindo, com isso, a iluso de eliminar o lado trgico
inevitvel da vida.
Para este autor, a descoberta freudiana deve ser entendida na sua
dimenso histrico-social; a questo da socializao da psique, da fabri-
cao social do indivduo, comea com seu nascimento. Ele destaca que
Freud e a psicanlise se inscrevem numa tradio democrtica e igualit-
ria, pois:
o mito da morte do pai [referncia a Totem e tabu, de Freud] no
poderia jamais ser relacionado fundao da sociedade, se no in-
clusse o pacto dos irmos, portanto tambm a renncia de todos os
viventes a exercerem um domnio real e seu compromisso em alia-
rem-se para combater quem quer que isso pretendesse [. . .] O
Sejamos heterogneos| 165
assassinato do pai nada e a nada conduz (seno a repetio sem fim
da situao precedente) sem o pacto dos irmos [. . .] (1987, p. 89,
grifos e aspas do autor).
Kes tambm destaca o deslocamento produzido pela morte do pai
como uma passagem do vnculo a-histrico da horda para o vnculo inter-
subjetivo, histrico e simblico do grupo fraterno [. . .] (1997, p. 37). Nessa
passagem, os homens se depararo repetidamente com a impossibilidade
de fazer funcionar a substituio do pai, no podem executar essa substi-
tuio seno efetuando uma mutao no regime de culpas e no regime das
identificaes [. . .] (Ibidem). Dessa leitura pessoal da obra freudiana,
Kes extrair sua assertiva do inconsciente estruturado como um grupo.
Em vrias experincias de superviso clnico-institucional vimos acon-
tecer dificuldades para fazer funcionar o lugar da coordenao/gesto e
cobranas endereadas na forma de ataque aos gestores locais. Frequente-
mente, questes perfeitamente toleradas no gestor anterior foram violenta-
mente criticadas no novo personagem em exerccio da funo. Por que
seria? Outras referncias se fazem necessrias para compreender nossa
forma de trabalhar nesses casos.
Uma das mais significativas elaboraes das quais nos valemos para
operar encontra-se na elaborao de Winnicott sobre papel da agressivi-
dade e do uso do objeto.
O autor descreve isto muito bem em relao criana, mas faz expl-
cita referncia sua aplicao no campo da tcnica analtica com adultos e
na vida social. A diferena fundamental entre Winnicott e Freud a respeito
disso que, ao passo que para Freud a agressividade uma reao do Eu
s restries impostas pela realidade, para Winnicott a agressividade a
condio para a criao da realidade para o sujeito.
O beb humano no sabe da existncia dos objetos reais. Numa
primeira fase da vida todos os objetos so ele (e portanto objetos internos).
Na fase da agressividade primria, ele deve poder tentar destruir o objeto e
constatar que este lhe sobrevive. No h raiva, diz Winnicott, nessa agres-
so, mas alegria de comprovar que o objeto resistiu sua batida, e por isso
que essa agresso no deve ser retaliada, as mes suficientemente boas
sabem disso desde tempos imemoriais.
166 |Sejamos heterogneos
a resistncia do objeto que ajuda a criana a compreender a exter-
nalidade do objeto, a criao do mundo que ocorre a cada vez, a cada novo
sujeito. Precisamos ter sido deuses um dia para advir humanos.
Winnicott trar isso para o campo da psicanlise (lembremos que
com essa fase d-se incio aos fenmenos transicionais):
el sujeto crea el objeto, en el sentido de que encuentra la exteriori-
dad misma, y hay que agregar que esta experiencia depende de la
capacidad del objeto para sobrevivir. (Tiene importancia que sobre-
vivir en este contexto signifique no tomar represlias.) (1999, p. 123).
Isso tambm ocorrer na anlise. Sem a experincia de destrutivida-
de, o sujeito nunca coloca o analista fora e jamais far outra coisa que um
tipo de autoanlise, pois o analista continuar a ser objeto interno. Isso
acontece, para Winnicott, no espao transicional da anlise, e a pior reta-
liao seria o analista interpretar a agresso, pois levaria o sujeito a uma
posio defensiva e no contribuiria para que ele, de maneira criadora e
jubilosa, chegasse sozinho compreenso. O paciente pode e vai chegar
a compreender o que j sabe. Trata-se de no colocar obstculo a esse
momento, de conseguir brincar com ele na rea transicional, aceitando
ser destrudo para virar objeto externo, e a. . . Winnicott duro, pois nos
coloca perante a necessidade de renunciar a prpria satisfao na inter-
pretao inteligente.
Estendemos essa necessidade de sobreviver sem tomar represlias
ao papel da gesto (Onocko-Campos, 2003a). Quando nos deparamos
com esse tipo de reao de uma equipe contra seu novo gestor muitas vezes
temos ajudado ao prprio gestor a sobreviver sem retaliar. Em geral basta
faz-lo compreender o mecanismo que est em jogo, que o ataque no a
sua pessoa seno a sua funo e suportar junto com ele os ataques nas su-
pervises que em pouco tempo a equipe sair da experincia fortalecida e
o gestor tambm.
Note-se, contudo que outras correntes como a da socioanlise fran-
cesa, por exemplo, tenderiam a interpretar esses ataques como legtimas
reaes ao uso do poder e no realizariam intervenes diferenciadas com
o gestor (pois isso poderia caracterizar um conflito em relao implicao
Sejamos heterogneos| 167
do analista). No negamos que haver um momento da anlise em que
tenha de se procurar, ao mximo, horizontalizar as relaes de poder; que,
segundo o compreendemos, isso chegar em um outro momento; primeiro
a equipe deve distinguir entre o eu e o no eu e em nossa experincia isso,
em geral, experimentado em relao ao gestor.
Trabalhamos com grupos empricos, que no so teraputicos, mas
que precisam vir a ser tambm teraputicos do ponto de vista da dinmica
institucional. Ter esse e no outro objeto nos provoca e estimula. So os
problemas apresentados por esse tipo de interveno que nos interrogam.
Contar na equipe com um referencial amplo e multidisciplinar funda-
mental. Temos sido predeterminados disciplinarmente para nos fecharmos
por trs do escudo protetor dos saberes especficos. Custa-nos demais en-
trar no espao intermedirio, criativo, do saber alheio. A definio de Jean
Oury, do coletivo como heterogneo para ser funcional teraputica da
psicose destaca ainda mais essa questo para ns. Oury fala-nos da necess-
ria complementaridade, porm de uma complementaridade inconsciente e
no do somatrio de especialismos, que permitem operar um coletivo de
maneira polifnica. Um cuidado para com os estilos de cada um se torna,
ento, fundamental. Isso particularmente importante em relao ao pes-
soal de nvel tcnico da enfermagem ou monitores, cujas percepes e insights
tendem a ser desvalorizados pelas equipes. Contudo, como dizia Tosquelles:
Tinha amadurecido uma convico profunda: com a ajuda e a parti-
cipao das pessoas comuns como advogados, padres, camponeses,
pintores, seria possvel, em curto prazo, criar bons servios psiquitri-
cos. S estas pessoas tinham uma posio ingnua perante o doente,
ao contrrio das que passaram por uma deformao profissional
os mestres, os especialistas dos insanos, que foram treinados em
escolas de psiquiatria clssica que no serviam para nada. . .
(Tosquelles, 1993. Reportagem a Gallio e Constantino).
H uma tendncia da diviso social do trabalho a silenciar essas
vozes menos qualificadas formalmente, porm muitas vezes maravilhosa-
mente sensveis s modulaes do cotidiano. Costumo trabalhar em quase
toda sesso com um momento de contao de causos e dvidas de mane-
168 |Sejamos heterogneos
jo. Esse espao tem se mostrado uma maneira interessante para fazer esses
membros das equipes tomarem a palavra, permitem a troca de informaes
e muitas vezes acabam revelando conflitos escondidos.
Nesse sentido, importante zelar para defender as iniciativas par-
ticulares de cada sujeito em tratamento, permitir as iniciativas prprias
de cada membro da equipe, com respeito ao estilo de cada um. Para o
supervisor importante manter alteridade em relao equipe, pois s
isso permitir desvelar relaes imaginrias que se constroem a partir
da suposio de saber do lado do supervisor, ou de determinados mem-
bros da equipe.
Se o dispositivo da superviso clnico-institucional se mostrar poten-
te e operatrio ser tambm possvel evidenciar relaes imaginrias que se
constroem com base na suposio do saber pelo lado da equipe. Aparece-
ro tambm, muitas vezes, rivalidades internas e externas ao grupo.
Dar visibilidade e legitimidade ao saber que se apresenta do lado do
paciente ser em nossa opinio o dever tico ineludvel do supervisor,
de modo que favorea que o desenho da instituio esteja cada vez mais
prximo da finalidade definida para ela em seu territrio.
Todavia continuamos a acreditar piamente na fora criativa desen-
volvida ao tentar fazer algo com os objetos reais. Como disse Winnicott,
[. . .] el jugar tiene un lugar y un tiempo. No se encuentra adentro
segn acepcin alguna de la palabra [. . .] Tampoco est afuera, es
decir, no forma parte del mundo repudiado, el no-yo, lo que el indivi-
duo ha decidido reconocer (con gran dificultad y an con dolor) como
verdaderamente exterior, fuera del domnio mgico. Para dominar lo
que est afuera es preciso hacer cosas, no slo pensar o desear, y hacer
cosas lleva tiempo. Jugar es hacer (Ibidem, p. 64, grifos do autor).
Fazer, no somente pensar ou desejar. Para isso, s vezes estimula-
mos pequenas tarefas da equipe entre superviso e superviso: levantar
dados, experimentar outras formas de proceder, etc. sempre provocando o
registro e trazendo para reflexo posterior. Esse experimentar combinados
ajuda as equipes a lidar com o temor natural s mudanas e lhes oferece
ganhos de confiana na sua prpria potncia de transformao.
Sejamos heterogneos| 169
b) A discusso e construo coletiva dos casos. um dispositivo poderoso
porque revela o desenho do servio: se as formas de estar oferecidas so
capazes de acolher a singularidade dos pacientes graves; como o servio
opera (ou no) no territrio. Os casos tm a potencialidade de evidenciar
tambm, como os sujeitos em tratamento se relacionam com o outro, com o
mundo, ou seja, como vivem e sofrem em seu territrio.
Porm, para o supervisor clnico-institucional o caso escolhido pela
equipe a cada vez tem a qualidade de exaurir de alguma maneira o mo-
mento subjetivo da prpria equipe, sendo um importante analisador do
processo de trabalho, que envolve a relao paciente/tcnico/lgica institu-
cional. Costumo concluir a sesso de discusso de caso perguntando
equipe por que eles acham que escolheram esse e no outro caso, e essa
simples questo tem-se mostrado til para propiciar falas sobre as dificul-
dades no manejo do cotidiano, dissensos nas leituras clnicas, controvrsias
em relao ao grau de responsabilizao da equipe pelos casos, etc.
a discusso do caso que deve orientar a organizao da prtica da ins-
tituio. A construo do caso uma operao que s pode se dar em equipe.
O elemento diferencial nessa abordagem vem de uma atitude indi-
cada pela psicanlise que pode ser tomada mesmo por no psicana-
listas. Mas uma coisa certa, preciso que haja um despertar para a
clnica nessa direo. A presena de um psicanalista poderia ajudar
bastante, desde que este no se apresente como o portador da boa
nova e sim como mais um aprendiz convocando os demais a faze-
rem o mesmo. Eis a diferena que importa, a contribuio que pode-
mos dar (Figueiredo, 2004, p. 85).
Em geral, buscamos trabalhar de maneira que garanta o no saber
sobre os casos. A histria e o diagnstico prvio podem dizer, sim, do sujeito,
mas apenas de forma limitada. preciso sempre que o sujeito seja escutado
e acompanhado em seu trajeto no servio, para que juntos, paciente e
equipe, definam a interveno institucional garantindo a direo do trata-
mento. Direo que pode sempre ser tencionada em prol da produo de
um desvio na histria de vida do usurio. E importante tambm cuidar para
que a construo coletiva dos casos se d tambm e principalmente a partir
170 |Sejamos heterogneos
da relao que o sujeito estabelece com o servio, ficando atentos a que a
instituio possa estar, de fato, se oferecendo para o sujeito como um me-
diador na sua inscrio no lao social, respeitando sempre seu modo parti-
cular de fazer lao.
Pensamos que h ainda questes que uma superviso clnico-institu-
cional deve evitar como o construir o conhecimento somente a partir de um
modelo de conhecimento racionalizado, com meios e mtodos de produo
da verdade centrados preferencialmente na razo (o que chamamos de re-
edies do tratamento moral ou meros treinamentos dos pacientes).
bem importante, tambm, evitar ocupar o lugar de mestria em relao equi-
pe, ainda que sempre esteja em jogo um suposto saber. Essa suposio deve
ser operatria para a equipe e no uma verdade para o prprio supervisor.
Do ponto de vista clnico, tico e poltico importante evitar que a
equipe atue seu poder, querer e saber sobre o paciente, capturando-o no
lugar de objeto de interveno. Nunca devemos ignorar que h sofrimento
que decorre do encontro com pacientes graves, mas bom evitar tambm
supervaloriz-lo, creditando a essa causa todo e qualquer sofrimento expe-
rimentado pela equipe.
H uma dimenso de formao na superviso de transmitir um
modo de conhecer (e no um saber pronto). Esse modo de conhecer concebe
o conhecimento como algo processual, aceitando que h sempre imbricao
entre o sujeito e o objeto do conhecimento e que a formao se d tambm
pela experincia. Por tanto, buscamos estimular que preciso estar abertos
s experincias mantendo, todavia, um olhar crtico. O problema que decorre
desse modo de conhecer que esse modelo de conhecimento no hegem-
nico em nossa cultura, e comum que os profissionais o experimentem sem
se apropriarem do saber produzido e sem atribuir a ele o estatuto de conhe-
cimento a ser reconhecido em outros lugares ou contextos. trabalho da
superviso clnico-institucional valorizar esse saber que advm da experin-
cia do encontro com o paciente. O desenho de uma clinica intersubjetiva,
que no se d na relao dual, privada, mas que efeito de um encontro
complexo que envolve pacientes, profissionais, instituio e territrio.
Talvez possamos, agora, deter-nos no papel do supervisor clnico-
-institucional, valendo-nos de algumas consideraes feitas por Winnicott
para o analista. Uma delas a questo da maternagem, holding, suporte:
Sejamos heterogneos| 171
suportar os outros no seu processo de constituio como grupo subjetivo,
sabendo o que est em jogo: identificao, narcisismo, angstia de dissolu-
o, pacto denegatrio, etc. Ou, como disse Kas: criar um espao suficien-
temente trfico, que alimente.
Outra a questo do manejo, handing: h de se saber o qu fazer, ter
alguma coisa para ofertar, caminhos para mostrar. Alguns conceitos em
relao clnica das psicoses, s formas de operar o Coletivo, certa forma de
organizar a participao no servio, etc.
A autora agradece a professora Erotildes Leal com quem discutiu al-
gumas dessas ideias na oportunidade de um curso que ministraram juntas.
Referncias
Bleger, Jos. Psico-higiene e psicologia institucional. Trad. Emilia de Oliveira Diehl.
Porto Alegre: Artmed, 1984.
Ccampos, Gasto Wagner de Sousa; Chakour, Maurcio & Santos, Rogrio.
Notas sobre residncia e especialidades mdicas. Cadernos de Sade Pblica,
Rio de Janeiro, vol. 13, n.
o
1, pp. 141-4, jan.-mar. 1997.
Campos, G. W. S. Um mtodo para anlise e co-gesto de coletivos. So Paulo:
Hucitec, 2000, 236 pp.
. Clnica do sujeito: por uma clnica reformulada e ampliada. In: Sade Paideia.
So Paulo: Hucitec, 2003.
Campos Silva, Laura Belluzzo. Doena mental, psicose, loucura: representaes e
prticas da equipe multiprofissional de um hospital dia. So Paulo: Casa do
Psiclogo, 2001.
Castoriadis, Cornelius. A instituio imaginria da sociedade. Trad. Guy Reynaud.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, 418 pp.
. As encruzilhadas do labirinto - 1. Trad. Carmen Guedes & Rosa Boaventura.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 335 pp.
Dolto, Franoise. Inconsciente e destinos, seminrio de psicanlise de crianas. Trad.
Dulce Estrada. Rio de Janeiro: Zahar, 1989, 193 pp.
. Autorretrato de uma psicanalista. Trad. Dulce Duque Estrada. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1990, 238 pp.
. No Jogo do desejo: ensaios clnicos. Trad. Vera Ribeiro. So Paulo: tica, 1996a,
295 pp.
. Quando surge a criana. Trad. Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1996b,
200 pp.
Figueiredo, A.C. A construo do caso clnico: uma contribuio da psicanlise
psicopatologia e sade mental. Revista Latinoamericana de Psicopatologia
Fundamental, vol.VII, n.
o
1, mar. 2004, pp. 75-86.
Freitas, Maria Ester de. Cultura organizacional: identidade, seduo e carisma? So
Paulo: FGV Editora, 1999, 178 pp.
Freud, Sigmund, 1997. O mal-estar na civilizao. In: Edio eletrnica brasileira
das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Ima-
go, 1997.
Gallio, Giovanna & Constantino, Maurizio. Franois Tosquelles: a escola da
liberdade. Sade Loucura IV. So Paulo: Hucitec [1994].
Kas, R. Realidade psquica e sofrimento nas instituies. In: Kas, R.; Bleger, J.;
Enriquez, E.; Fornari, F.; Fustier, P.; Roussillon, R. & Vidal, J. P. (orgs.). A
instituio e as instituies. Trad. Joaquim Pereira Neto. So Paulo: Casa do
Psiclogo, 1991, pp. 1-39.
. O grupo e o sujeito do grupo: elementos para uma teoria psicanaltica do grupo.
Trad. Jos de Souza & Mello Werneck. So Paulo: Casa do Psiclogo,
1997, 333 pp.
Lourau, Ren. A anlise institucional. Trad. Mariano Ferreira. Petrpolis: Vozes,
1995, 294 pp.
Marazina, Isabel. Trabalhador de sade mental: encruzilhadas da loucura. In: Lan-
cetti, A. ( org.). Sade e Loucura 1. So Paulo: Hucitec, 1991
Motta, Fernando Prestes & Freitas, Maria Ester de (orgs.). Vida psquica e organi-
zao. So Paulo: Ed. FGV, 2000, 150 pp.
Onocko-Campos, R.T. O encontro trabalhador usurio na ateno sade: uma
contribuio da narrativa psicanaltica ao tema do sujeito na sade coletiva.
Cincia e Sade Coletiva, vol. 10, n.
o
3, pp. 573-83, 2005.
. A gesto espao de interveno, anlise e especificidades tcnicas. In: Campos,
G. W. S. Sade paideia. So Paulo: Hucitec, 2003a, pp. 122-49.
. O planejamento no labirinto. Uma viagem hermenutica. So Paulo: Hucitec,
2003b.
. Clnica: a palavra negada. Sade em Debate, Rio de Janeiro, vol. 25, n.
o
58, pp.
98-111, mai.-ago. 2001.
Oury, Jean. Itinerrios de formao. In: Revue Pratique n.
o
1, pp. 42-50. Trad. Jairo
I. Goldberg (mimeo, s.d. e sem paginao), 1991.
Passos, E. & Benevides, R. Clnica e biopoltica na experincia do contempor-
neo. Revista de Psicologia Clnica PUC/ RJ. Rio de Janeiro, vol. 13, n.
o
1, pp.
89-100, 2001.
Testa, Mario. Anlisis de instituciones hipercomplejas. In: Merhy, E. & Onocko,
R. (orgs.). Agir em sade. So Paulo: Hucitec, 1997, pp. 17-70.
Winnicott, D. W. Realidad y juego. Trad. Floreal Mazi. Barcelona: Gedisa,
1999, 199 pp.
. O ambiente e os processos de maturao. Trad. Irineo Schuch Ortiz. Porto
Alegre: Artmed, 1983 (original de 1962).
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Histórias de captura: Investimentos mortíferos nas relações mãe e filhaVon EverandHistórias de captura: Investimentos mortíferos nas relações mãe e filhaBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Contribuições dos serviços-escola de Psicologia no Atendimento à ComunidadeVon EverandContribuições dos serviços-escola de Psicologia no Atendimento à ComunidadeNoch keine Bewertungen
- Clínica do Acompanhamento Terapêutico e PsicanáliseVon EverandClínica do Acompanhamento Terapêutico e PsicanáliseNoch keine Bewertungen
- O plantão psicológico sob a óptica da Psicoterapia Breve-FocalVon EverandO plantão psicológico sob a óptica da Psicoterapia Breve-FocalBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- A Direção Do Tratamento e Os Princípios de Seu PoderDokument14 SeitenA Direção Do Tratamento e Os Princípios de Seu PoderEzequiel MartinsNoch keine Bewertungen
- O laço social próprio à psicose: abordagem freudiana - lacanianaVon EverandO laço social próprio à psicose: abordagem freudiana - lacanianaNoch keine Bewertungen
- Histórias recobridoras: Quando o vivido não se transforma em experiênciaVon EverandHistórias recobridoras: Quando o vivido não se transforma em experiênciaNoch keine Bewertungen
- Psicologia, subjetividade e políticas públicasVon EverandPsicologia, subjetividade e políticas públicasBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Puget, J. e Berenstein, I - Psicanálise Do CasalDokument90 SeitenPuget, J. e Berenstein, I - Psicanálise Do CasalAndré BizziNoch keine Bewertungen
- Conceitos Da Teoria de Will SchutzDokument5 SeitenConceitos Da Teoria de Will SchutzCaroline Paula100% (1)
- Psicologia Hospitalar História Conceitos e PraticasDokument14 SeitenPsicologia Hospitalar História Conceitos e PraticasCarla Natureza100% (1)
- Psicodinâmica do trabalho: casos clínicosVon EverandPsicodinâmica do trabalho: casos clínicosBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Os três vértices da clínica psicanalítica segundo BionDokument26 SeitenOs três vértices da clínica psicanalítica segundo BionCa KZ100% (1)
- Tornando-se pais: A adoção em todos os seus passosVon EverandTornando-se pais: A adoção em todos os seus passosNoch keine Bewertungen
- Psicologia escolar e educacional: um guia didáticoVon EverandPsicologia escolar e educacional: um guia didáticoNoch keine Bewertungen
- Análise Acerca de O Crime Das Irmãs Papin de Jacques LacanDokument3 SeitenAnálise Acerca de O Crime Das Irmãs Papin de Jacques Lacanasilva_202700Noch keine Bewertungen
- Por uma ética do cuidado, vol. 2: Winnicott para educadores e psicanalistasVon EverandPor uma ética do cuidado, vol. 2: Winnicott para educadores e psicanalistasNoch keine Bewertungen
- Carl Rogers com Michel Foucault (Caminhos Cruzados)Von EverandCarl Rogers com Michel Foucault (Caminhos Cruzados)Noch keine Bewertungen
- Orientação profissional: A abordagem sócio-históricaVon EverandOrientação profissional: A abordagem sócio-históricaBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Chuva n'alma: A função vitalizadora do analistaVon EverandChuva n'alma: A função vitalizadora do analistaNoch keine Bewertungen
- Histórias ClínicasDokument603 SeitenHistórias ClínicasNatalia Fernandes Resende100% (1)
- A banalização do sofrimento no trabalhoDokument11 SeitenA banalização do sofrimento no trabalhoJozi GomesNoch keine Bewertungen
- Psicologia favelada: Ensaios sobre a construção de uma perspectiva popular em PsicologiaVon EverandPsicologia favelada: Ensaios sobre a construção de uma perspectiva popular em PsicologiaNoch keine Bewertungen
- Por uma ética do cuidado, vol. 1: Ferenczi para educadores e psicanalistasVon EverandPor uma ética do cuidado, vol. 1: Ferenczi para educadores e psicanalistasNoch keine Bewertungen
- Envelhecimento e Psicanalise Angela MucidaDokument10 SeitenEnvelhecimento e Psicanalise Angela MucidafelipesabrNoch keine Bewertungen
- Rede Escuta Saúde: Escritos sobre atendimento psicanalítico durante a pandemiaVon EverandRede Escuta Saúde: Escritos sobre atendimento psicanalítico durante a pandemiaNoch keine Bewertungen
- Livro Residencia 25 2018Dokument256 SeitenLivro Residencia 25 2018Carina Andrade100% (7)
- Bloqueio de Esquiva Como Ferramenta Psicoterapêutica (Salvo Automaticamente)Dokument40 SeitenBloqueio de Esquiva Como Ferramenta Psicoterapêutica (Salvo Automaticamente)Ana Elisa100% (1)
- Fundamentos Básicos Das Grupoterapias - Cap 6Dokument22 SeitenFundamentos Básicos Das Grupoterapias - Cap 6adna_félix_2Noch keine Bewertungen
- Faces do sexual: Fronteiras entre gênero e inconscienteVon EverandFaces do sexual: Fronteiras entre gênero e inconscienteNoch keine Bewertungen
- Perto das trevas: A depressão em seis perspectivas psicanalíticasVon EverandPerto das trevas: A depressão em seis perspectivas psicanalíticasBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Psicanálise de transtornos alimentares: Volume IIIVon EverandPsicanálise de transtornos alimentares: Volume IIINoch keine Bewertungen
- SEMINÁRIO - o Que É Ouvir AMATUZZIDokument8 SeitenSEMINÁRIO - o Que É Ouvir AMATUZZIJonathan OliveiraNoch keine Bewertungen
- Muito além da formação: Diálogos sobre a transmissão e a democratização da psicanáliseVon EverandMuito além da formação: Diálogos sobre a transmissão e a democratização da psicanáliseNoch keine Bewertungen
- Pedido, queixa e demanda no Plantão PsicológicoDokument8 SeitenPedido, queixa e demanda no Plantão PsicológicoCarlos BengioNoch keine Bewertungen
- Dunker, C. I. L. - 2011 - A Estrutura e Constituição Da Clínica PsicanalíticaDokument647 SeitenDunker, C. I. L. - 2011 - A Estrutura e Constituição Da Clínica PsicanalíticaCaroline Fontes90% (10)
- Scan Texto Psicopatologia História Da PsiciopatologiaDokument17 SeitenScan Texto Psicopatologia História Da PsiciopatologiaJuliana MartinsNoch keine Bewertungen
- Teorias e técnicas de grupos: operativos x terapêuticosDokument24 SeitenTeorias e técnicas de grupos: operativos x terapêuticosfelipe freitas tellesNoch keine Bewertungen
- Orientação profissional & Psicanálise: O olhar clínicoVon EverandOrientação profissional & Psicanálise: O olhar clínicoBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Teoria Do Vínculo - Enrique Pichon-RivièreDokument123 SeitenTeoria Do Vínculo - Enrique Pichon-RivièreAndré Bizzi100% (3)
- Mapeamento da Escola UEB Darcy RibeiroDokument25 SeitenMapeamento da Escola UEB Darcy RibeiroFiliphe Mesquita100% (2)
- Você Quer O Que DesejaDokument1 SeiteVocê Quer O Que DesejaRaquel FernandesNoch keine Bewertungen
- A escrita da clínica: Psicanálise com crianças (3ª edição revisada e ampliada)Von EverandA escrita da clínica: Psicanálise com crianças (3ª edição revisada e ampliada)Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)
- 6-Psicologia Escolar para Todos - A Opção Pela Intervenção Institucional PDFDokument18 Seiten6-Psicologia Escolar para Todos - A Opção Pela Intervenção Institucional PDFMaurício CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Psicodiagnóstico VDokument673 SeitenPsicodiagnóstico VAlanis100% (3)
- A clínica contemporânea e o abismo do sentidoVon EverandA clínica contemporânea e o abismo do sentidoBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- LACAZ - Reforma Sanitaria e Saúde Do TrabalhadorDokument19 SeitenLACAZ - Reforma Sanitaria e Saúde Do TrabalhadorBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Protocolo SaudeMental Trabalho Bahia Setembro 2015 PDFDokument60 SeitenProtocolo SaudeMental Trabalho Bahia Setembro 2015 PDFDiego ZukovskiNoch keine Bewertungen
- Platao o BanqueteDokument60 SeitenPlatao o BanqueteMaiko FeitosaNoch keine Bewertungen
- Seleção de pessoal e gestão de recursos humanosDokument156 SeitenSeleção de pessoal e gestão de recursos humanosBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Apresentação Assedio Moral e Saúde Do TrabalhadorDokument30 SeitenApresentação Assedio Moral e Saúde Do TrabalhadorBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- FREUD - Recomendacoes Aos Medicos Que Exercem PsicanaliseDokument16 SeitenFREUD - Recomendacoes Aos Medicos Que Exercem PsicanaliseBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Os sete pilares da educação no BrasilDokument59 SeitenOs sete pilares da educação no BrasilBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- MAGNOLIA - Desejar Falar TrabalharDokument139 SeitenMAGNOLIA - Desejar Falar TrabalharBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Fazer a Ponte para a Escola de TodosDokument336 SeitenFazer a Ponte para a Escola de TodosBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Jornadas de JunhoDokument6 SeitenJornadas de JunhoBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Saúde em Mãos Privadas PDFDokument4 SeitenSaúde em Mãos Privadas PDFBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Manual Das Práticas Da Atenção BásicaDokument417 SeitenManual Das Práticas Da Atenção Básicamarcia_lisboa1001100% (3)
- Trabalho Prazer e Sofrimento PDFDokument23 SeitenTrabalho Prazer e Sofrimento PDFBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Trabalho Prazer e Sofrimento PDFDokument23 SeitenTrabalho Prazer e Sofrimento PDFBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Predominio Gestao Violencia Simbolica PDFDokument18 SeitenPredominio Gestao Violencia Simbolica PDFBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Escola Da Ponte Formacao e TransformacaoDokument152 SeitenEscola Da Ponte Formacao e TransformacaoBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Roda Viva - Octavio IanniDokument18 SeitenRoda Viva - Octavio IanniBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Rbso 115 PDFDokument167 SeitenRbso 115 PDFBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Artigo - A Relação Da Sala de Cinema Com o Espaço UrbanoDokument15 SeitenArtigo - A Relação Da Sala de Cinema Com o Espaço UrbanobaroninetoNoch keine Bewertungen
- Artigo - A Relação Da Sala de Cinema Com o Espaço UrbanoDokument15 SeitenArtigo - A Relação Da Sala de Cinema Com o Espaço UrbanobaroninetoNoch keine Bewertungen
- Artigo Tela Critica Becky BloomDokument5 SeitenArtigo Tela Critica Becky BloomBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Saude Do Trabalhador Seculo XXIDokument2 SeitenSaude Do Trabalhador Seculo XXIBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Cap Livro Cine CAPSIA 10 PaginasDokument10 SeitenCap Livro Cine CAPSIA 10 PaginasBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Esboço Projeto Tela CriticaDokument1 SeiteEsboço Projeto Tela CriticaBruno Chapadeiro RibeiroNoch keine Bewertungen
- Gêneros Textuais e Ensino-AprendizagemDokument248 SeitenGêneros Textuais e Ensino-AprendizagemMarcos Philipe100% (2)
- Lei 12305 PnrsDokument5 SeitenLei 12305 PnrsMarlova MarlovaNoch keine Bewertungen
- A existência e suas patologias no mundo hipermodernoDokument15 SeitenA existência e suas patologias no mundo hipermodernomayara_mka7945Noch keine Bewertungen
- Procediemtno Trocar Red CpuDokument4 SeitenProcediemtno Trocar Red CpuPre ImpressãoNoch keine Bewertungen
- Projeto de Vida Responsabilidade SocialDokument4 SeitenProjeto de Vida Responsabilidade SocialIURI DOS SANTOS SILVANoch keine Bewertungen
- Instrumentos de avaliação em Psicologia do Esporte com evidências de validadeDokument14 SeitenInstrumentos de avaliação em Psicologia do Esporte com evidências de validadePablo SRosa100% (1)
- EBOOK DIET COM RECEITAS SEM AÇÚCARDokument12 SeitenEBOOK DIET COM RECEITAS SEM AÇÚCARMell SantosNoch keine Bewertungen
- CB10.1 PS2 SLIMDokument2 SeitenCB10.1 PS2 SLIMcleber-27100% (1)
- Múmia AmeaçaDokument1 SeiteMúmia AmeaçaItszLizNoch keine Bewertungen
- Ensino superior em ciência e tecnologiaDokument98 SeitenEnsino superior em ciência e tecnologiaJosé de AssisNoch keine Bewertungen
- A Revolução Social e A Ordem Justa ADokument6 SeitenA Revolução Social e A Ordem Justa AAgamenon Soares100% (1)
- Bianca - 309 - Victoria Glen - O Canto Da SereiaDokument47 SeitenBianca - 309 - Victoria Glen - O Canto Da Sereiaweluha100% (1)
- Canto Coletivo em Sala de AulaDokument63 SeitenCanto Coletivo em Sala de AulaEmanuelli SantosNoch keine Bewertungen
- BALAKIAN, Anna - O SimbolismoDokument145 SeitenBALAKIAN, Anna - O SimbolismoVilmaNoch keine Bewertungen
- Desafios da Educação InclusivaDokument5 SeitenDesafios da Educação InclusivaWellen AçucenaNoch keine Bewertungen
- Unit Unificado Cade 1 2022 FinalDokument27 SeitenUnit Unificado Cade 1 2022 FinalIsabella MachadoNoch keine Bewertungen
- Objetivos Todas As Apg 1P AfyaDokument3 SeitenObjetivos Todas As Apg 1P AfyaJúlia Ruas100% (1)
- Gestão Escolar: Funções e ImportânciaDokument21 SeitenGestão Escolar: Funções e ImportânciaCândido Ângelo ChapéuNoch keine Bewertungen
- T. MathiesenDokument32 SeitenT. MathiesenLiviaMecdoNoch keine Bewertungen
- CFRM Producao 2019Dokument8 SeitenCFRM Producao 2019Clara MartinsNoch keine Bewertungen
- Avaliação Formativa I - Revisão Da TentativaDokument10 SeitenAvaliação Formativa I - Revisão Da TentativaAlyssonNoch keine Bewertungen
- Projeto BullyingDokument6 SeitenProjeto Bullyingfernanda lacerdaNoch keine Bewertungen
- Apostila de Exegese Bíblica - OnlineDokument21 SeitenApostila de Exegese Bíblica - Onlinelaura.raquel.19Noch keine Bewertungen
- FIchamento Do 1º Capitulo Do Conceitos e TemasDokument8 SeitenFIchamento Do 1º Capitulo Do Conceitos e TemasIsa MaiaNoch keine Bewertungen
- A Teologia do Coaching: Uma análise crítica dessa nova tendênciaDokument11 SeitenA Teologia do Coaching: Uma análise crítica dessa nova tendênciaa2ndersonNoch keine Bewertungen
- A Saga Romanesca em Silvino Jacques de Brígido IbanhesDokument122 SeitenA Saga Romanesca em Silvino Jacques de Brígido IbanhesConferencistRosePradoNoch keine Bewertungen
- D37 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesDokument16 SeitenD37 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesKeylla SantosNoch keine Bewertungen
- Mershandising Ilovepdf CompressedDokument74 SeitenMershandising Ilovepdf CompressedpropagandaeeventosNoch keine Bewertungen
- Mesa cirúrgica motorizada multifuncionalDokument156 SeitenMesa cirúrgica motorizada multifuncionalTatianaNoch keine Bewertungen
- PMSB Palmas Volume 04 Residuos Solidos Versao FinalDokument440 SeitenPMSB Palmas Volume 04 Residuos Solidos Versao FinalJudson Araujo SilvaNoch keine Bewertungen