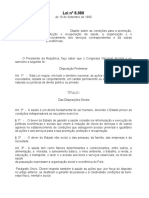Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
O Jardim de Si Paisagens Da Subjetividade em Claudia Roquette-Pinto
Hochgeladen von
mmaiss0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
85 Ansichten173 SeitenOriginaltitel
o Jardim de Si Paisagens Da Subjetividade Em Claudia Roquette-pinto
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
85 Ansichten173 SeitenO Jardim de Si Paisagens Da Subjetividade em Claudia Roquette-Pinto
Hochgeladen von
mmaissCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 173
1
UNIVERSIDADE DO OESTE DO PARAN
CENTRO DE EDUCAO, COMUNICAO E ARTES
CURSO DE PS-GRADUAO STRICTO SENSU EM LETRAS
NVEL DE DOUTORADO
REA DE CONCENTRAO: LINGUAGEM E SOCIEDADE
ANTONIO REDIVER GUIZZO
O JARDIM DE SI: PAISAGENS DA SUBJETIVIDADE EM CLAUDIA
ROQUETTE-PINTO
CASCAVEL PR
2013
2
ANTONIO REDIVER GUIZZO
O JARDIM DE SI: PAISAGENS DA SUBJETIVIDADE EM CLAUDIA
ROQUETTE-PINTO
Texto apresentado Uni versidade Estadual
do Oeste do Paran UNIOESTE para
obteno do ttulo de doutor em Letras,
Tese, junto ao Programa de Ps-Graduao
Stricto Sensu em Letras, nvel de Mestrado e
Doutorado rea de concentrao
Linguagem e Sociedade.
Linha de Pesquisa: Linguagem Literria e
Interfaces Sociais: Estudos Comparados.
Orientador: Prof. Dr. Antonio Donizeti da
Cruz
CASCAVEL PR
2013
3
ANTONIO REDIVER GUIZZO
O JARDIM DE SI:
PAISAGENS DA SUBJETIVIDADE EM CLAUDIA ROQUETTE-PINTO
Esta dissertao foi julgada adequada para a obteno do Ttulo de Mestre / Doutor
em Letras e aprovada em sua forma final pelo Programa de Ps-Graduao Stricto
Sensu em Letras Nvel de Mestrado, rea de Concentrao em Linguagem e
Sociedade, da Uni versidade Estadual do Oeste do Paran UNIOESTE.
COMISSO EXAMINADORA
__________________________________________
Prof. Dr. Antonio Doni zeti da Cruz (UNIOESTE)
Orientador
____________________________________________
Prof Dr Lourdes Kami nski Alves (UNIOESTE)
1 Membro Titular (da Instituio)
_____________________________________________
Prof Dr Beatri z Helena Dal Molin (UNIOESTE)
2 Membro Titular (da Instituio)
_____________________________________________
Prof. Dr. Acir Dias Da Silva (UNIOESTE)
3 Membro Titular (da Instituio)
_____________________________________________
Prof Dr Ximena Antonia Daz Meri no (UNIOESTE)
4 Membro Titular (da Instituio)
_____________________________________________
Prof Dr Alexandra Santos Pinheiro (UFGD)
5 Membro Titular (convidado)
4
_____________________________________________
Prof. Dr Maria De Ftima Gonalves Lima (Universidade Catlica de Gois)
6 Membro Titular (convidado)
Cascavel, 16 de fevereiro de 2014.
5
GUIZZO, Antonio Rediver. O jardim de si: paisagens da subjeti vidade em Claudia
Roquette-Pinto. 2014. 174 pginas. Tese (Doutorado em Letras) Programa de
Ps-Graduao em Letras. Uni versidade do Oeste do Paran UNIOESTE,
Cascavel, 2014.
RESUMO
A pesquisa ora apresentada focali zou-se em reflexes e anlises sobre a lrica de
Claudia Roquette-Pinto, parti ndo do pressuposto de que a obra artstica
constituda por quatro dimenses, autor, sociedade, obra e imaginrio, que se
engendram em um dilogo no qual no h sntese, mas uma relao de
completariedade, de unio indissolvel de contrrios. Neste contexto, perscrutamos
a lrica da autora, constituda em uma zona de fronteira entre saturao da ordem
social moderna econmica, orientada pelo aproveitamento planejado dos recursos e
pela dominao da natureza, e a insurgncia ps-moderna de uma ordem ecolgica,
na qual se privilegia a fruio no presente destes recursos. A partir desta dualidade,
traamos, como objeti vo geral, compreender como as dimenses constituti vas da
obra de arte orientam e estabelecem sentidos na obra potica da autora. Na
perspectiva de alcanar o objeti vo proposto, sustentamos a pesquisa nos
pressupostos tericos do estruturalismo figurati vo de Gilbert Durand, e seus
desdobramentos nas consideraes de Jean Burgos e Maria Thereza de Queiroz
Guimares Strongoli; na relao entre corpo, sociedade e alteridade, observada por
Michel Maffesoli e Zygmunt Bauman; e nas questes levantadas sobre li nguagem e
conscincia por Bakhti n e Edward Wilson, e sobre subjeti vidade e obra literria por
Dominique Combe, Paul Ricoeur, Alfredo Bosi, Antonio Candido e Theodor Adorno.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa do tipo bibliogrfico, pautada em uma
perspectiva que dialoga com a fenomenologia, sociobiologia e estruturalismo
figurati vo, atentando, tambm, a algumas consideraes da hermenutica, que se
props a analisar a Lrica da poeta contempornea Claudia Roquette-Pinto. Como
resultado desse processo de investigao, buscamos conciliar as anlises
resultantes das quatro dimenses constituti vas da obra artstica sob o pri ncpio da
completariedade (coexistncia no excludente dos opostos), objetivando no uma
sntese totali zadora das percepes colhidas da potica da autora, mas a descrio
da pluralidade dos sentidos emanados de um fazer potico que se forma em um
momento histrico de coexistncia de diferentes ordens sociais e mltiplas
comunidades estabelecidas por uma tica da esttica.
PALAVRAS-CHAVE: Lrica; Claudia Roquette-Pinto; Subjetividade, Sociedade;
Imaginrio.
6
GUIZZO, Antonio Rediver. O jardim de si: paisagens da subjeti vidade em Claudia
Roquette-Pinto. 2014. 174 pginas. Tese (Doutorado em Letras) Programa de
Ps-Graduao em Letras. Uni versidade do Oeste do Paran UNIOESTE,
Cascavel, 2014.
ABSTRACT
The current research focused on reflections and analysis about Claudia Roquette-
Pinto lyric, from the purpose that the work of art is composed by four dimensions, the
writer, society, work and imagi nary, engendered on a dialogue i n which synthesis
does not exist, but a complementary relation, an indissoluble junction of opposites.
Using this perspecti ve, this search scrutini ze the writers lyric, composed on a border
zone between modern economic social order saturation, guided by the planned
utili zation of the resources and by nature domination, and the post -modern
insurgency of an ecological order, that pri vileges the actual fruition of this resources.
From this dualism, we delineate, as a general objecti ve, to comprehend how the
constitutive dimensions of the work of art guide and establish senses on the writer
poetic work. In order to achieve the proposed objective, the research was sustained
by theoretician purposes of Gilbert Durand figurati ve structuralism, and its unfoldings
on Jean Burgos and Maria Thereza de Queiroz Guimares Strongoli assertions; on
body, society and alterity relation, investigated by Michel Maffesoli and Zygmunt
Bauman; by Bakhti n and Edward Wilson questions about language and
consciousness, also on subjecti vity and literary work of Dominique Combe, Paul
Ricoeur, Alfredo Bosi, Antonio Candido e Theodor Adorno. This research, thus, uses
the bibliography method, by a perspecti ve that dialogues with phenomenology,
sociobiology and figurative structuralism, also taking i nto consideration some
hermeneutical considerations, discipline that analyzed the lyric of Claudia Roquette-
Pinto, contemporary poet. As a result of this i nvestigation process, we intend to
conciliate the resulting analysis of the four constitutive dimensions of the work of art,
using the complementary pri nciple (not excludi ng coexistence of the opposites), not
searchi ng a totali zing synthesis of the perceptions derived from the writer poetic, but
the description of plural senses emanated of a poetic making that creates itself in an
historical moment when different social orders coexist and multiple communities are
established by an esthetics ethics.
KEY WORDS: Lyric; Claudia Roquette-Pinto; Subjecti vity; Society; Imaginary.
7
SUMRIO
INTRODUO............................................................................................................................ 8
CAMPOS DO IMAGINRIO ..................................................................................................... 15
O Imaginrio de Gilbert Durand............................................................................................ 18
Poesia e Imaginrio: leitura da classificao isotpicas da imagem de Jean Burgos ........ 46
O imaginrio de Claudia Roquete-Pinto ............................................................................... 54
O JARDIM SOCIAL .................................................................................................................. 72
PAISAGENS DA SUBJETIVIDADE ......................................................................................... 90
CONSIDERAES FINAIS ................................................................................................... 163
REFERNCIAS ...................................................................................................................... 169
8
INTRODUO
Komoin, palavra de origem indo-europeia, significa compartilhado por todos; do
lxico grego, koinonia, origina-se a palavra latina communis, da qual, em portugus,
surge o lxico comum e, posteriormente, o termo comunho.
A poesia comunho.
Embora anterior estrita ligao com o ato cristo de comungar, a palavra
comunho completa-se a partir do sentido que a crena crist empresta-lhe,
partilhar com fsico e espiritual, no partir do po e nas oraes. A poesia
comunho no mais profundo e mstico sentido do termo.
A poesia compartilhar o mistrio, comungar da mesma sensao que,
embora perdida no momento fugidio e adstrito ao passado que deflagrou sua
enunciao, presentifica-se, reencarna-se, rei ncorpora-se; reviver a unicidade de
um momento consagrado no i nstante de seu acontecimento no passado pelo
enunciado
1
potico.
A poesia reapario do suprassumo daquilo que permanece em todas as
pocas e em todos os lugares nas imagens e temas uni versais, que mesmo
travestidos com as roupas da sociedade e do tempo, mesmo cambiveis em
aparncia, permanecem enquanto essncia daqui lo que nos faz homens a morte
de Ismlia de novo nas guas do mar, o amor de Dirceu novamente na terra. Assim,
mistrio partilhado entre poeta e leitores, a poesia sempre um encontro entre os
homens.
E a viso da presentificao de uma totalidade. Os poemas no narram fatos
passados como a prosa, mas revi vificam o pathos que os motivaram a morte do
dono da tabacaria, a me que guarda no prego o vestido da amante, o operrio em
construo ressurgem a cada encontro com o leitor.
Niels Bohr, em The unity of Knowledge, como sntese do modelo emergente de
conhecimento da fsica quntica, escreve que O oposto de uma afirmao
verdadeira uma afirmao falsa. Mas o oposto de uma profunda verdade pode ser
1
Neste trabalho, compreendemos enunciado como a dimenso materi al verbal da enunciao, isto ,
aquil o que declarado/exposto pelo suj eito em qualquer circunstncia comunicati va. No caso, como
referi mo-nos anlise da lrica, compreende-se como enunciado potico os poemas em si.
9
uma outra profunda verdade
2
(1995, p. 13). A possibilidade da coexistncia entre
pares contraditrios, mutuamente exclusi vos, novo paradigma das cincias
naturais, que aponta para um mundo no qual as relaes so cada vez mais
complexas, um universo no qual o quntico e o macrofsico j no podem ser
reduzidos aos trs axiomas do pensamento silogsti co aristotlico princpio da
identidade (a a), princpio da no contradio (a no no-a) e o princpio
do terceiro excludo (no existe termo que seja ao mesmo tempo a e no a).
Este uni verso complexo, agora desvelado na fsica, o uni verso da poesia.
Cada poema a imagem da completari edade que une o contnuo ao descontnuo, o
mvel ao imvel, o manifesto ao imanifesto, o etreo ao concreto, o espiritual ao
fsico, o leitor ao poeta, o passado ao presente unio indissolvel dos
contraditrios que no se excluem nem se fundem, mas coexistem em sua
singularidade, comungam do mesmo mistrio.
A fsica quntica de Niels Bohr penetrou avidamente no uni verso das nfimas
partculas para aproximar-se mais desse mistrio; a poesia revive-o em cada poema.
Assim assinala Octavio Paz ao afirmar que, na poesia, nada simples. O poeta
nomeia as coisas: estas so plumas, aquelas so pedras. E de sbito afirma: as
pedras so plumas, isto aquilo
3
(PAZ, 2006, p. 38).
Mas de onde surge a poesia? A poesia um dilogo aberto estabelecido entre
a subjeti vidade de um autor, as condies sociais e naturais da poca e local onde
produzida, e o esprito de um tempo. a presentificao de um i nstante em cada
poema, instante que, embora consagrado e significado no passado, reencarna-se
em cada leitura, em cada encontro entre leitor e obra.
2
The opposite of a correct statement is a false statement. But the opposite of a profound truth may
well be anot her profound truth.
3
O pensamento de Octavio Paz, neste aspecto, assemelha-se ao aforismo Tat tvam asi (tu tambm
isto) encontrado nos Upanishads, parte das escrituras Shruti hindus, antiga filosofia i ndiana,
considerada como preceitos reli giosos pel os hindustas.
"No incio havi a a Existncia, apenas Um, sem segundo. Alguns dizem que no incio havi a apenas a
no-existncia, e que del a nasceu o Uni verso. Porm, como poderia ser tal coisa? Como poderi a a
existncia nascer da no-existncia? No, meu filho, no i ncio havi a apenas a existncia - somente
Um, sem que houvesse outro. Ele, o Uno, pensou: Serei muitos, expandir -me-ei. Assim, projetou o
Uni verso a partir de si mesmo, e entrou dent ro de cada ser e de tudo. Tudo o que existe possui o seu
ser somente nel e. Ele a verdade. El e a essncia sutil de tudo. Ele o Eu. E isso, Svetaketu,
ISSO S TU." (OS UPANISHADS, p. 46)
Neste senti do, i nteressante observar a afirmao de Maffesoli: Estamos cert ament e diante de uma
orientalizao do mundo. Eis o frut o do nomadismo contemporneo: el e pediu emprestado a di versas
civilizaes el ementos que o racionalismo triunfant e tinha ocultado ou marginalizado, e disso faz o
centro da sociabilidade contempornea. Assim, a liberdade do errante no a do indi vduo, ecnomo
de si e ecnomo do mundo, mas exatamente a da pessoa que busca de um modo mstico a
experi ncia do ser (2001, p. 69)
10
Este o ponto de partida da presente tese, e sob ele que pretendemos
analisar a lrica de Claudia Roquette-Pinto, poeta contempornea, nascida no Rio de
Janeiro em 1963, formada em traduo literria pela PUC-RJ, e autora de cinco
livros: Os Dias Gagos (Edio da autora, RJ, 1991), Saxfraga (Editora Salamandra,
RJ, 1993), Zona de Sombra (Editora 7 letras, RJ, 1997), Corola (Ateli Editorial, SP,
2001 Prmio Jabuti de Poesia/2002) e Margem de Manobra (Editora Aeroplano,
2005 finalista do Prmio Portugal Telecom 2006).
A abordagem metodolgica escolhida para adentrar a lrica de Claudia
Roquette-Pinto inicia a partir o mtodo descrito por Jean-Jacques Wunenburger
presente na obra O imaginrio (2007). Segundo Wunenburger, a anlise de uma
obra potica pode ser realizada a partir de um desdobramento entre o nvel de
linguagem literal, mais superficial e exterior, e o nvel simblico, mais plural e
revelador das profundezas da psicologia.
Ampliando a proposta de Wunenburger, compreende-se que a anlise potica
possvel a partir de uma perspecti va quadridimensional de fenmeno artstico, na
qual autor, sociedade, obra e imaginrio so as dimenses que delimitam e/ou
circunscrevem a obra literria e se encontram em estreita relao de
completariedade, isto , no se confundem nem se excluem, mas coexistem na
produo do significado e do sentido do poema. O autor (desdobramento subjetivo
no interior da obra), movido por um elemento primeiramente exterior, empreende a
produo artstica a partir de determi nada idiossincrasia; a sociedade, atravs das
formas de socialidade, ideologias, programas, pedagogias, cdigos e zonas de
estratificao, emoldura ou restri nge as possibilidades de expresso do autor e,
consequentemente, as possveis variaes de estrutura composicional, contedo
temtico e estilo da obra; a obra, objeto esttico concreto, reflexo lingustico,
estrutural, estilstico, semntico e pragmtico das crenas do autor e da constituio
social na qual produzida; por fim, o imaginrio, constelaes de imagens
simblicas agrupadas em torno de regimes (Durand) ou posturas (Burgos), revela as
profundezas psquicas do esprito de um tempo, isto , os sentidos emanados pelo
imaginrio apresentam-se em um nvel mais profundo fora subterrnea,
potncia que, segundo Maffesoli,
no deixa nunca de desempenhar um papel. Sua ao, no entanto,
ora secreta, ora discreta, ora notria. Quando no se exprime nessas
11
formas de efervescncia que so as revoltas, as festas, os levantes e
outros momentos quentes das histrias humanas, ela se hiper
concentra no segredo das seitas e das vanguardas (1998, p. 46)
Isto , centralidade subterrnea que, ora latente ora aparente, capaz de
mover as demais dimenses.
Estas quatro dimenses, em unio indissolvel, presentificam a cada leitura o
pathos que animou o poema animar este que deve ser compreendido no sentido
latino do termo, animus, alma, esprito, o que anima. Isto , o artista, inspirado (ou
aturdido) por um pathos
4
, projeta sobre a obra preferncias estticas e axiolgicas
que nascem do dilogo entre subjetividade, sociedade e imaginrio. Para Adorno,
esta potncia subjeti va exercida sobre o objeto artstico, quando profunda,
depreende-se dos fatos anedticos da biografia pessoal do autor e permite que a
obra de arte deixe de ser mera exposio de idiossincrasias do autor e atinja o
universal (ADORNO, 1990), posto que, ao adentrar as emoes e os sentimentos
compartilhados em determi nada sociedade e poca, a obra liberta-se das emoes
imediatas do autor e torna-se essencialmente social, reflexo do esprito da
sociedade, do imaginrio de um tempo, na qual surgiu e qual pertence o autor.
Os elementos externos a sociedade e a subjeti vidade do autor emolduram
o objeto esttico, enformam as possibilidades de representao do pathos
inspirador, participam da estrutura composicional, possibilitando, em cada poca,
determinado contedo temtico, estilo e estrutura composicional (BAKHTIN, 2003).
Alm da convergncia das dimenses obra, autor e sociedade, as imagens
suscitadas no poema tambm revelam estruturas e esquemas figurati vos do
imaginrio emanadas da psicologia profunda do esprito de um tempo, fora
subterrnea que i nflui sobre as formas de socialidade e possibilidades de expresso
das subjeti vidades. Tais estruturas e esquemas figurativos apresentam uma sintaxe
interna, uma pulso organi zacional, que igualmente transparece na estrutura e estilo
4
Pathos, na acepo que usamos do termo, seria fato ou circunstncia externa, anterior ao poema,
que moti va o autor a empreender a produo art stica uma paisagem, um sentimento, uma
sensao, um obj eto. Este raramente pode ser depreendi do satisfatori amente pelo texto. O termo
Pathos estaria li gado forma como o artista reage a tal fato ou ci rcunstncia. Em Teeteto de Pl ato,
Scrates chamar de pathos o espanto di ante das coisas (aquele que nasce do fundo da alma) que
leva o homem arch, isto , ao pensamento filosfico, a uma forma mais elevada do sentido. Neste
trabal ho, correlacionamos este pathos socrtico ao espanto que leva o artista criao art stica,
igualmente a uma forma mais elevada do sentido.
12
da obra, tambm em coerncia com a sociedade e o pathos moti vador da intuio
potica, da subjeti vidade do autor.
Desta forma, a realidade da poesia e o mundo de referenciao suscitado na
leitura dos poemas possuem maior profundidade do que o tradicional discurso
expositivo ou terico das cincias. No discurso racionalista/cientfico, a singularidade
e concretude dos objetos so abstradas, no importam. A razo cientfica sempre
a razo da dominao prometeica: o mundo exterior subjugado e enclausurado em
um extenso sistema de taxionomias do grego txis, ordem; nmos, lei. Isto ,
ordenao por imposio, por lei, o mundo exterior para a cincia s existe a partir
do momento que permite ser deduzido e abstrado a partir do pensamento abstrato e
quantificvel, passvel de logicizao, conceituao, matematizao e, acima de
tudo, passvel de decomposio sistematizao herdeira do pensamento analtico
cartesiano (decompor os objetos no maior nmero possvel de partes, orden-las em
funo da complexidade, e deduzir o comportamento do todo a partir da explicao
do comportamento de cada frao). Obviamente, tal metodologia de investigao
racionalista contribui u fundamentalmente para o desenvolvimento terico, cientfico e
tecnolgico das sociedades, mas no h como no perceber a violncia que a
sistematizao imps aos objetos, este laissez-aller terico (MAFFESOLI, 1998) no
qual as nomenclaturas so apenas i nstrumentos de trabalho (PAZ, 2012) para
operar sobre o mundo exterior reduzido a objeto. No entanto, o pensamento analtico
e a investigao metdica so infensos efuso lrica, so sempre violncia,
reduo, conteno da plurissignificncia das imagens, perverso do ritmo,
esvaziamento do pathos da obra potica; nada dizem da natureza ltima da poesia e
dos poemas.
A poesia no comporta a di viso e sistemati zao de suas partes; no olhar
para qualquer um dos elementos necessria a considerao do todo. Autor, obra,
sociedade e imaginrio convergem na comunho, na coexistncia de contrrios, na
presentificao de um instante em toda sua complexidade o todo potico existe
apenas em sua totalidade.
Por esta perspecti va, busca-se a estrita relao entre as estruturas do
imaginrio, representaes sociais e os processos de subjetividade e
representaes na obra lrica de Claudia Roquette-Pinto, enquanto expresso lrica
contempornea em dilogo com a tradio e com a sociedade que a abarca, pois,
lrica e sociedade no percorrem caminhos aleatrios e desconexos, a manifestao
13
das formas de socialidade em determinada poca (re)apresentada na obra de arte
enquanto movimento congregao, comunho com o esprito do tempo, ou
acentuada crtica s ideologias, pedagogias, programas, cdigos e zonas de
estratificao social sedimentados no meio social.
A partir de tal perspectiva, o objeti vo geral da pesquisa analisar a obra da
poetisa Claudia Roquette-Pinto sob a tica da antropologia do imaginrio de Gilbert
Durand conjuntamente com as reflexes sobre a sociedade presentes na obra do
socilogo francs Michel Maffesoli, discpulo de Durand e diretor do Centro de
Estudos sobre o Atual e o Quotidiano (CEAQ) da Sorbonne, procurando vislumbrar
como a contemporaneidade e suas novas formas de socialidade, o imaginrio e os
processos de subjeti vao transparecem em sua produo lrica, e o que
representam no funcionamento interno da obra.
Para tal fim, a tese foi estruturada em trs captulos: Campos do imaginrio,
Paisagens da subjeti vidade e O jardim social, todos intitulados com termos que
se referem natureza, devido forte presena do elemento na lrica de Cludia
Roquette-Pinto.
No primeiro captulo, Campos do imaginrio
5
, descreve-se a teoria das
estruturas do imaginrio de Gilbert Durand e seu desdobramento na obra de Claudia
Roquette-Pinto, concomitantemente com as reflexes de Jean Burgos sobre as
implicaes do imaginrio na poesia. Primeiramente, o captulo traz uma explanao
sobre as concepes do imaginrio na teoria de Gilbert Durand e as novas
propostas emanadas do estruturalismo figurati vo durandiano em Jean Burgos e
Maria Thereza de Queiroz Guimares Strongoli. Em seguida, observa-se a relao
do imaginrio com a poesia de Claudia Roquette-Pi nto, analisando tambm as
concepes tericas sobre as imagens presentes em Gaston Bachelard e Mircea
Eliade, e buscando revelar a estrutura imagtica e as ressonncias dos regimes ou
schmes do imaginrio na lrica da autora.
No segundo captulo, O jardim social, dialoga-se com a manifestao das
diferentes formas de socialidade contemporneas e seus desdobramentos sobre o
corpo imagem recorrente na obra de Roquette-Pinto. A mudana nas relaes
interpessoais, a multiplicidade das comunidades e a tribalizao do sculo XXI, a o
5
O nome dado a este captul o o tt ulo de uma obra de Gil bert Durand, Campos do Imagi nri o
(2001). Foi escolhido como tt ulo deste captulo porque a palavra campos tambm pode ser
relacionada a imagem do jardim, presente na potica de Cl udia Roquete-Pi nto.
14
ressurgimento do hedonismo e o declnio do discurso monolgico
fonofalologocntrico so algumas das caractersticas ps-modernas que
transformam a relao entre ser e corpo. E sendo a poesia tambm espao no qual
a sociedade transparece, as consideraes de Zygmunt Bauman e de Michel
Maffesoli sobre as representaes ps-modernas da corporeidade sero o vis
terico sobre o qual analisaremos lrica de Claudia Roquette-Pinto.
No terceiro captulo, paisagens da subjeti vidade, procura-se a compreenso
da relao entre a subjeti vidade e a obra de arte. Neste captulo descrito um breve
histrico dos pressupostos tericos sobre a relao entre autor e obra e seus
desdobramentos sobre a noo de subjeti vidade e o lugar que ocupa na produo
literria. Concomitantemente, analisam-se poemas de Claudia Roquette-Pi nto que
dialogam com o espao do eu na lrica, trazem concepes de poesia e as
preferncias estticas de estilo e composio, e expe os sentimentos mais
recorrentes que compe a subjeti vidade lrica da obra da autora.
15
CAMPOS DO IMAGINRIO
O imaginrio o elo obrigatrio entre o sentido e a experincia sensvel, fonte
da qual emana fora subterrnea capaz de tensionar/transformar autor, obra e
sociedade, sendo a dimenso fundamental da anlise da obra literria. Neste
trabalho, a anlise do imaginrio orienta-se a partir da teoria das estruturas
antropolgicas do imaginrio de Gilbert Durand constelaes de imagens que
gravitam em torno de conjuntos que compartilham caractersticas isomrficas.
Concomitantemente, orienta-se tambm a partir das reflexes de Jean Burgos sobre
as implicaes do imaginrio na poesia. Entende-se que a ocorrncia das imagens
no poema e as relaes estabelecidas com as estruturas figurati vas do imaginrio
so fundamentais fontes de sentido na interpretao potica, pois, as estruturas e
esquemas figurati vos das imagens estabelecem uma si ntaxe imagtica interna,
formando um conjunto de imagens coerente ao pathos moti vador da intuio
potica.
Embora tal percurso i nterpretati vo atravs do imaginrio seja esclarecedor no
s a arte, mas a todo o discurso permeado pela ideologia de um tempo (ou seja, a
todo o discurso), segundo o antroplogo Gilbert Durand, a tradio ocidental,
principalmente por meio da filosofia, da cincia e da religio, exclui u a imagem e a
imaginao do conjunto de saberes e processos mentais capazes de investigar a
realidade.
O imaginrio, na perspecti va filosfica e cientfica ocidental , foi considerado
faculdade mental ligada irracionalidade, ao devaneio, iluso e loucura,
inclusive no pensamento religioso. Por exemplo, na viso religiosa judaico-crist, foi
relegado ao misticismo por ser considerado um perigo aos dogmas e preceitos de
uma religio que pregava uma vida asctica e uma crena monotesta, como pode-
se observar no xodo, captulo 20, versculo 3 a 4 No fars para ti nenhum dolo,
nenhuma imagem de qualquer coisa no cu, na terra, ou nas guas debaixo da
terra. Segundo Durand, a viso religiosa judaico-crist incorpora o mtodo da
filosofia grega neste movimento iconoclasta.
O mtodo da verdade, oriundo do socratismo e baseado numa lgica
binria (com apenas dois valores: um falso e um verdadeiro), uniu-se
desde o incio a esse iconoclasmo religioso, tornando-se com a
16
herana de Scrates, primeiramente, e Plato e Aristteles em
seguida, o nico processo eficaz para a busca da verdade
(DURAND, 2001, p, 9)
Neste contexto, visto que a imagem no pode ser simplificada em um
argumento verdadeiro ou falso, ou seja, no se reduz ao princpio da identidade
aristotlico, foi considerada incerta e ambgua, fonte de erro e falsidade, pelo
pensamento racionalizante do ocidente
6
.
Alm disso, a imagem, na esteira da tradio platnica, sempre foi considerada
um simulacro, uma cpia imperfeita do objeto real que, por sua vez, j uma cpia
imperfeita do objeto ideal que habita o mundo inteligvel (das ideias). Logo, a
imagem foi vista como reflexo empobrecido da realidade, apreendida por meio dos
sentidos, tambm falhos e imperfeitos quando comparados ao puro entendimento
que poderia ser alcanado atravs da ideia.
Com o afastamento da imagem das fontes do conhecimento, o ocidente elegeu
a palavra, entendida como ferramenta eficaz e inequvoca de referencialidade, como
meio exclusi vo de expresso verdadeira da realidade, isto , o discurso analtico e
abstrato, desprovido de sua carga imaginal, foi escolhido como o meio capaz de
investigar e expor os fenmenos a partir da razo, considerada cami nho nico para
o acesso verdade.
Neste percurso de construo, o discurso tradicional do racionalismo cientfico,
alm da excluso da imagem e do imaginrio, abstrai u a singularidade e concretude
dos objetos de estudo em troca de um pensamento abstrato e quantificvel, passvel
de logicizao, conceituao e matemati zao. Ou seja, o ponto de partida para a
classificao dos objetos e fenmenos fundou-se sobre as caractersticas passveis
de excluso ou juno, que possibilitavam a diviso em categorias, espcies,
gneros taxionomia difundida por todas as reas do conhecimento com a inteno
6
Para exempli ficar esta ambiguidade podemos recorrer imagem da gua. Se por um l ado a gua
pode representar o element o purificador ou um elemento do qual se ori gina a vida; tambm pode
representar o fluxo incessante do ri o, metfora da passagem t emporal e, consequentemente, da vi da
que se encami nha morte a primei ra quali dade da gua sombri a o seu carter heraclitiano [...] A
gua epifani a da desgraa do tempo, clepsidra definiti va (Durand, 2002, p. 96); ou, ai nda, a gua
negra, impenetrvel luz, smbolo do pecado, da mcul a, da mort e, do j ulgament o Esta gua
negra sempre, no fim de contas, o sangue, o mistrio do sangue que corre nas vei as ou se escapa
com a vida pel a feri da, cuj o aspecto menstrual vem sobredetermi nar a val orizao temporal. O
sangue temvel porque o senhor da vi da e da morte e porque na sua feminilidade o primei ro
relgio humano, o primei ro sinal humano do correlati vo do drama l unar. (DURAND, 2002, p. 111). Por
esta ambiguidade que o imaginri o no pode ser reduzido lgica aristotlica.
17
prometeica de dominao, isto , o mundo exterior dominado por meio da
capacidade racional humana de nomear, dividir e classificar os fenmenos.
No entanto, embora a predomi nncia do cientificismo tenha sido incontestvel,
concomitantemente coexistiram outras vias de acesso ao conhecimento que
mesmo de forma subterrnea, latente ou margi nal impuseram-se contra a
marginali zao e estigmati zao da imagem e elevaram o imaginrio forma de
acesso e conhecimento autntico, contrariando o moralismo intelectual do
pensamento lgico/cartesiano, eleito como nico mtodo de separar entre
verdadeiro e falso, entre justo e injusto, todo o conhecimento humano. Na
modernidade, os movimentos i ntelectuais e estticos que melhor representaram o
papel de resistncia contra a hegemonia do racionalismo foram o Romantismo, o
Simbolismo e o Surrealismo; e foi no cerne desses movimentos que uma
reavaliao positiva do sonho, do onrico, at mesmo da aluci nao e dos
aluci ngenos estabeleceu-se progressivamente, cujo resultado [...] foi a
descoberta do inconsciente (DURAND, 2001, p. 35).
Proveniente dessa reavaliao positiva da imagem e da falncia dos grandes
sistemas explicativos que regeram a Modernidade, a partir da segunda metade do
sculo XX, surge, nas cincias sociais, uma preocupao com os mitos, o imaginrio
e as imagens emanadas das relaes sociais; isto , originam-se diversas teorias
preocupadas em investigar e sistemati zar o imaginrio humano, i ndividual e coleti vo,
tendncia que Mielieti nski denominar de remitologizao do ocidente.
No mesmo sentido, Ana Maria Lisboa de Mello ressalta que o paradigma
cientfico da modernidade, a partir da metade do sculo XX, marcado pela
proliferao de teorias que abordam o simblico sobre diferentes enfoques
(MELLO, 2002, p. 12). Wunenburger, em observao semelhante, destaca a
valorizao do imaginrio como um trabalho epistemolgico de descrio, de
classificao e de tipificao das mltiplas faces da imagem (WUNENBURGER,
2007, p. 17).
Wunenburger ainda observa que o avano dos estudos do imaginrio deve-se
mais a uma teorizao filosfica do que acumulao de dados novos:
teoria filosfica do esprito, dos nveis das representaes e dos
nveis de realidade, com razes fincadas nas mais antigas
metafsicas ocidentais (neoplatonismo, hermetismo etc.) [...] trabalho
de fundo que foi inseparvel dos mtodos mais recentes da filosofia,
18
do estruturalismo, da fenomenologia e da hermenutica
(WUNENBURGER, 2007, p. 15-16).
O contexto intelectual que possibilitou esta nova orientao, segundo Durand
(2000), deve-se, predominantemente, s contribuies da psicanlise de Freud, da
antropologia cultural de Lvi-Strauss, da filosofia hermenutica de Cassirer, da
psicologia analtica de Jung e da fenomenologia do imaginrio de Bachelard.
Wunenburger (2007), nesta perspectiva, ainda destaca a psicossociologia religiosa
advinda do pensamento Durkheim, seguida da fenomenologi a religiosa de Eliade, a
fenomenologia de Husserl e a hermenutica ontolgica de Heidegger. Alm destes,
vrios outros autores contriburam para esta nova filosofia do esprito, tais como,
Sartre, Ricoeur, Durand, Corbin, Deleuze, Derrida, Lyotard, entre outros.
Desta forma, abre-se um riqussimo campo intelectual para o estudo do
imaginrio. Nesta tese, o estruturalismo figurativo de Gilbert Durand ser a
perspectiva terica sobre o imaginrio adotada para orientar as anlises.
O Imaginrio de Gilbert Durand
Para Gilbert Durand, o processo cognitivo do homem no apresenta soluo
direta entre stimulus e reao, como no caso dos rpteis e peixes. Ao contrrio, no
humano, todas as i nformaes so controladas por um terceiro crebro (crebro
noemtico) e, consequentemente, passam a ser i ndiretas, isto , o pensamento
humano uma re-presentao estabelecida por articulaes simblicas, e o
imaginrio constitui o conector obrigatrio pelo qual forma-se qualquer
representao humana. (DURAND, 2001, p. 41). Exemplificando: suponhamos que,
em uma espcie de rpteis, uma mancha vermelha na cauda indique que o animal
macho, temos um caso em que um estmulo visual assi nala aos membros da
espcie o sexo de cada elemento; este stimulus determinar diretamente a reao
agressiva de um macho ao visualizar a mancha vermelha em outro elemento da
espcie. Esta reao de tal forma direta que, se pi ntssemos em uma fmea tal
mancha caracterstica do outro gnero, o macho igualmente a atacaria.
19
J, no homem, o estmulo no provoca reao direta, sobre toda ao intervm
as ideologias, as religies, as instituies sociais, as pedagogias, as condies
geogrficas, etc. Entretanto, como assi nala Durand, o imaginrio ser o conector
obrigatrio pelo qual forma-se a representao; isto , os mananciais semnticos,
oriundos dos fatos sociais e do meio csmico esto permeados pelas foras
oriundas das estruturas do imaginrio. Neste sentido, h uma relao dialtica entre
o imaginrio, a cultura e o meio csmico na estruturao do pensamento humano,
ou seja, conforme o exemplo j citado da gua, este elemento csmico une-se
cultura (metfora da passagem temporal na filosofia heraclitiana) e aos sentidos que
o imaginrio delega ao elemento. Assim, toda a representao humana parte
tambm de uma estrutura imagtica.
Mas o que o imaginrio nesta acepo? Conforme bem exemplifica
Wunenburger, imaginrio :
um conjunto de produes, mentais ou materializadas em obras, com
base em imagens visuais (quadro, desenho, fotografia) e lingusticas
(metfora, smbolo, relato), formando conjuntos coerentes e
dinmicos, referentes a uma funo simblica no sentido de um
ajuste de sentidos prprios e figurados (WUNENBURGER, 2007, p.
11).
A imagem, por sua vez, representao sensvel de uma realidade exterior
que, como assinala Wunenburger (2007), pode ser visual ou lingustica. Maffesoli,
tambm ressalta que, em oposio simples razo que econmica, projeti va,
calculadora, a imagem , antes de tudo, ecolgica, inscreve-se num contexto,
mesmo que reduzido a um dado grupo (MAFFESOLI, 2010, p. 119), isto , a
imagem signo que vive hic et nunc, enraizado no substrato natural da sociedade.
Durand igualmente observa quanto imagem que esta se apresenta
conscincia em diferentes graus de representao, indo desde a cpia fiel da
sensao at a condio de apenas assinalar a coisa; sendo a este ltimo caso de
representao que os smbolos imaginrios pertencem. Para ns, justamente a
imagem simblica que i nteressa, pois o imaginrio construdo e expresso atravs
de smbolos (LAPLANTINE & TRINDADE, 2001, p. 32).
As imagens simblicas, alm disso, pertencem categoria dos signos. No
entanto, o smbolo e os signos arbitrrios no se confundem. O signo arbitrrio
subterfgio de economia, no qual o significante i ndicativo que se remete a um
20
significado, no caso, a representao de uma realidade ausente, mas apresentvel
ou passvel de verificao. No smbolo, ao contrrio, o significado no
apresentvel e, enquanto signo, refere-se a um sentido e no a uma coisa sensvel.
Desta forma, o smbolo um signo concreto que evoca, por meio de uma relao
natural e no arbitrria, algo impossvel de se perceber. Por tal motivo que Durand
afirmar ser o smbolo epifania, isto , apario, atravs do e no significante, do
indizvel (DURAND, 2000, p. 10). Em sentido semelhante, Maffesoli assevera que a
dimenso ecolgica da imagem simblica saber epifanizar a matria e corporizar
o esprito (MAFFESOLI, 2010, p. 119). Sendo assim, conforme ainda assi nala
Durand, a imaginao simblica transfigurao de uma representao concreta
atravs de um sentido para sempre abstrato (DURAND, 2004, p. 10-11).
Alm disso, o significante da imagem simblica sempre carregado de mxima
concreo. Ricoeur, conforme nos aponta Durand, leciona que o significante da
imagem simblica
Possui trs dimenses concretas: simultaneamente csmica (isto
, recolhe s mos cheias a sua figurao no mundo bem visvel que
nos rodeia), onrica (isto , enraza-se nas recordaes, nos gestos
que emergem nos nossos sonhos e constituem como bem
demonstrou Freud
7
, a massa muito concreta de nossa biografia mais
ntima) e, finalmente, potica, isto , o smbolo apela igualmente
linguagem, e linguagem que mais brota, logo, mais concreta.
(DURAND, 2004, p. 11)
Alm disso, no signo simblico, significante e significado so infi nitamente
abertos. O significante pode estender-se por todo o uni verso concreto: mi neral,
vegetal, animal, astral, humano, csmico, onrico ou potico (DURAND, 2004, p.
11-12); enquanto o significado pode agluti nar sentidos divergentes e at antinmicos
exemplificando: o fogo pode representar o fogo purificador, o fogo sexual, o fogo
demonaco etc. Por isso, o fator que delimitar o tema do smbolo redundncia do
significado dentro do texto analisado, caracterstica que Maffesoli chamar de
contedo proxmico das imagens simblicas, e Burgos chamar de sintaxe
7
Freud destaca em Delrios e sonhos na Gradi va de Jensen as imagens onricas pode ser
compreendidas como produtos de uma conciliao na lut a entre o reprimi do e o dominante que
provavel mente existe em todo o ser humano, isto , substitutos e deri vados de lembranas repri midas
que no conseguem atingir a conscincia de forma i nalterada devi do a uma resistncia (FREUD,
1996, p. 58-59)
21
imagtica. Assim, o sentido dos smbolos esclarecido pela convergncia dos
significados no conjunto simblico. Desta forma, o smbolo :
Signo que remete para um indizvel e invisvel significado e, deste
modo, sendo obrigado a encarnar concretamente esta adequao
que lhe escapa, e isto atravs do jogo das redundncias mticas,
rituais ou iconogrficas, que corrigem e completam inesgotavelmente
a inadequao. (DURAND, 2004, p. 15)
Gilbert Durand, elucidando a constituio do smbolo na cognio humana,
ainda observa que o smbolo sempre o produto dos imperati vos biopsquicos
pelas intimidaes do meio (DURAND, 2002, p. 41); isto , na formao simblica
h uma relao entre a estrutura da psique humana, a cultura e o ambiente csmico.
Desta forma, o contedo simblico no pode ser depreendido apenas pela sua
relao com o meio social, com os elementos naturais ou com a formao psquica
do ser humano; mas na confluncia dos trs elementos.
Durand tambm assi nala a existncia de uma convergncia simblica que pode
ser depreendida do conjunto simblico na forma de estruturas do imaginrio. Isto ,
as imagens simblicas possuem capacidade de se organizarem em constelaes
constantes e estruturadas por meio de isomorfismo dos smbolos convergentes,
apresentando, neste sentido, uma coerncia e uma si ntaxe interna entre as imagens
de uma mesma constelao. Esta equi valncia estrutural deve-se ao fato dos
smbolos constelarem
porque so desenvolvidos de um mesmo tema arquetipal, porque
so variaes de um mesmo arqutipo [...] Por exemplo, os
esquemas ascensionais acompanham-se sempre de smbolos
luminosos, de tais smbolos como a aurola e o olho (DURAND,
2002, p. 43-44).
O arqutipo para Durand um centro de fora i nvisvel , tomada em si mesma,
vazia, necessita ser preenchida com elementos de representao para chegar ao
consciente. Conforme Salienta Mello, O arqutipo organi za imagens simblicas,
biogrficas, regionais e sociais da formao de imagens. Tem, portanto, um papel
mediador (2002, p. 69).
E na concepo das estruturas do imaginrio que Durand ir diferenciar-se
do filsofo Gaston Bachelard (1884-1962), um dos precursores da reabilitao da
22
imagem. Durand, mesmo reconhecendo o papel fundamental do pensamento
Bachelard na reabilitao do imaginrio como meio vlido para a compreenso do
homem de sua condio de ser-no-mundo, to vlido quanto o pensamento
cientfico, prope um redirecionamento s reflexes sobre as imagens ao afirmar
que as estruturas do imagi nrio no tm sua classificao orientada a partir de
elementos extrnsecos s imagens
8
, mas, ao contrrio, o imaginrio organiza-se a
partir de estruturas intrnsecas, biopsquicas. Inclusive, Durand afirma que Bachelard
j havia percebido que as intimidaes objeti vas, ori undas do meio csmico, no
eram suficientes para explicar a dinmica do imaginrio: somente na obra capital
O ar e os sonhos que Bachelard entrev a revoluo coprnica que consistir em
abandonar as intimidaes objetivas que estimulam a trajetria simblica em si
mesma (DURAND, 2002, p. 35).
Desta forma, Durand, i nfluenciado por Bachelard e Jung, busca as categorias
motivantes dos smbolos nos comportamentos do psiquismo humano, negando
aquilo que chama de reducionismo ou estreiteza metafsica das correntes
sociolgicas e psicanalticas na busca de justificati vas para as motivaes
simblicas. Para Mello, Durand Considera que existe, no nvel imaginrio, uma troca
incessante das pulses subjetivas e assimiladoras com as intimidaes objetivas
que emanam do meio csmico e social (2002, p. 77).
Sob esta perspectiva, o sistema funcional do imaginrio de Durand ir buscar o
princpio de classificao na teoria dos gestos dominantes ori unda da anlise dos
reflexos primrios dos recm-nascidos elaborada pela escola de reflexologia de
Leningrado sob a superviso de Betcherev. Assim, o isomorfismo percebido entre as
imagens organizar-se-ia a partir dos mais primiti vos conjuntos sensrios-motores
que enformam os sistemas de acomodaes mais originrios na ontognese, que
seriam os princpios organi zadores dos smbolos, a saber, o reflexo da posio, da
nutrio e da cpula.
uma possibilidade de estudar esse sistema funcional que o
aparelho nervoso do recm-nascido e em particular o crebro [...]
parece-nos evidenciar a trama metodolgica sobre a qual a
experincia da vida, os traumatismos fisiolgicos, a adaptao
positiva ou negativa ao meio viro inscrever os seus motivos e
8
Bachelard organizara as imagens em torno do mei o csmico, dos el ement os naturais, ar, terra, fogo
e gua.
23
especificar o polimorfismo tanto pulsional como social da infncia
(DURAND, 2002, p. 47).
O primeiro destes reflexos, a posio, refere-se tendncia natural do recm-
nascido postura ereta e coordena ou i nibe todos os outros reflexos quando, por
exemplo, se pe o corpo da criana na vertical (DURAND, 2002, p. 48). A posio
que permite criana a distino entre verticalidade e hori zontalidade e o instinto de
se manter na posio vertical que origina uma valori zao positiva ao em cima,
valorizando a atitude de separar.
A segunda dominante, da nutrio, imperati vo biolgico, nos recm-nascidos,
se manifesta por reflexos de suco labial e de orientao correspondente da
cabea (DURAND, 2002, p. 48), e provocado por estmulos externos, valorizando
a atitude de i ncluir, da integrao ao outro corpo.
A terceira, da cpula, seria de origem interna, desencadeada por secrees
hormonais e s aparecendo em perodo de cio
9
(DURAND, 2002, p. 48). Embora
desencadeada por secrees hormonais no humano adulto, como visto, j figura
anteriormente em vrias brincadeiras e jogos rtmicos da criana, como uma espcie
de exerccio da sexualidade. Esta rtmica sexual est ligada rtmica da suco e
h uma anastomose muito possvel entre a domi nante sexual latente da infncia e
os ritmos digestivos da suco (DURAND, 2002, p. 50); isto , o segundo e o
terceiro reflexo domi nante combinar-se-iam em cruzamentos simblicos. Assim, os
smbolos do engolimento, por exemplo, tm frequentemente prolongamentos
sexuais.
Desta forma, h uma estreita concomitncia entre os gestos do corpo, os
centros nervosos e as representaes simblicas (DURAND, 2002, p. 51). Nos
gestos dominantes encontram-se os temas arquetipais da estruturao do
imaginrio. Logo, anterior materialidade, o imaginrio articula-se por meio de
estruturas advi ndas dos trs reflexos dominantes encontrados na reflexologia
betchereviana, organizando-se em trs processos/aes iniciais: a atitude de
separar, que advinda da domi nante da postura e defi ne a conduta heroica; a
atitude de incluir, que advinda da dominante da nutrio, da integrao do outro ao
9
Durand (2002) destaca que este reflexo compreendi do como dominante de todas as demais
ati vidades animais na psicanlise freudi ana, tal como descrita nas anlises do complexo de dipo.
No entanto, Durand salienta que a psicanlise freudi ana, neste sentido, trat a-se de uma hermenutica
redutora, pois desconsidera as demais estrut uras do imagi nrio na produo dos sentidos.
24
corpo, e caracteriza a conduta mstica; e a atitude de dramati zar (confundir) pela
conduta de disseminador, que advi nda da domi nante da cpula.
No entanto, o imaginrio prolonga-se, alm dos gestos dominantes, pelo
habitat, ou seja, o meio csmico e a cultura exercem o papel de prolongamento das
imagens, sobredetermina, por uma espcie de finalidade, o projeto natural fornecido
pelos reflexos dominantes que lhe servem de tutor i nsti nti vo. (DURAND, 2002, p.
52). Na elaborao das constelaes de imagens, combi nam-se as domi nantes com
o ambiente natural e tecnolgico humano, um acordo entre as pulses reflexas do
sujeito e o seu meio que enraza de maneira to imperativa as grandes imagens na
representao (DURAND, 2002, p. 52); porm, o gesto dominante, que representa
a fora, prevalece sobre a matria para Durand, e por este motivo que o imaginrio
seria caminho primordial na construo das representaes humanas.
Para exemplificar a relao entre imaginrio, meio csmico e ambiente
tecnolgico humano
10
, Gilbert Durand orienta-se pela equao de Leroi-Gourhan,
segundo a qual uma fora (os reflexos da teoria betchereviana) unida a uma matria
(meio csmico) produz um instrumento, um utenslio ou uma tcnica (ambiente
tecnolgico humano). Neste sentido, Durand aprofunda as reflexes sobre o
imaginrio de seu preceptor, Gaston Bachelard, que se deteve apenas matria
(meio csmico) enquanto enformadora das constelaes de imagens. Desta forma,
nas estruturas antropolgicas do imaginrio de Gilbert Durand, a domi nante postural
exigir as matrias luminosas (ori undas do meio csmico) e suscitar as tcnicas de
separao, purificao, das quais as armas, as flechas, o gldio e o cetro
(ferramentas) sero smbolos frequentes; a domi nante da nutrio exigir as
matrias de profundidade (a gua ou a caverna) e suscitar os utenslios
conti nentes, as taas e os cofres; e a domi nante copulativa, os gestos rtmicos,
projetar-se- nos ritmos sazonais e suscitar os substitutos tcnicos do ciclo (a roda,
a roda de fiar) e a rtmica da frico tecnolgica (o isqueiro de pedra). Para Durand,
essa classificao tripartida concorda
com uma classificao tecnolgica que distingue os instrumentos
percussores e contundentes, por um lado, os continentes e os
recipientes ligados s tcnicas de escavao, por outro, enfim, os
grandes prolongamentos tcnicos do to precioso utenslio que a
10
Ambient e tecnol gico humano pode ser entendi do, em Durand, como cultura em lat o sensu, isto ,
tudo o que produzido por mei o da interveno humana. Ao contrrio, meio csmico seria tudo o que
existe independentemente da interveno humana.
25
roda: os meios de transporte do mesmo modo que as indstrias
txteis ou do fogo. (DURAND, 2002, p.55)
Na obra O imaginrio: ensaio acerca das cincias e da filosofia da imagem
(2004), Gilbert Durand exemplifica tal dinmica:
O trajeto antropolgico representa a afirmao na qual o smbolo
deve participar de forma indissolvel para emergir numa espcie de
vaivm contnuo nas razes inatas da representao do sapiens e,
na outra ponta, nas vrias interpelaes do meio csmico e social.
Na formulao do imaginrio, a lei do trajeto antropolgico, tpica de
uma lei sistmica, mostra muito bem a complementaridade existente
entre o status das aptides inatas do sapiens, a repartio dos
arquetpicos verbais nas estruturas dominantes e os complementos
pedaggicos exigidos pela neotenia humana. Por exemplo, para
tornar-se um smbolo, a estrutura de posio fornecida pelo
posicionamento do reflexo dominante na vertical necessita a
contribuio do imaginrio csmico (a montanha, o precipcio, a
ascenso...) e do sociocultural (todas as pedagogias da elevao, da
queda, do infernal...) sobretudo. Reciprocamente, o precipcio, a
ascenso e o inferno ou o cu somente adquirem um significado de
acordo com a estrutura da posio inata da criana. (DURAND,
2004, p. 90-91)
Pitta, em sua obra introdutria ao pensamento de Durand, esclarece a
organi zao das estruturas do imaginrio e os pri ncipais conceitos a serem
compreendidos na reflexo sobre as imagens, entre eles: o schme (esquema),
tendncia geral dos gestos que faz a juno entre os reflexos psicobiolgicos e as
representaes por exemplo, postura da verticalidade correspondem os
esquemas verbais subir e cair; domi nante da nutrio (engolir) correspondem os
esquemas verbais descer, possuir, penetrar rumo i ntimidade. O arqutipo, que a
representao dos schmes, imagem primeira de carter coletivo em um sentido
semelhante a Jung por exemplo, o esquema verbal subir ser representado pelos
arqutipos do chefe, do alto, do cu, do cume; os esquemas verbais descer, possuir
e penetrar sero representados pelos arqutipos da me, da morada, do centro, do
alimento, etc. O smbolo, por sua vez, o signo concreto, visvel nos rituais, nos
mitos, na literatura, nas artes plsticas, tal como, a Virgem Maria (a me), o Monte
Olimpo (o cume), Deus (o chefe/ o pai) etc. (2005, p. 18).
Assim, a partir da delimitao das dominantes postural, copulativa e digestiva,
e dos conceitos de schme, arqutipo e smbolo, podemos empreender nossos
esforos na compreenso do movimento de representao do conhecimento
26
humano que Durand denomi nou de trajeto antropolgico do imaginrio: os reflexos
(reflexologia de Betcherev) expandem-se at a formao de um schme, uma
tendncia geral dos gestos, anterior imagem e responsvel pela unio entre os
gestos inconscientes e as representaes. Posteriormente, aos schmes, forma-se o
arqutipo: imagem primeira e de carter coleti vo, encontrada ao longo da histria
humana em diferentes pocas e sociedades. A partir do arqutipo, forma-se o
smbolo, signo concreto que evoca uma entidade ausente ou impossvel de ser
percebida. A reunio de conjuntos simblicos formar o mito, sistema dinmico de
smbolos, arqutipos e schmes que tende constituio de um relato, e pode ser
considerado o incio de uma racionalizao.
Pitta exemplifica esclarecedoramente este trajeto.
O schme , pois, a dimenso mais abstrata, correspondente ao
verbo, ao bsica: dividir, unir, confundir. O arqutipo, dando
forma a esta inteno fundamental, j vai ser imagem, heri, me, ou
tempo cclico, mas universal. Por seu turno, o smbolo vai ser a
traduo desse arqutipo dentro de um contexto especfico.
Exemplo: schme: unir, proteger; arqutipo: a me; smbolo para a
cultura crist: a Virgem Maria. (2005, p. 20).
Alm do trajeto antropolgico, Gilbert Durand tambm estabeleceu pontos de
convergncia entre as imagens simblicas; isto , o antroplogo francs notou que
as imagens tendem a formar constelaes imaginrias que, orientadas
primeiramente por uma mesma dominante (postural, copulativa ou digestiva),
compartilham isomorfismos e, consequentemente, organi zam-se em regimes e
estruturas. Gilbert Durand estabelece, em As estruturas antropolgicas do
imaginrio, dois macro regimes a partir dos quais as imagens organizam-se: o
Regime Diurno e o Regime Noturno
11
.
11
Como observa Maria Thereza de Quei roz Guimares Strongoli em uma conferncia prof eri da por
Gilbert Durand em Portugal, o ant roplogo francs, posteriormente publicao de As estruturas
antropol gicas do imaginrio, rev a di viso das imagens nos regimes diurno e noturno da
representao: Tentei a [no li vro As estruturas antropolgicas do imagi nrio] encontrar, e encont rei
as modalidades, chamava-as ento de estruturas, cham-las-i a agora de regimes, mas no
voltemos a questionar o t tulo que hesitava entre a binari dade de dois regimes e a trade de trs
grupos de estruturas. Agora, chamaria a t udo isso regi mes. Se quiserem, o imaginrio pode
funcionar a trs regi mes: o regime a que outrora chamava, porque era j ovem e chei o de neologismos,
esquizomorfo e que depois chamei de heroico (j mais modesto); o regime mstico e o regime
sinttico; mas depois censuraram-me esta palavra, dizendo-me que era um bocado hegeli ana,
ento, fui buscar em Derrida a pal avra dissemi natrio ou, mesmo, simplesmente, dramtico. Bom,
no vou ent rar em detalhes, no vou expor o contedo desse grosso li vro, no essa a minha
inteno, simpl esmente vos mostrar a existncia de pacotes ou constel aes fundamentalmente
tridicas e no redutveis a pacot es de dois termos, como julgava a pri ncpi o. (DURAND apud
27
Regime Diurno tem a ver com a dominante postural, a tecnologia das
armas, a sociologia do soberano mago e do guerreiro, os rituais de
elevao e da purificao; o Regime Noturno subdivide-se nas
dominantes digestivas e copulativa, a primeira subsumindo as
tcnicas do continente e do hbitat, os valores alimentares e
digestivos, a sociologia matriarcal e alimentadora, a segunda
agrupando as tcnicas do ciclo, do calendrio agrcola e da indstria
txtil, os smbolos naturais ou artificiais do retorno, os mitos e dramas
astrobiolgicos. (DURAND, 2002, p. 58)
A partir desta diviso entre o regime diurno e o regime noturno da imagem,
Gilbert Durand ir apontar, dentro de cada regime, a formao de conjuntos de
orientao simblica
12
, aos quais denominou estrutura.
O primeiro regime apontado por Durand o Regime Diurno da representao
simblica. Este regime tem como caracterstica fundamental a anttese, isto , a
contraposio entre imagens positivas e imagens negativas frente morte; por este
motivo, as estruturas pertencentes a este regime sero denominadas
esquizomrficas (ou heroicas).
Sob a gide deste do Regime Diurno, Gi lbert Durand descreve trs conjuntos
simblicos, aos quais denomina as faces do tempo: os smbolos teriomrficos
(ligados animalidade), os smbolos nictomrficos (ligados s trevas e noite) e os
smbolos catamrficos (ligados ao movimento da queda). Sobre tais conjuntos
simblicos, Strongoli ressalta que so os trs originados de fontes empricas,
revestem-se de realismo sensorial, isto , surgem da observao do mundo exterior
pelo indivduo representadas nas figuras dos animais, das trevas e da queda
resultado do estmulo externo que norteia o processo de figurar o mal (o medo da
passagem do tempo e dos di versos tipos de morte), no correspondendo ao do
indivduo sobre o mundo, mas do mundo real sobre e seus mistrios sobre o
Strongoli, 2005, p. 156). No entanto, essa nova di viso pouco modifica o mt odo classificatrio das
constelaes simblicas observado por Durand, pois o pri ncpio anatomofisiolgico, isto , as
dominantes, continuam sendo a postural, a copulati va e a digesti va, encontradas na refl exologia de
Betcherev. Sendo assim, em nosso trabalho, mantemos a di viso em dois regimes presentes na obra
As estruturas antropol gicas do imaginri o e, concomitantemente, apresentamos consideraes
propostas por Mari a Thereza de Queiroz Guimares Strongoli em sua profcua proposta de nova
di viso as constelaes simblicas.
12
Primei ramente, int eressante ressaltar que t odo o movimento dos smbolos para Durand,
Burgos, Wunenburger, Maffesoli, Eliade, entre outros pesquisadores das imagens apresenta, em
seu sentido mais profundo, uma forma do homem rel acionar -se com a passagem inexorvel do tempo
e a fi nitude do ser, isto , uma forma de escapar da morte. Logo, observar -se- que todo smbolo
ser, de cert a forma, uma tentati va de vencer a morte.
28
indivduo (STRONGOLI, 2005, p. 161). interessante notar tal observao porque
o ponto de partida para Strongoli locali zar estes trs conjuntos simblicos no
enquanto i ntegrantes do Regime Diurno da representao, mas em um espao de
uma modalidade prpria e nica de configurar o Mal (a fi nitude), pois relacionam-se
tanto com o Regime Diurno quanto com o Regime Noturno da representao.
No integram nenhum regime, mas classificam-se como as matrizes,
as macroimagens dinamizadoras do simbolismo de todas as
modalidades do imaginrio, atualizando as formas que o homem tem
secularmente criado para representar o Mal. Constituem, desse
modo, uma primeira etapa eufemstica, porque, recebendo uma
forma concreta, teriomorfa, nictomorfa ou catamorfa, tornam o Mal
objeto de percepo, de reflexo e, consequentemente, conhecido e
mais facilmente combatido. So essas imagens que, na
narratividade, inspiram a criao de personagens, cenrios e intrigas.
(2005, p. 163)
Desta forma, o Mal a finitude, a morte figurado atravs destes trs grupos
simblicos
13
, aos quais nos deteremos agora.
Os smbolos teriomrficos so ligados animalidade, isto , a atributos dos
animais, e no necessariamente aos animais fsicos, nos quais, durante o
movimento simblico, so sobredetermi nadas, ressaltadas, caractersticas
particulares, por exemplo, a animao catica, caracterstica dos grupamentos de
insetos ou animais pequenos como ratos. E esta a primeira manifestao descrita
dos smbolos teriomrficos: o formigamento, relacionado aos esquemas verbais de
agitar, fervilhar, movimentos que podem i nferir uma aura pejorativa quilo que se
agita grupamento de insetos, tais como, larvas, baratas, gafanhotos, ou de animais
pequenos como ratos, cobras, etc. So imagens de movimento que i nferem o
arqutipo do caos, uma projeo da angstia diante da mudana, relacionadas
sempre s primeiras experincias dolorosas da i nfncia que so experincias de
mudana: o nascimento, as bruscas manipulaes da parteira e depois da me e
mais tarde o desmame (DURAND, 2002, p. 74).
Um segundo grupo dos smbolos teriomrficos, formado a partir de um
deslizamento do formigamento, so os smbolos ligados animao, ao movimento
incontrolvel, que, desta vez, relacionam-se a animais maiores, tais como, o cavalo
13
Para Strongoli, as demais representaes do imagi nrio que estari am dispostas em regimes, pois
seriam formas de ao do homem diante do mundo, isto , formas simblicas para neutralizar este
Mal, que sempre forma de ao do mundo exterior sobre o homem.
29
e o touro. Animao a partir da qual se formam as imagens do cavalo fnebre, do
cavalo i nfernal, o cavalo ligado ao trovo, o cavalo ligado ao percurso solar e ao
percurso fluvial
14
, entre outras. Trata-se, portanto, em todos os casos do esquema
muito geral da animao duplicada pela angstia diante da mudana, a partida sem
retorno e a morte (DURAND, 2002, p. 75). Vencer tais animais, em ltima instncia,
significaria vencer a morte.
A segunda manifestao dos smbolos teriomrficos um simbolismo
mordicante, o fervi lhar anrquico da dentio que se transforma em agressividade,
em sadismo dentrio. a boca armada, aberta e cheia de dentes, no a boca que
engole, mas que mastiga, devora. Assim como o esquema do formigamento, o
esquema da animao tambm se relaciona com elementos da ontognese humana
O esquema pejorativo da animao v-se, parece, reforado pelo traumatismo da
dentio que coincide com as fantasias compensatrias da infncia (DURAND,
2002, p. 85). E, igualmente, na boca do animal podem concentrar-se os esquemas
terrificantes da animalidade: a agitao, o sadismo dentrio, os grunhidos, e rugidos
sinistros
15
.
O simbolismo da animao e o simbolismo mordicante so, assim, os dois
temas inspirados pelo simbolismo teriomrfico. O animal assim, de fato, o que
agita, o que foge e que no podemos apanhar, mas tambm o que devora, o que
ri (DURAND, 2002, p. 90)
O segundo grupamento so os smbolos nictomrficos, relativos
noite, s trevas. Este grupamento pode ser relacionado ao temor primordial dos
riscos naturais que a noite, a escurido, representava aos os primeiros homindeos,
os quais tinham na viso o sentido mais desenvolvido e eram desprovidos de garras
ou mandbulas fortes para a defesa como outros animais, tornando-se um alvo muito
mais fcil aos predadores durante a noite. Devido a todas as pedagogias e formas
de socialidade, a noite e as trevas igualmente relacionaram-se depresso, ao
pecado, revolta, ao julgamento, irracionalidade. Alm disso, a noite facilmente
estabelece analogia com o movimento catico, a agitao desordenada, o sadismo
dentrio, smbolos teriomrficos, o que pode ser facilmente verificado na di versidade
14
O touro desempenha papel idntico ao cavalo. O seu vetor essencial o esquema da animao.
Caval o e touro so apenas smbol os, culturalmente evi dentes, que reenviam para o al erta e para a
fuga do animal humano diante do animado em geral (DURAND, 2002, p. 83).
15
pel a boca que Chapeuzinho Vermel ho conhece a verdadei ra i dentidade do l obo, para
exempli ficar com uma narrati va de conhecimento comum.
30
de mitos que relacionam a apario de monstros infernais que se apoderam dos
corpos e das almas ao perodo noturno. As trevas ai nda se ali nham cegueira que,
por sua vez, pode inferir igualmente perda da razo, o que tambm pode ser
percebido na aproximao entre a figura inquietante do cego e do louco.
Outra variao nictomrfica a gua, no o elemento purificador, mas a gua
hostil, a gua negra, a gua nefasta, associada aos atoleiros, aos pntanos e a
morte. Quanto a esta ltima caracterstica, como ressalta Durand, A primeira
qualidade da gua sombria o seu carter heraclitiano. A gua que escorre o
devir hdrico. A gua que escorre amargo convite viagem sem retorno (2002, p.
96). Igualmente, a gua relaciona-se as lgrimas a matria fisiolgica da tristeza e
do desespero ; e ao afogamento.
O smbolo nictomrfico da gua ainda ir deslizar e sofrer uma femi nizao em
decorrncia do isomorfismo entre a ondulao dos cabelos e a ondulao das guas
em movimento no a forma da cabeleira que suscita a imagem da gua
corrente, mas sim o seu movimento. Ao ondular, a cabeleira traz a imagem aqutica,
e vice-versa (DURAND, 2002, p. 99), o isomorfismo com a cabeleira, resulta ainda
na imagem da teia, da aranha e das fiandeiras, ligadas inexoravelmente passagem
temporal, ao desti no, e feminilidade fatal. E, devido femini zao, ocorre um
isomorfismo entre a gua negra e o sangue menstrual o sangue menstrual
simplesmente a gua nefasta e a femini lidade inquietante que preciso evitar ou
exorci zar por todos os meios (DURAND, 2002, p. 109). E como a femi nilidade
relaciona-se estreitamente ao ciclo lunar, a lua tambm constelar como smbolo
nictomrfico. Alm disso, a gua tambm remete a inquietante imagem desdobrada
do espelho, arqutipo de destruio, presente nos mitos de Oflia e Narciso. Aos
smbolos nictomrficos ainda pertencem a mancha, a ndoa, o estigma, a mcula,
matizes morais da culpa. Todos eles, conforme salienta Durand, arqutipos
dramticos da passagem temporal.
Os smbolos nictomrficos so, portanto, animados em profundidade,
pelo esquema heraclitiano da gua que corre ou de cuja
profundidade, pelo seu negrume, nos escapa, e pelo reflexo que
redobra a imagem como a sombra redobra o corpo. Esta gua negra
sempre, no fim de contas, o sangue, o mistrio do sangue que
corre nas veias ou se escapa com a vida pela ferida, cujo aspecto
menstrual vem ainda sobredeterminar a valorizao temporal. O
sangue temvel porque senhor da vida e da morte e porque na
31
sua feminilidade o primeiro relgio humano, o primeiro sinal
humano correlativo ao drama lunar. (DURAND, 2002, p. 111)
A terceira grande epifania imaginria da angstia diante da temporalidade
representada pelos smbolos catamrficos, que residem na di nmica da queda,
quintessncia vivida de toda dinmica das trevas. Quanto origem
anatomofisiolgica, os smbolos catamrficos originam-se do reflexo da
sensibilizao imediata do recm-nascido para a queda, relacionado domi nante
postural Para o bpede vertical que somos, o sentido da queda e da gravidade
acompanha todas as nossas primeiras tentativas autocinticas e locomotoras
(DURAND, 2002, p. 113). A queda, assim, transforma-se em signo de punio e de
pecado. Os smbolos catamrficos tambm sofrem uma femini zao, exemplar no
pecado original, por meio de um isomorfismo entre a queda e os ciclos menstruais, e
ainda pela eufemi zao do terror do abismo que minimizado no medo venial do
coito e da vagina, transformando o ventre em microcosmo eufemizado do abismo. O
movimento da queda igualmente isomrfico ao engolimento, da o i ntestino
enquanto labirinto perverso, vala viscosa, e toda uma valorizao negati va a parte
baixa do corpo, presente na ciso platnica entre alma e corpo e em toda
depreciao judaico-crist do que corporal, mundano, sensualizado
16
.
Desse modo, os smbolos nictomrficos, teriomrficos e catamrficos
representam um isomorfismo contnuo que liga toda uma srie de imagens dspares
primeira vista, mas cuja constelao permite induzir um regime multiforme da
angstia diante do tempo. (DURAND, 2002, p. 120). E, conforme o pensamento de
Strongoli, so percepes que representam aes do mundo exterior no (contra o)
homem.
Em contrapartida negatividade destes smbolos, ergue-se, ponto a ponto, a
estrutura heroica do imaginrio diurno (esqui zomrfica, antittica), representada
pelas imagens do cetro (smbolo ascensional por excelncia) e do gldio (smbolo
diairtico por excelncia), que sero as armas de combate contra a passagem
inexorvel do tempo e angstia diante do fluir temporal
17
. A dominante postural,
com seus derivados manuais e o adjuvante das sensaes distncia (vista,
audiofonao), que orientar o conjunto de imagens deste regime. O esquema
16
No sentido do que perceptvel pelos sentidos.
17
Conforme Durand, A hiprbol e negati va no passa de pretexto para a ant tese (DURAND, 2002,
p. 123)
32
ascensional, o arqutipo da luz uraniana e o esquema diairtico
18
sero as
representaes pontuais contra os smbolos catamrficos (queda), nictomrficos
(trevas) e teriomrficos (animalidade).
As imagens deste segundo grupo na di viso durandiana, seriam o primeiro e
nico grupo de Regime Diurno de acordo com a proposta de Strongoli. No Regime
Diurno, ainda segundo Strongoli,
So privilegiados os processos dialticos, a tendncia abstrao do
meio e inclinao para fragmentar o tema e a forma de expresso,
focalizando a parte e no o todo. Os verbos ou gestos reportam, em
geral, aes que marcam processos de distino, separao ou
afrontamento, evidenciando o pensamento por anttese, a atrao
pela contradio e pelo conflito. Os campos temticos mais
desenvolvidos so os que destacam as matrias luminosas, os
esquemas ascensionais ou espetaculares, expressos em oraes
curtas, em ordem direta, com vocabulrio preciso e com pouca
adjetivao ou complementos. A motivao maior das escolhas e das
combinaes dos processos enunciativos e temticos encontra-se no
desejo de lutar contra o perigo ou contra a ansiedade
(figurativizaes do mal) e de enfrent-los com armas na mo. Essas
armas podem ser o processo de idealizao, o desejo de purificao,
perfeio ou simetria, alm dos princpios de justificao e de
explicao, mas colocados de forma radical, com excluso dos
contrrios, e busca de metas que possibilitem qualquer tipo de
ascenso ou poder. (STRONGOLI, 2005, p. 167)
Os primeiros smbolos positivos originrios da dominante postural e do
esquema de elevao, conforme Durand, sero os smbolos ascensionais. Assim, a
verticalidade representar a escalada contra o tempo e a morte, oposta
simetricamente queda. Considerando a equao de Leroi-Gourhan, a fora
(dominante postural) unida matria (meio csmico) produz os instrumentos,
utenslios ou tcnicas, sendo o instrumento ascensional por excelncia a asa (meio
csmico), representante da ao do voo e do desejo de angelismo, de elevao, de
sublimao, de vontade de transcendncia; e o seu substituto tecnolgico (produto
cultural) ser a flecha que, por tambm corresponder ao raio de luz, acrescenta aos
smbolos da pureza os smbolos da luz.
O que une estes smbolos sempre o movimento da ascenso, e este
movimento que justifica o deslizamento de significado dos smbolos ascensionais
para o gigantizao das imagens, relacionando a potncia ascenso. Desta unio,
18
O termo di airtico origi na-se do grego diairetiks, que signi fica di visvel, decomponvel, ou aquilo
que que diz respeito di viso e a decomposio.
33
surgem os arqutipos do pai, enquanto figura que representa a autoridade jurdica,
moral e social sobre outro (o chefe), e seu desli zamento para a paternidade
fisiolgica, da qual participam os smbolos flicos, que tambm se erguem contra a
queda. H, ainda, uma passagem da verticalidade vertebralidade no culto aos
crnios e na valori zao da cabea enquanto centro e princpio da vida e smbolo da
sabedoria, o que vale igualmente valori zao do chifre e sua relao com o falo.
Os smbolos ascensionais aparecem-nos marcados pela
preocupao da reconquista de uma potncia perdida, de um tnus
degradado pela queda. Essa reconquista pode manifestar-se de trs
maneiras muito prximas, ligadas por numerosos smbolos ambguos
e intermedirios: pode ser ascenso ou ereo rumo a um espao
metafsico, para alm do tempo, de que a verticalidade da escada,
dos btilos e das montanhas sagradas o smbolo mais corrente [...]
Pode manifestar-se, por outro lado, em imagens mais fulgurantes,
sustentadas pelo smbolo da asa e da flecha, e a imaginao tinge-
se, ento, de um matiz asctico que faz do esquema do voo rpido o
prottipo de uma sublimao da carne e o elemento fundamental de
uma meditao da pureza [...] Enfim, o poderio reconquistado vem
orientar essas imagens mais viris: realeza celeste ou terrestre do rei
jurista, padre ou guerreiro, ou ainda cabeas e chifres flicos,
smbolos cujo papel mgico esclarece os processos formadores dos
signos e das palavras. (DURAND, 2002, p. 145).
H um isomorfismo claro entre o celeste e o luminoso. Logo, se o elevado
ope-se a queda, em um segundo conjunto, encontram-se os smbolos
espetaculares, relacionados luz e viso, que iro opor-se ao simbolismo
nictomrfico (das trevas). Entre estes smbolos que encontramos a pureza celeste e
do branco e das cores mais frias (entre as quais se destacam as tonalidades do
azul), o movimento de ascenso e a lumi nosa do sol, a valorizao positiva da coroa
e da aurola; e smbolos que relacionam a luminosidade viso, o olhar-luz, a fora
moral e jurdica do olho do pai, a clarividncia; assim como a lumi nosidade
palavra/som, a palavra luz e potncia. Conforme Durand, constelao simblica
onde convergem o lumi noso, o solar, o puro, o branco, o real e o vertical, atributos e
qualidades que, no fim das contas, so os de uma di vindade uraniana. (2002, p.
147).
Um terceiro grupo liga-se aos smbolos diairticos, pois toda transcendncia
necessita dos mtodos de distino e purificao, isto , exigem um processo
dialtico que confronte os opostos ascenso/queda, luz/trevas. Assim, os smbolos
diairticos sero a representao armada e violenta do regime antittico, schme
34
cortante entre o bem e o mal. So as armas do heri, sejam cortantes, percucientes
ou puntiformes, que inferem a separao, a penetrao ou a perfurao, assim
como as coberturas protetoras, como as muralhas, as couraas, os muros, as casas,
etc., que inferem a di viso entre o externo e o interno. E igualmente so as armas
espirituais, os batismos e purificaes: so as maneiras de distinguir o profano
(estranho religio) do sagrado [...] Para distinguir, usam-se as escarificaes, a
circunciso; para purificar, a gua e o fogo. (PITTA, 2005, p. 29). gua negra, s
trevas e nvoa escura iro se opor a gua lustral, o fogo purificador, o ar
assimilado ao sopro vital.
Gldio, espada de fogo, archote, gua e ar lustrais, detergentes e
tira-manchas constituem assim o grande arsenal dos smbolos
diairticos de que a imaginao dispe para cortar, salvar, separar e
distinguir das trevas o valor luminoso. (DURAND, 2002, p. 179)
Desse modo, o Regime Diurno caracterizado por uma obsesso pela
distino, pela separao, sendo exemplar sua expresso no dualismo platnico e
no mtodo de clareza e de distino cartesiano. Neste sentido, o racionalismo
ocidental prefigurado por uma imaginao diairtica, por uma filosofia do duplo,
por este motivo Durand assinalar que o regime diurno um regime de expresso e
de raciocnio filosficos a que se poderia chamar de racionalismo espiritualista
(2002, p. 180); igualmente, Durand ressalta o parentesco incontestvel do Regime
Diurno da imagem e das representaes dos esquizofrnicos (2002, p. 184), por
isto, Durand denomi na de estruturas esquizomrficas do imaginrio as constelaes
simblicas polarizadas em torno dos dois grandes esquemas, diairtico e
ascensional, e do arqutipo da luz; e o nome esqui zomrficas de fato relacionado
patologia psicolgica, pois cada uma das estruturas do Regime Diurno, quando
supervalorizada como forma de representao do mundo, revela sintomas da
esquizofrenia comumente diagnosticados.
As estruturas esqui zomrficas so quatro:
- a idealizao e o recuo autstico, separao radical da realidade, poder de
autonomia e abstrao do meio ambiente, a qual cria a atitude de representao
denominada viso monrquica, isto , um olhar de cima, aristocrtico, que afasta
(separa) o observador de uma vivncia compartilhada com o observado;
35
- o diairetismo, ligado a faculdade de separar, da qual so caracterstica a
recorrncia de termos, tais como, cortado, partido, separado, fragmentado, com
falhas, despedaado, rodo, dissolvido, entre outros. Em casos patolgicos,
evidenciada na i nterpretao fragmentria caracterstica da esquizofrenia (v-se
apenas a cabea, o pescoo, o brao, etc.), comportamento obsessivo denominado
complexo de gldio;
- o geometrismo, estrutura tambm derivada desta preocupao obsessi va com
a distino. Esta estrutura exprime-se atravs da simetria, do plano, da lgica mais
formal na representao e no comportamento (patologicamente, representada no
doente pela mania de simetria na roupa, da forma de andar em caladas, etc.),
atitude da qual pode decorrer a giganti zao na representao dos objetos que,
sendo tomados em sua indi vidualidade e no em um plano intersubjeti vo, crescem
desproporcionalmente. Esta geometri zao tambm apaga a noo de tempo das
expresses lingusticas em proveito de um presente espacializado, marcado pelo
uso indiscriminado dos tempos verbais, recorrncia de verbos no infiniti vo,
linguagem telegrfica, etc.;
- a anttese polmica, estrutura que marca a caracterstica fundamental do
Regime Diurno, marcado sempre pelo pensamento diairtico e polmico. O
esquizofrnico levar s ltimas consequncias a atitude antittica na separao
entre ele o mundo.
Desse modo, como dispe Durand,
a imagem do gldio, as suas coordenadas espetaculares e
ascensionais que anunciam as estruturas esquizomorfas, a saber, a
desconfiana em relao ao dado, s sedues do tempo, a vontade
de distino e de anlise, o geometrismo e a procura da simetria e
por fim o pensamento por antteses. Poder-se-ia definir o Regime
Diurno da representao como o trajeto representativo que vai da
primeira e confusa glosa imagintica implicada nos reflexos posturais
at a argumentao de uma lgica da anttese e ao fugir daqui
platnico. (DURAND, 2002, p. 190)
Desta forma, as estruturas so regidas pela dominante postural, com seus
derivados manuais e o adjuvante das sensaes distncia (vista, audiofonao)
(DURAND, 2002, p. 443), sob a qual os pri ncpios de excluso, contradio e
identidade, e o esquema verbal de distinguir (subir/cair, separar/misturar) sero
36
exemplares, orientando os arqutipos puro versus manchado, alto versus baixo,
claro versus escuro.
Neste ponto, interessante observar a convergncia da escolha do nome
desta estrutura com a observao que Jung assinala em Psicologia e religio (1978)
sobre a esquizofrenia
19
:
[...] o homem de nossas sociedades industriais culturalmente
condicionado a reagir a situaes de tenso extrema atravs de
comportamentos esquizofrnicos. Contra a abordagem organicista
que busca a origem da psicose no nvel do organismo individual,
Devereux afirma: considero a esquizofrenia quase incurvel, no
porque seja devida a fatores orgnicos, mas porque seus principais
sintomas so sistematicamente encorajados pelos valores mais
caractersticos, mais importantes [...] de nossa civilizao. Por
exemplo: a impessoalidade das relaes humanas; a indiferena
afetiva e o isolamento aos quais o indivduo est sujeito em nossas
cidades industriais; a vida sexual destituda de afetividade e reduzida
ao coito; a fragmentao da coerncia de nossa conduta cotidiana
devida ao fato de pertencermos e atuarmos em diversos grupos que
nos impem papis contraditrios; a invaso de nossa vida rotineira
pelo ideal cientfico da objetividade, criador de um pseudo-
racionalismo, pretensamente oposto ao nosso imaginrio; a perda do
sentimento de engajamento no mundo social, isto , a presena do
sentimento de sermos cada vez mais possudos e manipulados por
foras poderosas das quais dependemos e contra as quais nada
podemos; a confrontao com uma violncia tecnolgica ilimitada e
com a morte desritualizada, absurda, etc. (JUNG, 1978, p. 31)
Diante da face terrvel do tempo, tambm desenha-se outro regime de
representao, e atitude heroica da anttese se vo suceder representaes
plenas de eufemismo e converso, s quais Durand denomina de Regime Noturno
da Imagem, imagens que vo exorci zar a face temvel do tempo no pelas atitudes
de dividir e reinar do Regime Diurno, mas atravs das atitudes de fundir e
harmoni zar.
O primeiro conjunto de smbolos do Regime Noturno ser constitudo pelos
smbolos de inverso, nos quais os smbolos temporais sero eufemizados (ou
desdramatizados) gradativamente, por exemplo, a imagem terrificante da queda
transformar-se- em descida aconchegante. No entanto, como adverte Durand, a
eufemi zao ser sempre um processo delicado, sob o qual rondar
constantemente o perigo da face negativa do schme, por exemplo, a imaginao da
19
Durand, posteriormente, ir dizer que prefere o nome heroico a esquizomorfo, conforme observa
Strongoli (2005, p. 156).
37
descida necessitar couraas, escafandros, um acompanhante por mentor, isto ,
um arsenal mais complexo do que a asa, apangio da ascenso, pois a descida
arrisca-se, a todo o momento, de transformar-se em queda. Alm disso, enquanto a
ascenso apelo a exterioridade, a descida um ingresso sinestsico e visceral,
logo, trajeto marcado pela lentido, pelo cuidado, e pelo calor aconchegante da
interioridade. Os smbolos desse grupamento sero a caverna, o ventre, engolidores
e engolidos, a gulliverao
20
, ou seja, smbolos de encaixamento e redobramento.
Alm da queda, a noite tambm eufemi zada pelo atributo de divina; a noite, assim,
transformar-se- em lugar da incompreensvel comunho, jubilao dionisaca A
esperana dos homens espera da eufemizao do noturno uma espcie de
retribuio temporal (DURAND, 2002, p. 215). A noite tambm se correlaciona
descida pela escada secreta, ao disfarce, fonte, unio amorosa, cabeleira, s
flores, valori zao da mulher, da fecundidade, do centro, do luto, do tmulo, das
cores que no se reduzem dialtica entre claro e escuro, da gua espessa, etc.
Igualmente, aparece a figura das Grandes Mes aquticas, da decorrem os
isomorfismos me, matria, terra, me-terra, ptria, ptria-me (PITTA, 2005, p.
31); e do culto da Grande Me i nsurge uma oscilao entre o simbolismo aqutico e
o simbolismo telrico. Como conclui Durand
Podemos, assim, constatar, para concluir, o perfeito isomorfismo, na
inverso dos valores diurnos, de todos os smbolos engendrados
pelo esquema da descida. O trincar eufemiza-se em engolimento, a
queda refreia-se em descida mais ou menos voluptuosa, o gigante
solar v-se mesquinhamente reduzido ao papel de Polegar, o
pssaro e o levantar voo so substitudos pelo peixe e pelo encaixe.
A ameaa das trevas inverte-se numa noite benfazeja, enquanto as
cores e tintas se substituem pura luz e o rudo, domesticado por
Orfeu, o heri noturno, se transforma em melodia e vem substituir
pelo indizvel a distino da palavra falada e escrita. Por fim, as
substncias imateriais e batismais, o ter luminoso, so substitudos
nesta constelao pelas matrias escavveis. O impulso ativo
implicava os cumes, a descida magnfica o peso e reclama o
enterramento ou o mergulho na gua e na terra fmea. A mulher-
aqutica ou terrestre-noturna com enfeites multicoloridos, reabilita a
carne e seu cortejo de cabeleiras, vus e espelhos. (DURAND, 2002,
p. 235-237)
20
A gulli verizao integra-se, assim, nos arqutipos da inverso, subtendida que pelo esquema
sexual ou di gesti vo do engolimento, sobredet ermi nada pel os simbolismos do redobramento e do
encaixe. inverso da potncia viril, confirma o t ema psicanal tico da regresso do sexual ao bucal e
ao digesti vo. Mas o grande arqutipo que acompanha esses esquemas do redobramento e os
smbol os da gulli verizao o arqutipo do continente e do contedo. (DURAND, 2002, p. 214)
38
O segundo grupo de smbolos do Regime Noturno do imaginrio sero os
smbolos de intimidade. A eufemizao do regime diurno, agora, ir transformar o
tmulo em local de repouso, retorno ao ventre materno, um isomorfismo entre
sepulcro
21
e bero, valorizando a morte, o suicdio, o sono e o sonho; igualmente, a
caverna, a gruta, a casa, o sto, a adega, o barco, o automvel, o ovo, a concha, o
vaso, a taa refgios ntimos, microcosmos do corpo humano e isomrficos ao
ventre materno. Ainda relacionado aos schmes de descer, possuir e penetrar
encontra-se uma transubstanciao atravs da alimentao. O arqutipo primordial
alimentar o leite (primeiro substantivo bucal), mas tambm tem importncia o mel
(do oco da rvore, do seio da abelha ou da flor) e o vi nho (contaminado pelas
imagens csmicas e cclicas de origem agrria), que cria a ligao mstica entre a
beberagem e a reintegrao orgistica e mstica. E ainda, se a fantasia alimentar
carrega-se da tecnologia de bebidas fermentadas e alcooli zadas, isomorfia com a
digesto, tambm o ouro ser valorizado como digesto do metal, equivalente
tcnico do excremento natural
22
, e tambm considerado substncia primeira,
resultado de uma concentrao (centro), como o sal. Os smbolos de intimidade
tambm se relacionam imagem do centro e, por similaridade, da esfera e do
crculo, smbolos de interioridade, de paz; e h, igualmente, um aspecto que liga o
simbolismo do centro grande constelao do Regime Noturno: a repetio, e a
repetio que implicar a ideia de espao e tempo sagrado A dramatizao do
tempo e os processos cclicos da imaginao s vm, parece, depois desse
primordial exerccio de redobramento espacial (DURAND, 2002, p. 249) .
Os smbolos de inverso e os smbolos de intimidade so uma i lustrao das
estruturas msticas do imaginrio, segunda estrutura da representao em Durand,
sendo a primeira do Regime Noturno da imagem.
A palavra mstica significa, na teoria de Durand, incluso. Nas estruturas
msticas do imaginrio, como visto, encontram-se as imagens da interioridade, da
intimidade e da alimentao, que possuem um conti nente e um contedo, tal como o
ato primordial da amamentao.
21
O sepulcro, lugar de inumao, est ligado constelao ctnico-l unar do Regime Noturno da
imaginao, enquant o os ritos uranianos e solares recomentam a incinerao (DURAND, 2002, p.
238)
22
portanto com nat urali dade que o ouro, substncia ntima resultando da digesto qumica, ser
assimilado preciosa substancia primordial, ao excremento. E a substncia, abstrao a partir do
ouro excrement cio, herdar a avareza que, psicanaliticamente, marca o excremento e o ouro. Todo o
pensamento substancialista avaro ou, como escreve Bachelard, todos os realistas so avaros e
todos os avaros realistas (DURAND, 2002, p. 264)
39
Enquanto as estruturas esquizomrficas se definiam de sada como
estruturas da anttese e mesmo da hiprbole antittica, a vocao de
ligar, de atenuar as diferenas, de subutilizar o negativo pela prpria
negao constitutiva deste eufemismo levado ao extremo a que se
chama antfrase. (DURAND, 2002, p. 273)
As estruturas msticas (ou antifrsicas) tambm so quatro: o redobramento e
perseverao; a viscosidade, adesividade antifrsica; o realismo sensorial; e a
miniaturizao (Gulli ver). Como vimos, na li nguagem mstica tudo se eufemiza, a
queda torna-se descida; a mastigao, engolimento; as trevas, noite; a matria em
me; e os tmulos em morada/bero. Todas as estruturas regidas pela dominante
digestiva, com seus derivados adjuvantes cenestsicos, trmicos e os seus
derivados tteis, olfativos, gustativos (DURAND, 2002, p. 443), sob a qual os
princpios da analogia e da similitude funcionam plenamente, e o esquema verbal de
confundir (descer, possuir, penetrar) orientando os arqutipos profundo, calmo,
quente, ntimo e escondido.
Em resumo, podemos escrever que quatro estruturas msticas do
imaginrio em Regime Noturno so facilmente visveis: a primeira
essa fidelidade na perseverao e o redobramento que os smbolos
de encaixe e a sua sntese de redobramento e de dupla negao
ilustram. A segunda essa viscosidade eufemizante que em tudo e
por toda a parte adere s coisas e sua imagem reconhecendo um
lado bom das coisas, e que se caracteriza por utilizao da
antfrase, recusa de dividir, de separar e de submeter o pensamento
ao implacvel regime da anttese. A terceira estrutura, que no passa
de um caso particular da segunda, uma ligao ao aspecto
concreto, colorido e ntimo das coisas, ao movimento vital, Erlebnis
dos seres. Esta estrutura revela-se no trajeto imaginrio que desce
intimidade dos objetos e dos seres. Por fim, a quarta estrutura, que
a da concentrao, do resumo liliputiano, manifesta explicitamente a
grande reviravolta dos valores e das imagens a que a descrio que
o Regime Noturno das fantasias nos habituou. (DURAND, 2002, p.
279)
No que se refere a proposta de diviso de Strongoli, a modalidade mstica ser
a nica pertencente ao Regime Noturno, sendo a modalidade sinttica, que veremos
abaixo, pertencente a um regime que a autora denomina Regime Crepuscular, por
encontrar-se em um movimento dialgico entre o Regime Diurno e o Regime
Noturno. Quanto modalidade mstica, Strongoli observa, como Durand, que as
40
imagens perseveram em um tema, desdobrando-o por metforas, realismo sensorial
e miniaturizaes at destitu-lo da agressividade e do perigo; caracterstico desse
movimento o uso de frases longas, com muitos adjeti vos e complementos; quanto ao
campo lexical, imagens que se reportam ao sentido de proteo e abrigo so
privilegiadas, assim como a recorrncia de nomeao de objetos continentes e
atividades ligadas volta no tempo e inverso na ordem; sendo todas imagens
que inferem uma harmonia na qual o perigo ausente. Devido a estas
caractersticas, conforme Strongoli,
privilegia a temtica relacionada busca da profundidade, da
intimidade, fechamento ou retorno ao centro, empregando verbos
que indicam ao assimiladora, que confundem, que unem,
estabelecem analogias, semelhanas, atenuam diferenas, negam o
que negativo, enfim, criam processos eufmicos e antifrsticos.
(STRONGOLI, 2005, p. 169)
Os outros grupamentos simblicos relacionam-se a dominante copulativa,
rtmica de que a sexualidade modelo. Sua pri ncipal caracterstica a tendncia
cclica, marcada por mudanas, retornos, dias, noites, meses e estaes (MELLO,
2002, p. 78). Gi lbert Durand denominou a constelao de imagens que mantm
estas caractersticas de estruturas sintticas
23
(dramticas
24
) do imaginrio, e
localizou-as enquanto segundo grupamento do Regime Noturno. Strongoli, embora
defenda o mesmo trajeto antropolgico de formao das imagens destas estruturas,
defende sua colocao em um terceiro regime: o Regime Crepuscular do imaginrio;
pois, devido caracterstica cclica destas estruturas, as imagens mani festam-se ora
na postura noturna, ora na postura diurna, estabelecendo uma perspecti va dialtica
e pontuando o sentido de passagem (da a escolha do termo crepsculo). Desta
forma, a autora aponta que este regime orienta-se pela necessidade de equilibrar as
23
[..] porque integram, numa sequncia cont nua, todas as out ras intenes do imaginrio
(DURAND, 2002, p. 235-236)
24
Posteriormente, Durand tambm utilizar o termo disseminatrio, como ressalta em curso realizado
na USP e relatado por Strongoli: Quanto ao tercei ro regime, dei no meu li vro a denominao sinttico
e, depois, disseminatrio, termo que tomei emprestado de Derrida, porque quis mostrar a passagem
de um ponto a outro e nesse sentido dar a ideia de alternncia e tempo. Na formao dos dois
regimes anteri ores, o tempo no intervm, mas, neste, sim. O Regime Disseminatrio aparece
tardiamente, por volta da puberdade, mas no est ligado a esta, pois o exerccio do ritmo precede
puberdade. Mas evidente que o estado que Freud no chama genit al, mas de sexual, em muitos
animais, baseia-se no ritmo. Vamos colocar um vu pudico sobre o homem, mas, se vocs ti verem
animais domsticos no castrados, d para ver, quando el es copulam, que h uma rtmica mais
demorada no cachorro, mas rpida no coelho, e assim por diante ... (DURAND apud STRONGOLI,
2005, p. 158).
41
modalidades objetivas do Regime Diurno com as modalidades subjetivas prprias do
sincretismo eufemizante do Regime Noturno, podendo se falar em um Regime
Crepuscular matutino que valori za as imagens diurnas do enfrentamento do Mal,
mais prximos da diacronia, como as estaes, e um Regime Crepuscular
vespertino que valoriza as imagens noturnas da conciliao diante desse Mal, mais
prximos da si ncronia, como a msica e a dana. Em sntese, Strongoli explica que
na modalidade sinttica do Regime Crepuscular
percebe-se a busca da harmonizao das duas modalidades
mediante a criao de sistemas de sntese e formulaes
conceptuais. Seu princpio a causalidade e seus processos,
sincrnicos ou diacrnicos, desenvolvem a dialtica do tempo e do
espao, promovendo deslocamentos de pontos de vista, progresses
temticas ou argumentativas. As estruturas temticas privilegiam a
expresso dramtica, na qual se alternam momentos de distenso e
de tranquilidade com momentos de tenso e de confrontamento, por
meio de procedimentos textuais que valorizam a historizao com
descries vivas (prximas do regime noturno), mas seguidas de
sntese ( semelhana das estruturas do regime diurno). Os verbos
implicam atividades que destacam a coincidentia oppositorum e os
gestos relacionados ao sentido de ligar ou religar. A motivao maior
dos processos enunciativos se desenvolve em torno da criao de
uma tese que pretende, fundamentada na viso do tempo e do
espao cclicos, eliminar o Mal, transformando o perigo do presente
em recompensa no futuro, ou a morte em renascimento, pela criao
de teorias ou de sistemas filosficos e religiosos. (STRONGOLI,
2005, p. 168)
Mello (2002), em relao diviso de Durand, ressalta, semelhantemente, a
tendncia deste regime em tentar fi xar o passado e dominar o futuro por meio dos
mitos cosmognicos e cclicos, sendo amadurecer, progredir, voltar os verbos
indiciadores dos esquemas verbais que sustentam a ao de ligar, que resume o
eixo semntico da constelao de imagens. Arqutipos como a roda, a cruz, a lua, a
rvore, o germe desdobram-se em smbolos que podem ser o calendrio, o caracol,
a roda de fiar, entre outros. (MELLO, 2002, p. 78). Para Durand (2002), tambm em
sentido muito prximo, a atitude do imaginrio noturno em mergulhar na i ntimidade
substancial e instalar-se pela negao do negativo, tambm caracteriza as
estruturas msticas; e estas caractersticas j so o anncio de uma si ntaxe da
repetio do tempo, na qual o tempo se torna positivo, e a vitria sobre Cronos
ocorre na domesticao do devir, isto , na dominao do tempo. Os arqutipos e
42
esquemas oriundos desta ambio presentificam-se nas mitologias do progresso,
nos messianismos e nas filosofias da histria.
A partir desta perspectiva, os smbolos dessa estrutura agrupar-se-iam em
duas categorias, uma sobre o poder de repetio infinita dos ritmos temporais e
outro no papel progressista do devir. Para simbolizar estes dois mati zes, Durand
(2002) escolhe duas figuras: o Denrio (moeda) imagens dos ciclos e das divises
circulares do tempo ; e o Pau (basto) reduo simblica da rvore com
rebentos, promessa dramtica do cetro.
De um lado teremos os arqutipos e os smbolos do retorno,
polarizados pelo esquema rtmico do ciclo, do outro arranjaremos os
arqutipos e smbolos messinicos, os mitos histricos em que se
manifesta a confiana no resultado final das peripcias da dramtica
do tempo, polarizados pelo esquema progressista. (DURAND, 2002,
p. 282)
E estes mitos sero sempre dramticos (disseminatrios), colocando em jogo
as valori zaes negativas e positivas das imagens.
Os esquemas verbais do denrio, imagem dos smbolos cclicos, sero o voltar
e o recensear, ligados aos arqutipos atributos para trs, passado, e tendo como
arqutipos substanti vos a roda, a cruz, a lua, o andrgi no, e deus plural (a tri ndade).
Neste grupamento simblico, a unificao dos contrrios dar-se- por meio do tempo
cclico, da morte e do renascimento, ser e no ser, forma e latncia, ferida e
consolao, masculi no e femi nino (andrgino), filho e pai como ocorre, por
exemplo, no mito do dilvio ; todos isomorfos do trajeto lunar ou da sazonalidade
da vegetao, o drama agrolunar da sucesso dos contrrios pela alternncia das
modalidades antitticas vida e morte. Tambm so isomrficas a este grupamento
todas as cerimnias iniciticas, que repetem o mito dramtico e cclico do filho
(traduo do androgi nato das divindades lunares, na qual se conserva o masculino
do pai e o feminino da me). So igualmente isomrficos do definhamento agrolunar
os sacrifcios, universalmente prticas litrgicas agrrias, e que funciona como uma
espcie de negao da morte pela morte, pois, o sacrifcio sempre ao de
perspectiva econmica, mercadolgica, a troca de uma vida por outras vidas, a
morte do sacrificado ser a morte da morte dos demais. As prticas da iniciao e
do sacrifcio tambm so anlogas s prticas orgisticas, que so o retorno ao
caos, morte, para a regenerao, renovao.
43
Durand ainda destaca que o animal lunar por excelncia ser o polimrfico
drago e suas derivaes mitolgicas, alado e valori zado diurnamente pelo voo,
aqutico e noturno pelas escamas. Mas tambm participaro deste bestirio os
insetos, os crustceos, os batrquios e os rpteis por suas metamorfoses bem
definidas no tempo. Igualmente, os instrumentos e produtos da tecedura e da fiao
so smbolos universais do devir, mas tambm ricas em simbologias cclicas, na
qual a roda de tear arqutipo principal.
Os esquemas verbais do pau (reduo simblica da rvore), sempre
contami nado pelos arqutipos ascensionais, mas igualmente ligados ao poder
fertili zante da lua, originam os smbolos das mitologias do progresso. O fogo
extrado por frico, tambm ser isomorfo fertilidade lunar (pois o fogo
extrado da madeira atravs da frico). Igualmente, a projeo mundana do
drama sexual encontrar analogia no ritmo musical. Assim, essa constelao ligar
o fogo, a cruz, a frico e o girar, a sexualidade e a msica; e na imagem da
rvore, cclica e smbolo ascensional, que reali za a migrao da fantasia cclica
fantasia do progresso. Desta forma, a rvore imagem recorrente do messianismo,
pois, embora conserve os atributos da ciclicidade vegetal, a ritmologia lunar e suas
infraestruturas sexuais, tambm dominada pelo simbolismo do progresso no
tempo, transformando-se em positividade do devir.
Assim, para Durand (2002), esta segunda fase do Regime Noturno, revela
quatro estruturas bem demarcadas: a estrutura de harmonizao dos contrrios, na
qual a msica e seu simbolismo rtmico sexual, enquanto conciliao dos contrrios
no tempo, funcionam no plano dos contrrios sazonais ou biolgicos e na passagem
do macrocosmo csmico ao microcosmo humano (o zodaco e a astrobiologia, por
exemplo). A estrutura dialtica, na qual a msica e a rtmica sexual no so
harmonia, mas coexistncia de antteses no tempo, tendendo a conservar a todo
custo os contrrios, transformando o sistema imagtico no drama de que a paixo
e as paixes amorosas do Filho mtico so o modelo. A estrutura histrica, que no
busca apagar o tempo, mas uti liza a narrao dos contrrios para aniquilar a
fatalidade temporal; estrutura que est no centro da noo de sntese, sempre
pensada em relao a um devir. E a estrutura progressista que i nstaura o complexo
de Jess, isto , o estilo revolucionrio que pe um ponto fi nal ideal histria, por
exemplo, o messianismo judeu.
44
E a partir das estruturas sintticas que Gilbert Durand destacar o duplo
carter do mito, discursi vo enquanto estrutura diacrnica e redundante enquanto
estrutura si ncrnica. Por isso que, para Durand, todo mito comporta estruturas
sintticas, pois procura do tempo perdido e sobretudo esforo compreensi vo de
reconciliao com um tempo eufemi zado e com a morte vencida ou transmutada em
aventura paradisaca, tal aparece de fato o sentido indutor ltimo de todos os
grandes mitos (DURAND, 2002, p. 374).
Durand, aps a explicao da morfologia classificatria do imaginrio, volta-se
significao do imaginrio, a que ele chama de filosofia do imaginrio ou
Fantstica Transcendental. Para Durand, a histria sempre uma realizao
simblica de inspiraes arquetpicas em constante mudana e, em todas as
pocas, dois mecanismos antagonistas de moti vao arquet pica opem-se
dialeticamente, um opressivo que contami na todos os setores da ati vidade mental, e
o outro que esboa uma revolta, o que confirmaria o movimento pendular da histria.
Neste sentido, no a histria que explicaria o movimento arquetpico das imagens
suscitadas em uma poca, pois a prpria histria pertence ao domnio do imaginrio.
E em cada fase histrica a imaginao est inteiramente presente, sendo um regime
dominante, ou totalitrio, que domi na ostensi vamente uma poca, e, o outro, uma
fora subterrnea antagonista que orienta as imagens de revolta, domnio do
recalcamento. Neste sentido, o purismo cientfico do pensamento uma
manifestao do Regime Diurno, contraposto marginalmente pela imaginao
noturna, presente nas filosofias holsticas e nas curas espirituais o que facilmente
se observa na valori zao da homeopatia e da microfisioterapia, citando exemplos
medicinais.
Desta forma, Gilbert Durand devolve ao imaginrio a primazia da produo dos
sentidos e do funcionamento cogniti vo do homem. O imaginrio, em Durand,
elemento cuja hermenutica revela a face profunda da linguagem, e caminho
interpretati vo obrigatrio para desvelar a intimidade subjeti va. Nas palavras de Ana
Maria Lisboa de Mello, Todo discurso simblico afigura-se como a expresso,
traduo ou interpretao criativa de uma infraestrutura, de uma protoli nguagem ou
de uma vivncia profunda (MELLO, 2002, p. 12).
Alm disso, Durand esclarece que o processo de simboli zao , tambm,
responsvel pelas manifestaes socioculturais do homem no decorrer da histria;
45
logo, entender as imagens de um tempo entender a dinmica social de uma
poca. O imagi nrio transforma o mundo (DURAND, 2002, p. 434).
Abaixo transcrevemos dois quadros: o primeiro, extrado da obra As estruturas
antropolgicas do imaginrio (2002) de Gilbert Durand; o segundo extrado do artigo
Encontros com Gilbert Durand: Cartas, Depoimentos e Reflexes sobre o imaginrio
de Maria Thereza de Queiroz Guimares Strongoli, publicado na obra Ritmos do
Imaginrio (2005), organi zada por Danielle Perin Rocha Pitta.
Classificao isotpica das imagens
Regimes ou
Polaridades
Diurno Noturno
Estruturas Esquizomorfas
(ou hericas)
1 idealizao e recuo
autstico.
2 diairetismo (Spaltung).
3 geometrismo, simetria,
gigantismo.
4 anttese polmica.
Sintticas
(ou dramticas)
1 coincidncia opositorum
e sistematizao.
2 dialtica dos antagonistas,
dramatizao.
3 historizao
4 progressismo parcial
(ciclo) ou total
Msticas
(ou antifrsicas)
1 redobramento e
perseverao.
2 viscosidade, adesividade
antifrsica,
3 realismo sensorial.
4 miniaturizao (Gulliver)
Princpios de
explicao e de
justificao ou
lgicas.
Representao
objetivamente
heterogeneizante (anttese) e
subjetivamente
homogeneizante
(autismo). Os Princpios de
EXCLUSO, de
CONTRADIO, de
IDENTIDADE funcionam
plenamente.
Representao diacrnica
que liga as contradies pelo
fator tempo. O Princpio de
CAUSALIDADE, sob todas
as suas formas (esp. FINAL e
EFICIENTE), funciona
plenamente.
Representao
objetivamente homogeizante
(perserverao) e
subjetivamente
heterogeneizante (esforo
antifrsico). Os Princpios de
ANALOGIA de SIMILITUDE
funcionam plenamente.
Reflexos
dominantes
Dominante POSTURAL com
os que derivados manuais e
o adjuvante das sensaes
distncia (vista,
audiofonao).
Dominante COPULATIVA
com os seus adjuvantes
sensoriais (quinsicos,
msico ritmicos, etc.)
Dominante DIGESTIVA com
os seus adjuvantes
cenestsicos, trmicos e os
seus derivados tcteis,
olfativos, gustativos.
Esquemas
verbais
DISTINGUIR LIGAR CONFUNDIR
Separar =
misturar
Subir = cair Amadurecer
Progredir
Voltar
Recensear
Descer, Possuir, Penetrar
Arqutipos
epitetos
Puro =
Manchado
Claro =
Escuro
Alto = Bai xo para a frente,
Futuro
Para trs,
Passado
Profundo, Calmo, Quente,
ntimo, Escondido
Situao das
categorias do
jogo de Tarots
O GLDIO
A Espada
(O CETRO) O PAU O DENRIO A TAA
Copa
Arqutipos
Substantivos
A Luz = As
trevas
O Ar = O
Miasma
A Arma
Herica = A
atadura
O Batismo =
A
Mancha.
O Cume =
Abismo
O Cu = O
Inferno
O Chefe = O
Inferior
O Heri = O
Monstro
O Anjo = O
Animal
A Asa =
Rptil
O Fogo
chama
O Filho
A rvore
O Germe
A Roda
A Cruz
A Lua
O Andrgino
O Deus
plural
O
Microcosmos
A Criana, o
Peq. Polegar
O Animal
Gigogne
A cor
A Noite
A Me
O Recipiente
A Morada
A Flor
A Mulher
O Alimento
A Substncia
O Calendrio, a Aritmologia,a O Ventre,
46
Dos Smbolos
aos Sistemas
O Sol, O
Azul
celeste
O Olho do
Pai
As Runas
O Mantra
As Armas
A Vedao
A
Circunciso
A Tonsura,
etc
A Escada de
mo,
A Escada,
O Btilo,
O
Campanrio
O Zigurate,
A guia,
A Calhandra,
A Pomba,
O Jpiter, etc
Triade, a Ttrade, a
Asbiologia
Engolidores
e
Engolidos,
Kobolds,
Dactilos,
Osiris, As
Tintas, As
Pedras
Preciosas,
Melusina, O
Manto. A
Taa, O
Caldeiro,
etc.
O Tmulo,
O Bero,
A Crislida,
A Ilha,
A Caverna,
O Mandala,
A Barca,
O Saco, o
Ovo, O Leite,
O Mel, O
Vinho, O
Ouro, etc
A iniciao,
O Duas-
vezes
nascidos,
A Orgia, O
Messias.
A Pedra
Filosofal,
A Msica,
etc.
O Sacrifcio,
O Drago,
A Espiral,
O Caracol,
O Urso, O
Cordeiro
A Lebre,
A Roda de
fiar,
O Isqueiro,
A Baratte,
etc.
Fonte: Durand, Gilbert. As Estruturas Antropolgicas do Imaginrio. Martins Fontes. So Paulo, 2002.
Anexo II. p. 441
Reclassificao isotpica das imagens
REGIME DIURNO
Valor: razo
Smbolos: ascensionais espetaculares - diairticos
Modalidade: heroica/ polmica
Gesto: ascensional e agressivo para enfrentar o perigo da Morte sem recuar
Tendncia afetiva: para a imagem e a funo do pai
REGIME CREPUSCULAR
Valor: ora razo, ora emoo
Smbolos: rtmicos de equilibrao
Modalidade: sinttica/sistmica
Gesto: organizado para transformar o medo em reflexo e a morte em renascimento
Tendncia afetiva: para a imagem e funo ora do Pai ora da Me
REGIME NOTURNO
Valor: emoo
Smbolos: de inverso de intimidade de harmonizao
Modalidade: mstica/eufemstica
Gesto: assimilador e conciliador para criar harmonia e barrar o medo da morte
Tendncia afetiva: para a imagem da Me
Fonte: STRONGOLI, Maria Thereza de Queiroz Guimares. Encontros com Gilbert Durand: Cartas,
Depoimentos e Reflexes sobre o imaginrio. in: PITTA, Danielle Perin Rocha (org.). Ritmos do Imaginrio.
Recife: Ed. Universitria da UFPE, 2005. p. 169.
Poesia e Imaginrio: leitura da classificao isotpicas da imagem de Jean Burgos
Conforme proposto no caminho metodolgico deste trabalho, partimos do
pressuposto que h um esprito
25
na obra de arte, isto , uma espcie de eixo
semntico despertado pelo pathos que nortear a coerncia entre os versos. E
este esprito que ser capaz de provocar no outro o reconhecimento e a vi vncia
25
Aquilo que anima e d coerncia a algo.
47
compartilhada das pai xes e dos sentidos expressos em uma obra de arte. Este
esprito, conforme visto em Durand, formado pelas constelaes imaginrias
suscitadas pelo artista, coerentes a um tema imaginal que responde, de alguma
forma, ao sentimento animado pelo pathos; sempre de forma coerente a seu tempo,
seja concordando com os arqutipos oficias ou discordando das imagens suscitadas
oficialmente e orientando-se pelas constelaes latentes, que sub-repticiamente
transparecem no seio social. Em sntese, o pathos movido pelo poema expresso e
reiterado pela constelao de imagens que o enforma e o anima. Bosi, em
semelhante concepo, afirma que Se o sentimento vi vo e profundo, as figuras
repontaro e a fantasia esttica saber dar-lhes ritmo e coerncia (BOSI, 1996, p.
231).
Ana Maria Lisboa de Mello, orientando-se em semelhante perspecti va,
assevera que Diante do poema, o trabalho do crtico constitui -se em esquadri nhar
imagens e estabelecer elos cujas ligaes formam um tecido semntico, [...] si ntaxe
imagtica textual (MELLO, 2002, p. 59). E este o trabalho a que nos propomos
neste captulo.
Primeiramente, interessante observar a interpretao que Jean Burgos faz da
teoria do imaginrio de Durand. Burgos escolha a poesia forma de ao do homem
no mundo segundo o autor para perscrutar as relaes imagticas; e, em suas
anlises, afirma existir uma Sintaxe do Imaginrio, isto , uma coerncia alm da
estreita coerncia racional que rege a escrita potica.
Burgos, semelhante a Durand, chamar de esquemas (schmes), estruturas a
priori que orientam a juno na sintaxe imagtica, os elos ou linhas de fora que
organi zam o discurso potico. Mello, neste sentido, salienta que Burgos considera
que os esquemas so trajetos encarnados em representaes concretas precisas e,
nesse sentido, inseparveis das imagens que vo engendrar, informar, reagrupar,
uma aps a outra, permitindo identificar a escrita potica (2002, p. 99).
Burgos recusa o hermetismo crtico que na interpretao potica recobre o
texto com um jargo obscuro e o destitui de seu fetichismo original. Para o autor, a
escrita potica lugar de reconciliao da angstia e do desejo, e deve ser
observada a partir do jogo com a temporalidade estabelecido pelo imaginrio na
tentati va de domin-la, angstia diante que comanda a ordenao das imagens,
conforme postula Durand.
48
Alm disso, Burgos afirma que existe um modo especfico de o tecido textual
determinar a leitura, ou seja, o texto que impe sua leitura, e essa determi nao,
conforme observa Joachim sobre a obra de Burgos, decorre da organizao
intrnseca das imagens que coage o leitor, o obriga quase a palmilhar certos
caminhos, a revi ver a experincia criadora. (JOACHIM, 1996, p. 130); caso
contrrio, toda interpretao e crtica seriam possveis. Ler aderir, dinamicamente,
a certas imagens do texto, no fugir do texto e interpret-lo (BURGOS apud
JOACHIM, 1996, p.135).
O imaginrio, desta forma, apresenta uma rigorosa sintaxe, uma coerncia
interna, que demanda do leitor burgosiano duas aes essenciais: a) mostrar a
maneira como uma imagem procede outra; e mostrar como as imagens
organi zam-se em constelaes di namizadas pelos elementos que as compe, e
como essas constelaes dinami zam o texto que elas escrevem (JOACHIM, 1996,
p.136). Assim, cabe ao leitor
26
encontrar a dinmica que move e organiza o
funcionamento da cadeia de imagens dentro da obra potica, isto , capturar o
universo imagtico do poema, que sempre determi nado por uma si ntaxe do
Imaginrio, rigorosa como a sintaxe lingustica, mas regida por outros pri ncpios.
Como vimos, a proposta de Burgos muito semelhante a proposta de Durand,
a maior diferena Burgos considera que a primazia da ordenao das imagens
deve-se a sintaxe imagtica mais do que ao trajeto antropolgico das imagens
estabelecido por Durand, que, para Burgos, pode acabar por engessar a leitura das
imagens, desrespeitando sua organizao prpria e coerente dentro da obra potica.
Conforme Joachim, a gentica de Burgos se parece com o fluir-para-um-vir-a-ser da
esquizoanlise de Deleuze-Guatarri, neste sentido que se compreende o conselho
[...] no v buscar a origem dos princpios e dos quadros que
presidem ao estabelecimento e ao funcionamento da imagem,
porque uma tarefa estril que se cumpre em detrimento do
essencial, este sendo a descrio ou explorao de todo o campo do
texto, de sua semntica especial e de sua lgica pluridimensional,
fundada na natureza mesma da imagem. (BURGOS apud JOACHIM,
1996, p. 139)
Ou seja, a diferena pri ncipal reside no fato que a antropologia cultural de
Durand busca entender a ontognese do homem, enquanto a Potica do Imaginrio
26
No usamos intrprete ou crtico porque este o termo preferi do por Burgos, que v nos outros
reducionismos hermenuticos.
49
de Burgos quer habitar a imagem do texto. Logo, Burgos quer evitar reduzir a
produo potica semntica das imagens quando, para o autor, a sintaxe
estabelecida no poema que ordena as imagens, ou seja, para Burgos, a imagem
no est impreterivelmente presa a seu agrupamento em constelaes mais ou
menos constantes, o que significaria reduzir toda produo imaginria ao contedo
semntico das imagens. Ao contrrio, a sintaxe imagtica dinmica, e adquire
coerncia funcional no interior do texto. Conforme observa Mello, Na sua
organi zao, Burgos considera que a sintaxe que, ordenando as imagens, permi te
a criao [...] Tal concepo, segundo Burgos, descarta a ideia da imagem presa a
um contedo substanti vo dado, pri vilegiando seu funcionamento di nmico (MELLO,
2002, p. 119-120). Assim, o sentido estabelecido a partir dos itinerrios textuais,
cujas determi naes so, ao mesmo tempo, a funo simblica da imagem e a
modalidade de estruturao ditada pelo esquema (p. 120).
Em outras palavras, para Burgos, une-se a convergncia das linhas de fora ou
esquemas (schmes) interiores ao texto aos esquemas (schmas) organizadores
das estruturas do imaginrio no estabelecimento da sintaxe imagtica
27
. Assim, a
identificao da sintaxe do imaginrio repousa sobre o estudo das relaes e modos
de relaes, a saber: das imagens e constelaes de imagens; das relaes dos
esquemas entre si e desses com o esquema organi zador (MELLO, 2002, p. 121).
Em sntese, no h como visuali zar a imagem isoladamente, sem interpret-la de
acordo com o sistema que se insere no texto, sem, no entanto, assumir que uma
imagem possa estabelecer qualquer sentido, pois, neste caso, voltar -se-ia a
anarquia interpretati va; o que Burgos quer destacar, primordialmente, a
plurissignificncia da imagem que, devido a sua amplitude, s pode ser
compreendida dentro de uma sintaxe imagtica textual.
Alm disso, fundamental observar que Burgos afirma que a dinmica do
imaginrio dirigida pela seleo lexical dos verbos, isto , as imagens definem-se
nas orientaes emanadas da semntica dos verbos.
Quanto aplicao dos regimes do imaginrio ao texto lrico, Burgos ainda
prope outra formulao, no organi zada a partir dos processos/aes de separar,
incluir, e dramatizar conforme a proposta de Durand em As estruturas antropolgicas
27
Segundo Ana Mari a Lisboa de Mello em Poesia e imagi nri o (2002), o termo schme, em francs,
uma forma de movimento interior e no a representao de uma forma, enquanto schma um
esboo, um plano, uma representao simplificada e funcional do obj eto (p. 123).
50
do imaginrio, mas a partir de outras trs grandes foras orientadoras que o autor
denominara de posturas: a postura de revolta, a postura de negao e a postura de
aceitao (MELLO, 2002)
28
.
A primeira postura, de revolta diante da passagem temporal, gera a primeira
modalidade de estruturao do imaginrio, que a de conquista ou regime
antittico, marcada pela no aceitao do fluir temporal, tendo por esquema diretor
que organi za a modalidade de preenchimento, de ocupao, de tomada de posse do
espao, atitudes que tem o intuito de deter a passagem temporal, pois ocupar os
espaos representariam preencher i nteiramente o presente e imobilizar o tempo;
aes auferidas por meio dos mais heterogneos modos de ocupao e de posse
dos espaos. Desta forma que se defini a anttese, na oposio de foras
antagnicas na luta pelo espao. A escrita de revolta , neste sentido, uma tentativa
de deter a passagem do tempo por meio de imagens que manifestam o desejo de
conquista espacial em todas as direes em uma batalha antagnica.
[...] os esquemas de ascenso e expanso opem-se aos de queda e
ameaa de invaso progressiva; os esquemas de extenso,
crescimento e aumento lutam contra perigos iminentes de
estreitamento, apequenamento, apagamento; os esquemas de
multiplicao proliferam ao contato com a solido e isolamento. A
escrita de revolta projeta-se assim, tendo por fundo o seu contrrio.
(MELLO, 2002, p. 101)
A outra grande postura a de negao, que gera a segunda modalidade de
estruturao di nmica que a de negao do tempo ou regime eufmico, no qual a
passagem temporal ignorada, ensejando uma escrita de negao e a construo
de refgios, a busca de lugares fechados, a delimitao progressiva de espaos no
espao, que podem ser espaos protegidos, lugares de conforto temporrios, ou
espaos protetores, lugar permanentemente livre de intempries. H uma tendncia
na reduo dos espaos como ao contra a passagem temporal, busca da
perenidade fora do tempo cronolgico. Os esquemas de fuga, interiorizao,
descida, recolhimento, sepultamento e at apagamento ou fuso respondem a essa
tendncia, garantida por imagens que sugerem outros espaos para outro tempo ou
velam seus contornos desenhando imagens em lugar de estados (MELLO, 2002, p.
105). Isto , uma escrita de espaos conquistados ou reconquistados, de construo
28
Toda a estruturao do imagi nrio de Burgos presente neste trabal ho retirada da obra Poesia e
imaginri o (2002) de Ana Mari a Lisboa de Mello.
51
de refgios cada vez menores, locais secretos e longnquos, certa fuga (negao) do
tempo que valori za dois tipos de refgios. O primeiro, o espao protegido, abrigo,
por vezes precrio, onde o eu-lrico pode refugiar-se, tais como, o ventre, o castelo,
a ilha, entre outras.
O primeiro grupo de esquemas advindo do espao protegido o da conquista
progressiva de um espao refgio, secreto e ntimo, que ocorre a partir da
atenuao ou apagamento dos obstculos, mas que subsistem em uma continua
ameaa que exige sempre uma fuga para mais longe ou uma descida mais
profunda. Participam aqui os esquemas de decida, de recolhimento e de penetrao,
enfim, sempre um adentramento progressivo. O segundo grupo de esquemas do
espao protegido configuram a segunda modalidade de estruturao do imaginrio
da negao, o recolhimento interior, a imerso na interioridade. O refgio tambm
pode ocorrer atravs da criao de um lugar idealizado, de um espao paradisaco
imaginrio.
O segundo grupo de esquemas dessa modalidade a restrio espacial
contnua, que no ocorre mais de modo progressi vo e li near como o anterior, e que
origina o esquema de fechamento em um espao anlogo ao mundo exterior, mas
mais restrito, nos quais a hipertrofia da proteo leva mi ni aturizao do local de
refgio, e para os quais necessria uma trajetria solitria.
O terceiro grupo de esquemas dessa modalidade o de compresso,
minimizao e miniaturizao do espao refgio, que pode chegar ameaa de
apagamento ou desaparecimento progressivo, imagens que invertem as
perspectivas de grandeza com a inteno de resistir dissoluo do meio onde se
vi ve. O espao pequeno proporciona a paz e a segurana ao eu-lrico
O quarto grupo de esquemas dessa modalidade rene modos de ocupao e
arranjo dos espaos miniaturizados, nos quais, conti nente e contedo vo se fundir;
Esquemas de tomada de posse, no mais de modo dominador, mas
conciliador; esquemas de sepultamento, de fuso sob diferentes
formas, agregando imagens de intimidade [...] atenuao e at
abolio dos contrrios, que , segundo Burgos, o melhor signo de
identificao desse tipo de escrita (MELLO, 2002, p. 114).
A ltima postura a de aceitao, que gera a terceira modalidade de
estruturao: a de progresso ou de regime dialtico. Esta modalidade contrria s
anteriores e insere-se no sentido da cronologia, aceitando a passagem temporal e
52
reconciliando-se com esta condio; no procurando mais um refgio do tempo ou a
fixao de um eterno presente. Esta modalidade utili za a repetio cclica do tempo
para atingir a perenidade, i nsere-se, assim, no ciclo temporal, fi nge submisso
passagem do tempo para tentar ultrapass-lo. Logo, escrita de dissimulao,
ardilosa, o tempo, em seu desenrolar cclico, aparece como criador, parte da
condio do ser o eu-lrico visualiza o eterno retorno. Nesta modalidade aparecem
ideias de oposio como dia/noite, alegre/triste, breve/eterno, etc., e sua tendncia
cclica isomorfa ao ritmo musical pelas caractersticas da msica j ci tadas em
Durand. A escrita que procede deste esquema no tem necessidade de conquistar
espaos ou de ocupar espaos privilegiados (refgios), mas habita o espao profano
que, progressi vamente, prestigia, atravs da prpria valorizao do tempo que a
orienta (MELLO, 2002, p. 117-118).
As imagens dessa modalidade de extenso espacial, de caminho a percorrer,
de medidas de espao caracterizam-se por manifestar a progresso e sucesso
de seus estados e etapas, e fornecer elementos para a progresso, imagens que
gravitam em torno de uma relao a estabelecer, de uma ligao a garantir, de
obstculos a superar, [...] imagens de semeadura, germinao, frutificao, do fogo
regenerador, do recomeo e do eterno retorno (MELLO, 2002, p. 118). Sempre
imagens que procuram desfazer as armadilhas da temporalidade e fazer a
passagem da finitude infinitude. Burgos acrescenta tambm a esta modalidade,
conforma assi nala Mello,
os esquemas progressistas e lineares, cclicos ou regeneradores,
rtmicos que contm os dois anteriores , os esquemas dramticos,
que, pondo em cena peripcias de diversas histrias, tornam-se
organizadores da histria, os escatolgicos, que fazem a histria
desembocar sobre a no histria, todos eles incluem ou supem a
continuidade no e fora do tempo e uma relao entre tendncias
opostas (MELLO, 2002, p. 118).
Esta escrita, desta forma, transcende a finitude em um cami nho contnuo de
superao de obstculos, convi vendo com as oposies a fim de super-las. Abaixo,
transcrevemos dois quadros organi zadores das modalidades do imaginrio por
Burgos, um extrado da obra Poesia e imaginrio (2002, p. 123) de Ana Maria de
Lisboa Mello; e outro extrado do artigo A potica do imaginrio: uma i ntroduo a
Jean Burgos de Sbastien Joachim (1996, p. 129), respecti vamente.
53
Modalidades do imaginrio propostas por Burgos
CARACTERSTICA/
TIPOS
RELAO COM O
FLUXO TEMPORAL
ESQUEMA
DIRETOR
(SCHMA)
ESQUEMAS OU LINHAS DE
FORA (SCHMAS)
1 Conquista ou
regime antittico
Revolta cont ra o fl uir
temporal
Preenchimento
do espao
Esquemas em oposio;
- ascenso/queda
- expanso/invaso
- extenso/ estreitament o
- Crescimento/
apequenamento
- aumento/apagamento
2 Negao ou regime
eufmico
negao do tempo
cronol gico
Busca de
refgi os
espaciais
Esquemas de oposio:
- conquista progressi va de
refgi os espaciais
- reforo de espaos espaciais
- fechamento em
determinados espaos
- prot eo contra invasores
- fuso
3 Progresso ou
regime dial tico
aceitao do tempo
cronol gico
Insero no
progresso
temporal
Esquemas de Oposio:
- progresso linear espao-
temporal
- concepo cclica de tempo
ou regeneradora da vida
- inventrios, balanos de
trajetria empreendida
Fonte: MELLO, Ana Maria Lisboa de. Poesia e imaginrio. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
Sintaxe do imaginrio
1 MODALIDADE:
Escrita de Revolta
I Posse do espao
II Sint axe da Ant tese
2 MODALIDADE:
Escrita de Recusa
I Regime do Eufemismo/ da Atenuao
a) Progresso para um l ugar secreto
Descida
Enclausuramento
b) Reduplicao (dupl o)
Englobamento/ encaixes
c) Apagamento (apert ar, restri ngir, dimi nuir)
d) Conciliao na posse (comunho,
enterramento)
II Formas de Esquema de Recuo
3 MODALIDADE: a Astcia ou Regime di altico
ou busca da Eterni dade
I Imagens da Progresso
a) Extenso espacial e Li nha de horizonte
Cami nho a percorrer, Medi da,
Agrimensura (ex: Teatro Cl audeliano)
b) Imagem da Relao a estabel ecer, da
ligao a assegurar, do obstculo a
superar, do limite a ultrapassar, (ex: St.
Exupry, Lawrence, Sade)
c) Imagem de Semeadura, germinao,
Maturao/Amadureciment o, fruti ficao,
fogo regenerador, Reiniciao, Eterno
Retorno (ex: Giraudoux, Eluard, Aragon)
II Esquemas que encurvam imagens
heterclitas para uma convergncia especfica
54
a) Esq. Progressista e lineares
b) Esq. Geradores e cclicos
c) Esq. Rtmicos (renem tempos fortes e
tempos fracos de (a,b).
d) Esq. Dramticos (peripcias de vrias
histrias e viso global desses
acontecimentos)
e) Esq. Escatolgicos continuidade no
tempo:
- fim dos tempos;
Alm e fora do tempo.
Fonte: JOACHIM, Sbastien, A potica do imaginrio: uma introduo a Jean Burgos (1982). Signtica: Gois. n.
8. jan./dez., 1996. p. 129.
O imaginrio de Claudia Roquete-Pinto
por meio do imaginrio que o homem constitui os sentidos que atribui ao
mundo exterior e a sua prpria interioridade. Sendo o imaginrio passvel de
estruturao, conforme observamos anteriormente, buscaremos encontrar as
imagens mais recorrentes na lrica de Claudia Roquette-Pinto, a fim de determi nar
qual o regime do imaginrio que orienta sua produo lrica.
A primeira imagem que observamos com frequncia na lrica de Claudia a
imagem da queda, como no poema, intitulado queda, da obra margem de manobra
Corpo, precipcio
em que desabalar-se
sem rdea, poo sem
resqucio de gua, frrea
determinao de escapar,
ileso, da queda inconclusa
(enquanto o elevador perde o freio
dentro da blusa e s pra
a um zilmetro do que realmente interessa).
A nossa pressa em jogar por terra
os argumentos (luva
em convite ao duelo),
partir, com dentes e unhas,
para o sequestro dos sentidos,
destros porm contidos,
cegos embora atentos,
lentos, soltos no abandono,
um dentro do outro caindo
sem nem um segundo lembrarmos
(ou esquecermos)
55
quem somos.
(ROQUETTE-PINTO, 2005, p. 14)
A partir de uma anlise dos verbos, o primeiro movimento marcado pelo
desabalar-se , no contexto semntico intratextual em que se insere, i nfere a ao
de cair, sentido depreendido das palavras precipcio, queda, poo. A dinmica
da queda, smbolo catamrfico, originria do reflexo postural de sensibilizao
imediata do recm-nascido a postura ereta, nas mais diversas manifestaes
humanas, signo de punio, pecado, degradao, morte.
Contra a morte representada no smbolo da queda, o imaginrio tem opes
diversas segundo as teorias de Durand e de Burgos. Pode constituir-se a partir de
um esquema de oposio, inscrito, conforme sugere Burgos, na dicotomia
ascenso/queda, a qual se insere na postura antittica de revolta, marcada pela no
aceitao do fluir temporal. Tambm pode, segundo Durand, a partir da domi nante
postural e do arqutipo alto/baixo, caracterstico do regime antittico diurno,
antittico, que valoriza a atitude do separar, opor morte representada na queda
uma constelao de imagens de ascenso.
Sob este movimento de anttese, inscreve-se uma intensificao dos sentidos.
A queda no poema de Claudia Roquette-Pinto agressiva sem rdeas, poo
sem resqucio de gua , periculosidade hipertrofiada que sugere a situao
inescapvel, o movimento irrefrevel da morte. Em contrapartida violncia da
queda, o movimento do eu-lrico tambm possui a fora aumentada frrea/
determinao de escapar,/ ileso, e a agressividade do movimento de queda
atenuado por sua condio de inconclusibilidade, o eu-lrico tenta escapar veemente
de uma queda inconclusa, isto , marcada j na origem por uma impossibilidade.
Desta forma, o primeiro movimento do poema, antittico por excelncia, j aponta
para uma constituio de sentido que ir alm da contraposio inscrita na atitude
heroica do Regime Diurno do Imagi nrio. Assim, a tenso queda/fuga suspensa.
Em seguida, uma sensualidade corporal sugerida pela imagem dentro da
blusa (trazendo tona outra isomorfia da queda, o pecado da luxria) contrape-se
queda, enquanto Tnatos, com uma fora ertica, pulso de vida. Estabelece-se
outra forma de tenso entre a vida e a morte, o que faz com que a terrificante
imagem da queda contraponha-se dialeticamente a um xtase sensual, mas o
movimento no apresenta sntese, pois margeia os limites sem transp-los,
56
inconcluso, para a um zi lmetro do que i nteressa. Esta ausncia de sntese, para
Maffesoli , a marca do sentimento trgico da existncia: nada se resolve numa
superao sinttica, tudo vivido em tenso, na i ncompletude permanente (2001,
p. 79).
Tal jogo dialtico prossegue no poema em contraposies entre razo e
emoo, aos argumentos que se jogam por terra contrape-se o duelo com dentes e
unhas, e na contraposio aparente nos sentidos destros e contidos, duas
caractersticas que se opem diametralmente a evaso sentimental.
Ao jogo dialtico sucede um desejo/possibilidade de juno que tambm no
se resolve. Argumentos e sentidos, um dentro do outro, caindo, inferem a
indetermi nao do eu lrico na diviso entre a razo de Apolo e o hedonismo de
Dionsio.
Este movimento de dialtica dos antagonistas caracteri za as estruturas
sintticas (ou dramticas) do regime noturno do imaginrio, espcie de dramatizao
rtmica que visa dominao do tempo. Esta estrutura do imaginrio noturno
orientada pela dominante copulati va, o que justifica uma sensualidade frequente e
certo xtase corporal na vertigem da queda. H um prazer revelado na experincia
de situaes limtrofes, representada pela sensuali zao da queda que se ope
retido da razo. Assim, o desejo pela queda, embora apenas aproximando-se
seguramente das zonas limtrofes, inscreve-se em uma aceitao/dissimulao do
ciclo temporal pela valori zao progressiva da queda, aparente na ao contnua do
verbo caindo.
Neste movimento de aceitao/dissimulao, constitui-se o lirismo vivenciado
pelo corpo e pela sensualidade de Claudia Roquette-Pinto. A queda amaina-se
quando sentida pelo corpo, quando reduzida ao espao da blusa, contida em uma
recluso espacial na qual pode ser domi nada. O corpo que cai se sensualiza
medida que rompe a agressividade da luta pelos espaos do regime antittico diurno
(Durand) e da postura da revolta (Burgos), pr-disposio j presente na falta de
marcao temporal dos verbos que inferem a queda desabalar-se, jogar por terra,
e principalmente na ao contnua marcada pelo verbo cai ndo.
No poema cinco peas para silncio, de zona de sombra (2000), esto
presentes a repetio da imagem da queda (smbolo catamrfico) e, tambm, a
imagem da sombra (smbolo nictomrfico). Nas pedagogias do imaginrio, a juno
entre queda e sombra (escurido, negrume) comum e recorrente nas imagens do
57
precipcio, do poo, do abismo, entre outras. No poema, dividido em cinco partes,
queda, silncio e sombra so as imagens principais que compe um ambiente de
descida interioridade, movimento que representar a soluo para a queda no
Regime Noturno da imagem, isto , agressividade terrificante da queda ope-se
uma constelao de imagens que inferem um movimento aconchegante e suave, a
descida relembrando que a cautela da descida uma diferena crucial da
veemncia da queda. Na primeira parte, a encena-se uma descida delicada e
controlada.
empresta silncio ao silncio
como sobre a superfcie
das guas um vento casse
mas imvel, sem que tmpano
algum se ferisse
sem que a ptala da gua enrugasse
vento soprando de dentro
do vento, a resistir-se
intento na corrida, em riste
o prprio pulso a dom-lo
trazendo seu movimento
de homem com cavalo
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 27)
O caminho interioridade requer todo o cuidado, e o silncio uma das
precaues. A descida, comparada ao vento que cai sobre as superfcies das guas,
silenciosa e cautelosa, nem a ptala da gua se enruga. Nestes versos, notamos a
presena das estruturas msticas (antifrsicas) do imaginrio noturno, nas quais os
perigos da queda so contrapostos pela imagem da descida. No poema, a queda ao
desconhecido torna-se descida interioridade, principalmente, pelo esquema
simblico do engolidor/engolido, desdobramento do arqutipo continente/contedo,
caracterstico do Regime Noturno do imaginrio, visvel nos versos vento soprando
de dentro/ do vento. Alm disso, h um realismo sensorial presente na descida,
aparente na analogia ttil entre a superfcie da gua e a ptala de flor, e no pulso
que doma o cavalo, mostrando outra caracterstica da poesia de Claudia Roquette-
Pinto, uma preferncia pela sensualidade corporal, pela sensao tti l. E ai nda,
semelhantemente a descrio de Durand da descida enquanto movimento
interioridade, isomorfia da descida ao aconchego do ventre materno, Bachelard
assinala que na Descida sem queda. Nessa profundidade indetermi nada rei na o
repouso femini no. (1988, p. 59)
58
No ltimo verso, ai nda aparece imagem do cavalo domado. Smbolo
teriomrfico ligados animao, ao movimento incontrolvel, no Regime Diurno, o
cavalo representado pelas imagens do cavalo fnebre, do cavalo infernal, entre
outras, todas ligadas ao percurso solar e/ou fluvial, imagens que i nferem a angstia
diante da mudana, da partida sem retorno que a morte. No entanto, no poema, a
valorao negativa do smbolo teriomrfico i nvertida; trata-se de um cavalo
domado, do tempo domado pelo pulso do homem que guia seu movimento, imagem
na qual transparece certa valori zao da razo na dominao da natureza pelo
homem, revelando uma poesia que dialoga com os regimes em ricas imagens nas
quais o imaginrio traduz uma complexidade antagnica de sentimentos
caractersticos do nosso tempo, como a sensualizao hedonista da vida oposta a
dominao racional da natureza, inclusive da natureza humana, caracterstica de um
pensamento tanto religioso quanto cientfico que exorci za o domnio das pulses
sensuais enquanto smbolo da queda no pecado ou na irracionalidade.
Na segunda parte do poema, a calmaria da descida contraposta pelas
imagens do salto, do arremesso, da queda, estabelecendo, novamente, uma
dialtica das diferenas que tende a sensualizao/corporificao das impresses.
evita o que d ao silncio
ausncia de sombra, plancie
paisagem onde aterrissam
os tmidos, ptios de impasses
assiste em silncio o exerccio
do salto,
do que, maarico,
leve se arremessa
quando corpo, ora em pedra
ora em gua precipita e
os gestos da gua imita:
levita em convite queda
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 28)
Esta parte i nicia com um conselho: evitar o que d ao silncio ausncia de
sombra. O princpio do movimento dialtico comea pela recusa s imagens
luminosas, que ameaam romper o ambiente crepuscular da descida, ressaltando
outra caracterstica da poesia de Claudia Roquette-Pinto, a preferncia pela sombra,
que inclusive aparece no nome da obra. Os movimentos bruscos, o salto e o
arremesso tambm se contrapem dialeticamente a descida, e a agressi vidade da
queda eufemizada, novamente, pelo movimento sensual do corpo, constitudo por
59
outra oposio, corpo que ora pedra, ora gua. No ltimo verso, contrapem-se o
cair ao levitar, uma espcie de imagem sntese da dialtica na qual se inscreve o
poema; mas o movimento dialtico, em si, no se resolve, movimento que, conforme
ressaltamos, imagem da insurgncia de um hedonismo que, conforme Maffesoli,
caracteriza nosso tempo.
um esprito do tempo feito de hedonismo, de relativismo, de viver o
presente, e de uma espantosa energia concreta e cotidiana,
dificultando uma interpretao em termos de finalidade, de sentido da
histria ou outras categorias econmicas-polticas com as quais
costumamos analisar o vnculo social. (2001, p. 66)
Conforme ainda expe Maffesoli, com certa ironia resistncia da razo
tcnico-cientfica, Dioniso
29
o esprito demonaco que vem perturbar as certezas
estabelecidas e as instituies pesadonas. Instaura a desordem, reinstaura a
circulao prpria da vida. (2001, p. 127).
Na terceira parte do poema, a lumi nosidade j i ntensa, e representada nas
imagens do sol e do incndio, ressaltada e valorizada, assim como a
sensualidade. Neste momento, o movimento do eu-lrico torna-se metalinguagem da
composio potica, outra caracterstica recorrente em toda obra de Claudia
Roquette-Pinto a reflexo sobre a composio potica. E o redobramento do
esquema continente/ contedo reaparece na imagem do corpo dentro do corpo.
corpo deitado ao silncio
sob o sol, exposto
ao incndio de outro rosto
todo ele ateasse
surgindo, vertiginoso,
das cinzas do gozo, em nudez
assim a palavra retorna
a sua ntima forma
que o olho, pena, intura
(por dentro do corpo (disfarce
contra o silncio) respira
outro corpo a imantar-se)
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 29)
29
Maffesoli aponta que, para Gilbert Durand, a fi gura de Dioniso poderia perfeitamente ser o mito
encarnado de nossa poca. (2001, p. 66). Esta perspecti va ser mais bem abordada no captulo
Jardim Social
60
A um surgimento vertiginoso do corpo, da sensualidade, agora tambm palavra
potica, que se intensifica nestes versos, e da alteridade, do corpo do outro. Assim,
voltando-se composio potica o poema inscreve-se na instncia da alteridade,
da diferena, totalmente oposta ideia de identidade, do ser representado por um
conjunto de marcas prprias, pois a obra literria constitui -se no jogo entre
alteridades, no dialogismo, na encenao/acontecimento da vida compartilhada, poi s
todo poema dilogo, mesmo que o interlocutor esteja ausente enquanto pessoa,
sua presena de interlocutor nunca desaparece. Alm disso, Eros tambm sempre
relao com a alteridade, conforme Maffesoli em O tempo das tribos: o declnio do
individualismo nas sociedades de massa (1998), aquilo que caracteri za a esttica do
sentimento no de modo algum uma experincia individualista ou i nterior, antes
pelo contrrio, outra coisa que, na sua essncia, abertura para os outros, para o
Outro. Ou ainda, como ressalta em Sobre o nomadismo: vagabundagens ps-
modernas
[...] contrariamente ao que prevaleceu na economia de si e na
economia do mundo prprias do individualismo burgus, ser fora de
si um modo de se abrir ao mundo e aos outros. Nesse sentido, os
diversos xtases contemporneos, de qualquer ordem que sejam:
tcnicos, culturais, musicais, afetivos, reafirmam o antigo desejo de
circulao. Circulao dos bens, da palavra, do sexo, fundamentando
todo conjunto social, e fazendo-o perdurar em seu ser: o devir. (2001,
p.32)
E na imagem corpo que aponta para o movimento de sada que justamente
acontece o encontro com o outro, i nverso da direo da interioridade que se
estabelece quando o tema torna-se a metalinguagem. A palavra, surgida da fora
centrfuga exercida pelo aparecimento do corpo, tambm retorna a sua forma ntima
em movimento centrpeto, e constitui-se enquanto palavra potica tanto na
aproximao com a interioridade, aparente no reduplicamento recorrente do corpo
dentro do corpo, quanto na aproximao com a alteridade, aparente na imagem do
outro corpo.
Na quarta parte do poema, as imagens, antes opostas diametralmente, tendem
a uma posio de sntese.
se em torno ao sol do silncio
um corpo orbita, em elipse,
h (metfora opaca) um faa-
61
se-a-luz que decifre
o rosto por trs da grimaa,
o desenlace do eclipse?
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 30)
O poema volta busca pela interioridade, mas uma i nterioridade que no se
constitui em uma identidade singular, mas que se constitui no faa-se-a-luz surgido
da presena do outro corpo que orbita, que se constitui na alteridade, pois o
desenlace de um eclipse s possvel no movimento do outro. Essa imerso na
subjetividade caracterizada na lrica da autora tambm pela preferncia de
imagens oriundas do jardim ou dos astros celestiais (como nos versos acima), e
representada, com recorrncia, por ambientes circulares e opacos, nos quais a
ausncia de luz e a tendncia circularidade produzem imagens do regime noturno
nas quais dialogam as estruturas si ntticas e as estruturas msticas. Assim, o
aparecimento do regime diurno da imagem sempre contraposto e superposto pelas
imagens noturnas, por um movimento de estabili zao entre as imagens di urnas e
noturnas, caracterstica do Regime Crepuscular proposto por Strongoli, como
tambm pela intimidade, caracterstica das estruturas msticas do Regime Noturno
de Durand.
Na quinta e ltima parte, corpo e palavra se revelam.
como um olho sob a plpebra
raiando (ou se desvestindo
de uma antiga catarata)
atravs do cristalino
o corpo assoma, palavra
vinda da sombra
para o atrito
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 31)
Da sombra luz, corpo funde-se a palavra e revela-se. Seu movimento, lento e
cuidadoso, em direo a uma zona de atrito: a claridade, lugar j no protegido
pelo aconchego sinestsico da noite, movimento que percebido na escolha do
verbo raiando e na imagem do olho que se abre.
A luz possibilidade a determinao dos contornos no Regime Diurno do
imaginrio. Neste ponto, interessante observar que a transparncia da
subjetividade pede cautela porque o eu-lrico de Claudia Roquette-Pinto prefere
revelar-se sinestesicamente, sempre evita os perigos da luz; luz que, no poema,
62
a racionalizao diurna, j no a palavra potica. Tal movimento fica evidente no
fragmento do poema POR QUE voc me abandona, da obra Corola
Sem a sua luz, o que me resta?
Palmilhar s cegas
um quarto de veludo
onde o espelho, mudo, assiste
fuga do que reflete.
(ROQUETTE-PINTO, 2001, p. 29)
A busca pela palavra potica e a angstia diante da ausncia reveladas nestes
versos tambm apontam, de certa forma, para a diferena que se i nstaura entre o
discurso potico e o discurso tcnico-cientfico (aristotlico/positivista), e indicam a
eleio da poesia como meio forma privilegiada de expresso subjeti va. a poesia
que detm a passagem temporal, atravs da arte que o eu-lrico encontra o elo
com a eternidade; sem a palavra potica, resta a fuga, a passagem no decurso
temporal, o escoamento da vida. Sem a palavra potica, igualmente, no h luz.
Esta luz, cabe no confundir, difere da claridade diurna, racional, lugar de atrito,
repelida em muitos momentos na lrica de Claudia. Trata-se de uma luz si nestsica,
que mais calor que claridade, luz que no viso, mas clari vidncia, outra forma
de ver.
Tal inteno pode ser observada no poema em prosa abaixo, extrado da obra
Margem de manobra.
E ela soube que tinha sido atravessada por uma trilha luminosa,
varada, instantaneamente, de um quadrante ao outro, por um claro
fugitivo que o pensamento s podia seguir no encalo.
E o que havia ali para ser entendido, era o corpo que entendia num
vis absolutamente novo, onde as imagens se estendiam sobre as
sensaes ou, antes, se enlaavam a elas. E a culminncia para
onde ela (em cada um dos seus corpos) convergia, ao abrir-se em
ptalas, tornava inseparveis a queda aniquiladora do seu prprio
corpo, entregue ao corpo que estava ali, e o vislumbre,
simultaneamente doce, do outro corpo, ausente. (ROQUETTE-
PINTO, 2005, p. 15)
Neste poema, semelhante a um gnero narrati vo, o eu-lrico utili za o que na
lingustica chama-se de embreagem actancial, isto , a categoria de pessoa eu,
supostamente instalada em um poema que tematiza a subjeti vidade, neutralizada
pelo uso da terceira pessoa (ele/ela). No entanto, essa terceira pessoa no deixa de
63
ser uma forma de representar a primeira pessoa, que a referncia real do texto
exemplificando, como quando o pai diz ao filho: papai no quer que voc v l!.
Esta estratgia li ngustica proporciona uma aparente objeti vidade descrio
subjetiva do eu-lrico, como se, ao falar de si na terceira pessoa, o eu-lrico obtivesse
maior liberdade na expresso de seus sentimentos.
As imagens presentes no poema correspondem s observadas nos poemas
anteriores, pri ncipalmente a luz, o corpo e a excitao sensorial. A luz, enquanto
smbolo de conhecimento, quando aproximada da luz/claridade como no incio do
poema, luminosidade agressi va, que atravessa, vara, o corpo, dois verbos que
inferem todo um sensualismo a dinmica do poema tambm, mas este sensualismo
invadido pela luz, a qual s pode ser seguida pelo pensamento. Em um segundo
momento, o conhecimento j no a estreiteza da razo, mas uma forma
sinestsica de conhecer, de compreender a si, caracterstica da lrica de Claudia
Roquette-Pinto, um conhecer pelo corpo (E o que havia ali para ser entendido, era o
corpo que entendia), uma clari vidncia sensuali zada, ttil, de si, onde as imagens
se estendiam sobre as sensaes ou, antes, se enlaava a elas.
Extradas da paisagem do jardim, encontramos imagens florais, no caso, a
imagem da rosa, aluso ntida ao sexo femi nino, como Bachelard tambm aponta,
A rosa ento o femini no enrgico, conquistador, domi nador (1988, p. 38). O tema
do poema agora outro, o sexo, a coliso dos corpos, encontro marcado pela
presena do pecado da carne, percebida na imagem da queda aniquiladora e na
imagem da participao feminina no ato sexual enquanto entrega ao corpo que
estava ali. Assim, a feminilidade conquistadora ressaltada na imagem das ptalas
da rosa que se abre ressalta, pe em evidncia, ainda mais a posio passiva da
mulher. Quanto s flores, Bachelard ainda aponta que A flor nascida no devaneio
potico ento o prprio ser do sonhador, seu ser florescente. O jardim potico
domina todos os jardins da terra. (1988, p. 149). E assim que o jardim potico de
Claudia Roquette-Pinto impe-se enquanto imagem da subjeti vidade do eu-lrico.
Pois, O devaneio potico sempre novo diante do objeto ao qual se liga. De um
devaneio a outro, o objeto j no o mesmo; ele se renova, e esse movimento
uma renovao do sonhador. (BACHELARD, 1988, p. 151)
Quanto preferncia pelo imaginrio do jardim, conforme Durand salienta,
contrapondo-se aos espaos quadrados, representaes da tchne humana, do
espao construdo, os espaos circulares, como o jardim, representam espaos
64
naturais, refgios circulares, isomorfia do ventre materno, lugar de aconchego, paz e
segurana.
As figuras quadradas ou retangulares fazem cair o acento simblico
nos temas da defesa da integridade interior. O recinto quadrado o
da cidade, a fortaleza, a cidadela. O espao circular sobretudo o
do jardim, do fruto, do ovo, ou do ventre, e desloca o acento
simblico para as volpias secretas da intimidade. No h mais nada
alm do crculo ou da esfera que, para a fantasia geomtrica,
apresente um centro perfeito. Arthus parece ter plenamente razo ao
notar que de cada ponto da circunferncia o olhar est virado para
dentro. A ignorncia do mundo exterior permite a indolncia, o
otimismo [...] o espao curvo, fechado e regular seria assim por
excelncia signo de doura, de paz e de segurana. (DURAND,
2002, p. 248)
Na poesia de Claudia Roquette-Pinto, o espao do jardim representa o mundo
privado e subjetivo que se contrape ao mundo exterior. No entanto, no se mantm
ileso, como o locus amoenus da buclica poesia rcade, tampouco imagem idlica
do fugere urbem horaciano. O jardim lugar pri vilegiado da expresso subjeti va da
lrica de Claudia, mas no refgio capaz de resguardar este si dos perigos da
razo em um mundo domi nado pela tchne e por todo o mais que ameaa dilacerar
o pequeno espao no qual o eu-lrico se abriga. No poema AMOR-EMARANHADO,
labirinto, da obra Corola (2001), podemos observar melhor este sempre em
suspense jardim ou, como preferiria dizer, este jardim em suspenso.
AMOR-EMARANHADO, labirinto
apartado de mim pelo flego das rosas,
pensas, no jardim.
Dos ps na grama me ergue um calafrio,
e tudo muro, palavra que no acende
neste anelo em que me enredo.
Para que tijolos, toda esta geometria,
que faz da paisagem um deserto de cintilaes espontneas?
De linhas retas apenas
o fio que desenrolo,
exausta embora atenta,
sem conhecer a mo
que o estende na outra ponta.
(ROQUETTE-PINTO, 2001, p. 27)
Podemos observar no poema a oposio citada por Durand entre as figuras
quadradas e as figuras circulares. As formas geomtricas, planas, denotam um
mundo construdo, que se ope ao mundo natural, circular, do jardim, lugar de
65
abrigo, no qual o flego extrado das rosas, palavra que na tradio judaico-crist
representa vida, ao homem formado do p da terra Deus soprou o flego de vida em
suas nari nas.
A representao dos sentimentos do eu-lrico tambm se i nsere nesta
dualidade. A passagem do tempo, marcada pela imagem do desenrolar, tambm
presente no amor-emaranhado e no labirinto, constituda de li nhas retas. O fio
imagem por excelncia do tempo e do desti no, do percurso que vai da vida morte,
do qual o agente precursor a femini lidade negativa da fiandeira, representada na
mitologia grega pelas moiras, velhas cegas e rancorosas que fabricavam, teciam e
cortavam o fio que era a vida dos homens, usando, para tear, a Roda da Fortuna.
No poema, o fio tambm o anelo, o forte desejo no qual o eu-lrico se enreda,
nsia de vida inserida no fluxo temporal. Mas a palavra no acende diante das
geometrias plana que invade o jardim, diante desta vida que s pode ser desejo
enquanto vida fugaz.
Outra caracterstica do jardim de Claudia que a paisagem natural nunca
visvel em sua totalidade. Assim como a si ntaxe entrecortada dos versos, as
imagens surgem desconectadas das possibilidades esperadas na descrio de um
ambiente natural, recriando na disposio imagtica o jogo de enjambement textual
e a sensao de i ncompletude recorrente na lrica da autora. No poema poema
submerso, de Saxfraga (1993), o movimento de desconstruo sinttica e a diviso
das palavras so levados s ltimas consequncias
30
.
poema submerso
olho: peixe-olho que
desvia a mo enguia
a pele lisa a
t o umbigo e logo
a flora de onde aflora
(na virilha) o barbirruivo a
ceso bruto na
fbio: glabro
dedos to tentculos
e crispam e esmer
ilham dorso abaixo a
cima abaixo brilha
o esforo bravo
peixe tentando escapar mas
30
A agressi vi dade do corte sint tico e da prpria di viso arbitrria das palavras muito presente
nesta obra. No entanto, nas obras posteri ores, esta caracterstica amenizada.
66
ei-lo ao p da frincha que
borbulha (esbugalha?)
roxo incha e mergulha em
brasa estala
e agora murcha
peixe-agulha e
vaza
vaza
(ROQUETTE-PINTO, 1993, p. 32)
No poema, no qual descrito metaforicamente o ato sexual, esta sintaxe
angustiante encontra-se tambm no movimento e na percepo do corpo sempre
uma mo, um olho, a virilha, o dorso, os dedos. Presena cindida que resplandece
na percepo fsica e ttil da exterioridade e da i nterioridade, e que ressoa na
sensorialidade de um corpo que ora cai, ora desce, ora fricciona-se na imagem
tambm ci ndida e sensual do outro. Alm disso, quanto maior a fragmentao do
verso, mas escassos tornam-se os adjeti vos; preferem-se as imagens criadas pelo
processo de composio de palavras descrio ou enumerao de caractersticas.
Em outro poema da mesma obra, encontramos um aviso ao leitor, um
manifesto da lrica de Claudia que apresenta algumas das preferncias estticas da
autora.
ao leitor, em visita
pensa em vertical
ento se digo tubo
derruba-te num mergulho
assaltado
como o do sono
(corao tombo no
estmago. o amor)
acrescenta ao desaprumo um colapso
e a presteza vertiginosa
dos expressos,
no espao
si agora que libertes
o tubo de toda matria
- cuida apenas de no abolir a queda
o que resta esta
queda construda
a isto, diga:
poema
(ROQUETTE-PINTO, 1993, p. 27)
67
A verticalidade e a queda so apresentadas como caractersticas fundantes de
sua lrica. Junto a elas, a percepo sensorial do corpo, sempre instvel na
presena do outro, instabilidade representada nas imagens e na sintaxe do poema.
O corpo, e com ele toda a matria, sempre dilema, imagem das impossibilidades
da vida e, sobretudo, da impossibilidade por excelncia que a morte. E o
pensamento sempre forma incapaz de dar acabamento ao mistrio. A queda
libertria, a verdadeira queda sempre pretendida, no se alcana, a prpria queda
da qual o poema se constitui construda, simulacro, simulao de outra queda
apenas ambicionada, uma que i nsurja vitoriosa contra a vulnerabilidade da vida e
dos sentimentos. No entanto, conforme Guatarri,
Cabe especialmente funo potica recompor universos de
subjetivao artificialmente rarefeitos e ressingularizados. No se
trata, para ela, de transmitir mensagens, de investir imagens como
suporte de identificao ou padres formais como esteio de
procedimentos de modelizao, mas de catalisar operadores
existenciais suscetveis de adquirir consistncia e persistncia.
(GUATTARI, 2012, p. 30)
E na arte que o eu-lrico de Claudia percebe a possibilidade de reconstituir-
se, de se autorreferencializar. Em outra passagem, Guattari volta a salientar que
nas trincheiras da arte que se encontram os ncleos de resistncia
capitalstica, a da unidimensionalidade, do equivaler generalizado, da
segregao, da surdez para a verdadeira alteridade. No se trata de
fazer dos artistas os novos heris da revoluo, as novas alavancas
da histria! A arte aqui no somente a existncia de artistas
patenteados mas tambm de toda uma criatividade subjetiva que
atravessa os povos e as geraes oprimidas, os guetos, as
minorias... (GUATTARI, 2012, p. 105-106)
A arte assim constitui-se na nica forma de expresso capaz de adentrar a
complexidade existencial. Na contemporaneidade, na qual as antigas
territorialidades existncias, usando um termo Guattari, esto em constante ameaa
de dissoluo generalizada devido aos fluxos informati vos engendrados
maqui nicamente, ou, conforme Baudrillard, em uma sociedade onde tudo
desaparece no pela morte ou fim, mas por proliferao, contami nao, saturao e
transparncia, exausto e exterminao, por epidemia de simulao, transferncia
na existncia segunda da simulao (BAUDRILLARD, 1990, p. 10), isto ,
68
disperso e esvaziamento dos sentidos pela prpria multiplicao desordenada, a
subjetividade (a territorialidade existencial de Guattari) articula-se sobre a constante
ameaa de disperso na multiplicao catica da prpria existncia plurali zada nas
mltiplas comunidades estabelecidas, na coexistncia de di versas faces de um eu
aspergidas pelas mais contraditrias i nstncias sociais.
Neste universo fractal
31
no qual j no h mais a homogeneizao baseada
em um nico valor, mas uma sociedade complexa na qual residem mltiplos valores
heterogneos entre si o eu ps-moderno, caracterizado frequentemente como
dilacerado, fragmentado, cindido, inacabado, fraturado, desdobra-se e se dispersa
sobre si mesmo, no sendo mais possvel sua categorizao sob os pressupostos
da lgica aristotlica e/ou da razo tcnico-cientfica positivista sem exercer
excessiva violncia na reduo ou definio de contornos que j no so mais
estveis e ntidos.
Por isso, o eu-lrico de Claudia Roquette-Pinto, na procura de uma constituio
autorreferencial, transforma corpo, flor, jardim e queda em imagens obsessivas
da busca de delimitao das zonas e limites existncias; um imaginrio que,
conforme visto na anlise dos poemas, por si s i nfenso a este uni verso apolneo
de abscissas, coordenadas e contornos definidos, pois se constitui na ao de
ligar, na coincidncia dos opostos, na dialtica sem sntese dos antagonistas,
caracterstica dramtica
32
das estruturas si ntticas do imaginrio noturno.
Porm, este projeto autorreferencial fadado ao inevitvel inacabamento
projeto, palavra que em si contrria ao esprito contemporneo que, conforme
Maffesoli , feito de hedonismo, de relati vismo, do desejo de viver o presente, e de
uma espantosa energia concreta e cotidiana, caractersticas que dificultam uma
interpretao em termos de finalidade ou de sentido da histria (MAFFESOLI, 2001,
p. 66). E tal i nviabilidade culmina em nsia diante da impossibilidade de reali zao.
Se a imagem da face da morte sempre ameaadora, e contra ela ergue-se
todo um imagi nrio, conforme visto em Durand; tambm contra ela ergue-se a
angstia. Para Heidegger, todas as possibilidades do homem encontram uma
barreira intransponvel: a morte. Ela a possibilidade da impossibilidade de todo
31
Termo ent endi do a partir do pensamento de Baudrillard: O bem j no perpendicular ao mal,
nada mais se coloca em abscissas e ordenadas. Cada part cula segue seu prprio movimento, cada
valor ou fragmento de valor brilha por um instante no firmamento da simulao para desaparecer no
vcuo, segundo uma linha quebrada que s excepcionalment e encontra a dos out ros. o esquema
peculiar ao fractal; o esquema atual de nossa cultura. (1990, p. 12).
32
Ver nota de rodap 8 e 21 para esclarecer o sentido de dramtica usado nesta passagem.
69
projeto e alicera a historicidade da existncia. E a morte que d o sentido ltimo
do inacabamento do ser-a
33
, pois a concluso a qual nunca teremos acesso,
mesmo que a vivenciamos com o outro, porque, em sentido genuno, no fazemos
a experincia da morte dos outros. No mximo, estamos apenas juntos
(HEIDEGGER, 2005, p. 19). E existir autenticamente implica a coragem de aceitar o
seu nada possvel, o no-ser, a morte, o fim de todas as possibilidades. O
sentimento que resulta desta possibilidade de no-ser a angstia. Angustiando-se
com a morte, a pre-sena colocada diante da possibilidade insupervel, a cuja
responsabilidade est entregue (HEIDEGGER, 2005, p. 36). A existncia
inautntica, ao contrria, aquela em que o ser aprofunda-se nas possibilidades, no
se, e para escapar da angstia diante da morte, transforma esse sentimento em
medo que, por sua vez, sempre um sentimento com um ponto de referncia, afasta
o homem da angstia e da possibilidade mais prpria e insupervel do ser: a morte.
Para Heidegger, a nica possibilidade de uma existncia autntica o ser-para-a-
morte. E a existncia autntica v a insignificncia de todos os projetos humanos,
pois a nica possibilidade inescapvel do ser a morte, que torna nula todas as
demais possibilidades. A angstia sentimento nascido do confronto do homem
com a morte permite ao ser-a viver afastado da existncia banal de sua
sociedade, pois a possibilidade da morte revela o nada de todo projeto e da prpria
existncia humana.
A vida, em toda a densidade concreta e disperso, sob esta tica, , em si, o
inacabado. Diante dela compete a angstia de uma vida que reconhece
possibilidade da morte, ou o medo presente na tentati va de tornar a morte
impessoal, de di zer morre-se como realidade que no pertence a ningum.
Embora Heidegger oferea valor s opes, chamando a primeira de existncia
autntica e a segunda de existncia inautntica, talvez, na ps-modernidade esta
prpria noo de valor no seja mais possvel, e angstia ou medo sejam apenas
dois modos pelo qual a viso do inacabamento compele o ser nsia por uma
alternati va, que tambm ser parte de sua constituio subjetiva.
33
O ser-a (daisen), para Heidegger, o ser do homem no mundo, que est no mundo no apenas no
sentido da contemplao, pois se eliminssemos o mundo nada restari a, mas que constitui -se no
mundo, pois o o mundo um conj unto de i nstrumentos para o homem realizar seu projet o de ser -no-
mundo, e transformando o mundo, o homem t ransforma.
70
Por isso, o eu-lrico de Claudia Roquette-Pinto, consciente do esprito de seu
tempo, prefere expor-se no ambiente controlado do jardim, ou na posio de
observador presente nos poemas que descrevem quadros, artistas e objetos, mas
que ao descreverem, tambm destilam uma autorreflexo indireta.
Desse modo, este eu tambm prefere transitar li vremente pela existncia
sensorial do corpo, prefere sensuali zar-se, tornar-se pulso de vida hedonista
manifesta na autopercepo e no encontro com o outro corpo
34
, hedonismo que
um coparticipar do mistrio muito alm do sexo; melhor explicado na bela metfora
de Maffesoli
[...] enquanto a cidade de Tebas, bem, muito bem dirigida pelo sbio
Prometeu, morre de langor, as mulheres da cidade vo em busca do
turbulento Dioniso. Meteco, sexualmente ambguo, mais prximo da
natureza do que da cultura, ele que tr az de volta a dinmica
cidade, e da mesma forma d outra vez sentido a um ser-conjunto
bastante estiolado. O brbaro injeta um sangue novo num corpo
social lnguido e excessivamente amolecido pelo bem-estar e a
segurana programados do alto. (2001, p.22)
Ou seja, mesmo todo o controle tcnico-cientfico empregado na dominao da
natureza no responde a esta ltima inquietao, mas tenta, por meio de uma
aparncia de razo, adormec-la em um constante langor.
Neste sentido, a modernidade um grande processo de domesticao termo
compreendido a partir da raiz lati na domus, casa, logo, domesticar o ato de tornar
da casa. Neste sentido que o processo de socializao moderno um processo de
domesticao, pois visa territoriali zao do indi vduo, em seu ncleo familiar, em
suas relaes de trabalho e no pertencimento a uma nao caractersticas
traduzidas no ideal capitalista e burgus de segurana. Nas palavras de Maffesoli,
O indi vduo e sua extenso, a famlia nuclear se torna uma espcie de priso
moral na qual, pelo vis da educao, da carreira profissional, de uma identidade
tipificada, a pessoa se fecha longamente. (2001, p. 81).
Mas este processo no alcana todas as instncias culturais humanas. Adorno,
em Teoria Esttica (1993), considera a arte forma de expresso que escapa lgica
do capitalismo e se i nsere em uma dimenso mais profunda da socializao
35
. H
34
Encontro com o outro que ai nda sente na condio de mul her as represses de uma sociedade
sexista arcaica.
35
Tal questo ser abordada com mais compl exidade no prximo captulo.
71
tambm aqueles que escapam desta domesticao, e os artistas sempre foram os
representantes da i nsurgncia contra o esclerosamento e saturao das relaes
sociais em todos os tempos. Sob esta perspectiva que observamos na lrica de
Claudia Roquette-Pinto, a presena de uma grande inquietao as formas
sedimentadas de socialidade, representada atravs de um rico imaginrio construdo
na fronteira, na zona limtrofe entre o sacrali zado e o novo, isto , em uma zona de
sombra, sob a qual ainda no h luz, pois infensa claridade diurna e ainda
inefvel clarividncia noturna.
72
O JARDIM SOCIAL
De que fala a literatura? Esta a pergunta com a qual Antoine Compagnon
inicia o terceiro captulo da obra O demnio da teoria: literatura e senso comum
(2010). Nesta seo, que chamamos de O jardim social jardim em referncia a
uma das imagens prediletas de Claudia Roquette-Pinto e social porque falaremos da
relao entre o mundo e a obra da autora , iniciaremos a discusso com as
reflexes do autor.
Compagnon inicia a discusso relembrando a clssica obra Arte Potica de
Aristteles. Para o grego, literatura, a poesia no caso, era mimesis, isto ,
representao de carter imitativo da natureza advinda do prazer que sentimos no
ato de imitar. A literatura, assim, embora no seja o mundo por ser re-presentao,
remete diretamente ao mundo. Tal posio culmina nas crticas literria humanista,
realista, naturalista e mesmo marxista; todas acreditavam na preciso referencial da
literatura, isto , a literatura no apenas fala do mundo, mas constri uma imagem
autntica do mundo. O realismo, desta forma, concebe a iluso li ngustica de que a
linguagem pode copiar o real, que a literatura pode represent-lo fielmente, como
um espelho ou uma janela sobre o mundo. (COMPAGNON, 2010, p. 103-104).
Em posio equidistante, posteriormente, a teoria literria moderna defendeu a
ideia de autorreferencialidade da literatura, isto , a literatura falava apenas de si
mesma, como se se nutrisse apenas de um mundo i ntra e i ntertextual, concepo
inspirada na teoria de Saussure e Peirce.
Em Saussure, a idia do arbitrrio do signo implica a autonomia
relativa da lngua em relao realidade e supe que a significao
seja diferencial (resultando da relao entre os signos) e no
referencial (resultando da ralao entre as palavras e as coisas). Em
Peirce, a ligao original entre o signo e seu objeto foi quebrada,
perdida, e a srie dos interpretantes caminha indefinidamente de
signo em signo, sem nunca encontrar a origem,
numa smiosis qualificada de ilimitada. Segundo esses dois
precursores, pelo menos tal como a teoria literria os recebeu, o
referente no existe fora da linguagem, mas produzido pela
significao, depende da interpretao. (COMPAGNON, 2010, p. 97)
73
O mximo que a literatura chegaria nesta perspectiva era iluso de dar
acesso realidade, um effets de rel; todo texto no seno um mosaico de
citaes de outros textos.
Compagnon, perante este dilema, coloca-se na posio em que acreditamos: a
arbitrariedade do signo no permite um acesso transparente ou direto a um
referente; no entanto, isto no significa que a lngua no descreva o mundo e possa
existir sem referncia a empeiria, isto , no encontramos no mundo o jardim de
Claudia Roquette-Pinto (pri ncipalmente pelo fato de o jardim referir-se
subjetividade); no entanto, no h possibilidade de exi stir o jardim em sua lrica sem
que a ele pr-existam jardi ns e todo o mundo natural. Em outras palavras, voltamos
a reafirmar a daisen heideggeriana.
Sob esta perspectiva que escolhemos a sociedade como uma dimenso
fundante da obra de arte. A literatura, embora no seja representao exata do
mundo, est i nevitavelmente ligada sociedade da qual surge, o lao que a une s
relaes econmicas, sociais e afeti vas de uma comunidade sempre parte de sua
constituio. Como afirma Bakhtin, a literatura uma parte inalienvel da cultura,
sendo impossvel compreend-la fora do contexto global da cultura numa dada
poca (BAKHTIN, 2003, p 362). Este tambm o pensamento de Antonio Candido
(2000) ao afirmar que a literatura um sistema mediado pela cultura.
Aprofundando ainda tal questo, Adorno afirma ser a arte um uni versal, que,
no entanto, s possvel atingir atravs da idiossincrasia indissolvel do sujeito
individual (ADORNO, 1993, p. 56); e justamente sobre este ponto que colocamos
as dimenses social e subjetiva em foco, pois, como reflete Adorno, se a arte um
comportamento e, como tal, no pode ser isolado de uma expresso, a expresso,
por sua vez, no existe sem um sujeito. No entanto, a arte, enquanto forma de
expresso, rompe recluso idiossincrtica e vai alm da conti ngncia existencial
do artista, pois, Toda a idiossincrasia, em virtude do seu momento mimtico pr-
individual, vive das foras coleti vas, de que ela prpria inconsciente. (1993, p. 56);
assim, em toda produo artstica resiste um elo que nos une.
Obviamente, a obra literria pode ser lida em diferentes pocas e suscitar
diversos sentidos, as obras rompem as fronteiras de seu tempo, vi vem nos sculos,
ou seja, na grande temporalidade (BAKHTIN, 2003, p. 364). No entanto, nela
persiste uma forma sensvel de apreender o mundo expressa em emoes e afetos
universais que perpassam tempo, espao e sociedade.
74
Neste captulo, voltamo-nos ao tempo da poeta contempornea Claudia
Roquette-Pinto, que tambm o nosso tempo, para, a partir da anlise das relaes
que vi vemos nesta sociedade, compreender como os elementos externos (sociais)
constituem-se em sua lrica.
Entre os diversos temas atravs dos quais poderamos discutir a ps-
modernidade, elegemos o corpo, isto , as formas como se manifestam as relaes
de socialidade contempornea sobre o corpo imagem recorrente em Claudia
Roquette-Pinto.
Bauman, na obra A vida fragmentada ensaios sobre a moral Ps-Moderna
(2007), contrape o corpo moderno ao corpo ps-moderno. Para o autor, o corpo
moderno o corpo do soldado/ produtor, moldado disciplinarmente, enquadrado e
posto em movimento regular, como em uma linha de montagem tayloriana. A este
corpo, para o autor, s era exigido que fosse capaz de reunir a fora necessria para
responder aos estmulos externos, capacidade a que se chamava sade. O
consumo visava assegurar a manuteno da sade, e tudo o que excedesse a este
objetivo era considerado luxo. Diferentemente, O corpo ps-moderno , em primeiro
lugar e sobretudo, um receptor de sensaes; absorve e digere experincias; a sua
capacidade de ser estimulado torna-o um i nstrumento de prazer (2007, p.122). Sob
esta nova forma de relao entre homem e corpo, todo interesse decrescente,
abaixo da mdia, na fruio das novas sensaes e experincias signo de
depresso. Manter o corpo em forma significa mant-lo preparado para absorver e
ser estimulado. Um corpo em forma um instrumento extremamente sensvel e bem
afinado de prazer de qualquer prazer: sexual, gastronmico ou derivado do
simples exerccio fsico e da simples demonstrao da sua boa forma (2007, p.
122). O bom funcionamento deste corpo na ps-modernidade mensurado pela
capacidade de fruir, de consumir, tudo aquilo que a sociedade dispe para seu
prazer. No entanto, sendo o resultado do corpo medido por esta escala do prazer,
encontra-se um grave problema o prazer, ao contrrio da produti vidade moderna,
no passvel de aferio concreta, posto que a experincia com o prazer ,
sobretudo, subjeti va e mvel, o que acarreta nas segui ntes questes: estou, de fato,
aproveitando com o mximo de eficcia o prazer que o mundo dispe? So corretas
as formas por meio das quais busco o prazer? Como impossvel aferir a
quantidade e qualidade do prazer vi venciado pelos indivduos, o homem encontra-se
75
em um crculo vicioso de insatisfao e agitao intermi nveis na procura por mais
prazer.
Este problema ainda agravado, segundo Bauman, por dois fatores: a) o corpo
ps-moderno concebido como uma propriedade privada indiscutvel, e, sendo
assim, compete exclusi vamente a seu proprietrio cultiv-lo, e no mais ao Estado;
b) para que o corpo possa fruir eficientemente de todos os prazeres, necessria a
sade deste corpo, no entanto, a sade s pode ser garantida a partir de uma vida
de privaes dos excessos, assim, ao sujeito, proprietrio exclusivo de seu corpo,
cabe a inconcilivel posio de desfrutar maximamente de uma vida prazerosa
mantendo a capacidade do corpo de gozar destes prazeres. Nas palavras de
Bauman: o corpo tem de flutuar na corrente das sensaes, de ser capaz de se
entregar sem reserva a experincias irrefletidas de prazer, mas o proprietrio e
treinador do corpo [...] tem tambm de gerir a sua flutuao e abandono, de
avaliar e medir, comparar, classificar em termos de qualidade (2007, p. 124). Este
corpo, segundo o autor, um corpo sitiado, isto , vive em constante alerta, pois se
encontra nesta ambivalncia incurvel e geradora de ansiedade, por um lado, deve
ser receptor voraz de prazeres exteriores e a plenitude do corpo medi da por sua
capacidade de receber, por outro, o comrcio com o mundo exterior compromete o
controle exercido pelo indivduo sobre a forma fsica. Exemplificando a ambivalncia,
Bauman cita que, curiosamente, ao lado de livros de maravilhosas receitas culinrias
encontram-se li vros de dietas e programas de treinamento muscular entre os Best-
sellers da semana. Ou seja, regime de extremos, no qual os saborosos meios de
embriaguez exigem eficientes meios de regresso sobriedade para manter-se a
plena forma. Trata-se, portanto, de um cerco que nunca ser levantado de um
estado de stio permanente, de um estado de stio vitalcio (2007, p. 127).
Neste cenrio, ainda salienta o autor, o outro encarna a possibilidade do futuro
que escapa s regras de controle, o outro a incerteza perene que atrai e causa
medo, pois, se por um lado o outro representa fonte primordial de prazer, por outro,
sua autonomia de vontade representa uma impossibilidade na fruio sem limites de
prazer, assim como uma ameaa i ntegridade corporal e, consequentemente, de a
capacidade de deleitar-se.
A partir deste breve esboo das consideraes de Bauman sobre os vnculos
ps-modernos entre homem e corpo, observa-se que o autor i nsere sua perspectiva
em uma lgica de consumo, da qual pode se depreender certa negati vidade nas
76
relaes suscitadas a partir deste mercado do prazer. Neste sentido,
interessante estabelecer um dilogo com Michel Maffesoli, autor para o qual as
relaes com o corpo estabelecem-se em uma total reestruturao das formas de
socialidade, surgida da saturao
36
da lgica do dever ser encontrada na
educao, na vida social, na organi zao assptica da existncia. Sociedade sem
riscos em que a morte negada leva, como se pde dizer, a que o fato de no se
morrer mais de fome ou de frio compensado pelo fato de morrer de tdio.
(MAFFESOLI, 2010b, p. 69). Desta forma, no mais possvel medir as relaes
intersubjetivas a partir de uma lgica de troca, mas sim, compreend-las a partir da
vi vncia compartilhada das emoes na contemporaneidade.
Desta forma, a partir do estudo da relao sujeito-fenmeno-forma, mtodo
formismo, Maffesoli compreende o corpo como locus privilegiado do fenmeno do
desejo de estar-junto perspecti va que o autor analisa a partir dos usos das marcas
corporais (tatuagem, roupa, cabelo, etc.) e da teatrali zao das mscaras sociais (a
capacidade de insero e adequao em diversos grupos sociais, muitas vezes
conflitantes, por um mesmo sujeito).
Sob esta tica, o autor afirma que a principal caracterstica da ps-
modernidade o vnculo entre a tica e a esttica, estabelecido a partir da emoo
compartilhada, do sentimento coletivo o lao social torna-se emocional. Assim,
elabora-se um modo de ser (ethos) onde o que experimentado com outros ser
primordial. isso que designarei pela expresso: tica da esttica (MAFFESOLI,
2010a, p. 11). Neste sentido, a identificao entre os elementos de diversos grupos
no estabelecida somente pela aparncia (esttica), mas pela comunho de
valores (tica), surgindo, assim, no seio da sociedade, uma nova perspecti va global,
holstica, que integra a vi vncia, a paixo e o sentimento comum nas relaes
interpessoais, uma nova forma de socializao. Para Maffesoli, ao contrrio do
homem moderno que, em atitude prometeana, desejava mudar, transformar,
dominar o mundo, o homem ps-moderno deseja unir-se a ele atravs da
contemplao, representada por um novo culto ao corpo. Vivemos em mundo
36
Saturao, em Maffesoli, trata-se do Processo, quase qumico, que d conta da desestruturao
de um dado corpo e que seguida pela reestruturao desse corpo com os mesmos elementos
daquilo que foi desconstrudo. Trata-se portanto de uma estrutura antropolgica que se encontra na
filosofia, na literatura, na poltica e t ambm na existncia cotidi ana, que essa relao ntima e
constante entre a pars destruens e a pars construens. Aquil o que, em todas as coisas, se destri e
se reconstri. Vida e morte ligadas numa combinao ntima e infinita. (MAFFESOLI, 2010b, p. 12).
Isto , da saturada modernidade insurge a ps-modernidade, estrut urada de outra forma, mas com os
mesmo elementos que compuseram o antigo regime.
77
centrado nas aparncias (da qual o corpo um meio de comunicao) e no desejo
de estar junto sob o ideal do carpe diem, sem objeti vos, palavra que por si remete a
uma tica moderna de produti vidade que j no encontra lugar na ps-modernidade.
Assim, tudo deve ser vivido e aproveitado no presente, e a partir do ideal
comunitrio, do familiarismo, do viver o que prximo, por isso vemos a crescente
importncia dada ao domstico, ao cotidiano, ecologia, ao territrio, ao bairro e
comunidade na contemporaneidade.
Desta forma, para o autor, enquanto a modernidade foi marcada por uma
estrutura mecnica formada por indivduos que exerciam determi nada funo em
grupos contratuais; a ps-modernidade apresenta estrutura complexa/orgnica, na
qual pessoas (e no mais indi vduos) exercem deferentes papis de acordo com os
grupos afetuais em que se i nserem.
Um estar-junto que funo de grande importncia nas experincias
contemporneas, e que estabelece um entrelaamento direto entre o corpo
individual e corpo social. Na vivncia comparti lhada, o sujeito organiza-se em um
mltiplo de personas capazes de transitar em di versas esferas sociais e culturais e
assumir diferentes aparncias e teatralidades. Por isso, o termo identidade j no
cabe mais s relaes intersubjetivas ps-modernas, o que ocorre so processos de
identificao e diferentes graus de pertencimento, pois o corpo compartilha valores e
representaes simblicas de diferentes ncleos do corpo social, e estas personas
37
assumem cotidianamente seu lugar, a cada dia, nas diversas peas do theatrum
mundi (MAFFESOLI, 1998, p.108), lugares que s existem em relao ao outro;
consequentemente, A sensibilidade coletiva, originria da forma esttica acaba por
constituir uma relao tica. (MAFFESOLI, 1998, p.28). E como o convvio social
no se restri nge apenas as aparncias, mas tambm ao compartilhar dos
referenciais simblicos e de valores no corpo coleti vo, a aparncia social
transparece como objeti vidade habitada por subjetividades em constante interao
(MAFFESOLI, 1996, p.177). E justamente a tica da esttica oriunda das novas
formas de socialidade emptica, na qual o valor do corpo est em si mesmo, que
conduz a volta do hedonismo, a volta de Dioniso que, se por um lado remete
promiscuidade sexual e a outras efervescncias afetuais, por outro, permite
compreender a elaborao de novas formas de socialidade, vivncias em conjunto.
37
Persona, pal avra latina que se refere s mscaras usadas no teatro.
78
Surge uma nova perspectiva sensvel e orgnica que aponta no mais para o
fim dos valores coleti vos e para a retrao ao indi vidualismo preconizado pelo ideal
capitalismo, mas para um tribalismo que se baseia, ao mesmo tempo, no esprito da
religio (do latim, re-ligare, ligar novamente) e no localismo, na proxemia, termo
que para Maffesoli significa o sentimento de pertencimento presente em todos os
campos na contemporaneidade, tais como, o trabalho, a cultura e a sexualidade.
Neste ponto, interessante relembrar que Adorno, em Teoria Esttica (1993),
considera que a arte oposta a sociedade capitalista baseada na troca total, na qual
tudo existe enquanto meio, instrumento para um fim, ser-para-outro, sendo que a
arte participa do contrrio lgica capitalista, participa dos desejos, das ambies,
dos sonhos, dos ideais que os seres humanos so obrigados a abandonar para
ingressarem no mundo do capital. Isto , Adorno observa, na arte e na relao entre
sujeito e arte, uma espcie de regresso a uma dimenso mais holstica, de vi vncia
em comunho, contrria a esquizofrenia individualista do capital; ponto de vista
muito semelhante ao que Maffesoli descreve nas mudanas das formas de
socialidade contemporneas, tambm calcadas em um partilhar valores, emoes,
desejos; em estar-junto.
Sob esta perspectiva, Maffesoli ai nda ressalta em Sobre o nomadismo:
vagabundagens ps-modernas (2001), o surgimento do desejo de errncia, do homo
viator, que se ope ao compromisso de residncia que prevaleceu na modernidade.
Errncia que uma espcie de respirao social, na medida em que d nfase
dimenso estrutural do intercmbio. (2001, p. 57). As viagens e os momentos
festivos constituem um irreprimvel querer vi ver em comunho, que culminam na
arte, no uma arte stricto sensu, composta apenas pelas produes culturais, mas
uma arte generali zada em todas as manifestaes culturais, atravs da qual a
esttica revela-se como uma forma de sentir em comum.
Existe ecloso espontnea na criatividade cotidiana, na esttica do
dia a dia, nas formas de arte diluindo-se em pequenos pedaos na
moradia, na vestimenta, nos cuidados pessoais, na diettica ou
mesmo no culto ao corpo. Em cada um desses casos, no o
simples bem-estar econmico que privilegiado, mas, sim, um
melhor estar existencial em que a Me-Natureza desempenha um
papel no negligencivel. (MAFFESOLI, 2010b, p. 85-86)
79
Desse modo, o corpo no mais simples meio de produo ou reproduo,
como no paradigma moderno, mas um corpo amoroso, valori zado, epifani zado,
como foi o caso nas sociedades pr-modernas to prximas da natureza. (2010b, p.
87) E neste corpo comunga-se o corporal e o espiritual, desde as celebraes da
religiosidade sincretista at manifestaes ecolgicas do vegetarianismo; assim, o
outro parte do grupo, no um perigo, mas um aliado com o qual construo o
territrio real (o bairro, a cidade, a rua) e simblico.
Alm disso, para Maffesoli, a sensualidade, a manifestao da liberdade
natural dos corpos ps-modernos, dei xa de ser uma apresentao de superfcie, da
qual no h nada por trs, mas passa a ser uma volta celebrao pag dos
encantos da natureza.
O mesmo acontece, o que fica manifesto na publicidade, atravs da
ostentao da pele, dos pelos, dos corpos em geral, que so objeto
de um verdadeiro culto. Culto do instante, culto do corpo, afirmao
no verbal porm no menos real de um hedonismo cotidiano. Em
todas essas manifestaes, essas apresentaes, imagem do que
caracterizava o mundo grego, uma nova relao com os mitos que
se instaura: a de uma experincia coletiva. (MAFFESOLI, 2010b, 91)
E esta naturalidade a cristalizao do tempo em espao, isto , contra a
histria e o poltico, prevalece a ecologia
38
e a sociabilidade, outro modo de
relacionar-se com o espao, com a natureza, desta vez no em termos de
aproveitamento, mas um espao vivido, provado, experimentado.
Nesses diversos elementos que formam a verdadeira cultura, no
so mais a separao e o corte que prevalecem, no mais a razo
universal que vai servir como padro. Muito pelo contrrio, o que
subjetivamente se capilariza nas prticas cotidianas a preocupao
com a conjuno. O corpo e o esprito intimamente mesclados. O
materialismo e o misticismo no mais como opostos. O hedonismo
mais caracterizado de acordo com uma inegvel generosidade. O
sentido da realidade econmica no mais uma alternativa s prticas
da benevolncia. Um certo egosmo tribal que compatvel com a
multiplicidade dos fenmenos caritativos. Pode-se alongar a lista
desses oximoros. A lgica da conjuno est na ordem do dia.
esse o mago dessa ecosofia que est em pauta.(MAFFESOLI,
2010, p. 101-102)
38
Do grego oikos, casa, e logos, razo. Maffesoli entende o termo em contraposio economi a, do
grego, nomos, norma. Isto , enquanto a modernidade marcada pela economi a, pela normatizao
da casa (do espao) para o melhor aproveitament o dos recursos, a ps-moderni dade marcada pel a
ecologi a, pela compreenso e vi vncia da casa (do espao).
80
Como podemos observar, a diversidade do pensamento de Maffesoli aponta
para uma perspecti va positiva da relao entre homem e corpo, calcada no regresso
a antigos valores tribais renegados pela modernidade. E assim, voltamo-nos
imagem do corpo na Lrica de Claudia Roquette-Pinto a partir do dilogo entre a
tica da esttica de Maffesoli e a relao antittica entre a busca do prazer e o
cuidado de si de Bauman que.
O primeiro poema que analisamos partindo da relao entre sujeito, corpo e
alteridade o poema Pulso, da obra Margem de Manobra. No poema, a imagem
do corpo representa tanto o eu-lrico como o encontro com a alteridade, apontando
para uma construo da subjetividade que avessa ideia de interioridade
espiritual propagada pelo pensamento religioso, pois o sujeito se constri a partir de
uma relao corporal consigo mesmo e com o outro. Assim, por meio do corpo,
expressam-se as sensaes interiores de uma subjetividade intimista, mas
encontrada alm da dicotomia corpo/alma, uma subjeti vidade transcorprea que, a
partir da existncia material confrontada com o outro e com o mundo, constitui -se
idiossincraticamente em seus territrios existenciais.
Pulso
O que o corpo quer
a vertigem de se perder
no salto das guas
(no: resistir ao curso),
cruzar o campo de fora,
suas exploses
entre os corpos mudos,
cumprir o gesto hesitado,
o impulso que entorna o caldo,
precipitar o susto
(bem-vindo e sem reparo)
de cair dentro do outro,
enfronhar-se
no escuro desse pulso,
consumir,
chegar ao fim.
(ROQUETTE-PINTO, 2005, p.85)
No poema, o espao em que o corpo encontra-se sempre uma zona limtrofe,
na qual todo impulso representa uma transposio, no a reversvel passagem de
um estado a outro, mas metamorfose defi nitiva, cada impulso entorna o caldo, isto
, cada encontro com a alteridade transforma contedo e forma deste corpo em
outro corpo que, embora no seja outro, j no mais o mesmo processo
81
semelhante a imagem heraclitiana das guas do rio, o rio sempre o mesmo, mas
as guas que por ele passam so outras. E o que constitui a metamorfose no
mais o decurso temporal, mas o encontro com a alteridade.
Como este cruzar o campo de fora sempre um vir a ser de outra forma, as
imagens suscitadas do movimento alteram entre a queda e a descida, entre a morte
da identidade e renovao da identificao. Assim, as passagens vertigem de se
perder, cruzar o campo de fora, precipitar o susto, cair dentro do outro e
enfronhar-se i nferem ora o movimento brusco e mortal da queda, como precipitar,
ora o movimento suave e ntimo da descida, como enfronhar-se. Esta alternncia
entre imagens, que representam a oposio antittica do Regime Diurno
subida/queda e a posio conciliadora da descida do Regime Noturno, pode ser
compreendida enquanto representao do Regime Crepuscular proposto por
Strongoli, caracterizado por esta rtmica que ora valori za a razo e seus correlatos
processos de distino do Regime Diurno, ora valoriza a emoo e suas formas de
conciliao dos opostos do Regime Noturno. Desta forma, a si ntaxe imagtica do
poema constituda a partir de uma relao rtmica e evolutiva entre queda e
descida, evoluti va porque nas primeiras imagens o movimento da queda mais
marcante e este polaridade inverte-se para a valori zao da descida nos ltimos
versos.
O mesmo movimento imagtico observado no poema tambm constitui a
relao com o outro, que pode ser compreendida por meio do dilogo entre as
reflexes tericas de Bauman e Maffesoli. A relao com o outro, em um pri meiro
momento, cruzar o campo de fora, isto , romper o que Bauman observa como
o perigo que o outro representa para a integridade de meu projeto de manter um
corpo apto a desfrutar o prazer em toda sua plenitude, pois, conforme o autor, a
liberdade do outro sempre empecilho e ameaa para a reali zao deste projeto.
Por isso, o contato com o outro representado pelo cair, pelo movimento agressivo
e perigoso da queda, imagem que remete morte, ao declnio, falncia, em seus
dois possveis sentidos: a morte espiritual/moral, como, por exemplo, o cair em
pecado, sentido negati vo atribudo ao sexo (relao, por excelncia, com o outro)
originrio e remi niscente do ascetismo judaico-cristo no ocidente; e a morte
propriamente dita, ligada aos perigos oferecidos por todo um ambiente csmico
propcio possibilidade da queda, tais como, o precipcio, o abismo, o penhasco, o
desfiladeiro, etc. Encontrar o outro precipitar-se.
82
No entanto, este perigo que o outro representa a mim, nos ltimos quatro
versos, transforma-se em descida, em enfronhar-se, movimento em direo a uma
relao de intimidade acolhedora e lenta, cautelosa; e esta desacelerao do
movimento pode ser percebida nos verbos consumir e chegar ao fim. Neste
ponto, o contato com o outro se transforma no experimentar junto, no compartilhar
vi vncias atravs da emoo, no participar de um mesmo espao e comungar dos
mesmos valores, caracterstica da tribali zao de nosso tempo apontada por
Maffesoli .
Para o autor, esta comunho entre o sujeito e a alteridade ocorre atravs da
teatralidade geral das personas assumidas pelo eu em cada comunidade, e esta
infuso do eu em diversos meios perder-se enquanto identidade e reencontrar-se
em um constante processo de identificao, perene metamorfose inserida na
multiplicidade do meio social, na qual o prazer pode ser vivido como um modo de
apropriar-se do mundo, em oposio s doutri nas ascticas, para as quais ele s
pode ser medido pela produo (MAFFESOLI, 2010a, p. 16). E por ser o prazer, o
hedonismo, esta nova forma de apropriar-se do mundo, o contato com o outro
sempre sinestsico, ttil, estabelecido atravs corpo, da pele, do sentir e roar-se ao
outro, e do sexo. Ou como Claudia Roquette-Pinto exemplifica em um singelo verso
Sim, eu acredito no corpo." (set., 2006, p. 4).
O pensamento de Maffesoli, neste ponto, aproxima-se s consideraes de
Guattari sobre a necessidade de reconstruir o conceito de subjetividade na
contemporaneidade:
[...] parece indicado forjar uma concepo mais transversalista da
subjetividade, que permita responder ao mesmo tempo a suas
amarraes territorializadas idiossincrticas (Territrios existncias) e
a suas aberturas para sistemas de valor (Universos incorporais) com
implicaes sociais e culturais. (GUATARRI, 2012, p. 14)
Esta concepo transversalista de Guattari, na prpria escolha do prefixo
trans, aponta, em nossa opinio, para este sentido de comunho dado por
Maffesoli . Comunho que no mera juno, pois no h em Maffesoli o
apagamento do sujeito, mas o entrelaamento entre o corpo i ndividual e o corpo
social. Semelhantemente, Guattari afirma que
83
[...] em certos contextos sociais e semiolgicos, a subjetividade se
individua: uma pessoa, tida como responsvel por si mesma, se
posiciona em meio a relaes de alteridade regidas por usos
familiares costumes locais, leis jurdicas... em outras condies, a
subjetividade se faz coletiva, o que no significa que ela se torne por
isso exclusivamente social. Com efeito, o termo coletivo deve ser
entendido aqui no sentido de uma multiplicidade que se desenvolve
para alm do indivduo, junto ao socius, assim como aqum da
pessoa, junto a intensidades pr-verbais, derivando de uma lgica
dos afetos mais do que de uma lgica de conjuntos bem
circunscritos. (2012, p. 19)
O eu lrico de Claudia Roquette-Pinto parece estabelecer-se neste dilogo
entre Bauman e Maffesoli, pois, por vezes, sente a relao com o outro enquanto
ameaa integridade do corpo em sua procura pelo prazer, em outras, experimenta
a ligao com a alteridade enquanto comunho constitutiva de uma nova ordem
social, enquanto i nsurgncia de outras formas de socialidade; as quais, conforme
Maffesoli , transferem-se do mbito do econmico para o ecolgico, isto , de uma
estrutura de domnio e aproveitamento planejado dos recursos para outra na qual o
que importa a fruio do momento, o hedonismo do presente. Na passagem
abaixo do poema cinco peas para o silncio, esta relao dupla com o outro
facilmente observada no movimento do corpo que, ao contato com o outro,
incendeia, transforma-se em cinzas, para depois, como o smbolo mtico da Fni x,
ressurgir das cinzas em outra forma.
corpo deitado ao silncio
sob o sol, exposto
ao incndio de outro rosto
todo ele ateasse
surgindo, vertiginoso,
das cinzas do gozo, em nudez
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 29)
No poema Perdido, o encontro dos corpos tambm acontece nesta relao
entre prazer i ndividual e comunho com o corpo social representado no outro. O
prprio ttulo do poema, Perdido, i nfere essa relao com a alteridade que ainda
no se constituiu em definiti vo, relao representada pela descrio potica do ato
sexual.
Perdido:
o plano de vo,
84
a planta do terreno,
o olho engatado no outro,
palavras que no foram a esmo
(as bocas diziam o mesmo
que o corao, fosforescente, no escuro).
Sem reparo,
a concha das mos sobre as minhas,
entre os lenis o amor
ou a anestesia, sobre o meu
seu corpo emborcado,
na mesma paisagem, confiante.
Que rasga, desaba,
pior que a floresta depois da tromba dgua,
razes desventradas,
crateras onde antes o rio espalhava seu riso
tudo to estranho e vazio,
sob o olho congelado desta lua sem alma.
Perdido.
Interrompido o pulso,
perigosamente.
(ROQUETTE-PINTO, 2005, p. 60)
A relao com o outro, desde o incio do poema, margeia a ausncia e o vazio,
marcada constantemente pelo perigo da perda do corpo frgil de um eu lrico em
confronto com o outro. H uma constante ameaa de destruio diante do corpo
alheio, que transparece tanto na semntica das escolhas lexicais quanto na
fragmentao si nttica dos versos Que rasga, desaba,/ pior que a floresta depois
da tromba dgua,. Mas este outro no expulso, pois possibilidade de prazer ; e
no atrito entre os corpos constitui-se outra forma de vi vncia da relao que, sendo
amor ou anestesia, a via pela qual se v uma nova paisagem, que no aqui e
agora do prazer sensual confiante. Neste contexto, a imagem do pulso, assim
como no poema anterior, presente, pulso que se remete a pulsao, analogia
dicotomia vida e morte. O bater do pulso, assim, a oscilao entre a vida e a morte
que esto presentes na relao entre o eu-lrico e a alteridade, oscilao entre o
prazer e o perigo que o outro representa, entre os valores individuais de uma
economia pessoal orientada pelo prazer e o hedonismo do estar-junto, de vi ver em
comunho o instante presente. Neste sentido, a imagem do pulso a representao
por excelncia desta dupla tenso frente alteridade na qual se inscreve a lrica de
Claudia Roquette-Pinto.
E sob esta tenso, a confiana, quando emerge, condio efmera, pois a ela
contrape-se um eu temeroso, um eu que desesperadamente no quer morrer,
que receia os laos que perigosamente aproximam-no do outro, pois tais laos
85
sempre so cindidos pela presena da queda h algo que desaba no cenrio
coberto por crateras que representa o contato.
Alm disso, este outro representa outra dualidade, a tenso entre o masculino
e o feminino. As trombas dgua e as razes desventradas so imagens flicas
que apontam para a masculi nidade ameaadora da alteridade; ameaa ao femini no,
que se insere nas relaes entre os sexos em uma sociedade que mantm
resqucios de um modelo patriarcal. Maffesoli, comparando o capitalismo moderno
ao mito de Prometeu, assi nala que
O produtivismo prometeico da modernidade representa, de qualquer
maneira, uma forma particularmente bem tpica do modelo de
sociedade patriarcal. O homem, em seu aspecto conquistador,
subjuga a natureza, explora-a vontade, e isso privilegiando a
dimenso racional e seu corolrio que desenvolvimento cientfico e
tecnolgico. (2001, p. 62)
O homem, em seu aspecto dominador, volta-se ainda subjugao do
elemento feminino (de unio), como tambm, feminilidade, razo sob a qual se
justifica esta tenso entre masculi no e femini no, percebida na lrica de Claudia
Roquette-Pinto que, conforme afirmamos, encontra-se em uma zona limtrofe da
percepo das mudanas sociais, refletindo o momento de choque dessa dualidade
em uma poca de transio.
No poema Perdido, calcado sobre estas duas tenses, prazer
individual/comunho e masculino/femi nino, esta transio nas relaes com a
alteridade no se resolve, no h, como em cinco peas para o silncio, o
ressurgimento atravs das ci nzas do gozo, em nudez, ou seja, a tenso entre
sujeito e outro no se define, o impasse fica circunscrito na zona de fronteira, pois o
pulso i nterrompido imagem da ausncia de resoluo. O pulso para e, sem
movimento, no sabemos se tal suspenso pulso de vida no estar-junto de
Maffesoli ou pulso de morte no perigo que o outro representa frente ao desejo de
fruio ilimitada do prazer, conforme assi nala Bauman.
Em outro poema, Kit e Port, a descrio do ato sexual tambm nos permite
entrever uma das faces desta dupla tenso.
Eles fazem amor na beira do abismo.
A areia, o cascalho tisnam, esfolam,
rasgam o vestido e a pele, o cinto
86
aninhou-se em serpente inerte
ao lado do palet amarfanhado,
o brinco rolou encosta abaixo,
as palmas das mos lanharam e
passeiam sua aspereza pelo rosto,
cobrem de poeira o seio trmulo,
exposto.
A cpula a concha indecisa
que acima dos corpos se fecha
nada guarda: plpebra dormente,
anestesiada sob o entardecer,
que fosforesce.
No momento em que a penetra
(apenas o zper aberto)
centrpeto em seu mpeto, ele fala.
Repete, enquanto arremete
o corpo contra o dela,
lanha arranha esfola ergue
sua tenda de palavras
sob o cu que no protege.
(ROQUETTE-PINTO, 2005, p. 75)
O primeiro verso do poema, Eles fazem amor na beira do abismo, assinala
que, neste confronto entre um sujeito voltado presentificao das emoes na
qual o que importa a perseguio do prazer pelo prazer (MAFFESOLI, 2001, p.
121) e um sujeito que tem o outro talhado pela medida das suas prprias
preocupaes e desejos, a alteridade ser marcada pelo perigo.
O outro, presente no poema, aquele que, conforme Bauman,
Presta-se vontade do ego e, ao mesmo tempo, fixa limites a essa
vontade. uma expanso da liberdade do ego e, ao mesmo tempo,
restringe com as suas imposies essa liberdade. , por
conseguinte, um objeto de absoro e de assimilao ou um
objeto de luta (BAUMAN, 2007, p. 128).
E esta luta pelo prazer em constante iminncia de queda, na beira do abismo,
trata-se do prazer libertino, libertinagem que deve ser compreendida dentro da lgica
da dominao, na qual O Outro encarna a todo o momento o futuro que escapa s
regras e ao controlo, sede de uma i ncerteza perene e, enquanto tal, um ncleo
que atrai e causa medo (BAUMAN, 2007, P. 128). Isto , liberti nagem, embora seja
uma forma derivada da palavra liberdade, do latim libertas, na sociedade moderna
ganha acepo negati va, pois o libertino aquele que faz mau uso da liberdade,
suas atitudes representam um desperdcio da funo econmica do sexo: a
procriao e a manuteno do ncleo familiar. Deste modo, figura errante e
87
desregrada, o libertino imagem do perigo da perseguio do prazer pelo prazer, do
prazer no utilitarista, aquele para quem o futuro reserva o infortnio decorrente de
uma vida desregrada, a cigarra da fbula. Por esta razo que podemos observar
no poema uma constelao de imagens teriomrficas (esfolam, rasgam,
lanharam, arranha) e nictomrficas (tisnam, a cpula que se fecha, dormente,
entardecer), nas quais a animalidade e a noite tornam a presena da morte
prxima. Neste ponto interessante observar que como o orgasmo chamado de la
petit mort (a pequena morte) pelos franceses, ou ainda a recorrncia moderna ao
pensamento do filsofo e mdico romano de origem grega Galeno de Prgamo
Triste est omne animal post coitum, praeter mulierem et gallum (todo animal fica
triste depois do coito, exceto a mulher e o galo) que ainda serve de justificati va
proibio do coito para atletas ou lutadores antes das competies, ou que servi u a
muitos mdicos do sculo passado para aconselhar cautela na fruio dos desejos
sexuais.
No entanto, como observa Maffesoli, a pequena morte sexual um modo
homeoptico de chegar integrao segundo a qual o homem um ser para a
morte. (2001, p. 64), e o sexo na contemporaneidade no mais assimilado
simples reproduo, no est mais, simplesmente, estabelecido na economia da
famlia nuclear (2001, p. 65). Isto , o sexo faz parte de uma efervescncia rumo a
um vitalismo que no se projeta mais para o futuro, mas para a fruio do presente,
no qual o outro representa a possibilidade de comunho e no qual se admite a
condio de ser para a morte e, consequentemente, valoriza-se o momento.
Esta outra polaridade em favor da fruio dos prazeres pode ser observada no
poema Cano de Molly Bloom
O corao dele batia como louco
e sim, eu disse sim
ao mar carmesim enrodilhando
o meu corpo, s vezes como fogo
s vezes vertigem;
no abrao torto
um tronco atado ao outro
beira do precipcio,
prestes a cair.
Presteza, as nossas bocas
(at ali estrangeiras)
instrui ndo uma outra
na mesma velocidade (de raio,
88
de alcateia) dos corpos enquanto ensaiam
o reconhecimento
debaixo do tombo dos ventos e atravessados de luz.
E como ele me beijou
contra a muralha mourisca
(que ali no existia,
mas quase rima com a lemniscata
de m que ento se riscava
volta do meu, do seu corao)
E sim eu disse sim eu
quero sim (ai nda que muda)
e depois do lampejo de silncio
(eu estava certa)
a sua voz
toda aberta para mim.
(ROQUETTE-PINTO,
Molly Bloom personagem do romance Ulysses de James Joyce, esposa de
Leopold Bloom, o personagem principal. comparada pela crtica Penlope da
Odisseia, pois a obra de Joyce considerada uma releitura da obra de Homero. No
entanto, ao contrrio de Penlope, Molly tem um caso. O poema de Claudia
Roquette-Pinto tambm pode ser visto como uma releitura do captulo de Ulysses
em que narrado um monlogo de Molly Bloom, i nclusi ve, entre aspas esto
fragmentos passagens extradas da obra de Joyce.
No poema, assim como em Ulysses, descreve-se uma cena amorosa na qual o
desejo da mulher reiterado pelo advrbio sim. Este desejo repetido, embora
tambm beira do precipcio, recupera a positividade do sentir o outro, do enlaar-
se (atado ao outro) com a alteridade que desaparecia no Kit e Port.
Em Cano de Molly Bloom este encontro com o outro no tange mais a
morte, mas a vida na imagem da eternidade, presente exemplarmente na imagem
do lemniscata, curva algbrica de Bernoulli que igual ao nmero 8 na vertical,
smbolo por excelncia do eterno. Neste sentido podemos at i nferir que, se em Kit
e Port a serpente smbolo da eternidade na representao da serpente de
ouroboros, imagem circular na qual o animal devora a prpria cauda est inerte,
neste poema, a viva imagem do eterno exorci za o perigo de morte que outrora
representava o contato com o corpo do outro. E esta circularidade est presente em
diversas imagens suscitadas no poema, tais como, o mar enrodilhando, o ritmo do
corpo s vezes fogo s vezes vertigem, o enlace dos coraes representados pela
lemniscata. Alm disso, a ideia de atratividade representada pelo im e somada
89
forma da que enlaa os coraes infere este estar-junto de Maffesoli, esta nova tica
da esttica que cimenta o lao social e tambm a ligao sensual com o outro, na
qual o outro no mais um estrangeiro, um estranho, a terrvel alteridade que
ameaa o projeto de prazer, mas aquele a quem me uno em um processo de
identificao, aquele que representa o corpo social ao qual o corpo individual tende
a ligar, uma nova religio (re-ligare) da qual surgem novas formas de socialidade.
E sob esta imagem que conclumos este captulo no qual pretendemos
demonstrar, atravs do corpo, que a lrica de Claudia Roquette-Pinto insere-se na
tenso vivida entre duas formas diversas de se perceber no mundo e de se
relacionar com o outro, caracterstica de um tempo de transio, no qual a lgica da
dominao capitalista e as cincias e tcnicas correlatas esto saturadas, j no
respondem s inquietaes do mundo e abrem espao para uma nova forma de
con-vi ver. Obviamente, como ressalta Maffesoli, E certo que, quando uma forma
da trama social fica saturada e que outra (re)nasce, isso acontece, sempre, com
receios e tremores (2010b, p.31), e so estes os receios e tremores percebidos na
lrica de Claudia Roquette-Pinto, autora cuja sensibilidade permite-a antever aquilo
que (re)nasce no seio social e, consequentemente, insere-a nesta zona de sombra,
interstcio entre os dois pontos.
Deste modo, em uma lrica de fronteira, marcada pela descrena na ideologia
prometeica, pelo esfacelamento do contrato social estabelecido a partir do sculo
XVIII que pri vilegiou a razo e a domesticao das paixes, pelo inacabamento e
incompletude dos perodos de transio, mas tambm, e acima de tudo, pelo esprito
de insurreio de quem margeia outra maneira de se relacionar com os outros e com
o mundo, pelo amor fati de Nietzsche, pelo amor ao presente e o que est a dado,
pelo prazer do corpo e das aparncias, ou como descreve Maffesoli, a aceitao de
um mundo que no o cu na terra e tambm no o i nferno na terra, mas, sim, a
terra na terra. (2010b, p.35) sobre todos estes fatores, e tantos outros, o eu-lrico
de Claudia Roquette-Pinto se constitui.
90
PAISAGENS DA SUBJETIVIDADE
O que arte? Qualquer reflexo sobre a produo artstica humana parte desta
primeira questo e do escopo que a resposta poder abranger.
A primeira implicao lgica em delimitar o que seria arte a necessidade do
estabelecimento de critrios de classificao ou a determinao de caractersticas
universais que permitam a identificao e imposio de limites na distino entre o
que a arte e o que no a arte. Para Vicent Jouve, a definio de arte possui dois
critrios: objeto de arte enquanto artefato que suscita o sentimento do belo, critrio
clssico no qual se enquadraria facilmente obras de arte anteriores modernidade;
a obra de arte como maneira particular de significar, defi nio moderna, na qual
possvel enquadrar objetos estticos distintos como a Monalisa e a Fonte de Marcel
Duchamp (JOUVE, 2012, p. 14)
No entanto, a escolha de um dos critrios representa mais uma posio
ideolgica do que uma defi nio do objeto artstico, e, em decorrncia, incapaz de
perdurar ao longo das geraes. Neste sentido, Jouve se apropria da ideia de
conceito aberto de Weitz para buscar uma definio da natureza artstica, isto ,
classificao que sempre pode ter seu campo ampliado.
So os textos efetivamente publicados que determinam nossa ideia
de romance, e no o contrrio. O mesmo vale para a arte. Identificar
uma obra como artstica se referir a um feixe de propriedades que,
empiricamente, funcionam como critrios de reconhecimento; no
entanto, nem por isso qualquer uma delas de presena obrigatria.
O erro consiste em transformar os critrios de reconhecimento de
classes historicamente fechadas (o romance grego, a tragdia
clssica) em critrios normativos de avaliao de classes abertas (o
romance, a tragdia). (JOUVE, 2012, p. 14)
No entanto, se a prpria delimitao de propriedades precria, e parece
obedecer mais concepes estticas histricas do que propriedades atemporais,
existe arte? Historicamente o termo arte designa artefatos que suscitam o
sentimento do belo. Tal defi nio, por sua vez, esbarra em outro problema: o belo
propriedade a priori de um objeto ou apenas apreciao subjetiva? Para Kant, a
beleza por si, sem relao com o sentimento do sujeito, nada (KANT, 1994, p.
55), isto , o belo uma relao entre as propriedades do objeto e as propriedades
91
valorizadas esteticamente pelo sujeito/sociedade que observa. Neste sentido, o
universo dos produtos culturais
39
humanos que no pertencem ao gnero arte em
determinada poca podem, por meio de uma mudana do valor esttico atribudo
por uma sociedade, tornar-se arte. Mas qual a razo da existncia de um estudo
esttico se a arte resume-se a uma opo de valor? Afinal, pressuposto
fundamental das cincias modernas a necessidade de um objeto de estudo passvel
de ser delimitado e descrito por meio do mtodo o modelo cientfico da
modernidade um processo de investigao cuidadoso e sistemtico sobre um
recorte especfico da realidade, ou seja, investigao orientada por mtodo e corpus.
Mas a arte, por fim, no existe.
O subjeti vista Genette discorda desta suposio. A arte, para o autor, um
objeto esttico intencional, isto , uma obra de arte um artefato (ou produto
humano) com funo esttica (JOUVE, 2012, p. 16), e esta intencionalidade
reconhecvel pelos traos composicionais que o autor escolhe na produo da obra.
O problema de tal definio categorial auferir o mesmo estatuto artstico a obras
como Grande Serto: veredas de Guimares Rosa e o ltimo romance de Paulo
Coelho. Alm disso, muitos objetos que hoje consideramos arte no eram ao seu
tempo considerados de tal forma, nem seu autor teve tal inteno, como os Sermes
de Antonio Vieira.
Desta forma, voltamos compreenso de que no existe objeto esttico, mas
unicamente objetos apreendidos no quadro de uma conduta esttica (JOUVE, 2012,
p. 18). Neste sentido, a pergunta no o que arte?, mas o que entendemos
como arte?. No no mbito de uma metafsica esttica que devemos concentrar
nossos esforos, mas em uma filosofia esttica analtica, em uma investigao de
nossa forma de entender o que ou no arte. Este o nico caminho capaz de
explicar como o mictrio branco do arti sta francs Marcel Duchamp, a fonte (1917),
foi considerado o trabalho de arte moderna mais i nfluente da histria
40
, superando
obras como Les Demoiselles dAvignon e Guernica de Pablo Picasso e The Red
Studio de Henri Matisse.
39
Para Wilson, a cultura a combinao de traos que distingue um grupo de outro. Um trao
cultural um comportament o primeiro inventado dentro de um grupo ou aprendido de out ro, depois
transmitido entre os membros do grupo (2013, p. 257). Neste sentido, salient a o autor que o
conceito de cult ura pode ser aplicado igualmente a ani mais e a seres humanos. Por este pri ncpio
conceitual que delimitamos o termo cultura com a adj eti vao humana.
40
Dados extrados de pesquisa realizada em Londres, para a qual foi consultada a opi nio de 500
personali dades do mundo das artes, conforme not cia veiculada na Folha de So Paul o em 02 dez
2004, disponvel em <http://www1.fol ha.uol.com.br/ folha/ilustrada/ult90u48380.shtml>.
92
Vicente Jouve, sob esta concepo, aponta trs caractersticas dos objetos
artsticos: so objetos no utilitrios, possuem um sentido simblico e tm um valor
reconhecido, desta forma, possvel que um jarro antigo, que possua apenas um
valor utilitrio, anos depois adquira um valor simblico e esttico independente de
sua funo prtica (JOUVE, 2012, p. 22).
A teoria literria tambm se preocupou sempre com a descrio e
categorizao do que literatura. Plato e Aristteles, segundo Compagnon (2010,
p. 19), no desejavam codificar ou orientar metodologicamente a pesquisa literria,
mas buscavam formular gramticas prescritivas da literatura; a partir do romantismo
at a contemporaneidade, ao contrrio, repudiou-se qualquer atitude prescritiva
sobre a arte, e os estudos voltaram conduta descriti va, analtica ou tpica.
Entretanto, em ambas as condutas, a questo do valor sempre esteve presente.
Melhor exemplo dado na observao do percurso etimolgico da palavra
literatura. Literatura vem do termo latino litteratura que designa conjunto de saberes
e habilidades relacionados escrita e leitura, tais como, a gramtica, a retrica e a
potica. J no sculo XVI, segundo Jouve, literatura designa a cultura do letrado e,
em decorrncia, as possibilidades de acesso leitura, afiliao a uma elite. Por volta
do sculo XVIII que a ideia de literatura enquanto arte verbal comea a se firmar,
mas limitava-se a poesia; e somente no sculo XIX a literatura adquire seu sentido
moderno, referindo-se a todos os gneros nos quais se percebe o uso esttico da
linguagem escrita (JOUVE, 2012). Isto , observa-se a permanncia no tempo de
certa noo de qualidade, seja da escrita ou do contedo, e, a partir do sculo XIX,
consolidando-se o valor esttico sobre aquilo que belo, no utilitrio e
representati vo de um contedo simblico.
O formalista Jakobson, ao descrever as funes da linguagem, contribui
discusso ao tentar estabelecer diferena entre as funes da linguagem. Para
Jakobson, a poesia linguagem em sua funo esttica. Deste modo, o objeto do
estudo literrio no a literatura, mas a literariedade, isto , aquilo que torna
determinada obra uma obra literria. (JACOBSON apud EIKHENBAUM, 1973, p. 9-
10). Isto , certa combinao intencional da linguagem com o objetivo de produzir
significativo contedo simblico, na qual se enfati za o prprio contedo da
mensagem, esforo criativo no qual o destinatrio reconheceria o valor esttico.
Genette, conforme observa Jouve, semelhantemente, ir destacar na literatura a
intransiti vidade de um discurso que no remete a nada alm de si mesmo (JOUVE,
93
2012, p. 34). No entanto, mesmo a tentati va de Jakobson no transcende uma
valorao ideolgica.
interessante tambm notar que tais preocupaes com a delimitao do
objeto de estudo da Teoria Literria surgem justamente em um momento de crise
dos paradigmas cientficos, tempo no qual a cincia cada vez mais uma reflexo
sobre a reflexo (BACHELARD, 1996, p. 307). Desta forma, concomitantemente
com a preocupao sobre o que a literatura, a teoria literria volta-se tambm
exausti va descrio da prtica e dos pressupostos dos estudos literrios. Como
aponta Compagnon,
A teoria seria, pois, numa primeira abordagem, a crtica da crtica, ou
a metacrtica [...] trata-se de uma conscincia crtica (uma crtica da
ideologia literria), uma reflexo literria (uma dobra crtica, uma self-
consciousness, ou uma auto-referencialidade), traos esses que se
referem, na realidade, modernidade, desde Baudelaire e,
sobretudo, desde Mallarm. (2010, p. 21)
A conceituao de literatura, alm de ponto fulcral, torna-se terreno de embate
entre diversas perspectivas tericas sobre os estudos literrios que buscam delimitar
o objeto de sua cincia. Em comum, tais teorias mantm averso ao pressuposto
positivista da possibilidade de forma de conhecimento cientfico absoluto; entretanto,
conservam, em certa medida, a concepo positivista de que todo problema em sua
rea pode ser submetido jurisdio do pensamento cientfico e a viso moderna de
que os pressupostos de qualquer perspecti va terica so passveis de
questionamento. Neste sentido, podemos observar que novamente a questo do
que literatura volta-se mais a orientao do pressuposto terico do que a qualquer
outra coisa.
Thomas Kuhn observa que delimitar o objeto a ser estudado , igualmente,
escolher a perspecti va a partir da qual o objeto ser observado; trata-se de uma
questo de paradigma escolha de um modelo de representao e interpretao do
mundo e delimitao dos pressupostos, isto , dos interesses constitutivos, dos
valores e dos juzos anteriores prtica cientfica. Logo, a cincia inevitavelmente
vtima de uma tentativa de encaixar o objeto de estudo dentro de limites e esquemas
conceituais preestabelecidos e o desenvolvimento da maioria das cincias tm-se
caracterizado pela contnua competio entre di versas concepes de natureza
94
distintas (KUHN, 1991, p. 22). Ou seja, qualquer modelo terico, mesmo ao fi nal da
exposio de sua metodologia e resultados, quando voltar-se natureza do objeto
esttico, encontrar-se- diante de uma fundamentao passvel de crticas e repleta
de lacunas. Eagleton, em perspectiva semelhante, observa que a literatura um
termo antes funcional do que ontolgico, fala do que fazemos, no do estado fixo
das coisas (2001, p. 13), isto , mesmo sem poder definir ou descrever
definitivamente, o termo literatura serve para apontar um conjunto, mesmo que
mvel.
Sendo a questo do valor em literatura extrnseca obra de arte e determinada
a partir de concepes estticas mutveis no tempo, tambm o autor, ao
empreender a produo artstica, embora faa escolhas a partir de preferncias
estticas pessoais, restringido por um sistema maior que ir delimitar as
possibilidades de escolha em cada poca. Assim, embora as variaes de estrutura
composicional, estilo e contedo semntico e pragmtico da obra so expresses de
uma subjeti vidade, esta subjeti vidade encontra-se adstrita aos valores estticos de
sua poca que, por sua vez, so reflexos das formas de socialidade, ideologias,
programas, pedagogias, cdigos e zonas de estratificao do meio em que surge o
artista.
Assim, a obra est relacionada ao autor e sociedade. Desta forma, refletir
sobre a obra pode partir do exame sobre as preferncias estticas do autor.
Claudia Roquette-Pinto, em sua obra zona de Sombra (2000), no poema de
abertura do livro, encontrado na primeira seo denomi nada fsforo, explora
metapoeticamente o fazer literrio atravs da metfora pictrica da tela, da palavra-
cor. Fundido escurido, o poema revela uma obra que se depara zona de
sombra, afronta os perigos e prazeres velados, ou mesmo proibidos, da escurido:
ora a indetermi nao dos contornos visuais, ora a hipertrofia do toque, da
sensibilidade da pele, do corpo a corpo, que desvelam uma subjeti vidade em crise,
em estado de choque, ci ndida e oprimida, embora viva em sua mxima densidade.
Esta escurido lrica de Cludia infensa claridade ofuscante da referencialidade
das palavras, determinao dos sentidos, estreita racionalidade tcnico-cientfica
smbolo de uma masculi nidade orientada pelo mito de Cruso, pelo homo faber,
pela dominao da natureza. Observa-se que a autora coloca-se em posio
adversa ao legado do positivismo para a literatura; isto , se a partir das escolas
literrias influenciadas pelo positivismo a literatura procurou revelar a realidade
95
natural social e histrica por meio de um discurso clarificante dos fenmenos do
mundo, sempre compreensveis e explicveis logicamente; a lrica de Claudia
movimento para a indeterminao, movimento no para o significado visvel do
mundo, mas para o sentido ttil das coisas, vapor e sensao emanada como
perfume, apreendida com o corpo. Alis, uma passagem de um poema em prosa
potica, da obra margem de manobra (2005), exemplar desta opo de potica do
corpo: E o que havia ali para ser entendido, era o corpo que entendia num vis
absolutamente novo, onde as imagens se estendiam sobre as sensaes ou,
antes, se enlaavam a elas (ROQUETTE-PINTO, 2005, p. 15)
A natureza, desta forma, no objeto de anlise e dominao, ao contrrio,
est em relao simbitica com o homem, espao de vivncia mtua, alimento,
cooperao.
tela
o centro negro palimpsesto de escurido. camadas de
preto confundidas, tisne sobre tisne at o oclusivo, ltimo negror.
ao redor, ilhas de cor, eltricas, sazonadas pela imaginao dos
poentes. flutuando de por-sobre, em bandos nativos, uns grifos,
asteriscos de nanquim. Seus gritos, que ao ouvido inspirariam:
cautela.
toda a equao existe, toda superfcie pintada s roda e
translada por causa desta ideia, que no se equivoca: o centro negro.
mas ele no se dirige aos olhos de quem contempla aos olhos
sem sono, sem clios, olhos lvidos que insistem e boca,
intermitente, que invoca: portal, flor inversa, bocejo de escuro
a tragar quem te discerne! Magma, fruto de treva, estrela no
cor de densidade mxima! A ti resta engolfar-nos, ou explodir.
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 19)
O ttulo do poema, tela, iniciado em letra minscula caracterstica recorrente
na escrita de Claudia anuncia a priori a descrio de uma obra de arte pictrica;
entretanto, a palavra palimpsesto (pergaminho ou papiro cujo texto original
eliminado para a reutili zao), no primeiro verso do poema, revela indcios da
metfora metapotica: a tela a folha de papel na qual o poema escrito.
Palimpsesto igualmente infere uma concepo de arte potica avessa inspirao,
caracterizada pelo trabalho de reescrita do verso, pelas camadas de preto
confundidas, at o oclusi vo, o ltimo negror. No entanto, a escrita potica tambm
96
difere de uma engenhosidade cabralina, pois marcada pela sombra, por um lugar
de indefinio, de incompletude, no qual as camadas de preto confundem-se.
A poesia de amalgamao, o eu-lrico de Claudia se expressa em um lugar
no qual o heterogneo dilui-se, funde-se, i ndetermina-se, e tudo gravita em torno do
centro negro, no qual a viso e a claridade so incapazes de apreender; a viso
ainda possui sempre uma perspectiva negati va, as imagens que suscita so
inquietantes olhos sem sono, sem clios, olhos lvidos que insistem boca
evocam um estado perturbador das coisas, aflio, angstia.
Quanto mais longe do centro, o ambiente torna-se eltrico smbolo de fora,
energia , ao redor, cores definem-se, e j se distingui o tempo, sazonadas pela
imaginao dos poentes. No entanto, quanto mais distante da zona de sombra da
palavra potica e prximos s ilhas de cor que gravitam ao seu redor, h uma
presena nati va (selvagem, no domesticada) e tambm negra, a figura mitolgica
do grifo
41
, da qual os gritos inspiram ao ouvido cautela, como alarme que avisa a
sada da zona de sombra.
Alm do hermetismo crepuscular que o ambiente sombrio proporciona ao
poema, as imagens centro negro, preto, tisne, negror, nanquim, flor i nversa, bocejo
escuro, magma, fruto de treva, estrela de no-cor de densidade mxima pertencem
aos smbolos nictomrficos que, para o estruturalismo figurati vo de Gilbert Durand,
possuem uma valorao dupla no imaginrio. Por um lado, os smbolos
nictomrficos agregam o simbolismo das trevas medo ancestral de um homem
para o qual a noite representava a maximi zao de todos os perigos e o
simbolismo do anoitecer, prenncio de morte, noi te que se transforma em asfi xia e
opem-se imaginao da luz, da vida. Por outro lado, as imagens nictomrficas
representam quietude, calmaria, possibilidade de afastar-se do turbilho dos perigos
de viver. H sempre na opo pela sombra do eu-lrico de Claudia certa tenso entre
esta dupla valorao. Se, por vezes, a sombra representa imagens negati vas flor
inversa, bocejo escuro, fruto de treva, estrela no-cor , h igualmente uma
tranqui lidade noturna, embora no se oferea aos olhos, mas ele no se dirige aos
olhos de quem contempla aos olhos sem sono, sem clios, aos olhos lvidos que
insistem; pois seus sentidos so contrrios racionalizao diurna, lgica,
separao e discernimento das coisas que apenas a luz pode oferecer, porque a
41
Smbolo do signo de libra no zodaco, representado pela bal ana, pel o equil brio, possui as
caractersticas de val orizar as artes, inteligncia e um apurado senso de justia.
97
descida, ao contrrio da ascenso que movimento para o exterior, i nterioridade,
regresso sinestsico e visceral. O sentido da descida o tato, o que se observar na
recorrncia do corpo na poesia de Claudia.
A descida interioridade, ao subterrneo, representada tambm no
movimento dos verbos tragar e engolfar-nos. A descida, no regime noturno,
conforme ilustra Gilbert Durand, uma atitude eufmica frente queda do regime
noturno do imaginrio. Ou seja, enquanto a queda movimento agressi vo e
representa a morte, o fim, a expulso do paraso, o incio de uma vida limitada
temporalmente; a descida calmaria, lentido, encontro de uma paz interior. Os
verbos tragar e engolfar, no poema, representam um meio termo do processo de
eufemi zao que exorciza a negati vidade da escurido e da queda at que sua face
ameaadora seja sublimada, at que ocorra a i nverso dos valores, at que se
transforme a queda em calma descida e a escurido em interioridade aconchegante;
Durand j apontava ao fato de que a i nverso sempre feita por etapas, de tal
modo que as imagens conservam, apesar de uma forte inteno de antfrase, um
trao da sua origem terrificante ou, pelo contrrio, anastomosam-se curiosamente s
antteses imaginadas pela ascese diairtica (DURAND, 2002, p. 199). Por isso, o
cuidado sempre presente no poema, h sempre uma atmosfera de perigo, de
situao limtrofe, hori zonte que pode ser rompido a qualquer momento e a descida
transformar-se novamente em queda, sentimento totalmente representado nas
ltimas palavras a ti resta engolfar-nos, ou explodir assim como na
ambiguidade da advertncia dos grifos a cautela necessria ao entrar ou ao sair
do centro negro? , ou seja, sempre uma relao dialgica entre o devorar que
destri da queda e o engolimento que conserva, tranqui liza e pacifica.
O primeiro poema j anuncia uma obra que refletir sobre a relao entre dia e
noite, clareza e obscuridade. Alm disso, uma obra que procurar revalidar o
hermetismo, o obscuro, o i nacessvel razo; i nteno demonstrada na escolha da
epgrafe retirada de Paul Celan D tambm sentido ao seu dito:/ d-lhe sombra..
No artigo A obscuridade do potico em Paul Celan, do professor de Teoria da
Traduo Literria e Literatura Alem Maurci o Mendona Cardozo, encontra-se a
estrofe da qual extrada a epgrafe escolhida por Cludia Roquette-Pinto, e
importantes consideraes sobre o poema e o poeta.
98
Fale
Mas no separe o No do Sim.
D a tua fala tambm o sentido:
d-lhe a sombra
42
Poema intitulado Fale voc tambm
43
que, segundo Cardozo (2012), tambm
anuncia uma obra para a qual a sombra no escurido absoluta, silncio, mas
sombra, a lrica funda-se na binaridade da ausncia e da presena de luz, do No e
do Sim, espao em que convivem luz e escurido, no qual a escurido ganha
contorno, densidade, profundidade, sentido. A preferncia pelas imagens
nictomrficas tambm insere a poesia de zona de sombra (1997) em uma
obscuridade constituti va de sentido, escurido que se ope a claridade que distingue
e separa da luz, mas que preserva formas, vultos e presenas extremamente
sensveis ao corpo, embora no ntidas ao olhar. Alm de tudo, sombras
necessrias vida, assim como a luz.
Assim, observa-se, ao lado de Wunenburger, o desdobramento entre o nvel de
linguagem literal, mais superficial e exterior (o qual engloba as relaes sintticas,
semnticas, pragmticas e discursi vas da linguagem), e o nvel de linguagem
simblico, inscrito subterraneamente atravs da coerncia das
constelaes/esquemas de imagens, reveladoras das profundezas da psicologia.
Compagnon, em O demnio da teoria: literatura e senso comum (2010),
tambm observa a unio e o desdobramento de elementos constituti vos da obra na
produo do sentido. Para o autor, para que exista literatura, necessria a unio
de cinco elementos: um autor, um livro, um leitor, uma lngua e um referente; a eles
ainda, deve-se acrescentar a histria e a crtica, que igualmente so elementos
estruturantes. Em um vocabulrio mais terico, o autor prope que poderamos
nomear aos quatro primeiros de literariedade, inteno, representao, recepo; e
a histria e a crtica separ-las em esti lo, histria e valor.
Antonio Candido, em Literatura e Sociedade (2000), igualmente observa que a
literatura, sendo sistema mediado pela cultura, somente se concreti za enquanto
fenmeno humano na relao entre obra/autor/leitor e, como todo processo de
comunicao, pressupe um comunicante, artista, um comunicado, a obra, um
comunicante, pblico, e ainda um quarto elemento, que seria o efeito. O autor ainda
42
Sprich / Doch scheide das Nei n nicht vom Ja. / Gib dei nem Spruch auch den Sinn: / gib i hm den
Schatten. (CELAN, citado por CARDOZO, 2012, p. 101).
43
Sprich auch Du
99
aponta que os elementos externos agem de tal forma sobre a obra artstica que
acabam exercendo importante papel na constituio da estrutura, tornando-se
elementos internos. Alm disso, Candido ressalta que na relao arbitrria e
deformante que o trabalho artstico estabelece com a realidade, mesmo quando
pretende observ-la e transp-la rigorosamente, o artista transporta a realidade
exterior a seu modo para o i nterior da obra, pois a mimese sempre uma forma de
poiese. neste sentido que compreendemos a importncia da subjeti vidade na
constituio da obra literria. A partir da classificao dos elementos estruturantes
do fenmeno artstico proposta por Wunenburger, Compagnon e Candido, optou-se
pela diviso texto, sociedade, autor e imaginrio. Sendo que o autor, este
desdobramento subjeti vo, ao empreender a produo artstica a partir de
determinados valores morais, ticos, estticos, ideolgicos e espirituais, transparece
no interior da obra, que , antes de tudo, produto intencional. Obviamente, a
constituio do objeto esttico emoldurada (sofre restries, censuras) das formas
de socialidade, ideologias, programas e pedagogias da sociedade na qual
produzida, assim como enformada pelo imaginri o de um tempo.
Autores como Bosi (1996), Combe (2009-2010) e Adorno (1980) ainda
observam que a obra artstica ultrapassa o fato anedtico da biografia pessoal de
um autor e inscreve-se no si ngular, na qui ntessncia da experincia vi vida aberta
ao universal (COMBE, 2009-2010, p. 126), manifestando-se em coerncia com os
sentidos emanados de uma sociedade e de uma poca e conjugando o pathos que a
anima (animus, do latim, alma) ao ethos que a envolve.
Tal vnculo pode ser observado em a cami nho, segundo poema da obra zona
de sombra (1997). Neste poema, h uma intertextualidade explcita com A mquina
do mundo de Carlos Drummond de Andrade e A terceira margem do rio de
Guimares Rosa, alm de riqussimo repertrio de imagens da natureza, presena
constante na poesia de Claudia.
a caminho
Abri u-se maj estosa e cincunspecta
sem emitir um som que fosse impuro
Carl os Drummond de Andrade
estava a caminho: canoa
comprida-boa partindo
100
a sombra, a meio-e-meio, no rio
silncio-cutelo e, certo,
o dia aberto seu ventre
(azfama de zanges urgentes)
cego
estava a caminho e era
tido por meu o rio
sem costas nem frente,
a brio
inteirado em silncio
por dentro uma chusma de insetos
vazante, na beira, o estrpido
meu enxame de equvocos
Estava a caminho, e na curva
as guas fendidas as duas
guas se apartam, sditas
do incndio, das espadas,
do verde (sem acaso)
ruivo que picava
as folhas de gravat
o gravat o suave
sbito roar de
dedos (vermelho-
acicate) no umbigo
dos nimbos, acordar
a paisagem
o gravat seu recato:
ritmo intacto, enflorado,
servindo de pasto
para besouros, girinos
bebedor de smios
o gravat o severo
cerne,
o fero centro que ergue
verde-negro, estrela
de silncio
e preciso
aqui a gua turva
de mistura com razes
a curvatura da terra
empena,
oblitera a ris
aqui o rio dobra, a nau
soobra, a cuia escura
do cu emborca
uma gua dura,
s catadupas,
101
cai fustiga como um pai
resta o caminho o sombrio
seguir-do-rio (tateio
guisa de aprendiz)
dedo cego, palavra-
(sem rasgos na pele da gua)
de-superfcie
mudo, vazio,
cingido pela gua difcil,
braando no lodo, sigo,
s escuras,
a mo nua abrindo o fio
(comea comigo) a
costura invisvel
do rio
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 20-22)
A epgrafe de Carlos Drummond de Andrade anuncia que o poema dialogar
intensamente com a tradio lrica ocidental e com o leitmotiv desencadeador desta
tradio: o mistrio da criao e a possibilidade de sond-lo, compreend-lo.
Do profundo enigma que ci nge a criao emana um belssimo repertrio de
imagens disseminado tanto nas artes quanto nas cincias. De onde viemos? Qual a
origem do mundo? H fi nalidade a priori na criao? Tais questes perpassam os
sculos, e as respostas nunca elucidam; no entanto, apontam e desvelam as formas
de socialidade da poca que as responde. A prpria ideia da criao inscreve-se em
uma concepo de mundo prometeica e apolnea, orientada pelo arranjo
conveniente das coisas, pela justa demarcao dos limites, pela definio clara dos
contornos, pela necessria nomeao e conceituao dos entes, pela real existncia
de motivos e finalidades dos fenmenos, pela possibilidade de planejamento e
movimento ordenado pelo kosmo, palavra do grego que significa ordem.
A concepo de Voluntas Dei a vontade de Deus o pri ncpio organizador
de toda a disposio e finalidade cosmolgica que prevaleceu nas artes, na filosofia
e no pensamento cientfico, inclusi ve na contemporaneidade. Na fsica, Newton era
partidrio de um deus da ordem, Einstei n considerava inconcebvel a ideia de um
deus que jogasse dados; apenas na fsica quntica de Niels Bohr que o acaso e a
conti ngncia obtm aceitabilidade na descrio dos fenmenos fsicos.
Na filosofia, na obra Timeo, Plato descreve minuciosamente a estrutura
astronmica e o surgimento do homem, isto , a mqui na do mundo.
102
Timeo vai descrevendo progressivamente cada uma das
caractersticas do universo. Seguindo a tradio de Pitgoras, ele
assume que tudo foi planejado de acordo com argumentos para
tentar provar que devem existir quatro e apenas quatro substncias
naturais (terra, fogo, gua e ar) e associa esses elementos a quatro
figuras geomtricas tridimensionais: a terra teria partculas em forma
de cubo, o fogo seria formado por pequenas pirmides de base
triangular (tetraedros), o ar por octaedros e a gua por icosaedros.
(MARTINS, 1994, p. 58)
A inquirio do mistrio retomada na Divina Comdia de Dante Alighieri, no
mais orientada pelo vis filosfico-racional de Plato, mas pela graa da viso
divina, a qual escapa ao entendimento humano, sobrevindo como revelao que os
olhos do poeta contemplam, entretanto so incapazes de compreender: Qual
gemetra que, com f segura,/ volta a medir o crculo, se no/ lhe acha o princpio
que ele em vo procura/[...] Mas no tinha o meu voo um tal poder,/ at que minha
mente foi ferida/ por um fulgor que cumpriu seu dever (ALIGHIERE, 1998, p. 234).
cosmoviso teocntrica de Dante soma-se um importante elemento que ser
incorporado tradio: o cami nhante, aquele a quem, no meio da vida, do cami nho,
so revelados os enigmas do uni verso.
A imagem do caminhante, do viajante, ao qual o mistrio revelado depois de
uma rica existncia experiencial retomada em Cames. Em os Lusadas, a deusa
Ttis, como recompensa aos feitos de Vasco da Gama, condu-lo Mquina do
Mundo para que observe o funcionamento do uni verso.
Este orbe que, primeiro, vai cercando
os outros mais pequenos que em si tem,
que est com luz to clara radiando
que a vista cega e a mente vil tambm,
Empreo se nomeia, onde logrando
puras almas esto daquele Bem
tamanho, que ele s se entende e alcana,
de quem no h no mundo semelhana
(CAMES, 1999, p. 272)
importante observarmos que a mqui na do mundo de Cames difere de
Dante Alighieri na descrio mais minuciosa do funcionamento do universo,
orientada por uma concepo cosmognica geocntrica e ptolomaica elaborada a
partir do pensamento cientfico da poca. Ou seja, a explicao do mistrio no
exaure a significao dos fenmenos do cosmo; no entanto, elucida importantes
103
aspectos sobre o conhecimento artstico, filosfico e cientfico da poca da qual
surge.
Na modernidade, a mqui na do mundo ressurge na lrica de Carlos Drummond
de Andrade, na obra Claro Enigma (1951), no poema homnimo. O poema
drummondiano tambm apresenta a figura do caminhante, mas desprovido de uma
situao gloriosa ou merecimento como o paraso em Dante ou as conquistas em
Cames, mas aquele a quem a mquina se abria gratuita a meu engenho. Alm
disso, este caminhante que vaga solitariamente por uma estrada pedregosa de
Minas, ao fi nal da tarde, a quem a mquina do mundo revela-se, um eu-lrico j
desiludido do mundo e de seus mistrios, um eu-lrico que se esqui va, que no
deseja ou mesmo no acredita no conhecimento que lhe revelado: baixei os
olhos, incurioso, lasso,/ desdenhando colher a coisa oferta/ que se abria gratuita a
meu engenho. (ANDRADE, 2006, p. 284). Em Drummond, a laicizao do
conhecimento moderno, a desconstruo de uma postura religiosa aparente em
Dante e Cames, o desencantamento do mundo e o sentimento da gratuidade de
todas as coisas j no permitem ao eu-lrico o deslumbramento frente ao mistrio;
sartrenianamente j no h mais a mquina do mundo, ou se houvesse, nada
mudaria
44
.
Em Haroldo de Campos voltamos a encontrar o mistrio no li vro A mquina do
mundo repensada. O poema de Campos uma extensa obra dividida em trs
partes. Na primeira, so retomadas as representaes da mqui na do mundo de
Dante, Cames e Drummond. A segunda parte descreve os desenvolvimentos da
fsica moderna, os sistemas tericos elaborados por Galileu, Newton e Einstei n que
superaram o modelo ptolomaico de mundo descrito por Dante e Cames. A terceira
parte do poema apresenta uma viso de mundo constituda a partir do big bang e de
outras teorias e descobertas da fsica contempornea, mas que, ao mesmo tempo,
permeada pelas vozes da religiosidade e da cincia medieval encontradas em
Cames e Dante. Isto , a mquina do mundo haroldiana restitui e revitaliza os
sentidos presentes nas obras e teorias clssicas que buscaram a compreenso do
que estar-no-mundo dialogando com a filosofia, arte e cincia moderna.
Claudia Roquette-Pinto, em a cami nho, dialoga com esta tradio a
intertextualidade designa no somente uma soma confusa e misteriosa de
44
Passagem faz referncia a famosa frase de Sartre encont rada na obra O existenci alismo um
humanismo (1970): mesmo que Deus existisse, nada mudaria.
104
influncias, mas o trabalho de transformao e assimilao de vrios textos,
operado por um texto centralizador, que detm o comando do sentido (JENNY,
1979, p. 14). Em Claudia, o texto centrali zador pode ser compreendido como a
temtica e alguns elementos presentes nas obras que a antecederam. A mqui na do
mundo em a cami nho representa a abertura ao mistrio, a revelao do que era
escuro, mas que ai nda se apresenta em sombra, distante da luz que delimita
fronteiras ntidas e definidas e caracteri za o processo cientfico moderno de
identificao, classificao e nomeao das entidades. A abertura intuio, aos
sentidos, antes sinestsica que visual, antes percepo da totalidade do mistrio
que a distino analtica de suas partes, um saber por sentir, apreenso sem ser
compreenso logicizante.
Os versos iniciais estava a cami nho: canoa/ comprida-boa partindo/ a sombra,
a meio-e-meio, no rio, dialogam com os dois elementos centrais da tradio da
mqui na do mundo: o viajante/andante, aquele que est a caminho, seu desti no
sempre outro; e a experincia vivencial, o viajante sempre aquele que j vi veu,
aquele que j conhece muito das coisas, a quem o mundo j revelara muitos
mistrios. Soma-se a estes elementos a i ntertextualidade com A terceira margem do
rio de Guimares Rosa nos lexemas canoa, comprida-boa, meio-e-meio, rio. A
referncia obra roseana hipertrofia o carter misterioso, plurissignificante das
imagens poticas, como tambm, anuncia a escolha da natureza como o plano de
fundo para a experincia potica do eu-lrico.
O cenrio potico auxilia magistralmente no ambiente de mistrio. O silncio
caracterizado pelo substantivo concreto cutelo faca de lmi na retangular utilizada
para cortes no delicados, como ossos , smbolo de fora, agressividade, virilidade
e movimento brusco; alm disso, o silncio certo comparando a uma imagem
recorrente em nosso imaginrio, o silncio que antecede o susto em um filme de
terror. O dia est terrivelmente aberto, seu ventre est exposto, como se a fora
agressiva do substantivo cutelo migrasse descrio do dia; e no seu interior h
uma azfama, movimento anrquico, de zanges urgentes, adjeti vo que amplia o
sentido da movimentao catica.
Para Durand, na movimentao anrquica, h um deslizamento do esquema
teriomrfico para um simbolismo mordicante: O fervilhar anrquico transforma-se
em agressividade, em sadismo dentrio (DURAND, 2002, p. 84). a imagem do
que morde, tritura, esquema pejorati vo da animao que se remete a sensaes
105
primeiras, tais como, o trauma da dentio na infncia. E o ventre ainda cego, no
h luz nem som que auxiliem na distino do acontecimento, a percepo toda
sinestsica. O cenrio extremamente angustiante, totalmente contrrio descrio
amena dos primeiros versos.
Em a caminho, assim como em Drummond, a viagem solitria, representa a
individualidade do mundo contemporneo. No entanto, a viagem na obra de Cludia
protegida pela interioridade serena da canoa, converso da queda em descida, em
aconchego interior. A imagem do eu-lrico permanece como o andante voyeur
comum na tradio da mquina do mundo, solitrio como em Drummond, mas
protegido da hostilidade exterior. Esta imagem da proteo pode ser inferida na
imagem da deusa Ttis nos Lusadas de Cames e na amada Beatri z na Divina
Comdia de Dante Alighieri. Neste sentido, se em Cames e Dante, a imagem da
proteo, em uma leitura psicanaltica, pode estar representando a figura da me;
em Cludia, a imagem da canoa tambm pode ser relacionada ao tero materno.
J a diferena fundamental por onde se viaja. Enquanto nas obras de
Drummond, Cames e Dante a viagem exterior, a explorao ou negao da
explorao do mundo, na obra de Cludia esta viagem i nterior, introspeco, o
mistrio a desvendar o eu, como pode ser observado nos versos estava a
caminho/ e era tido por meu o rio, ou em por dentro uma chusma de insetos/
vazante, na beira, o estrpido/ meu enxame de equvocos. Esta i nteno de
viagem rumo introspeco tambm percebida na obra de Drummond no poema
O homem; suas viagens publicado em As impurezas do branco (1973):
Restam outros sistemas fora
do solar a col-
onizar.
Ao acabarem todos
s resta ao homem
(estar equipado?)
a dificlima dangerosssima viagem
de si a si mesmo:
pr o p no cho
do seu corao
experimentar
colonizar
civilizar
humanizar
o homem
descobrindo em suas prprias inexploradas entranhas
a perene, insuspeitada alegria
106
de con-viver.
(ANDRADE, 1978: 448-450)
Este o ltimo e to antigo mistrio conhece-te a ti mesmo. Em um mundo
no qual os grandes limites e horizontes foram transpostos, no qual os mistrios do
universo foram afastados na instncia divina e transformados em nmeros e teorias
e no qual a subjetividade e indi vidualidade ganham maior importncia do que a
comunidade, isto , mundo no qual o eu o primeiro plano diante da coletividade,
resta o descobrimento de si. Este o mistrio da mquina do mundo de Claudia
Roquette-Pinto.
A dificlima dangerosssima viagem de si a si mesmo representada por um
caminho sem costas nem frente, no qual, na vazante, revela-se o enxame de
equvocos. A elevao do conhecimento prprio categoria de mistrio maior
aponta introspeco enquanto soluo dos conflitos existncias, opo difundida
principalmente a partir da psicanlise de Freud e hipertrofiada nas ltimas dcadas,
sob a qual reside a mxima de um discurso que apresenta como soluo para o
homem conhecer as causas dos prprios traumas a fim de tornar a vida mais
profcua, a fim de encontrar a felicidade.
Alm disso, a abertura ao mistrio na obra de Cludia tambm ocorre nas
guas fendidas do rio. O rio relacionado ao conhecimento prprio uma imagem
recorrente na literatura e em outras reas. Talvez a origem da metfora encontre-se
em Herclito de feso (535-475 a. C.) em reflexes sobre a passagem temporal e as
mudanas dos homens: Tu no podes descer duas vezes no mesmo rio, porque
novas guas correm sempre sobre ti. (HERCLITO, In: PR-SOCRTICOS, 2005,
p. 32). Para o filsofo grego, tudo se encontra em perptua mudana o tempo,
fluxo contnuo na imagem do rio, e o homem, que nunca igual a si mesmo. Neste
sentido, em a caminho, o fluxo da vida, representado pelo rio, carrega o eu-lrico
at o momento da revelao da mquina do mundo, na curva, imagem que infere
uma mudana de direo, e sobre as guas fendidas, imagem que infere um
momento de suspenso do fluxo para a reflexo/revelao do mistrio intrapessoal.
Das guas fendidas surge o gravat, designao de plantas epfitas terrestres.
Epfitas so plantas comumente encontradas em florestas tropicais, nas quais,
devido densidade vegetal, a competio por luz ocasiona interessantes
adaptaes evoluti vas na fauna e flora; no caso, as epfitas geralmente germi nam
107
sobre a casca de rvores, acima do nvel do solo. Aparentemente, o gravat
assemelha-se a um abacaxi, no entanto, no lugar da fruta, h uma flor vermelha; sua
aparncia um tanto agressi va possivelmente motivo de alguns dos outros nomes
pelo qual conhecida, tais como, abacaxi -de-raposa e erva-do-gentio.
As quatro estrofes seguintes do poema descrevem o gravat. A primeira
visualmente, a aparncia bela e agressiva do gravata do incndio, das espadas,/
do verde (sem acaso)/ ruivo que picava/ as folhas de gravata; a segunda
sensorialmente o suave/ sbito roar de/ dedos (vermelho-/ acicate) no umbigo; a
terceira descreve s funes em uma perspectiva quase utilitarista servi ndo de
pasto/ para besouros, giri nos/ bebedor de smios; e, por fim, a quarta descreve a
personalidade o gravat o severo/ cerne,/ o fero centro que ergue/ verde-
negro, estrela/ de silncio/ e preciso.
O gravat imagem da subjeti vidade do eu-lrico. No movimento de
introspeco, revelada a i nterioridade do ego, representada pelo gravat, flor de
aspecto belo e agressivo, que nasce acima do solo, que vi ve sombra das rvores
tropicais, mas que, no entanto, anseia e precisa da luz. A forma mais agressiva do
gravat descrita atravs da percepo visual, sentido que necessita da luz, assim
como o gravat na luta pela sobrevi vncia; a descrio mais suave tti l, sentido
que aprimorado em ambiente escuro, na sombra. O gravat tambm possui
funes, alimento para uns e recurso hdrico para outros, fonte de vida para outras
vidas, descrio que pode ser relacionada com o discurso que impe a necessidade
de uma utilidade para a pessoa no mbito social, isto , servir a um propsito dentro
da comunidade, realizar sua funo. Ou, em uma perspecti va mais ampla, a
finalidade da existncia, perspectiva encontrada no pensamento teleolgico
aristotlico em tica a Nicmaco,
[...] todo conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, quais
afirmamos ser os objetivos da cincia poltica e qual o mais alto de
todos os bens que se podem alcanar pela ao. Verbalmente,
quase todos esto de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de
cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem
viver e o bem agir como o ser feliz. (ARISTTELES, 1991, p. 8-9)
Para o sbio de Estagira, tudo no mundo possui uma finalidade e todos os
seres humanos aspiram felicidade. Encontrar a finalidade em cada homem
encontrar a felicidade, pois deparar-se com a melhor virtude, com a ati vidade
108
racional e consciente que melhor somos capazes de realizar e que maior valor tem
diante da comunidade. E no exerccio deste melhor que se encontra o maior
prazer, a real felicidade atividade da alma em consonncia com a virtude (p. 16),
virtude que a excelncia de um ente em ao intencional, moral .
Examinaremos esta questo, porm, em outro lugar; por ora
definimos a auto-suficincia como sendo aquilo que, em si mesmo,
torna a vida desejvel e carente de nada. E como tal entendemos a
felicidade, considerando-a, alm disso, a mais desejvel de todas as
coisas, sem cont-la como um bem entre outros. Se assim
fizssemos, evidente que ela se tornaria mais desejvel pela
adio do menor bem que fosse, pois o que acrescentado se torna
um excesso de bens, e dos bens sempre o maior o mais desejvel.
A felicidade , portanto, algo absoluto e auto-suficiente, sendo
tambm a finalidade da ao. (ARISTTELES, 1991, p. 16)
E sob esta percepo teleolgica de Aristteles tambm se encontra a
valorao do gravat em seu fim, do ente em seu fim, construo positiva de uma
subjetividade valorada na ao intencional para o coletivo, usando o termo usado
pelo filsofo, esta forma de vida seria a eudaimonia do gravat, isto , o seu vi ver
bem, vi ver uma vida tica, consequentemente, uma vida adstrita s relaes sociais,
pois no h como viver eticamente isolado.
Por ltimo, a descrio da personalidade do gravat traz as imagens mais
severas, que remetem ordem, autoridade, pertencentes ao regime diurno do
imaginrio e relacionadas com a dominante postural, a tecnologia das armas, a
sociologia do soberano mago e do guerreiro, os rituais de elevao e da purificao
(DURAND, 2002, p. 58). Estas imagens, caracteri zadas pela anttese, revelam uma
oposio agressiva entre o cerceamento e a represso que a cultura imprimem
subjetividade e a resistncia. O si lncio a escolha de no di zer, no a ausncia, o
silncio excede as denomi naes, os conceitos, os esquemas, mas no materiali za,
o inomi nvel, preciso apenas enquanto fora. No entanto, o silncio tambm
heterogneo, estrutura infinda de possibilidades, alteridade inserida na unidade. E
na interioridade silenciosa que a gua se turva, tudo se torna indefinvel viso,
oblitera-se a ris. O uni verso das coisas certas se desfaz, o rio dobra, a nau
submerge, uma gua dura cai dos cus e golpeia como um pai; o que no di zvel,
o que no visto, aquilo que audio e a viso indistinguvel, recai
agressivamente ao tato. A subjetividade a ser revelada pela mquina do mundo no
109
dedutvel pelos sentidos sobre os quais toda a racionalidade ocidental est
fundada, no h dialtica ou diviso e conceituao positiva, alteridade e unidade
no se distinguem, mas so sentidas. O caminho a seguir no rio sombrio (tateio
guisa de aprendiz)/ dedo cego , e o eu-lrico descobre que as ferramentas que
a cultura e a cincia lhe ofereceram no servem para a distino e compreenso do
universo interior ao qual pretendia descobrir:
mudo, vazio,
cingido pela gua difcil,
braando no lodo, sigo,
s escuras,
a mo nua abrindo o fio
(comea comigo) a
costura invisvel
do rio
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 22)
O incmodo do lodo representado pela valorizao negati va do negro,
smbolo de um temor fundamental, do ri sco natural, da morte, do pecado, do
julgamento, imagens nictomrficas do regime di urno que so contrapostos pelas
imagens ascensionais e lumi nosas, as trevas so sempre o caos e o ranger de
dentes (DURAND, 2002, p. 92). O no se descobrir a cegueira, a figura
inquietante do cego, ou ainda, loucura, a senilidade, a conscincia decada,
degradada, infensa racionalizao. A mquina do mundo do eu no se descobre,
nem se revela, no a termo certo, mas a violncia de sua presena ttil existe
dolorosa e fascinante.
O poema Alma Corsria, encontrado no site de Claudia Roquette-Pinto e
publicado no nmero 7 do Jornal Plstico Bolha (setembro, 2006), boletim online
voltado publicao literria, tambm dialoga com a mqui na do mundo.
De tanto sono me baixa uma lucidez estranha
em que a amendoeira pousa, luminosa, rara,
sob o fundo escuro da noite meio baa
(cilndrica, rolia, bizarra)
seu vulto verde acocorado sobre a gua
da piscina que no tem um pensamento.
Eu sinto inveja dessas guas anuladas
to plcidas, idnticas ao prprio contorno
enquanto eu mesma nem sei onde comeo,
quando acabo
110
e sofro o assdio de tudo o que me toca.
O mundo ora me engole, ora me vara
e tudo o que aproxima me desterra.
Chorei, ao ver no cho da cela,
o boto arrancado na contenda,
os culos pisados do escritor judeu.
Tenho um corao que estala
com o peteleco das palavras de Clarice.
Numa vila miservel na Bahia,
um negro lindo, lindo,
dana ao som do corisco
_ e s me apaixono por casos perdidos,
homens com um qu de irremedivel.
Mais de uma vez, imvel, circunspecta,
vi abrir-se a mquina do mundo
sob a luz inclinada de Ipanema,
na Serra da Bocaina, no meio da floresta,
no alto da escada no topo do morro
por onde a moa seqestrada vinha subindo
debaixo das lgrimas do pai.
Mais de uma vez meu corao trincou feito vidro
diante da pgina impressa,
e sempre que a palavra justa vem tirar seu mel
de dentro da copa do desespero de amor.
Acredito, do fundo das minhas clulas,
que uma amizade sincera " o nico modo de sair da solido
que um esprito tem no corpo".
Sim, eu acredito no corpo.
Por tudo isso que eu me perco
em coisas que, nos outros,
so migalhas.
Por isso navego, sbria, de olho seco,
as madrugadas.
Por isso ando pisando em brasas
at sobre as folhas de relva,
na trilha mais incerta e mais sozinha.
Mas se me perguntarem o que um poeta
(Eu daria tudo o que era meu por nada),
eu digo.
O poeta uma deformidade.
(set., 2006, p. 4)
No ttulo do poema, Alma Corsria, h o anncio da imerso subjeti vidade
que ser reali zada pelo eu-lrico. Assim como em a caminho, a introspeco ser o
elo condutor dos versos e das imagens suscitadas. Esta subjetividade, tambm no
ttulo, coloca-se margem do mundo, ser errante, corsrio, pirata, infenso ordem
111
e caminhante solitrio, definio que reconhece a incapacidade de adequar-se
domesticao, doutri nao, represso necessrias para (con)viver em
sociedade, ou, ao menos adaptar-se ao papel que representa. E assim, prefere a
errncia, o nomadismo que ultrapassa o territrio e a lgica da identidade, o desejo
do outro lugar.
Consciente da errncia de sua condio, o eu-lrico aparentemente simula (ou
deseja) invejar a adequao dos demais s exigncias do convvio social: Eu sinto
inveja dessas guas anuladas/ to plcidas, idnticas ao prprio contorno/ enquanto
eu mesma nem sei onde comeo,/ quando acabo/ e sofro o assdio de tudo o que
me toca.. No entanto, dei xa transparecer a valorao que esclarece o valor que
atribui a esta adequao: guas anuladas, idnticas ao contorno, isto , aqueles
que se encaixam, enquadram-se sem deixar arestas nas formas de socialidade,
anulam-se enquanto i ndividualidade.
O mundo, em relao subjetividade margem do eu-lrico, descrito como
agressivo, i nadequado, desarmnico: O mundo ora me engole, ora me vara/ e tudo
o que aproxima me desterra.. O movimento do mundo sempre excede, ultrapassa,
violenta, e a ruptura (ou desarmonia) entre a subjeti vidade e o exterior transparece
nas mais diversas situaes, no tri vial do negro li ndo que dana na Bahia, na
tragdia do cho da cela, na beleza inquietante das palavras de Clarice, no
tragicmico prosasmo do boto arrancado na contenda, na predileo amorosa por
homens com um qu de irremedivel e, inclusi ve, na mquina do mundo que se abre
a um eu-lrico leitor que se v despedaado tambm pela leitura, meu corao
trincou feito vidro/ diante da pgina impressa. A mquina do mundo, novamente,
no oferece os mistrios insondveis do universo, mas o conhecimento de si, a
percepo de si, de ser poeta, isto , uma deformidade, ressignificao do gauche
drummondiano estranho e desajeitado muito mais agressiva: O poeta uma
deformidade. O poeta no tem forma, aquele a quem a formao social no
desenhou os contornos, mas tambm aquele a quem todos olham, todos veem e
percebem sua i nadequao, seu problema, sua deficincia congnita. E o que
transforma o poeta em uma deformidade uma forma particular de ver, um olhar
que enxerga o estranho nas injustias do mundo e no no estranhamento dos outros
frente ao i njusto. Para este poeta, onde quer que ande, est o corpo a pisar em
brasas, imagem da angstia vi vida e da dor constante, de uma via crucis pessoal, da
expiao do pecado daqueles que no veem. O poeta, desta forma, a outra voz de
112
Octvio Paz, revela aos outros homens o no-dito, o transcendente, a voz das
paixes e das vises; de outro mundo e deste mundo, antiga e de hoje
mesmo [...] sua e alheia, de ningum e de todos (PAZ, 1993, p. 140).
A imerso na subjeti vidade, objeto da mqui na do mundo de Claudia
Roquette-Pinto, desvela um questionamento que, enquanto em a caminho repousa
primordialmente sobre os enigmas do eu e, em consonncia, sobre as opes
estticas e o valor da arte a partir deste ego que i nsurge na poesia, em Alma
Corsria volta-se a questes sociais e, consequentemente, essncia do que ser
poeta. Alm disso, novamente, encontra-se a afirmao de uma potica das
sensaes, do corpo: Sim, eu acredito no corpo.
Mas qual a importncia do autor para o sentido do poema? Qual a diferena
entre subjetividade, ego, si, eu-lrico, entre outros termos utili zados para nomear o
ente, i nstncia ou estrutura que produz o texto? H possibilidade de delimitar,
observar ou apenas vislumbrar a subjetividade de um autor a partir do texto ou h
uma completa disperso do autor no cdigo lingustico, no gnero e no campo
discursivo no qual o enunciado produzido?
Octavio Paz nos ensi na que a histria do homem poderia se reduzir hi stria
das relaes entre as palavras e o pensamento (1982, p. 35). Tal axioma um
interessante ponto de partida para estas perguntas, pois, de fato, compreender
qualquer fenmeno humano, ao menos para ns moderno/contemporneos, alm do
intento de descrio e reflexo exausti va sobre fatos e acontecimentos,
investigao minuciosa dos fundamentos dos pressupostos sobre os quais se
alicera o conhecimento vide o papel fundamental exercido pela epistemologia nas
cincias (tanto exatas quanto sociais) e filosofia. Alm disso, Octavio Paz leciona
que compreender o pensamento de determi nada poca , em grande medida, uma
investigao lingustica, uma anlise da eleio e atribuio de sentido s palavras
que caracteri zam o conhecimento de uma poca.
Um aspecto crucial compreenso da relao entre palavra e pensamento,
sob esta tica, a perspectiva adotada sobre a relao entre as palavras e o mundo
exterior, isto , voltar-se noo de referencialidade presente em cada poca.
Andrea Faggion, sobre tal imperativo, aponta que h apenas um problema filosfico
relati vo ao conhecimento: o de sabermos como nossas representaes (sejam
mentais ou lingusticas) adquirem relao com seus objetos ou, em outras palavras,
como podemos dizer que elas so verdadeiras ou falsas. (FAGGION, 2010, p. 166).
113
Nos estudos literrios, o problema originrio da referencialidade da lngua
pode ser considerado um dos eixos principais do debate referente ao sentido dos
conceitos autor, obra, pblico e sociedade e o valor que possuem em cada poca.
Em uma anlise sobre a histria da Teoria da Literatura, observa-se que concepes
tericas diversas refletiram e muito discutiram sobre as imbricaes existentes entre
estes quatro elementos, sempre optando pela hipertrofia da importncia de um dos
elementos dos demais. Por exemplo, para os formalistas, o fato que distinguia a
literatura das demais produes que utili zam a li nguagem devia-se a uma particular
organi zao da linguagem. Conforme aponta Eagleton, para os formalistas, a
literatura
Tinha suas leis especficas, suas estruturas e mecanismos, que
deviam ser estudados em si, e no reduzidos a alguma outra coisa. A
obra literria no era um veculo de ideias, nem uma reflexo sobre a
realidade social, nem a encarnao de uma verdade transcendental:
era um fato material, cujo funcionamento podia ser analisado mais ou
menos como se examina uma mquina. Era feita de palavras, no de
objetos ou sentimentos, sendo um erro consider-la como o
pensamento de um autor. (2001, p.3)
Ou seja, entre os quatro elementos, a escolha formalista a obra (o texto), e
sobre ela volta-se toda reflexo terica, os aspectos metodolgicos e a prpria
criao de conceitos da escola. Isto , no apenas o mtodo e a i nvestigao que
esto adstritos forma por meio da qual o corpus perscrutado ou elencado, mas
inclusive o vocabulrio especfico originado dos estudos, assim como, o novo
sentido que foi auferido s palavras que, obviamente, pr-existiam e pertenciam
comunidade.
Assim, se o conceito de obra para o formalismo difere fundamentalmente do
que compreende a esttica da recepo, por exemplo, a questo do autor e a
influncia que exerce para a compreenso do texto , antes de tudo, uma questo
conceitual. Ou ainda, j adentrando a diviso conceitual ps-romntica,
compreender qual a natureza da relao entre o eu autntico/emprico e o eu-lrico
constitudo no (ou pelo) texto que ao menos uma certeza? inexiste anteriormente
obra. Ou, o que/quem engendra o poema? A discusso sobre o que/quem
engendra o poema provavelmente to remota quanto prpria criao potica
114
inscreve-se, primeiramente, na dualidade lgica criador/criatura e na discusso
ontolgica do status existencial de cada um deste par.
Octavio Paz assi nala que a relao entre o homem e a poesia to antiga
como nossa histria: comeou quando o homem comeou a ser homem. Os
primeiros caadores e colhedores de frutas um dia se olharam, atnitos, durante um
instante intermi nvel, na gua estagnada de um poema (PAZ, 1993, p. 148). Em
semelhante sentido, Victor Hugo afirma que quando o homem desperta num mundo
que acaba de nascer, a poesia desperta com ele. Em presena das maravilhas que
o ofuscam e o embriagam, sua primeira palavra no seno um hino (HUGO,
2004, p. 17).
Nas duas proposies, nota-se a simultaneidade entre a origem do homem e a
origem da poesia; o ato potico enquanto xtase e deslumbre, e a phsis
45
enquanto
esprito que engendra a criao potica. O poema, em ambas as concepes,
originrio de uma relao entre homem e natureza. Para o pensamento
contemporneo de Octavio Paz, uma relao na qual a magnitude do segundo
elemento desperta no primeiro a xtase de uma simultnea criao e recepo
potica no verbalizada, a consagrao do i nstante em seu sentido mais profundo
do latim, consecrare, con (ao conjunta, em unio), sacro (sagrado, sublime,
divino) e are (terminao usada para indicar ao verbal) , tornar sagrado em ao
conjunta. Para o romntico Victor Hugo, semelhantemente, o mundo exterior a
causa da qual a poesia a consequncia, a beleza extraordi nria do mundo que
provoca no homem o poema. Para ambos, da relao entre phsis e homem que
surge o poema, embora, no romntico Victor Hugo, o poema seja mais dependente
da ao do homem, enquanto, em Paz, parece haver uma relao de simbiose.
No ocidente, a relao phsis/homem/poesia tem suas primeiras razes no
entrelaamento entre a religiosidade politesta grega, a percepo hi lozosta
4647
da
45
Physis, para os gregos, a natureza em um sentido ampl o. Isto , refere-se realidade em
constante movimento e transformao desde sua originri a manifestao, assim tambm entendi da
enquanto gnese, ori gem e vir a ser de todas as coisas, movimento e fora contrri a ao anrquico.
46
Hilozoismo (do grego hyl e, matri a, e zoe, vida) designa a concepo segundo a qual a mat ria do
uni verso vi va. Os hilozostas consideram que toda a reali dade, todos os elementos que i ntegram o
cosmo, um organismo material integrado, que possui caractersticas como animao, sensibilidade
e/ou conscincia, logo, animado.
47
Segundo Octavio Paz, para ent endermos a concepo de arte enquanto imit ao da naturez a de
Aristteles, devemos compreender que para o sbio de Estagira a natureza um todo animado, um
organismo e um modelo vi vo [...] o lampejo potico no brota do nada, nem o poeta o tira de si
mesmo: ele fruto do encont ro entre essa natureza animada, de existncia prpri a, e a alma do
poeta (PAZ, 2012, p. 167), por esta interpretao de Paz, afi rma-se que sua percepo da rel ao
115
natureza e a concepo cosmocntrica de mundo; unio que engendrou a figura e a
funo mtica da musa
48
, representao de um ideal de memria vinculado
preservao ad aeternum do notvel na sociedade grega, seja fato histrico ou
crena mtica. Isto , os gregos vinculam o fazer potico e a i nspirao, esta
mediada por meio de uma figura externa ao homem que, de certa maneira, mesmo
personificada, pertence phsis.
A musa, enquanto i nspirao e parte do fazer potico, fundamental para os
gregos, o que se pode observar na prpria estrutura da poesia pica homrica, na
qual h uma parte denominada invocao, onde o poeta pede auxlio s musas para
compor seu canto.
A indelvel presena da musa ou, em um sentido mais amplo, a ideia do
elemento externo que determi na o fazer potico, persiste na tradio lrica. Por
exemplo, em Os lusadas de Cames, E vs, Tgides minhas, pois criado/ Tendes
em mi um novo engenho ardente,/ Se sempre, em verso humilde, celebrado/ Foi de
mi vosso rio alegremente,/ Dai-me agora um som alto e sublimado,/ Um estilo
grandloco e corrente [...] (1999, p. 12); em Baudelaire, Ah, mi nha pobre musa, o
que tens esta vez?/ Teus olhos ocos so todos vises noturnas/ E alternati vamente
refletes na tez/ Loucura e horror, as sombras taciturnas (1999, p. 23), para citar
apenas dois poetas.
Ao no desaparecer no decurso do tempo, a imagem da musa, ao encontrar
um mundo j abandonado pelos deuses, isto , na passagem de um pensamento
teocntrico para o antropocentrismo, desce do panteo a terra. Primeiramente,
transforma-se em mulher idealizada, a partir da qual ganha, gradativamente,
contornos mais realistas. Para a ilustrao deste movimento dentro da tradio
potica brasileira, pode-se citar Marlia de Dirceu de Toms Antnio Gonzaga (1744-
1810), obra na qual a figura femi nina, embora idealizada como nas demais
produes rcades, ganha certos contornos realistas, segundo a viso de alguns
entre homem e poesia simbitica. Em Claudia, como assinalado, tambm se encontra esta noo
de simbiose.
48
Quando os deuses do Olimpo, sob o comando de Zeus, venceram os seis filhos de Urano,
chamados de tits, a seu comandant e foi incumbida a misso de criar di vindades que cantariam as
vitri as e perpetuari am as glri as pel os sculos e sculos. Para realizar a tarefa, Zeus deitou-se com
Mnemsi ne (Memria), a deusa da memri a, por nove noites consecuti vas, e desta uni o, aps um
ano, nasceram nove filhas que cantariam o presente, o passado e o futuro acompanhadas pel a lira de
Apolo. E estas criaturas ganharam a denominao de musas. s musas, destinadas a cantar as
glri as dos deuses, nascidas de uma uni o di vina, o homem pedi ria emprestado seu canto e
inspirao, para que, tambm, cant assem as glri as, os amores e as tristezas humanas.
116
crticos, que orientados pela historiografia literria, apontam Marlia como Maria
Dorotia Joaquina de Seixas, adolescente de 17 anos pela qual Toms Antnio
Gonzaga apaixonou-se aos 40 anos e, com a qual no pde casar-se devido
priso e exlio sofridos em decorrncia de seu envolvimento com a Inconfidncia
Mineira.
Seguindo adiante no percurso histrico, na contemporaneidade, a musa
corporifica-se e se torna humana, como exemplo pode ser citado o poema O mito,
de Carlos Drummond de Andrade, que, orientado em um denso questionamento
sobre as relaes sociais, dialoga com a tradio potica da musa inspiradora,
agora denominada fulana, imagem que reali za um movimento pendular entre a
criao platnica e a mulher real, percebido no uso das maisculas, para no
alongar-se em outros momentos do poema: Sequer conheo Fulana,/ vejo Fulana
to curto,/ Fulana jamais me v,/ mas como amo fulana. (DRUMMOND, 2002, p. 84).
Em Cludia Roquette-Pi nto, quanto relao phsis e subjeti vidade, a poesia
est estritamente relacionada com imagens da natureza, imagens de um exuberante
e intensamente vi vo jardim, repleto de flores, insetos e contradies, ambiente que
pulsa no ritmo de uma vida experienciada em seus recnditos desejos, segredos,
impossibilidades, insatisfaes, prazeres e, acima de tudo, vi vncia do tato, do
olfato, do paladar poesia de proximidade, vi venciada com o corpo. Assim, esta
relao to estreita entre a Phsis e a subjetividade torna-se congregao,
pertencimento, comunho com a natureza, no apenas um lugar ameno como na
poesia rcade, mas relao em toda complexidade. Mas o tema conti nua sendo a
subjetividade.
O DIA inteiro perseguindo uma idia:
vagalumes tontos contra a teia
das especulaes, e nenhuma
florao, nem ao menos
um boto incipiente
no recorte da janela
empresta foco ao hipottico jardim.
Longe daqui, de mim
(mais para dentro)
deso no poo de silncio
que em gerndio vara madrugadas
ora branco (como lbios de espanto)
ora negro (como cego, como
medo atado garganta)
segura apenas por um fio, frgil e fssil,
117
nfimo ao infinito,
mnimo onde o superlativo esbarra
e tudo de que disponho
at dispensar o sonho de um cho provvel
at que meus ps se cravem
no rosto desta ltima flor.
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 17)
Neste poema, primeiro da obra Corola (2000), o eu-lrico transcreve o processo
de produo literria atravs da metfora do jardim. Conforme observam Iumma
Maria Simon e Vincius Dantas (2009, p. 216), os versos iniciais do poema declaram
que nada h a ser contemplado e representado, os vagalumes, a florao, o cho,
as flores, so apenas conjunturas imagticas na procura de uma ideia, o jardim
hipottico, paisagem que se desreali za porque o poema no irrompe. A primeira
imagem, vagalumes tontos contra a teia/ das especulaes, aproxima o esforo
intelectual da criao potica desorientao sensorial, indetermi nao dos
contornos no lusco-fusco dos vagalumes, vida de inseto preso teia nsia por
liberdade da priso interior, que reside nas prprias especulaes, da qual apenas
citar j custa, conforme se observa na hesitao provocada pela quebra si nttica
entre substanti vo e adjunto adnominal.
Alm disso, caracteriza a criao potica a ausncia e nenhuma/ florao,
nem ao menos/ um boto i ncipiente e a limitao da viso causada pela restrio
do meio atravs do qual a vi vncia com o poema acontecer no recorte da janela
, alm da no predileo pela viso.
Outra imagem constante na poesia de Cludia imagem da queda, Longe
daqui, de mim/ (mais para dentro)/ deso no poo de silncio , a queda
aniquiladora de seu prprio corpo (2005, p. 15), conforme o verso de margem de
manobra
49
.
O movimento para bai xo, no primeiro momento, assemelha-se a descida rumo
interioridade, espao de conforto e silncio. No entanto, a partir de imagens
negati vas (lbios de espanto, cego, medo atado garganta) a imagem da
descida transforma-se em queda e carrega consigo o aspecto negati vo desta ltima.
A imemorial imagem da queda remete dissoluo da eternidade.
49
O movimento para baixo tambm presente em muitos poemas de Cl audia, e oscila entre a
imagem da queda e a imagem da descida, caracterstica que explorada no texto segundo as
estruturas do imagi nrio de Gilbert Durand.
118
temporalidade como dissoluo, ligam-se s imagens do arruinar,
do desaparecer, do enterramento progressivo, do fim no satisfeito,
da disperso, da alterao, da indigncia copiosa; da temporalidade
como agonia emergem as imagens da caminhada em direo
morte, da doena e da fragilidade, da guerra intestina, de cativeiro
nas lgrimas, de envelhecimento, de esterilidade; a temporalidade
como banimento agrupa as imagens da tribulao, do exlio, da
vulnerabilidade, da errana, da nostalgia, do desejo vo; enfim, o
tema da noite governa as imagens da cegueira, da obscuridade, da
opacidade. Nenhuma dessas quatro imagens mestras nem suas
variantes deixam de receber sua fora de significao a contrrio da
simblica oposta da eternidade sob as representaes do
recolhimento, da plenitude viva, do estar em casa, da luz.
(RICOEUR, 1994, p. 51-52. Grifos do autor)
Na concepo judaico-crist, a queda i nicia-se com o pecado original de Ado
e Eva, desobedincia e pri vao da eternidade, incio de um tempo cronolgico
voraz e absoluto, i nescapvel, tempo profano e de mudana contnua.
A queda de Ado significa a ruptura do paradisaco presente eterno:
o comeo da sucesso o comeo da ciso [...] Essa contnua
mudana a marca da imperfeio, o sinal da queda. Finitude,
irreversibilidade e heterogeneidade so manifestaes da
imperfeio: cada minuto nico e distinto porque est separado,
cortado da unidade. Histria sinnimo de queda. (PAZ, 1984, p. 32)
Para Gilbert Durand, a queda o temido tempo, o declnio e a escurido e a
ascenso imaginada contra a queda e a luz contra as trevas (DURAND, 2002, p.
158). A queda a vitria de um tempo histrico (profano) contra um tempo cclico
(sagrado), a vitria de Cronos contra Urano Deus da suprema luz, do sol, da flecha
gnea do fogo purificador na mitologia grega. Esse trajeto antropolgico da
imagem, conforme Durand, origina-se em uma espcie de vaivm contnuo, inscrito
de um lado nas razes inatas da representao do sapiens e, do outro lado, nas
vrias i nterpelaes do meio csmico e social.
Na formulao do imaginrio, a lei do trajeto antropolgico, tpica de
uma lei sistmica, mostra muito bem a complementaridade existente
entre o status das aptides inatas do sapiens, a repartio dos
arquetpicos verbais nas estruturas dominantes e os complementos
pedaggicos exigidos pela neotenia humana. Por exemplo, para
tornar-se um smbolo, a estrutura de posio fornecida pelo
posicionamento do reflexo dominante na vertical necessita a
contribuio do imaginrio csmico (a montanha, o precipcio, a
ascenso...) e a sociocultural (todas as pedagogias da elevao, da
119
queda, do infernal...) sobretudo. Reciprocamente, o precipcio, a
ascenso e o inferno ou o cu somente adquirem um significado de
acordo com a estrutura da posio inata da criana. (DURAND,
2004, p. 90-91)
Isto , a queda , de um lado, a memria do pri meiro fracasso da criana ao
procurar manter-se na posio vertical O recm-nascido de imediato
sensibilizado para a queda: a mudana rpida de posio no sentido da queda ou no
sentido do endireitar-se desencadeia uma srie reflexa domi nante, quer di zer,
inibidora dos reflexos secundrios. (DURAND, 2002, p. 112) , movimento negativo
que vai encontrar nos meios csmicos, tais como a montanha, o precipcio, sua
materialidade, e nas representaes socioculturais, a elevao, o i nferno, o cu, a
queda, a derrota, certa narrati vizao. Neste sentido que, na lrica de Cludia, se a
primeira imagem da descida remete ao poo de silncio, ambiente tranquilo,
aconchegante, mido, ntimo, representao do tero materno, transforma-se,
gradativamente, em perigo, suspenso segura apenas por um fio frgil, fssi l,
mnimo onde o superlativo esbarra, isto , descida sobre a terrificante imagem da
queda, perigo intenso, cho provvel, no qual os ps se cravaro no rosto desta
ltima flor, a poesia, ltimo recurso contra a agresso da sucesso irrefrevel do
tempo, mas no suficiente. A poesia a fuga irrealizvel que no amaina o
terrificante devir. A paz subterrnea descoberta na descida visa eufemi zar, atravs
das imagens do regime noturno, a face ameaadora da queda at que seja
sublimada, at que ocorra a inverso dos valores; no entanto, o esforo no o
suficiente, pois a poesia, a consagrao do instante, o apagamento do tempo
nefasto que a arte possibilita matria, no constante. O movimento do Regime
Noturno, sob o signo da converso e do eufemismo, uma inverso sempre feita
por etapas, de tal modo que as imagens conservam, apesar de uma forte inteno
de antfrase, um trao da sua origem terrificante ou, pelo contrrio, anastomosam-se
curiosamente s antteses imaginadas pela ascese diairtica (DURAND, 2002, p.
199). A ameaa do rompimento perene.
poesia
Por que voc me abandona
no vrtice da vertigem
quando a chuva cai (um Magritte)
sobre rosas que desistiram?
Por que novamente me perco
120
entre hortnsias, no aclive,
mais altas que os homens, mais vivas
que o Exrcito de Terracota?
Sem voc eu caminho no plano,
tudo escorre
- h um silncio aturdido
uma cota do que morre
por dentro daquilo que brota.
Sem a sua luz, o que me resta?
Palmilhar s cegas
um quarto de veludo
onde o espelho, mudo, assiste
fuga do que reflete.
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 31)
A procura da poesia, o esforo da composio, a materialidade inconstante do
poema no suficiente, no desfaz a presena da ameaa, a presena da queda, a
vertigem, da escurido, porque a lrica no rompe a racionali zao, a diviso, a
claridade que ilumi na os contornos do regime diurno, que tambm a expresso da
mentalidade ocidental a partir do renascimento. As imagens do jardim i nterior
apontam a esta impossibilidade: rosas que desistiram. A luz e a viso so ausncia
ou imagens negati vas, no poema Nada, publicado tambm em Corola,
encontramos versos exemplares deste movimento cobre o olho impiedoso, pai do
meu desconforto (2000, p. 23).
Assim, se o tema a subjetividade e a musa a natureza, dela que emana
uma lrica de intenso conflito ambientada no micromundo do jardim de si. As
metforas e imagens do jardim so a representao ttil da tenso i nterior-exterior
da subjeti vidade. Conforme Claudia afirma em entrevista para o Jornal Plstico
Bolha:
Muitos no percebem (e eu gostaria que todos pudessem perceber)
que, na verdade, quando estou falando de uma paisagem, estou
falando sobre uma paisagem mental. Quando estou falando de uma
flor, de uma planta, estou falando de um estado de esprito ou de um
processo de pensamento. A minha poesia algo que se apia
nesses anteparos externos, como uma planta, uma tela.
Aparentemente estou falando daquilo, mas na verdade, estou falando
at no prprio fazer potico. Toda a minha poesia est voltada para
isso. So duas coisas que, hoje em dia, esto bem claras para mim;
so dois centros sobre os quais eu me debruo: o processo de
pensamento, que engloba a prpria feitura do poema e o
envolvimento amoroso, que uma questo que me fascina, para a
qual nunca encontro resposta (porque no h mesmo). (2007, p. 3)
121
O lao que une subjeti vidade, obra e mundo terreno sempre controverso.
Alm da figura da musa, a questo da representao do mundo por meio do
discurso potico tambm problemtica. Os poemas falam do que? Do mundo? Do
poeta? Do prprio discurso lrico?
No pensamento grego a poesia mimesis da natureza, uma representao de
carter imitati vo. O ato de imitar instintivo e prazeroso segundo Aristteles (2004),
e tambm fonte dos primeiros conhecimentos que adquirimos e dos prazeres que
experimentamos. Alm disso, soma-se natural tendncia imitao certo gosto
instintivo pela harmonia e pelo ritmo, nascido da observao dos ciclos biolgicos e
csmicos da natureza, e estas duas caractersticas humanas culminam na criao
potica. Pensando desta forma, o poema seria uma representao da forma e dos
ritmos csmicos e naturais. Neste sentido, observa-se uma estreita vinculao entre
a mimesis e empeiria. Alis, para Aristteles, quanto maior a aproximao do poema
realidade, da imitao ao imitado, maior valor possui a obra.
No entanto, a questo da subjeti vidade, da expresso de um eu, no alheia
ao sbio de Estagira. Para Aristteles (2004), a poesia era passvel de classificao
em diferentes gneros, de acordo com os meios, os objetos que imitam e a maneira
que imitam. Neste caso, havia uma tripartio retrica dos gneros em pico,
dramtico e lrico diviso fundada na oposio filosfica entre o objetivo e o
subjetivo, sendo o gnero lrico o menor dos gneros por distanciar-se da imitao e
vir a ser expresso subjeti va de um autor.
Esta diviso, segundo Dominique Combe (2009-2010), foi relida pelos
romnticos alemes luz da disti no gramatical entre pessoas, sendo a poesia
lrica para Schleger, e depois para Hegel, essencialmente subjetiva em funo do
papel preeminente que ela confere ao eu, enquanto a poesia dramtica objeti va
(tu) e a pica, objetivo-subjetiva (ele) (COMBE, 2009-2010, p. 114). Isto , de
Aristteles a Hegel, a lrica a revelao de um estado anmico subjeti vo.
Segundo tal proposio, a relao entre autor e o sujeito-de-enunciao (ou o
eu-lrico se assim preferirmos chamar) revela consistente aproximao, ocasionando
uma estreita vinculao entre autor e obra. E esta aproximao que foi duramente
repelida por pensadores contemporneos, tais como, os Ps-Estruturalistas Barthes,
Foucault e Derrida, orientados, em suas anlises, principalmente pelo combate
poltico/ideolgico contra a relao entre autor e autoridade.
122
Queria ver como estes problemas de constituio podiam ser
resolvidos no interior de uma trama histrica, em vez de remet-los
a um sujeito constituinte. preciso se livrar do sujeito constituinte,
livrar-se do prprio sujeito, isto , chegar a uma anlise que possa
dar conta da constituio do sujeito na trama histrica. isto que eu
chamaria de genealogia, isto , uma forma de histria que d conta
da constituio dos saberes, dos discursos, dos domnios de objeto,
etc., sem ter que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com
relao ao campo de acontecimentos, seja perseguindo sua
identidade vazia ao longo da histria. (FOUCAULT, 1999, p. 7)
Mas de onde surge esta noo de sujeito, que tambm diversa da
compreenso aristotlica? A construo da noo moderna de sujeito foi originada
por fatores sociais, econmicos e polticos engendrados a partir da renascena. A
partir de Galileu a realidade concebida como um sistema racional de mecanismos
fsico-matemticos, originando a cincia clssica e a ideia de homem enquanto
sujeito do conhecimento, capaz de compreender racional e objeti vamente o
universo; concepo que ter valor fundamental no pensamento positivista. E
sobre esta perspectiva do sujeito que se volta a crtica ps-estruturalista. Como se
pode depreender da citao de Foucault, a ideia de objeti vidade na produo do
conhecimento e a decorrente autoridade auferida ao sujeito que o produz
equivocada, pois encobre os valores e aspectos ideolgicos ocultados pela
cientificidade e pela historicidade. No mbito da arte, a crtica, com semelhante fim,
volta-se relao entre arte, sociedade e poltica, sendo um dos eixos pri ncipais, as
questes do autor e da autoria. A posio extremada que se originou da negao do
estatuto ontolgico do sujeito foi a total negao da relao entre autor e obra.
No entanto, menosprezar totalmente o esprito criativo que engendra o texto a
fim de destituir a autoridade que o nome do autor exerce sobre a obra parece uma
atitude extremista. Negar, em absoluto, a conscincia que produz o texto, seria, em
certo ponto, atribuir ao processo criati vo humano um carter aleatrio e o desprover
de qualquer intencionalidade originria, como se fosse possvel afirmar a existncia
do texto em i ndependncia total de um elemento criador.
Ricoeur, neste sentido, contribui afirmando que
o texto, assim tratado como objeto absoluto, fica privado de sua
pretenso de nos dizer algo [...] Nada arruna mais o sentido mesmo
do empreendimento histrico que esse distanciamento objetivo que
suspende ao mesmo tempo a tenso dos pontos de vista e a
123
pretenso da tradio de transmitir uma palavra verdadeira sobre
aquilo que . (1988, p. 115)
Bakhtin
50
tambm critica essa fetichi zao da obra artstica compreendida
como artefato autossuficiente O campo de investigao se restringe obra de
arte por si s, a qual analisada de tal modo como se tudo em arte se resumisse a
ela. O criador da obra e os seus contempladores permanecem fora do campo de
investigao. (BAKHTIN, 1926, p.3).
A crtica bakhti niana, nesta passagem, volta-se pri ncipalmente contra a ideia
formalista de o sentido residir inteiramente na obra, o que iria, segundo o autor,
contra a constituio interacional dos enunciados e o processo interlocuti vo do qual
se originam. Quanto autoria, que a questo em debate, conforme leciona
Padilha, a autoria nos escritos do crculo no se confunde com a funo-autor
foucaultiana, pois se referem a um autor que se constitui no movimento interlocuti vo,
na relao alteritria existente em todo ato discursi vo (2011, p. 93). A passagem
abaixo exemplar deste entendimento.
Entretanto, o artstico na sua total integridade no se localiza nem no
artefato nem nas psiques do criador e contemplador consideradas
separadamente [...] uma forma especial de inter-relao entre
criador e contemplador fixada em uma obra de arte. (BAKHTIN,
1926, p.3-4).
Assim, para Bakhti n, a arte surge sempre de uma situao pragmtica
extraverbal e a ela est indissoluvelmente vi nculada, assim como todos os demais
discursos do fluxo unitrio da vida.
Em Discurso na vida e discurso na arte, Bakhti n tambm esclarece que o
individual se origina do social. Desta forma, julgamentos de valor no so emoes
individuais, mas atos sociais, regulares e essenciais; pois, as formas de socialidade
incidem e enformam os enunciados e as possibilidades de enunciados, sejam quais
forem os contedos temticos ou os campos da atividade humana nos quais se
constituem. Entretanto, Bakhtin esclarece que emoes indi viduais podem surgir
apenas como sobretons acompanhando o tom bsico da avaliao social. O eu
pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do ns. (BAKHTIN, 1926, p. 6).
50
H uma grande discusso sobre a questo da aut oria dos textos do crculo, o que acarreta um
problema na referenciao e citao dos textos. Neste texto, optamos por usar o nome de Bakhtin em
todas as citaes.
124
E neste sentido que afirmamos que as idiossincrasias surgem na obra potica
enquanto opes estticas e, consequentemente, ticas (toda esttica tambm
escolha axiolgica). Cabe ressaltar, ai nda, que Bakhti n distingue o autor-pessoa
(sujeito fsico responsvel pela criao verbal o escritor) do autor-criador (funo
esttico-formal engendradora da obra), sendo o ltimo, para Bakhtin, um
posicionamento esttico e formal i nterior obra e responsvel, de certa maneira,
pelas escolhas composicionais e lingusticas. Bakhtin, sob esta tica, afirma que no
interessam esttica os aspectos psicolgicos envolvidos no processo de criao,
pois o autor-criador, para que tenha valor esttico, deve ser sempre uma segunda
voz, e no a voz do escritor. O autor-criador deve ser a apropriao refratada de
formaes verbais socioaxiolgicas, um excedente de viso do autor-pessoa
calcado nos mltiplos e heterogneos dizeres sociais. No entanto, autor-criador e
autor-pessoa no so entidades autnomas, pois o autor-criador, mesmo imerso na
heteroglossia, uma estrutura esttico-axiolgica recortada das experincias
idiossincrticas do ser-no-mundo do autor-pessoa. Neste sentido, se no h a
coincidncia absoluta entre um e outro, h um lao de juno sob o qual se pode
questionar a pregnncia do autor pessoa na obra.
Alm disso, constitudo o texto enquanto enunciado, uma tessitura verbal se
concreti za, caracterizando-o enquanto objeto artstico possuidor de determinada
estrutura e marcas de estilo, como tambm, impondo-lhe possibilidades de
interpretao possvel inferir dos textos coisas que eles no dizem
explicitamente [...] mas no se pode faz-los di zer o contrrio do que disseram
(ECO, 1994, p. 98). Quanto s particularidades da tessitura verbal, utili zando o
exemplo de Umberto Eco, retirado da descrio da morte de Le Chiffre em Casino
Royale de Fleming
51
, a comparao do rudo de um silenciador com o de uma bolha
de ar e a metfora do terceiro olho e os dois olhos naturais que olham para um
ponto que o terceiro no pode ver so exemplos do que os formalistas russos
enalteceram como a desfamiliarizao (ECO, 1994, p. 62). Isto , h determinadas
caracterstica formais nos objetos artsticos que os si ngulari zam. No entanto, parece
pouco provvel que a poesia (ou a funo potica, ou uma forma particular de
51
Ouvi u-se um ntido fff, como o de uma bolha de ar escapando de um tubo de pasta de dentes.
Nenhum outro rudo, e de repente Le Chiffre ganhou mais um olho, um terceiro olho no mesmo nvel
dos outros dois, bem no ponto em que o nariz grosso comeava a projet ar-se sobre a testa. Era um
pequeno olho preto, sem plpebras nem sobrancelhas. Por um segundo, os trs ol hos percorreram a
sala e ento pareceu que o rosto inteiro escorregou e caiu sobre o j oelho. Os dois olhos laterais se
voltaram trmulos para o teto. (FLEMING, apud ECO, 1994, p. 61)
125
composio) seja uma formali zao de palavras de valor autnomo, ou seja, que
exista um valor i nscrito ontologicamente no objeto artstico, conforme assi nalava
Jakobson. mais provvel que subsista a formali zao de um valor interlocutivo,
que s existe no momento da interao verbal. Porm, em ambas as possibilidades
o autor emprico imprimi u no texto uma inteno composicional, mesmo que no
seja consciente de todos os passos da composio do texto.
Octavio Paz, neste sentido, considera que
O poema tem uma inegvel unidade de tom, ritmo e temperatura.
um todo [...] Mas a unidade do poema no de ordem fsica ou
material; tom, temperatura, ritmo e imagens tm unidade porque o
poema uma obra. E a obra, toda obra, fruto de uma vontade que
transforma e submete a matria bruta aos seus fins. (2012, p. 165)
Ou seja, h sempre uma intentio auctoris mesmo que no coincida com a
intentio operis nem com a intentio lectoris para usar os trs termos caros a
Umberto Eco (2005) , ai nda que seja apenas a inteno de transformar e submeter
a matria bruta aos seus fi ns e o intuito original no possa ser depreendido pelo
resultado do produto. Eco, embora afirme que o testemunho do autor emprico pode
ser importante para entender o processo criativo, tambm afirma que a inteno do
autor muito difcil de descobrir e frequentemente irrelevante para a interpretao
de um texto. Qualquer texto, pretendendo afirmar algo unvoco, um uni verso
abortado, isto , a obra de um Demi urgo desastrado (que tentou dizer que isso
isso e fez surgir, ao contrrio, uma cadeia ini nterrupta de transferncias, sem que
isso no isso) (ECO, 2005, p. 45).
Pode se observar que tanto a importncia atribuda ao autor para a legitimidade
e valor do texto quanto a sua relevncia para a determinao do sentido do texto
mudou muito no decorrer do tempo. Se observarmos a histria da arte da
Antiguidade at o i ncio da Idade Mdia, os textos artsticos circulavam em contnuo
processo de recriao, ou seja, os textos pertenciam a uma espcie de tradio
(cultura) e cada autor o recriava sem preocupao com o direito autoral
52
. Neste
sentido, a autenticidade ou valor de uma obra no eram vinculados autoria. Alis,
em certos casos, como na poesia, a ideia da inspirao exterior detinha tamanha
importncia que anulava a vontade do autor. Para Scrates, por exemplo, o poeta
52
Essa no preocupao com a autori a resultou em questes indissolveis em nossa poca, tais
como, Homero existiu?, os textos atribudo a Shakespeare, so realment e de Shakespeare?.
126
era um possudo, a di vindade falava por sua boca, o poeta era apenas um
instrumento da i nspirao
53
.
A preocupao com a autoria adquire ampla relevncia durante a inquisio
catlica, relevncia moti vada pela necessidade de culpar e condenar os
responsveis pelos discursos transgressores dos dogmas religiosos. No entanto, a
preocupao com a autoria funda-se na responsabilidade do discurso e no no valor
do ato criati vo.
No Renascimento, introduz-se uma nova viso sobre o homem e a questo
sobre a autoria comea a mudar. O homem comea a ser compreendido como ser
constitudo em sua corporeidade, indi vidualidade e subjetividade, ser de
conhecimento, capaz de deduzir racionalmente os mistrios do uni verso e elaborar,
a partir de sua capacidade criativa, grandes obras de arte. A autoria, ento, comea
a converter-se de um sistema de represso a um sistema de propriedade.
Esta noo de autoria hipertrofiada no Ilumi nismo, poca em que floresce na
sociedade uma forma mais radical de subjetividade. Neste perodo, atendo-se ao
discurso lrico, conforme aponta Combe (2009-2010), o estatuto ontolgico do eu
lrico delineado pelo modelo esttico do Romantismo europeu pressupe a
transparncia do sujeito, isto , o exegeta deve ler o poema como a expresso de
um eu criador, de um eu emprico, o poeta. Desta forma, a criao artstica deixa
de representar o pice da trade autor-obra-sociedade, conforme o era
anteriormente, e este lugar passa a ser ocupado pelo artista, agora considerado
indivduo
54
, criador que se ope criticamente aos impasses de um mundo hostil por
meio da obra. Ou seja, na perspecti va ilumi nista e na esttica romntica, o indi vduo
adquire estatuto ontolgico autossuficiente, capaz de conhecer e explicar
cientificamente o mundo no qual est i nserido enquanto ser racional, e capaz de
expressar-se artisticamente enquanto conscincia esttica autnoma. Assim, na
53
Krishnamurti Jareski, sobre tal questo, esclarece que Scrates afirmava que os poetas
desconheciam o sentido de suas prprias obras, e qualquer circundant e era capaz de falar melhor
que eles prprios das suas obras, Os poetas eram capazes de dizer muitas coisas belas, mas eram
incapazes de prestar contas do que diziam, pois nada sabiam a respeito dos assuntos de seus
poemas. Falhavam em interpretar o pensamento (dinoia), que forma a essncia da mensagem
potica, o que indicava no ser ori unda de um pensamento inteligente. (JARESKI, 2010, p. 285).
Logo, conforme aponta Jareski, Scrates conclua que, semelhante aos adi vinhos e profetas, os
poetas pronunciavam muitas coisas verdadei ras e belas no por sabedori a, mas por uma espcie de
disposio natural (phsei), um estado de inspi rao.
54
O termo sujeito, em sua ori gem, do latim subjectu, submetido problemtico concepo de
homem iluminista, pois indica, etimologicamente, uma perspecti va no aut ossuficient e da condio
humana; sendo mais representati vo do pensamento da poca o termo indi vduo.
127
arte, este indivduo o criador, na melhor acepo da palavra, do objeto artstico,
independentemente das condies sociais a que est adstrito.
Entretanto, o Romantismo, em certo sentido, amplia o escopo da noo de
indivduo, pois, na questo do privilgio da capacidade cognitiva racional do homem,
contradiz a filosofia da Iluminao e rejeita um racionalismo estrito em favor de
elementos mais caracteristicamente subjeti vos, tais como, a intuio, a imaginao e
as emoes. Introduz uma subjeti vidade capaz de transformar ou reler seus
hori zontes por meio da introspeco emoti va, valori zando o esprito i ndividual
enquanto nimo que move as percepes sobre a exterioridade, orientadas por um
desejo crtico que, por colocar-se em posio dissonante em relao ao mundo,
pretende transform-lo. Funda-se uma esttica da criticidade na qual autor e sujeito-
de-enunciao talvez confundam-se ainda mais. Observa-se tal predisposio na
extensa produo metadiscursi va de discursos e manifestos que pretendem locali zar
o autor emprico criticamente em relao s vicissitudes histricas, polticas e
culturais.
Assim, adjacente produo crtica, fortalecida a figura do autor, ente
emprico capaz de produzir uma obra de bom gosto. Alm disso, o artista, por meio
de seu trabalho, comea a adquirir prestgio social em uma sociedade na qual a
ascenso da burguesia valorizava cada vez mais a i ndividualidade; no Brasil,
frequentes eram os casos de escritores indicados a cargos pblicos. No perodo
romntico, por trs da obra, buscava-se a voz, a origem do discurso esttico, a
fonte personalssima capaz de responder diretamente aos meios de controle social
pelo contedo da produo i ntelectual.
O individualismo do Ilumi nismo e a esttica romntica vinculam-se a uma
emancipao da razo (no sentido em que Kant atribuiu, sapere audens) e da
emoo, assuno do i ndivduo racional/emocional frente exterioridade. Assim, o
homem no pode se furtar do comprometimento i ntencionalmente com o mundo e
com a arte dimenso tica. Esta a percepo de Hegel:
O contedo da poesia lrica no o desenvolvimento de uma ao
objetiva que se amplia em suas conexes at os limites do mundo,
em toda sua riqueza, mas o sujeito individual e, consequentemente,
as situaes e os objetos particulares, assim como a maneira pela
qual a alma, com seus juzos subjetivos, suas alegrias, suas
admiraes, suas dores e suas sensaes, toma conscincia de si
128
mesma no mago deste contedo. (HEGEL, apud COMB, 2009-
2010, p. 115)
Combe (2009-2010) assinala a postulao da sinceridade do poeta, ao qual
cabe uma atitude voluntria e responsvel frente li nguagem, visto que sujeito de
direito responsvel por suas palavras. Como exemplo desta concepo, Combe
(2009-2010) aponta para a condenao de Charles Baudelaire por As flores do mal,
obra que os juzes leram como expresso direta e imediata do autor.
Ironicamente, a poesia de Charles Baudelaire ser considerada fundadora de
um ideal de lirismo transpessoal, que se contrape esttica romntica, a partir do
qual se iniciar uma complexa reflexo sobre o papel do autor no processo de
representao lrica e que romper com a identificao entre o sujeito emprico e o
sujeito-de-enunciao, culminando na elaborao do conceito de eu-lrico. Assim, a
dicotomia eu lrico/eu emprico (autor) tender, a partir de Baudelaire, dissoluo
da personalidade/pessoalidade do autor e elevao de uma estrutura textual (o eu
lrico) que representaria um afastamento do autor biogrfico e, em contrapartida,
uma aproximao universalidade. Segundo Combe
O eu de As Flores do Mal marca um desvio em relao ao eu
autobiogrfico de Charles Baudelaire sob a forma de uma sindoque
generalizante que tipifica o indivduo elevando o singular potncia
do geral (o poeta) e mesmo do universal (o homem). assim que o
eu lrico se amplia at significar um grande e inclusivo ns. (2009-
2010, p. 124)
Ainda conforme o autor, cabe ressaltar que A reflexo sobre o estatuto do
sujeito lrico nasce estreitamente ligada crtica do pensamento romntico e das
filosofias da expresso, fundadas no mito de um ser originrio aqum da
linguagem. (COMBE, 2009-2010, p. 116). Como tambm exemplifica Guattari, um
sujeito que foi concebido como essncia ltima da individuao, como pura
apreenso pr-reflexiva, vazia, do mundo, como foco da sensibilidade, da
expressi vidade, unificador dos estados de conscincia. (GUATTARI, 2012, p. 34).
Desta forma, junto a uma discusso do estatuto do sujeito enquanto ente racional
autocentrado e plenamente consciente de seus atos, origina-se uma mudana nas
concepes de referencialidade da lngua e de representao do sujeito, no caso, o
autor.
129
O autor emprico perde a propriedade sobre o sentido e significao
emanados da obra e valori za-se a imanncia do texto. O texto que fala, o poema j
no pode ser confundido com a manifestao de idiossincrasias de um autor poeta,
a interpretao da obra volta-se ao produto final da escrita.
Em poucas palavras, quando o autor deti nha autoridade sobre o sentido e a
significao de sua obra, compreender um texto era determi nar as possveis
intenes do autor. O objeto artstico compreendido como a manifestao
consciente de indivduo torna vlida a utili zao de dados biogrficos, textos
tericos, entrevistas, declaraes e citaes retiradas de outros textos literrios de
mesma autoria como fundamento para as anlises literrias. A interpretao literria,
sob esta perspecti va, orienta-se a partir do pressuposto da existncia de uma
coerncia interna, estruturada conscientemente, em cada obra e na totalidade da
produo de determinado autor; a ltima, no mximo, di vidida em fases
corriqueiro ouvirmos falar nas quatro fases de Drummond (gauche, social, filosfica
e memorialista), nas duas fases de Machado de Assis (romntica e realista), etc.
Obviamente, o primeiro problema encontrado na estrita identificao entre
sujeito emprico e sujeito-de-enunciao foi a insuficincia das intenes do autor
para o esclarecimento do sentido e da significao da obra literria, principalmente
em anlises em que o texto encontrava-se distante do ambiente cultural de sua
poca. Alm disso, tal posio da crtica literria tornou-se oposta ao fenmeno de
objetivao do homem ocorrido nas cincias em geral durante o sculo XIX que,
gradualmente, supera a ideia do homem enquanto i ndivduo centrado e autnomo.
No sculo XIX, o homem surge simultaneamente enquanto objeto de
conhecimento e sujeito de conhecimento. O homem passa a
constituir-se, ento, como um ser emprico-transcedental, cujas
relaes com o trabalho, a vida e a linguagem o caracterizam tanto
como objeto de estudo, quanto como homem propriamente dito.
(MARTINEZ; HACK, 2010, p. 391)
As condies de vida, os meios de produo e a linguagem substituem as
investigaes metafsicas na compreenso do ser humano, tanto em sua empeiria
quanto no mbito de sua representao, principalmente nas cincias humanas
(MARTINEZ; HACK, 2010, p. 392).
Neste mbito, as reflexes modernas sobre a linguagem, ao observarem a
precariedade da lngua enquanto instrumento de representao, contriburam para a
130
percepo da insuficincia do mtodo biogrfico de anlise literria. Saussure, ao
demonstrar a relao arbitrria entre significante e significado, consequentemente
aponta para a impossibilidade da expresso exata do que se quer di zer. A lngua,
enquanto instituio social, um sistema de signos arbitrrios, todo meio de
expresso aceito numa sociedade repousa em princpio num hbito ou, o que vem a
dar na mesma, na conveno (SAUSSURE, 1991. p. 82). Esta relao arbitrria
destitui do sujeito, enquanto enunciador, a autoria absoluta das afirmaes que faz
ou dos significados que expressa, cada palavra no seno uma re-presentao de
significados pertencentes sociedade.
Um indivduo no somente seria incapaz, se quisesse, de modificar
em qualquer ponto a escolha feita, como tambm a prpria massa
no pode exercer sua soberania sobre uma nica palavra [...] A
lngua no pode, pois, equiparar-se a um contrato puro e simples, e
justamente por esse lado que o estudo do signo lingstico
interessante; pois, se se quiser demonstrar que a lei admitida numa
coletividade algo que se suporta e no uma regra livremente
consentida, a lngua a que se oferece a prova mais concludente
disso. (SUASSURE, 1991, p. 85)
A linguagem, ento, deixa de ser entendida como representao mental de um
indivduo para tornar-se um fato social (conforme sentido dado por Durkheim).
Desta forma, a concepo da lngua de Saussure, retira a propriedade do sentido da
inteno do falante e desconstitui o ideal de racionalidade humana proposta no
cogito cartesiano.
No entanto, quanto arbitrariedade da linguagem, cabem ressalvas. As
discusses sobre referencialidade parecem ter se centrado em dois polos opostos.
No primeiro, o objeto seria a causa da representao, o que significa que a
representao precedida de afeco emprica. No segundo polo, a
representao seria a causa da existncia do objeto, e o objeto, consequentemente,
seria o fim de uma vontade de representao a representao prtica. Em
outros termos, ou a linguagem traduz, representa estritamente o mundo exterior, ou
o mundo exterior determinado pela linguagem. Atualmente, o caminho parece ser
a unio entre os polos. Por um lado, a lngua da comunidade determina nossas
possibilidades de referenciao do mundo exterior por meio do lxico; por outro,
nossa capacidade sensorial influencia na composio do lxico por exemplo, h no
lxico de todas as lnguas maior nmero de palavras para referir-se a impresses
131
visuais se comparado ao nmero de palavras para referir-se a impresses olfati vas,
tal fato deve-se a pequena capacidade olfativa do homo sapiens quando comparada
aos outros animais.
Outra questo a ser observada a diferena entre os signos arbitrrios e os
smbolos. Devemos separar a li nguagem simblica dos signos arbitrrios. O smbolo
pertence categoria dos signos. No entanto, conforme j exposto, enquanto o signo
arbitrrio subterfgio de economia, no qual o significante indicativo que se
remete a um significado; no smbolo o significado no apresentvel e, enquanto
signo, refere-se a um sentido e no a uma coisa sensvel. Assim, o smbolo evoca
algo impossvel de se perceber por meio de uma relao natural, no arbitrria
epifania, isto , apario, atravs do e no significante, do indizvel (DURAND, 2004,
p. 10), ou, conforme Maffesoli, a dimenso ecolgica da imagem simblica saber
epifanizar a matria e corpori zar o esprito (MAFFESOLI, 2010, p. 119).
No entanto, em abordagens mais recentes, encontram-se certos
questionamentos quanto a no imbricao entre os signos arbitrrios. Conforme
Wilson, o ambiente externo amplia ou reduz as limitaes na evoluo da
linguagem, seja por evoluo gentica, por evoluo cultural ou ambas (2013, p.
281). Como exemplo, podemos citar a particularidade das lnguas de climas quentes
usarem mais vogais e menos consoantes, criando combinaes de sons mais
sonoras, fato que, segundo Wilson, explicar-se-ia evoluti vamente pela maior
capacidade de projeo dos sons sonoros, adequando-se tendncia das pessoas
de passarem mais tempo ao ar livre e se manterem mais distantes de si. Outro
exemplo citado pelo mesmo autor ligado relao das cores com a lngua, a
percepo das categorias de cores est fortemente correlacionada ao campo visual
direto do crebro, neste sentido, a li nguagem pode at filtrar e distorcer as cores
reais de certa maneira, mas a atividade do crtex visual impe certo controle na
diferenciao das categorias de cores (2013, p. 254). Embora tais descobertas no
se relacionem questo i ndividual, apontam para a relao inequvoca entre
qualquer produo humana e o contexto social e o meio ambiente.
Na filosofia, Nietzsche, j questionando a problemtica sobre a linguagem,
apontou que as noes metafsicas no passavam de mal-entendidos li ngusticos
estabelecidos pela relao gramatical sujeito/predicado e, pri ncipalmente, que a
conscincia desenvolveu-se a partir da necessidade de comunicao, da
necessidade de relao com o mundo exterior, sendo social em sua gnese. A
132
linguagem, neste sentido, no uma expresso da realidade ou de uma conscincia
voluntariosa, mas um instrumento de comunicao que age por meio de
simplificaes da multiplicidade do mundo exterior, reali zadas por meio de
instrumentos, tais como, as palavras e os conceitos, e que surge de uma
necessidade evoluti va. Neste sentido, Nietzsche demonstra a fragilidade da
linguagem enquanto instrumento de representao e, ai nda, aponta para a
exclusi vidade da funo intersubjeti va da conscincia, em decorrncia da qual no
possvel a concepo cartesiana de supremacia do ego enquanto instncia de
conhecimento, como tambm, a existncia da separao entre res cogitans (coisa
pensante o sujeito) e a res extensa (coisa extensa a exterioridade, o prprio
corpo e toda matria que o circunda) estabelecida por Descartes. A prpria noo de
sujeito criao da linguagem humana, no existe uma essncia humana, o homem
um conjunto de mltiplos afetos e impulsos.
Caso esta observao seja justa, encontro-me no direito de supor
que a conscincia se desenvolveu sob a presso da necessidade de
comunicao, que a princpio era necessria e til somente nas
relaes de homem para homem (entre o que manda e o que
obedece) e que s se desenvolveu na medida desta utilidade. A
conscincia apenas uma rede de comunicao entre homens; foi
nesta nica qualidade que se viu forada a desenvolver-se: o homem
que vivia solitrio, como um animal de presa, poderia ter passado
sem ela. Se as nossas aes, pensamentos, sentimento e
movimentos chegam pelo menos em parte superfcie de nossa
conscincia, o resultado de uma terrvel necessidade que durante
muito tempo dominou o homem, o mais ameaado dos animais: tinha
necessidade de socorro e de saber dizer essa necessidade, a saber
tornar-se inteligvel; e para tudo isso era necessrio, em primeiro
lugar, que tivesse uma conscincia, ou seja, saber ele prprio o que
lhe faltava, saber o que sentia, saber o que pensava. (NIETZSCHE,
2004, p. 195)
No mesmo sentido, o bilogo Edward Wilson, emrito professor da
Uni versidade de Harvard e fundador da sociobiologia, afirma que a conscincia,
enquanto acidente evoluti vo, surge de necessidades gregrias, da necessidade do
relacionamento interpessoal para a preservao da espcie
A conscincia, tendo evoludo por milhes de anos de luta e de vida
ou morte, e sobretudo devido a essa luta, no foi projetada para o
autoexame. Ela foi projetada para a sobrevivncia e para a
reproduo. O pensamento consciente movido pela emoo,
133
estando totalmente comprometido com o propsito de sobrevivncia
e reproduo. (WILSON, 2013, p. 17)
Neste sentido, o bilogo afirma que a maior parte da histria da filosofia
consiste em modelos fracassados da mente. Isto , a conscincia, a priori, no a
manifestao de um ego, de uma subjetividade adstrita relao de alteridade entre
o eu e o mundo, mas uma ferramenta evolutiva oriunda da necessidade da
eussocialidade capacidade de cooperao entre os indivduos ou grupos que
distribuem propriedade e status na esfera pessoal para garantir a sobrevi vncia
coletiva.
Voltando ao autor e sua relao com a obra, no podemos depreender o
sentido original de um texto a partir da inteno do autor por duas razes:
primeiramente, a linguagem um i nstrumento imperfeito de representao, sua
relao com a realidade estabelecida, majoritariamente, por convenes
arbitrrias; em segundo lugar, a conscincia no ferramenta voltada para o
autoexame ou para o autoconhecimento, logo, tanto os processos de criao como
os processos de significao desenvolvidos em um texto so, em grande parte,
inconscientes ou incompreensveis para o autor. Alm disso, a narrati va e a lrica,
antes de expresso de uma conscincia autnoma, parece-nos ser uma forma de
exercitar a capacidade de estruturar a experincia do ser-no-mundo e, tambm,
encenar a vi vncia de relaes intersubjeti vas, sejam j passadas ou
prospectivamente encenadas.
O eu-lrico de Claudia Roquette-Pinto dei xa transparecer em diversos poemas
semelhante reflexo metapotica sobre a incapacidade de expressar-se
inequi vocamente devido a impreciso da palavra e o prprio desconhecimento pleno
do processo criativo. Esta palavra, que sempre excede a expresso da
subjetividade, que sempre uma multido de outras vozes, que sempre um
dilogo com o leitor no qual o poeta no convidado, para o eu-lrico, sara
ardente (ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 44). Uma planta cheia de espinhos e que de
longe se assemelha a chamas a metfora utili zada pelo eu-lrico para descrever
sua relao com as palavras. Outra metfora que revela a compreenso que o eu-
lrico possui da linguagem e do processo de criao potico palavra-persiana,
isto , a palavra a imagem do mundo e meio de acesso de mo dupla, por meio
dela, abre-se passagem que possibilita uma viso do mundo interior do eu-lrico e,
134
para o eu-lrico, uma passagem ao mundo exterior. No entanto, a passagem
sempre parcial, persiana, por meio dela nenhum dos dois consegue a viso total,
alis, muito menos do que isso, a viso somente um pequeno vo.
Alm disso, o poema lugar de luta constante contra o silncio, caa
inexaurvel palavra certa que, definiti va, ir compor o verso. Os versos O DIA
inteiro persegui ndo uma idia:, Por que voc me abandona/ no vrtice da vertigem/
quando a chuva cai (um Magritte)/ sobre rosas que desistiram?, Sem voc eu
caminho no plano,/ tudo escorre, Sem a sua luz, o que me resta? desvelam a
necessidade da palavra potica para o florescimento do jardim i nterior; palavra
ambgua, que encerra sentimentos di versos, dor e alegria, pai xo e repulsa, amor e
dio, sensualidade e averso. Composio lrica de complexidade contraditria, mas
sempre complementar, transfigurando a relao entre a subjetividade e o mundo em
todos os seus nuances. A lrica o modo pelo qual se estrutura a experincia do
ser-no-mundo, no apenas um i nstrumento servi l de exortao dos males ou
exposio dos afetos, mas revi vificao, reanimao, devolver o animus, a alma, ao
pathos oriundo da incompletude e transitoriedade humana. Assim, muito mais do
que experincia de deleite esttico sem voc cami nho no plano, a poesia
catarse, expiao, exortao, exultao, i ncitao, floresce e fenece qual rosa em
um jardim, li vre dentro das limitaes do mundo. E, na ausncia, a busca inquietante
da promessa sempre incompleta da totalidade. O poeta, na lrica de Claudia
Roquette-Pinto, uma deformidade procura de sua forma defini tiva na potica do
jardim. No entanto, o poeta no encontra sua forma defi nitiva no espao, e o poema
matria outra, deste mundo e do outro (PAZ, 1993), existe entre a ausncia e a
presena, como pode ser percebido nos versos de cadeira de mykonos.
cadeira de mykonos
I
nela no se aurola nem falsa
a ideia, que dela se ala,
como o fogo da lenha
um grego, alis, quem a
aprisionou, como a um inseto
sobre a camura-conceito:
na lngua, terceiro objeto,
menos cadeira, se a escrevo
tampouco devo (se a quero)
135
nos arrabaldes das slabas
buscar madeira de moblia
preciso (para que a tenha)
adestrar-me ao negativo,
ao branco contguo
da parede, hauri-la
como figura: literal
(modo-de-den) nua
entre lenis de cal
(ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 23)
Dialogando com o racionalismo imanentista de Plato presente em o mito da
caverna, a cadeira de mykonos no se aurola, isto , no a mesma cadeira que
existe no transcendente, no mundo das ideias, porm tambm no falsa, a
sombra projetada da cadeira que existe no mundo inteligvel, imitao. A cadeira
emprica o aprisionamento imperfeito da ideia na matria, a substncia perecvel
e imperfeita de uma forma etrea e verdadeira que existe num mundo alm (para
Plato, s apreensvel pela razo). A palavra, por sua vez, o terceiro objeto, a
imitao de uma imitao, tampouco devo (se a quero)/ nos arrabaldes das slabas/
buscar madeira de moblia. Assim, a palavra a presena das duas ausncias, da
ideia e da matria, no entanto, existe enquanto figura a ser resgatada do sentido
literal, modo-de-den dicionarizado, anterior a e avesso a seu acontecimento no
poema.
A palavra, enquanto acontecimento resgatado do den, arrasta consigo sua
existncia no tempo e no espao. Vive para autor e leitor de diferentes formas, em
diferentes sentidos. E esta vivncia marcada pela territorialidade e temporalidade
humana que, por vezes, leva-nos a procurar uma inteno primeira, inscrita na
conscincia de um autor, diretri z de sentido que poderia abarcar e restringir o
universo plurissignificati vo de cada palavra. Antoi ne Compagnon (2010) aponta para
a dificuldade, i nclusi ve na crtica literria contempornea, da destituio total da
inteno do autor. Para Compagnon, quando o crtico defronta-se a uma passagem
obscura ou ambgua do texto analisado, frequentemente recorre a uma passagem
paralela do autor para justificar determinada i nterpretao. Este mtodo de anlise
implica necessariamente considerar a existncia de determi nada coerncia entre um
texto literrio e a totalidade da obra de um autor ou entre a inteno do autor e o
texto literrio.
136
Uma passagem paralela do mesmo autor parece ter sempre maior
peso para esclarecer o sentido de uma palavra obscura que uma
passagem de um autor diferente: implicitamente, o mtodo das
passagens paralelas apela, pois, para a inteno do autor, se no
como projeto, premeditao ou inteno prvia, pelo menos como
estrutura, sistema e inteno em ato. (COMPAGNON, 2010, p. 72)
No entanto, Antoine Compagnon no rejeita totalmente o mtodo. Para o autor,
o erro da teoria literria parece ter consistido em confundir o sentido de um texto e
sua significao. O sentido o que permanece estvel na recepo de um texto,
enquanto a significao indica o que muda na recepo do texto no tempo. O
sentido original e singular; a significao, por sua vez, resultado da ligao que
estabelecemos entre o sentido e nossa experincia vi vencial (histrica, cultural,
individual) que sempre plural, varivel e aberta s nuances histricas e s
formas de socialidade de determi nada comunidade. Umberto Eco ir nomear esse
sentido original de intentio operis, que no se confunde com a intentio auctoris, e,
para Eco, a nica forma chec-la com o texto enquanto um todo coerente.
Essa ideia tambm antiga e vem de Agostinho (De doctrina
christiana): qualquer interpretao feita de uma certa parte de um
texto poder ser aceita se for confirmada por outra parte do mesmo
texto, e dever ser rejeitada se a contradisser. Nesse sentido, a
coerncia interna do texto domina os impulsos do leitor, de outro
modo incontrolveis. (ECO. 2005, p. 76)
Continuando no pensamento de Compagnon, a obra literria inexaurvel,
cada poca compreende-a de maneira prpria, entretanto, no significa que no
possua um sentido original; o que inexaurvel sua significao. Entretanto, para
Compagnon, interpretar um texto tecer conjecturas sobre a inteno humana. Mas
a inteno do autor no implica a conscincia de todos os detalhes do processo da
escrita. Para exemplificar, Compagnon sugere que imaginamos uma cami nhada: h
uma inteno de andar, mas no h a premeditao conscientemente do movimento
de cada msculo. Neste sentido, a procura pela inteno sugere-nos indcios da
interpretao do sentido do texto, mas no esgota sua significao.
Kate Hamburger, em A lgica da criao literria (1975), tambm tece
importantes reflexes sobre a natureza da poesia lrica e sobre a relao entre
poesia e autor. Para a autora, um enunciado pode ser lrico, pragmtico, histrico ou
137
terico, sendo uma das caractersticas fundamentais, em geral, a ordenao destes
discursos de um polo subjeti vo a um polo objetivo, respecti vamente. Entretanto, a
intensidade da subjetividade ou objeti vidade de um texto no determi nada pelo
tipo do enunciado ou modalidade da sentena, mas pela atitude do sujeito-de-
enunciao de modo que um enunciado terico, como os exemplos filosficos de
Kant e Heidegger, pode ser mais subjeti vo do que o enunciado de um sujeito-de-
enunciao histrico ou pragmtico. (HAMBURGER, 1975, p. 169)
Deste modo, a classificao dos enunciados nas quatro categorias citadas no
depende somente dos elementos estruturais ou semnticos do enunciado, mas
principalmente da inteno do sujeito-de-enunciao. Para exemplificar tal
posicionamento terico, Hamburger compara os Salmos de Davi a Geistlichen Lieder
de Novalis. Para a autora, embora os Salmos de Davi apresentem sintomas de um
poema lrico, tais como, linguagem, verso, rima e forma, mas no pertencem ao
gnero lrico, pois a inteno do sujeito-de-enunciao pragmtica, orientada por
um propsito ilocucional, isto , o sujeito-de-enunciao possui uma meta objetiva
em sua ao discursi va e, para tal fi nalidade, molda seu discurso de modo a
assegurar que o enunciatrio reconhea a i nteno e aceite realizar a meta a que o
enunciador visa, produzindo, ento, o efeito perlocucionrio.
Alm da intencionalidade do enunciado, para Hamburger, o contexto em que o
poeta publica o texto determinante para a categorizao do enunciado. No
exemplo dos Salmos de Davi, o contexto destina-se ao emprego litrgico; e esta a
diferena fundamental de uma obra tal como Geistlichen Lieder de Novalis que, a
partir do momento que pertence a um li vro de poemas, no tem funo em uma
situao real, mas a expresso artstica de uma alma religiosa. Isto , para a
autora, deduzi ndo-se os aspectos formais e materiais, um enunciado constituir ou
no um poema depende da i nteno do autor, pois, em um sentido estritamente
lgico, o sujeito-de-enunciao lrico idntico ao poeta, assim como o sujeito-de-
enunciao de uma obra histrica, filosfica ou cientfica idntico ao seu autor.
O posicionamento de Hamburger quanto correlao entre sujeito-objeto do
enunciado parte estritamente de um ponto de vista lgico/lingustico, no qual a
inteno manifestada do sujeito-de-enunciao exerce fundamental autoridade
sobre o enunciado. Em contextos comunicacionais orais, a relao entre
intencionalidade do sujeito-de-enunciao e enunciado evidencia passvel de
percepo e, inclusive, exerce determi nante fora na orientao comunicacional,
138
principalmente pelas propriedades prosdicas do enunciado. Entretanto, os gneros
escritos so, por excelncia, enunciados deslocados do contexto e da situao de
produo, principalmente quando h uma grande distncia entre o momento de
produo e o momento de recepo, o que acarreta grande hiato entre a inteno do
sujeito emprico e a intencionalidade de sujeito-de-enunciao que depreendida do
prprio enunciado. Isto , tal compreenso depende de uma separao
metodolgica entre os conceitos de sujeito emprico e sujeito-de-enunciao.
O posicionamento da autora, embora reinscreva a literatura em uma lgica
comunicacional da qual, por vezes, separada em algumas proposies tericas,
encontra graves contradies em relao perspectiva recepcional que afirma que
cada poca diz o que literatura. Isto , se os Sermes de Vieira so literatura,
seria necessrio destitu-los da i nteno pragmtica?
No entanto, Hamburger aprofunda-se na questo sobre a transparncia de
um autor na poesia lrica, e alerta ser um biografismo afirmar que um eu lrico em
terceira pessoa ou no o poeta emprico. No existe critrio exato, nem lgico,
nem esttico, nem interior, nem exterior, que permita tal identificao ou no
identificao do sujeito-de-enunciao lrico com o poeta. Experimentamo-lo como o
enunciado de um sujeito-de-enunciao. O muito discutido eu lrico um sujeito-de-
enunciao. (HAMBURGER, 1975, p. 168). E ainda salienta que no se pode
distinguir no poema realizado se a ordem e forma da enunciao que produz a
associao de sentido ou se esta que comanda a ordem. Sentido e forma so
idnticos na poesia. (HAMBURGER, 1975, p. 179).
Bosi, em semelhante viso, assevera que, o desenho, o ritmo e a extenso da
frase no so aleatrios nem puramente convencionais. Se a forma artstica, se
construo e expresso andam juntas, sempre se d algum nexo entre a si ntaxe do
perodo e a ideia ou sentimento que se quer significar (BOSI, 1996, p. 226). Em
outras palavras, a relao entra a forma da enunciao e o sentido a ser
depreendido do poema estabelece uma relao dialtica que no passvel de ser
fracionada e, possivelmente, resulte em uma sntese a qual denomi namos sentido
da obra.
Outro importante ponto abordado por Hamburger o fato de que o sujeito-de-
enunciao lrico diferencia-se dos demais pela relao com o objeto-de-
enunciao.
139
Experimentamos a enunciao lrica como enunciado de realidade, o
enunciado de um sujeito-de-enunciao autntico, que pode ser
referido apenas a este mesmo. precisamente isso que diferencia a
experincia lrica daquela de um romance ou drama, ou seja,
vivemos as enunciaes de um poema lrico no como aparncia,
fico, iluso. Nossa apreenso interpretativa do poema realiza-se
em grande parte revivendo-o, sendo necessrio que interroguemos
a ns mesmos a fim de compreender o poema. Pois o confrontamos
de modo imediato, como se confrontssemos as palavras de um
outrem real que conversa com meu eu. No h intermedirio
algum. (HAMBURGER, 1975, p. 193-194)
Para Hamburger, experimentamos o gnero lrico como a expresso de um
sujeito-de-enunciao verdadeiro, independente da apresentao na forma de eu
ou no, isto , experimentamos o poema lrico no polo vivencial, decorrendo deste
ponto a grande aproximao entre sujeito-emprico e sujeito-de-enunciao lrico.
A experincia de um poema lrico, para Hamburger, a de um enunciado de
realidade, assim como um relato verbal ou epistolar; e quando analisamos o sentido
de uma enunciao lrica no apreendemos, nem pretendemos apreender, uma
verdade ou uma visagem da realidade, mas esperamos experimentar algo
subjetivamente significati vo, pois o poema lrico no comunicao de uma
experincia interior nova, mas a comunho de uma experincia j vivenciada ou
conhecida por meio de comunicaes no lricas. E tal relao entre o leitor e o
poema deve-se ao fato de que o seu enunciado no visa o polo-objeto, mas atrai o
objeto para a esfera vivencial do sujeito e o transforma. (HAMBURGER, 1975, p.
208).
E esta fronteira que separa a enunciao lrica da enunciao no lrica
fixada pelo procedimento da enunciao em sua relao com o polo-objeto. A
poesia, para Hamburger, seria um processo de afastamento da referencialidade, no
havendo a atuali zao do objeto, caractersticas de outras formas de enunciado,
mas, ao contrrio, um afastamento do objeto, um processo de desobjetivao, no
qual o objeto (ou circunstncia) um pretexto para as palavras, pois a linguagem
lrica no descreve, mas transforma a coisa simbolicamente, forma liricamente a
coisa em si. Isto , no poema, no h estrita referncia realidade externa ou
explicaes a serem dadas, o poema fala por si e, embora ultrapasse a voz de seu
autor e inscreva-se no limiar entre o dito e o no-dito, conti nua a assemelhar-se a
um discurso vi vencial. E, ainda, ao romper a referencialidade, vai alm da prpria
linguagem, cada verso di z, corrompe, reduz, transforma e acresce simultaneamente
140
novos sentidos s palavras que o compe. Lvi -Strauss, em entrevista concedida a
Georges Charbonnier, afirmou semelhante concepo com a seguinte frase: A
poesia parece ento situar-se entre duas frmulas: a da integrao lingstica, e a
da desintegrao semntica (LVI-STRAUSS apud CHARBONNIER, 1989, p. 99).
Sendo assim, o objeto no o alvo do enunciado lrico, mas o motivo, a causa,
ao contrrio do que acontece, por exemplo, em um enunciado informacional. Logo, a
enunciao a forma do poema, o que, em consequncia, significa que a
experimentamos como o campo de experincia do sujeito-de-enunciao o que
justamente a torna apta a ser vivida como enunciado de realidade. (HAMBURGER,
1975, p.196).
Entretanto, adverte a autora que tal experincia indiferente possibilidade de
verificao da condio de verdade do enunciado, pois tambm a mentira e o
sonho so experincias de um eu que sonha e que mente. A vivncia pode ser
fictcia no sentido de invencionada, mas o sujeito vivencial e com ele o sujeito-de-
enunciao, o eu lrico, pode existir somente como um real e nunca fictcio.
(HAMBURGER, 1975, p. 199). O sentido epistemolgico desta vivncia deve ser
compreendido, para Hamburger, como vivncia i ntencional i ntencionalidade da
conscincia conforme a compreenso da fenomenologia de Husserl. Ou seja, estar
no mundo implica tomar posio.
O conceito de motivao central na abordagem fenomenolgica do
sujeito. Segundo Husserl, a motivao a lei essencial da vida do
esprito. Dizer que a conscincia sempre conscincia de alguma
coisa implica reconhecer que a vida espiritual, em oposio
causalidade natural, comea com os assim chamados atos ou vividos
intencionais. (FABRI, 2010, p. 270)
Logo, a manifestao potica sempre moti vada, expresso de um pathos ou
ethos vivenciado na conscincia e i ntencionado pela vi vncia de um sujeito
emprico. Ao outro, na fenomenologia husserliana, caberia a possibilidade de
identificar o eidos, estrutura invariante de presena permanente, determinada pelas
estruturas do pensamento, e determi nar as condies de como algo pode chegar a
ser objeto do pensamento.
Alfredo Bosi, quanto intencionalidade da conscincia que engendra o poema,
assinala semelhante posio.
141
E ficvamos sabendo que poesia no discurso verificvel, quer
histrico, quer cientfico; que poesia no dogma nem ensinamento
moral; nem, na outra ponta, sentimento na sua imediatidade. Nem
pura ideia, nem pura emoo, mas expresso de um conhecimento
intuitivo cujo sentido dado pelo pathos que o provocou e o sustm.
(BOSI, 1996, p. 9)
Para Bosi, o enunciado lrico, alm de ser experimentado no campo da
vi vncia, originrio de uma conscincia criadora que coincide com o autor
emprico. Isto , no poema, a subjetividade reveste-se na forma de um esprito
inteno de movimento despertada por um pathos que norteia a coerncia dos
versos e das imagens suscitadas pelo poeta, e capaz de provocar no outro, por
sua profundidade, o reconhecimento e vivncia compartilhada das paixes e
sentidos vi vidos pelo eu-lrico.
Igualmente Adorno aponta neste sentido, sendo a poesia o aprofundamento
do individuado eleva ao uni versal o poema lrico (ADORNO, 1980, p. 202). Isto ,
para o autor, o enunciado lrico i ndividuao exercida sobre o objeto artstico que,
quando profunda, permite a obra de arte depreender-se da mera exposio de
idiossincrasias e atingir o universal, posto que, ao entranhar-se nas emoes e nos
sentimentos compartilhados em determinada sociedade e poca, liberta-se das
emoes imediatas do autor e torna-se essencialmente social, reflexo do esprito da
sociedade na qual surgi u e qual pertence o autor. Em Teoria Esttica, Adorno, ao
elaborar a tese de que a obra de arte no participa da lgica instrumentalista do
capitalismo devido a seu carter expressivo, descreve mais profundamente a
transcendncia da arte.
Ao entregar-se matria, a produo, no seio da extrema
individuao, desemboca num universal. A fora de tal exteriorizao
do eu privado na coisa (Sache) a essncia colectiva neste eu;
constitui o caracter lingstico das obras. O trabalho da obra de arte
social atravs do indivduo, sem que este tenha a de ser consciente
da sociedade; talvez tanto mais quanto menos consciente . O
sujeito individual, que sempre intervm, dificilmente mais do que
um valor limite, um elemento minimal, de que a obra de arte precisa
para se cristalizar. A autonomizao da obra de arte perante o artista
no uma elucubrao da mania das grandezas de Van pour l'art,
mas a expresso mais simples da sua natureza enquanto expresso
de uma relao social, que traz em si a lei da sua prpria reificao:
s enquanto coisas (Dinge) as obras de arte se tornam antteses do
inessencial coisal. (ADORNO, 1993, 190-191)
142
A perspectiva de Adorno poderia ser aproximada intuio eidtica
55
de
Husserl, embora carregada e inseparvel das implicaes sociais para Adorno.
Neste sentido, para Adorno, o enunciado lrico i ndividuao sem reservas (1980,
p. 202); enquanto em Husserl, o elemento transcendental no possui dimenso
ontolgica.
Neste ponto, o problema da relao autor e obra na interpretao literria
reside na tentativa radical e incua de percorrer o cami nho inverso e deduzir o
homem a partir da criao; no entanto, esta impossibilidade no implica a
desconsiderao da intencionalidade do autor ou das implicaes afetivas de sua
existncia anedtica na obra. Muller-Granzotto, em sua leitura de Merleau-Ponty,
traz Interessante reflexo ao apontar que a presena do outro esmagada e
esvaziada de todo i nterior quando objetivada por mim; logo, embora diante de mim,
no fixvel, uma presena impessoal, que participa de meu mundo, sem que eu
possa dizer que ele seja meu. H nele uma alteridade radical, que faz dele, mais do
que mi nha rplica, outrem. (MULLER-GRANZOTTO, 2010, p. 319)
Dilthey, segundo Combe, aproxima a obra potica e a vida aberta do autor no
mesmo sentido de Adorno. A obra no pode ser explicada pelo fato ou
acontecimento bibliogrfico do autor, mas deve-se buscar a experincia decisiva
lErlebnis , que no se destaca por seu carter anedtico, mas por sua repercusso
afetiva e intelectual, e de restituir o texto a espessura e a riqueza da vida do criador
(2009-2010, p. 118-119).
Hegel, em i nterpretao semelhante, mas sem envolver a sociedade,
compreende que a poesia dominada pela subjetividade da criao espiritual
(HEGEL, 1980, p. 217). E quanto questo de subjeti vidade, o filsofo romntico
assinala que a poesia a libertao da alma da opresso das paixes transfigurada
em contedo, um objeto subtrado i nfluncia de disposies psquicas
momentneas e acidentais, na presena do qual a conscincia, finalmente tranquila,
se encontra lcida e recupera a liberdade (HEGEL, 1980, p. 218). No a simples
expresso acidental dos sentimentos, mas expresso pessoal que, dada a
profundidade do sentimento, conserva um valor uni versal capaz de despertar no
outro sentimentos latentes.
55
Apreender a essncia, o signi ficado do fenmeno percebi do.
143
Antonio Candido, neste sentido, ao apontar o perigo do demasiado
distanciamento das afeces do poeta, observa que na anlise da obra literria
deve-se ter cuidado com o perigo de restringir-se a uma interpretao sociolgica,
pois necessrio ter conscincia da relao arbitrria e deformante que o trabalho
artstico estabelece com a realidade, mesmo quando pretende observ-la e transp-
la rigorosamente, pois a mimese sempre uma forma de poiese (CANDIDO, 2000,
p. 12); ou seja, o autor observa no trabalho artstico a interferncia das preferncias
estticas e axiolgicas do artista, conferindo singularidade obra.
Assim, no pensamento de Adorno, Hegel, Bosi, Hamburger, Dilthey, Combe e
Candido parece haver uma i ntensa aproximao entre o conceito de eu lrico e o
autor emprico. No entanto, estes autores tambm mantm em comum um ideal de
lrica que se encontra na superao da estrita subjeti vidade por meio de uma
libertao do eu em rumo a certa objetividade ou universalidade. Superao que se
torna, cada vez mais, um ideal esttico. sob esta perspecti va que Combe (2009-
2010) compreende a orientao da crtica nietzschiana: uma busca pela construo
de um eu impessoal, transcendental, capaz de conciliar a presena gramatical do
eu com a exigncia esttica da objetividade; perspectiva na qual o gnio lrico,
movido pela embriaguez dionisaca, encontra-se em estado de unio mstica e de
despojamento de si mesmo, estando o eu do poeta a ecoar desde o abismo mais
profundo do Ser.
O estado dionisaco em que o poeta lrico est mergulhado remete
fuso do sujeito com o fundo indiferenciado da Natureza sobre a
forma de participao, e atravs do eu, quem fala , em suma, a
voz do Abgrund [abismo]. Aqui a metafsica schopenhaueriana do
Wille [da vontade] reencontra a tradio romntica de uma
Naturphilosophie [filosofia da natureza] de inspirao nitidamente
schlegeliana. essa metafsica da unio csmica que suscita a
formulao sem dvida a primeira, pelo menos como expresso
mais clara da tese de um eu lrico (COMBE, 2009-2010, p. 117)
Nietzsche encontrar em Baudelaire a reali zao desse ideal de lirismo
transpessoal. Para o filsofo alemo, a postulao da conscincia de si do Cogito
cartesiano mera iluso gramatical de um eu responsvel pelo predicado. Neste
sentido que Combe destaca o surgimento do conceito de eu lrico vinculado crise
filosfica que atravessa o conceito de sujeito aps o romantismo.
144
E o encontro dessa filosofia ps-romntica schopenhaueriana e nietzschiana
com a poesia simbolista francesa que assegura a difuso e o aprofundamento do
tema do eu lrico (COMBE, 2009-2010, p. 117). Autores, tais como, Rimbaud em
sua busca por uma poesia objetiva em que o eu outro, Mallarm e a anunciao
do desaparecimento elocutrio do poeta, os parnasianos e a valorizao da
impessoalidade, sero responsveis pelo surgimento de uma noo de eu lrico
que, antes de ser uma categoria descritiva do discurso crtico ou elemento da
estrutura textual potica, um ideal esttico, uma reao violenta contra os
excessos da sensibilidade romntica. Combe observa consistentemente que o
deslocamento do eu em direo a um ele no conceito de eu lrico uma tentativa
de destruir o eu na literatura, moti vada por uma concepo de arte que pri vilegia a
objetividade.
Para a crtica, segundo Combe, a anlise identificatria entre autor e obra
comea a ser vista como um mito de autenticidade originado no Romantismo. E a
partir desta viso surge o conceito de eu lrico (lyrisches ich) na crtica literria
alem; movimento de desegoti zao conforme Oskar Walsel, na qual o eu na lrica
no um eu subjetivo e pessoal, mas uma mscara, mais prximo a um ele. E esta
separao entre eu lrico e o eu emprico ser consolidada em Rimbaud.
Kate Hamburger, para Combe, coloca-se na contramo da tese do Lyrisches
Ich em A lgica da criao sob a fenomenologia de Husserl. No se trataria
propriamente de outro, mas de uma enunciao fingida, ficcionalizada, que separa,
em certo grau, o sujeito-de-enunciao do eu emprico, mas ainda inscreve o
enunciado lrico na experincia da vida de um autor.
Esta vi nculao entre enunciao e simulao muito elucidativa na
aproximao entre poeta e poema. Alm disso, consoante com as recentes
descobertas biolgicas sobre a linguagem. Segundo a teoria da evoluo multinvel
de Wilson, o caminho para a eussocialidade foi marcado por uma disputa entre a
seleo natural baseada no sucesso individual dentro do grupo e a seleo
orientada pelo sucesso coleti vo do grupo, contrapondo atitudes de altrusmo,
cooperao, domnio, reciprocidade, desero e fraude. Desta forma, o homo
sapiens foi obrigado a adquirir um grau crescente de i nteligncia capaz de sentir
empatia, avaliar emoes, julgar intenes do outro, assim como, simular ou
dissimular suas emoes e intenes, o que tornou o crebro altamente social.
145
Neste sentido, o crebro humano teve de adquirir a capacidade de
desenvolver cenrios mentais de relacionamento pessoais e rapidamente, de curto
e longo prazos. Suas lembranas tiveram de retroceder ao passado distante para
evocar cenrios antigos e avanar futuro adentro para imaginar as consequncias
de cada relacionamento (WILSON, 2013, p. 28), a fim de estabelecer vnculos e
cooperao para sobreviver enquanto espcie. Afinal, a partir do momento em que o
homem i ntroduzi u a seus hbitos alimentares cerca de 30% de protena de origem
animal, necessitou da organizao em grupos para a caa, visto que, diferentemente
de outros animais, no possua caractersticas fsicas necessrias para a caa
individual, dependendo o sucesso de um alto nvel de trabalho em equipe. Soma-se
a esta condio, igualmente, a necessidade de organizao de um ninho protegido
e a consequente diviso de trabalhos na manuteno dos locais de acampamento
alguns forrageiam e caam, outros resguardam o local e cuidam dos filhos. Alm
disso, os conflitos entre grupos sempre foram constantes na histria evoluti va do
homo sapiens, a cooperao entre os membros de um mesmo grupo era
fundamental para a manuteno de um territrio ou para a conquista de outros
territrios necessrios medida que aumentava o nmero de i ntegrantes do grupo.
Orientando-se a partir da teoria de Wilson, a afirmao de Hamburger que, ao
ressaltar a subjeti vidade enunciada por um eu lrico que se confunde com o autor
emprico, ficcionalizado ou no, e que assume lugar de sujeito no poema,
consistente. Efeti vamente, se h a despersonalizao de um eu pelo ideal esttico
da subjeti vidade, no se trata da ciso definitiva entre o eu emprico e o eu lrico, ao
contrrio, trata-se da construo de um eu lrico que no volta estritamente a si
mesmo e simula um valorizado distanciamento. Apesar disso, o poema igualmente
afetado pela vida anedtica do eu emprico e pelo contorno social. Conforme
Combe, a chave da criao potica sempre a experincia e sua significao na
experincia existencial (2009-2010, p. 118).
Sob esta perspectiva, tal caracterstica distancia, em certa medida, a poesia de
outros gneros. Por exemplo, embora um romance em primeira pessoa transparea
a possibilidade de existncia real de um enunciador, no h garantia de
autenticidade do discurso ou de referencialidade do eu emprico. No entanto, trata-
se, em ltima instncia, sempre da representao de um mundo possvel ou
fatdico aquilo que mantm o carter ficcional. Por sua vez, a poesia lrica, embora
possa ser ficcionalizada de diversas formas, tais como, a construo de
146
personagens e cenrios mticos, , em ltima i nstncia, expresso subjeti va em
origem, percebida como discurso de dico. O texto cientfico, por sua vez, no
expresso ou representao de um eu, mas proposio de juzos e asseres
estritamente vinculados possibilidade de verificao ou de validao distintiva
entre verdadeiro e falso.
Ainda quanto referencialidade, em literatura, como observado, empeiria e
fico no se opem enquanto polaridade excludente. H sempre aspectos do
mundo real no mundo da fico, e a prpria polari zao dos discursos entre real e
fictcio problemtica, e no apenas no discurso literrio, i nclusi ve no discurso
cientfico ou filosfico; tal disti no, em ltimo caso, pretenso irrealizvel.
Todo discurso referencial comporta fatalmente uma parte de
inveno ou de imaginao que alude fico, mas tambm
porque toda fico remete a estratos autobiogrficos, de modo que a
crtica no tem como verificar a exatido dos fatos e acontecimentos
evocados no texto autobiogrfico ou na poesia de circunstncia e,
assim, avaliar seu grau de ficcionalidade; mas, sobretudo, porque a
fico tambm um instrumento heurstico, de forma alguma
incompatvel com a exigncia de verdade e de realidade. (COMBE,
2009-2010, p. 123)
Por tal moti vo, Combe assevera sobre a necessidade de abordar o problema
do ponto de visto di nmico, um jogo e no sob um pri ncpio de uma polaridade
excludente. O sujeito lrico um sujeito em vias de ficcionali zao e,
reciprocamente, um sujeito fictcio reinscrito na realidade emprica segundo um
movimento pendular que d conta da ambivalncia que desafia toda definio crtica
at a aporia. (COMBE, 2009-2010, p. 124)
O eu lrico no pura unidade abstrata das percepes que antecede o
sensvel tal como o sujeito transcendental de Kant, uma estrutura uni versal , no
se ope simplesmente a um sujeito psicolgico indi vidual. Embora no adstrito
psicologia ficcional, o eu lrico no ignora a afeio/afeco, o ethos ou pathos, pelo
contrrio. O sujeito lrico um sujeito sensvel simplesmente, o sentimento nele
assume um valor uni versal. (COMBE, 2009-2010, p. 126). E para Combe, este o
sentido da tese de Kate Hamburger. A autora evoca o lirismo do vi vido
fenomenologicamente, na intencionalidade da conscincia de Husserl, logo, sendo
sujeito real, mesmo que na aparncia da ficcionalidade. Enfim, h uma dupla
referncia, dupla intencionalidade do sujeito que volta para si mesmo e para o
147
mundo simultaneamente, tensionado ao mesmo tempo em direo ao singular e ao
universal, uma dupla visada intencional; na comunicao lrica, trata-se de uma
tenso jamais resolvida, que no produz nenhuma sntese superior (COMBE, 2009-
2010, p. 128).
Esta tambm a aproximao postulada na fenomenolgica de Paul Ricoeur,
na qual o problema da fico compreendido em termos epistemolgicos de
modelizao heurstica da relao do mundo como intencionalidade da
conscincia.
Ricoeur prefere a ideia de uma ipseidade fundada na presena a si
mesmo, sem postular a identidade. Da mesma maneira, seria melhor,
sem dvida, falar de uma ipseidade do sujeito lrico que lhe
assegura, apesar de tudo, sob suas mltiplas mscaras, certa
unidade como Ichpol (Husserl). Mas essa unidade do eu na
multiplicidade dos atos intencionais, essencialmente dinmica, est
em constante devir: o sujeito lrico no existe, ele se cria. (COMBE,
2009-2010, p. 128)
Neste sentido, o sujeito emprico, enquanto alteridade, constitui -se por meio da
linguagem atravs da imagem de um autor. No entanto, na prpria linguagem lrica
que ele se perde enquanto pessoa, pois, alm das questes da problemtica da
referencialidade, o discurso lrico pretende ao universal; e, ao pretend-lo, o discurso
lrico despoja a pessoalidade e as circunstncias anedticas do sujeito emprico no
encontro do texto com as afeces/afeies da comunidade na qual se origina, pois
o leitor encontra a segunda face da dupla intencionalidade (Combe): a
intencionalidade ao universal. Logo, o eu lrico desumani zado no menor fico do
que a ideia romntica da convergncia plena entre inteno do autor e obra. Neste
sentido que vlido buscar a incidncia das afeces subjetivas no texto por meio
da aproximao entre eu lrico e eu emprico, e delas orientar-se em direo a busca
da comunho entre as palavras do eu e as palavras da comunidade; em sntese,
perscrutar a relao autor-obra-sociedade, ou, em outros termos, sondar a dupla
intencionalidade do sujeito que volta para si mesmo e para o mundo
simultaneamente.
Partindo desta reflexo, cabe voltar teoria da seleo multi nvel de Wilson.
Para Wilson (2013), a condio gentica do homem moderno deveu-se tanto
seleo indi vidual quanto seleo de grupo; por esta peculiaridade que as
sociedades se estabelecem sobre uma inevitvel e eterna guerra entre honra,
148
virtude e dever produtos da seleo de grupo e egosmo, covardia e hipocrisia
produtos da seleo individual. Alm disso, grande parte da cultura, inclui ndo as
artes criativas, tem emergido do choque inevitvel entre a seleo individual e a
seleo de grupo, e do desenvolvimento das habilidades sociais, a eussocialidade.
As primeiras populaes de Homo sapiens, ou seus ancestrais
imediatos na frica, chegaram ao nvel mximo de inteligncia social
ao adquirirem uma combinao de trs atributos especficos.
Desenvolveram uma ateno compartilhada em outras palavras, a
tendncia a prestarem ateno ao mesmo objeto que os outros
tambm esto observando. Adquiriram um alto nvel de conscincia
de que precisavam agir juntos para alcanar um objetivo comum (ou
impedir a tentativa de outros). E adquiriram uma teoria da mente, o
reconhecimento de que seus prprios estados mentais seriam
compartilhados por outros. (WILSON, 2013, p. 275)
Neste mesmo ambiente, lnguas semelhantes s nossas foram inventadas,
modificando completamente a capacidade comunicativa do homem da habilidade de
comunicao dos outros animais, pri ncipalmente pela capacidade de referncia a
objetos e eventos ausentes na vizi nhana imediata. Soma-se a capacidade
referencial, um grande i ncremento na memria de longo prazo, delimitada por uma
complexa arquitetura cerebral herdada a partir da seleo de grupo. Esta
capacidade mnemnica vi nculou-se fortemente capacidade de contar histrias e
planejar estratgias em breves perodos, evocando sonhos ou lembranas da
experincia para criao de cenrios reais ou possveis, passados ou futuros. Ainda
em relao s lnguas, elabora-se o uso de elementos prosdicos, habilidade que
incrementou a capacidade de invocar, dissimular ou insi nuar um estado de esprito a
fim de alcanar a adeso do grupo discurso indireto capaz de transmitir
informaes e negociar um relacionamento entre i nterlocutores.
Neste contexto, surgem as mais cruciais habilidades sociais a capacidade de
revelar ou dissimular intenes atravs da lngua e dos elementos prosdicos; a
competncia de interpretar as i ntenes do outro por meio de uma teoria da mente
que possibilitava o compartilhamento dos prprios estados mentais e
reconhecimento dos estados mentais do outro; e a aptido de prever as reaes do
outro atravs da memria de longo prazo e da capacidade de criao de cenrios.
Trs habilidades que favoreceram fundamentalmente o comportamento pr-grupo,
isto , a capacidade de cooperar e esse possi velmente foi a finalidade das
149
habilidades narrati vas. Os mitos de criao, por exemplo, exerceram a funo
primordial de manuteno da coeso da tribo e sobrevivncia da espcie, pois
forneciam aos membros da comunidade uma identidade singular, exigiam fidelidade
tribo, fortaleciam a ordem e coeso social, garantiam o cumprimento da lei,
encorajavam a bravura e o sacrifcio, e davam sentido aos ciclos da vida e da morte.
Para jogar o jogo maneira humana, as populaes em evoluo
tiveram de adquirir um grau crescente de inteligncia. Tiveram de
sentir empatia pelos outros, avaliar as emoes, tanto de amigos
como de inimigos, julgar as intenes de todos eles e planejar uma
estratgia para as interaes sociais. Consequentemente, o crebro
humano tornou-se ao mesmo tempo altamente inteligente e
intensamente social. Teve de desenvolver cenrios mentais de
relacionamentos pessoais rapidamente, de curto e longo prazos.
Suas lembranas tiveram de retroceder ao passado distante para
evocar cenrios antigos e avanar futuro adentro para imaginar as
consequncias de cada relacionamento. (WILSON, 2013, p.28)
Quanto arte, tais vises tericas podem contribuir fundamentalmente na
proposta de anlise traada neste trabalho e na tentativa de uma relao entre eu
lrico e autor emprico. Primeiramente, compreender a conscincia enquanto
intencionalidade orientada pelas afeces/afeies da vida anedtica passvel de
apreenso por meio da estrutura a priori uni versal do sujeito transcendental
significa, de certo modo, propor determi nada unidade de sentido de sentido possvel
de ser descrita fenomenologicamente; ou seja, devido s formas a priori do
entendimento e da sensibilidade, juzos sintticos a priori
56
so possveis de serem
reconhecidos em sua racionalidade, passveis de serem determinados enquanto
expresses de um Sujeito Transcendental que estabelecem e definem a forma de se
reconhecer a realidade, impossibilitando, em consequncia, a compreenso da
realidade em si, i ndependente da existncia humana. A realidade sempre
apreensvel enquanto fenmeno.
Em segundo lugar, estabelecer a relao entre o conceito de Sujeito
Transcendental segundo contribuies da fenomenologia ontolgica
57
. Heidegger
56
Para Kant, no h nada na ment e que no tenha passado pelos sentidos. Desta forma, Juzos
sintticos a priori so juzos em que o predicado no est no sujeito, so construdos atravs da
experi ncia. No entanto, h t ambm uma construo fenomnica, que permite antever a
uni versali dade do j uzo. Isto , h uma razo que estrutura a apreenso da experi ncia, a percepo
dos fenmenos.
57
Hei degger prope a distino entre ntico e ontolgico. ntico se refere estrutura e essncia
prpri a do ente, que ele em si mesmo, uma i dentidade que se di ferencia dos demais. Ontolgico se
refere ao estudo filosfico dos entes, investigao dos conceitos que permitem conhecer e
150
questiona a necessidade de recuar ao eu transcendental para a constituio
transcendental do mundo. Para Heidegger,
Os elementos unilaterais do corpo e da psicologia pura nos quais
Husserl insistia muito s so possveis sobre a base de uma
integralidade concreta do homem, tal como ele determinado
primariamente em seu modo de ser. Quer dizer: corpo e esprito, o
elemento somtico e o elemento psquico, pressupem esse modo
de ser do Daisen, onde se constitui aquilo que se chama mundo.
(apud STEIN, 2010, p. 289)
Neste sentido, Heidegger afasta a ontologia da metafsica e da relao
dicotmica realismo/idealismo. Para o filsofo, se optarmos estritamente pela
concepo realista e apagarmos a funo da conscincia na compreenso dos
fenmenos, cometemos um grave equvoco, pois a realidade s existe para uma
conscincia que a percebe. Ao contrrio, se optarmos por elimi nar o mundo exterior
e reduzir a percepo estrutura da conscincia, i ncorremos em igual equvoco,
pois o ser vive no e para o mundo, a exterioridade o antecede, e ele apenas a
provm de sentido, mas no a cria. Em sntese, sem conscincia no h mundo a
ser apreendido; sem mundo, no h conscincia a se apreender. Compreender um
estar-no-mundo; e o homem corpo e pensamento simultaneamente nesta relao.
A realidade a existncia do ser no mundo. Interessante anotar sobre este ponto
que as prprias descobertas cientficas de nossa poca apontam para esta relao.
Newton, assumi ndo a posio realista, concebia um tempo absoluto, que transcorre
eternamente, de maneira uniforme, aqui ou em qualquer lugar, na presena ou na
ausncia do ser, na matria ou no vazio. A teoria da relatividade de Einstein e a
fsica atmica destronaram as leis da mecnica clssica e demonstraram que sua
pretensa preciso tratava-se, apenas, de uma uniformidade do ponto de vista dos
observadores.
[...] enquanto, na teoria da relatividade, o ponto decisivo foi o
reconhecimento dos modos essencialmente diferentes pelos quais
observadores em movimento em relao uns aos outros descrevem
o comportamento dos objetos, a elucidao dos paradoxos da fsica
atmica revelou o fato de que a inevitvel interao dos objetos e
dos instrumentos de medida instaura um limite absoluto
determinar pelo pensamento em que consistem as modalidades nticas, quais os mt odos
adequados para o estudo de cada uma del as, quais as categori as que se aplicam a cada uma del as;
isto , refere-se aos ent es tomados como objetos de conhecimento.
151
possibilidade de falarmos de um comportamento dos objetos
atmicos que independa dos meios de observao. (BOHR, 1995, p.
31-32)
Nas pesquisas atuais do campo das cincias naturais tambm encontramos
esta vi nculao. Por exemplo, para Wilson (2013, p. 232), a natureza humana foi
negada durante o ltimo sculo ao apegarmo-nos ao dogma de que todo o
comportamento social aprendido e toda cultura produto da histria,
desvinculados da estrutura cerebral resultante de um longo perodo de evoluo
natural. Para Wilson, a natureza humana so as regularidades herdadas do
desenvolvimento mental comuns nossa espcie, regras epigenticas
58
que
evoluram pela interao da evoluo gentica e cultural; os vieses genticos na
forma como nossos sentidos percebem o mundo, a codificao simblica pela qual
representamos o mundo, as opes que automaticamente abrimos para ns e as
reaes que achamos mais fceis e recompensadoras (WILSON, 2013, p. 234). Por
exemplo, as regras epigenticas so responsveis pela forma como vemos e
classificamos as cores, pela forma como avaliamos a esttica do desenho artstico
de acordo com formas abstratas elementares e o grau de complexidade, pela forma
como determinamos os indivduos que achamos sexualmente mais atraentes, os
medos e as fobias mais recorrentes sobre os perigos do meio ambiente, tais como,
de cobras e altura; alm disso, conduzem o padro de expresses faciais e formas
de linguagem corporal, a tolerncia lactose, entre outros tantos exemplos.
Entretanto, em sua maioria, esses comportamentos criados pelas regras
epigenticas no so automticos como os reflexos so aprendidos, mas o
processo que os psiclogos chamam de preparado (WILSON, 2013, p. 235). Isto ,
possumos uma predisposio inata a aprender tais comportamentos e somos
contrapreparados para fazer escolhas alternati vas ou evit-las. Logo, justo
afirmar a existncia de uma coevoluo gene-cultura, sendo o maior exemplo ainda
a prtica de evitar o incesto (todas as espcies vulnerveis depresso endogmica
usam algum mtodo biologicamente preparado para evitar o i ncesto).
58
A epigentica (o prefixo do grego epi signi fica acima de al go) i nvestiga as mudanas herdadas nas
funes dos genes, observadas na gentica, mas que no alteram as sequncias de bases
nucleot dicas da mol cula de DNA. Os padres epigenticos so sensveis a modi ficaes
ambientais, assim, as modificaes ambientais podem acarret ar mudanas fenotpicas que sero
transmitidas aos descendentes.
152
Neste sentido, como em Heidegger, o ser sempre a partir de um lugar,
enrai zado no mundo vivido; embora delimitado pelas estruturas herdadas. E o
sentido acontece na relao entre afeco e compreenso. No h espao vazio
onde o sentido se constitui, nem sentido constitudo sem relao com a
exterioridade. O modo de ser no mundo pragmtico.
E tambm pragmtica minha relao com a alteridade. Para Gadamer, a
compreenso mtua possui um sentido tico, e no lgico. Devemos todos
aprender que o outro significa uma defi nio primria dos limites do nosso amor
prprio e do nosso egocentrismo. Trata-se de um problema tico de alcance
universal (GADAMER apud FABRI, 2010, p. 278)
E o outro apenas pode ser compreendido sob a condio de ser semelhante a
mim. O conhecimento da alteridade est fundado na semelhana. E a partir dela
que compreendo o que da semelhana com o outro em mim estranho. Isto ,
reconheo a alteridade na diferena do que semelhante a mim no outro, pois a
alteridade absoluta inapreensvel. Desta forma, uma individualidade s pode ser
apreendida por comparao e contraste, No se apreende jamais diretamente uma
individualidade, mas somente sua diferena com relao a outra e a si mesma.
(RICOEUR, 1988, p. 22).
E as semelhanas que compreendo no outro no ocorrem apenas no nvel dos
signos arbitrrios, ao contrrio, revelam-se de forma observvel nas estruturas do
imaginrio e da conscincia. Para Ricoeur, conforme o prefcio de Hilton Japiassu
na obra Interpretao e ideologia (1988),
o smbolo que exprime nossa experincia fundamental e nossa
situao no ser. ele que nos reintroduz no estado nascente da
linguagem. O ser se d ao homem mediante as sequncias
simblicas, de tal forma que toda viso do ser, toda existncia como
relao ao ser, j uma hermenutica. (JAPIASSU apud RICOEUR,
1988, p. 3)
E a confluncia simblica e o esprito de compreenso no surgem de uma
vontade de saber de um ser autnomo e autocentrado, mas da carncia de orientar-
se em um contexto intersubjeti vo, da necessidade de compartilhar vivncias e
sentidos ori undos das determinaes psicossociais surgidas da evoluo da
espcie.
153
As intenes de outrem me pem em contato com as minhas
prprias, de sorte a eu descobrir em mim um saber de mim, um
cogito mais antigo que minhas representaes intelectuais, mas
disponvel apenas na mediao dos comportamentos de meus
semelhantes e de nosso mundo comum. (MULLER-GRANZOTTO,
2010, p. 324)
Nessa relao, o outro para mim a soma dos signos e significaes por ele
veiculados e que em mim encontram um ponto de interseco. Logo, a conscincia
da alteridade construo dialtica sempre em curso; semelhante o pensamento
de Merleau-Ponty. Para o filsofo, conforme aponta Muller-Granzotto, a
intersubjetividade uma dialtica sem sntese, vi vida nos termos de um transitivismo
entre eu e meu semelhante a partir do que nos comum, precisamente, nossa
passividade frente ao estranho, seja ele o mundo ou o olhar de algum. (2010, p.
329).
Este ponto de interseco no deixa de ser um ponto de vista subjeti vo sobre o
outro, o horizonte de sentidos do outro s percebido em partes, desejar a
compreenso totali zante do outro objeti v-lo, separ-lo de sua conscincia em
constante movimento, e paralis-lo no tempo e espao. De certa forma, toda crtica
literria quando pretende encontrar o autor na obra ou separar sua produo em
fases realiza este movimento, que embora depreenda um legtimo esforo intelectual
e alcance consistente coerncia, jamais totalizante. Na busca do outro, h sempre
lacunas que no so preenchidas, ou, quando completadas, os espaos vazios so
ocupados mais pela subjetividade e mtodo do intrprete do que pela conscincia
criadora do artista. neste sentido que compreendemos o pensamento de
Heidegger, para o qual compreender deixa de ser um modo de conhecer para
tornar-se uma maneira de ser e relacionar-se com outros seres, isto , h sempre
uma i nteno de preencher as lacunas, e neste trabalho o ser-a se constitui em
dialtica com o outro. Obviamente, a escrita leva a relao a outro patamar.
Com a escrita, no se preenchem mais as condies de
interpretao direta mediante o jogo da questo e da resposta, por
conseguinte, atravs do dilogo. So necessrias, ento, tcnicas
especficas para se elevar ao nvel do discurso a cadeia dos sinais
escritos e discernir a mensagem atravs das codificaes
superpostas, prprias efetuao do discurso como texto.
(RICOEUR, 1988, p. 19)
154
Por essa razo que a tarefa da hermenutica romper a primeira
interpretao, textual, para tentar atingir a subjeti vidade daquele que escreve,
superando o plano superficial dos signos lingusticos. E o conhecimento de outrem
se torna possvel somente sob as configuraes estveis das formas, imagens e
smbolos produzidos pela vida. A organizao estruturada das vontades, dos
sentimentos, das avaliaes, das preferncias que oferecem margem para a
decifrao de outrem, para a elucidao da relao entre a obra e a subjetividade do
autor. Os sistemas organi zados que a cultura produz sob forma de literatura
constituem uma camada de segundo nvel, construda sobre esse fenmeno
primrio da estrutura teleolgica das produes de vida. (RICOEUR, 1988, p. 25).
Obviamente, quando voltamo-nos compreenso do outro ou de ns mesmos
enfrentamos o grande obstculo da dissimulao, caracterstica universal e
necessria espcie na criao de vnculos intersubjetivos para a relao com o
mundo, conforme demonstrado por Wilson. Conceitos como a teatrali zao do
cotidiano e as comunidades de sentido (Berger), a funo de deformao e
alienao da ideologia (Marx), a tribali zao ps-moderna (Maffesoli), a ordem do
discurso (Foucault) demonstram perfeitamente como compreender o homem tarefa
mais rdua do que a compreenso de qualquer outro fenmeno. Se existe uma
regio do ser onde reina o inautntico, justamente a relao de cada indivduo com
qualquer outro possvel. (RICOEUR, 1988, p. 32).
No entanto, a i nteno de compreender o que h de autntico no ser, mais do
que um exerccio interpretativo, um poder orientar -se e um poder constituir-se no
mundo, pr-condio para a existncia i nteligente do homem. O sujeito se d a si
mesmo no conhecimento da alteridade, e neste sentido que se compreende o
crculo hermenutico, no qual o preconceito exprime a estrutura de antecipao da
experincia humana frente ao outro, mas, principalmente, no qual a alteridade gera a
fuso de hori zontes que, na escrita, opera distncia. A comunicao distncia
entre duas conscincias diferentemente situadas faz-se em favor da fuso de seus
hori zontes, vale dizer, do recobrimento de suas visadas sobre o longnquo e sobre o
aberto. (RICOEUR, 1988, p. 41). Compreender um texto revelar a possibilidade
de ser nele indicada.
No entanto, o texto comunicao na e pela distncia do evento comunicativo
do dilogo. Os signos escritos esto di stantes do evento comunicati vo e do mundo
que referenciam, e quanto maior esta distncia pelo tempo e pelo espao, maior a
155
distncia de seu autor e do mundo que referencia e, consequentemente, menor o
lao de pertena a um tempo histrico e a uma subjetividade. Se a possibilidade de
adentrar na conscincia do outro durante o evento comunicativo imediato j um ato
mediado pelas estruturas de antecipao (preconceitos) e pela ocultao realizada
pela dissimulao, o texto, embora sempre referencie um mundo que pretende
representar, cada vez mais distante, cada vez mais a construo de mundo
textual do que a imagem de um mundo representado. Porm, por mais que seja
fugidio o evento comunicati vo, nunca saberemos o que pensava o escritor (ou
escritores provavelmente) de Mil e uma noites, o rei trado e seu desejo cego de
vingana vencido pelo poder narrati vo das histrias de uma jovem permanecem, e
at mesmo o efeito perlocucionrio a influncia direta sobre as disposies
afetivas do interlocutor. Esta a prxis do discurso.
O texto sempre carrega em si um projeto de dizer algo sobre alguma coisa que
o ultrapassa, o esforo interpretativo no pode desconsiderar tal fato e orientar-se
por uma anlise apenas centrada no texto; porque o texto, assim tratado como
objeto absoluto, fica privado de sua pretenso de nos dizer algo sobre a coisa.
(RICOEUR, 1988, p. 115).
Alm disso, permanecem as caractersticas do gnero e a techn do texto (o
estilo). Se o indi vduo inapreensvel teoricamente, pode ser reconhecido como a
singularidade de um processo, de uma construo, em resposta a uma situao
determinada. (RICOEUR, 1988, p. 51). Aquele que escreve sempre traz ao texto,
conscientemente ou no, uma tcnica, um esti lo, uma tradio, a qual aceita ou a
qual se ope.
A escrita aufere ao texto si ngular autonomia em relao inteno do autor,
pois a obra de arte transcende as condies histricas e psicossociolgicas, e a
prpria produo sustenta etapas que fogem a conscincia criadora. No entanto,
difcil imaginar discurso no qual se ausentem completamente as afeces subjetivas
e scio-histricas que permearam a composio. Desta forma,
a abolio de uma referncia de primeiro nvel, abolio operada
pela fico e pela poesia, a condio de possibilidade para que
seja liberada uma referncia de segundo nvel, que atinge o mundo,
no mais somente no plano dos objetos manipulveis, mas no plano
que Husserl designava pela expresso de Lebenswelt, e Heidegger
pela de ser-no-mundo (RICOEUR, 1988, p. 56)
156
A referncia de segundo nvel encontra-se na constituio simblica, nas
imagens e nas representaes dos vnculos sociais revelados na obra. Obviamente,
na compreenso do segundo nvel no podemos esperar que a condio ontolgica
de pr-compreenso encontre-se em um lugar no ideolgico; ao contrrio, toda a
possibilidade de compreenso est relacionada pertena a determinada
sociedade, cultura, condio histrica, classe social, campo discursivo, afeces
subjetivas e eleies axiolgicas, enfim, a uma ideologia e todas as demais
consequncias da condio de ser-no-mundo que, alm de mediadora dos sentidos,
dissimula e distorce o real. Porm, mesmo considerando o poder das ideologias,
nenhum horizonte fechado, a compreenso na leitura sempre uma fuso de
hori zontes de um eu do texto e de um eu que l. A exegese do texto no apenas
um ato de saber, mas comprometimento com o outro do texto e com toda a tradio
que o orienta, seja pela atitude de adeso ou contraposio.
Sendo assim, o sentido de um texto literrio subsiste para alm e
independentemente da inteno de seu autor e do hori zonte de conhecimento de
seu leitor. A interpretao, assim, no pode negar o crculo hermenutico, nem a
constituio dialgica do discurso (e do ser) bakhtiniana. O ser-a constitudo na
relao imediata ou mediata com o outro, ponto em que se aproximam a viso de
Wilson, Heidegger e Nietzsche a conscincia constituda socialmente, projetada
para atender a necessidade de relaes gregrias que garantem a sobrevi vncia e
reproduo, o ser no pode ser apartado do mundo. Consequentemente, toda
interpretao, afetada por circunstncias iguais a da produo, inicia in media res,
isto , a partir do mundo do leitor.
Assim, aps a destituio da autonomia da conscincia pela filosofia e cincia
moderna, o autor sofreu um progressivo apagamento, tendo, inclusi ve, desaparecido
totalmente em algumas teorias. Para contornar o problema do autor, procurou-se
encontrar no texto uma estrutura que respondesse pela intencionalidade da obra, e
surgem, desta busca, vrios conceitos, tais como, eu-lrico, narrador, autor-criador
(Bakhti n), sujeito-da-enunciao (Benveniste), intentio operis (Umberto Eco), entre
outros.
Obviamente, a no transparncia do criador atravs da obra j ustifica essa
separao. E esta opacidade de um ego criador engendra-se, prioritariamente, a
partir de cinco problemas: a) Conforme nos ensina Saussure, a lngua um fato
social, sistema de signos arbitrrios nos quais a ligao entre o significante e o
157
significado estabelecida aleatoriamente, todo meio de expresso aceito numa
sociedade repousa em princpio num hbito ou, o que vem a dar na mesma, na
conveno (1991. p. 82), assim, se o homem no autor dos significados,
inexistente a propriedade do sentido pela inteno do falante, logo, o sentido do
enunciado pertence antes comunidade do que ao falante; deste modo i nstitui -se o
problema da referencialidade da lngua; b) Freud, por sua vez, demonstrou que
nossa mente dividida em estruturas consciente, pr-conscincia e inconsciente
e que a menor destas estruturas o consciente; ora, se j no existe o sujeito
centrado, homogneo e completamente racional do Ilumi nismo, logo, grande parte
do processo criativo orientado por processos psquicos e simblicos do
inconsciente; c) todo enunciado uma manifestao do ego hic et nunc, de um eu
que no idntico no tempo e no espao, ou, conforme Paul Ricoeur postula, um
si que vi ve entre duas tenses ontolgicas, a mesmidade, a identidade do que
permanece do ser no tempo, e a ipseidade, o que se constri no ser no tempo
devido pluralidade de acontecimentos que o atravessa, ou seja, o poema rastros
o enunciado proferido em um lugar localizado em um tempo e um espao ao qual
no podemos retornar, por um sujeito que j no existe mais; d) A simulao e a
dissimulao foram estratgias necessrias para a vida em grupo e constituti vas da
conscincia, todos sabemos que uma si nceridade irrestrita impossibilita qualquer
tipo de convi vncia; no entanto, foram constitudas to profundamente que agem
sobre a prpria conscincia, simulando ou racionalizando atitudes e estados de
esprito em uma espcie de atitude jurdica sobre si, capaz de dissimular a
intencionalidade do ato em um nvel consciente; e) toda interpretao do interlocutor,
alm de responsi va, orientada por pr-conceitos e pr-compreenses oriundas da
experincia do ser-no-mundo e, medida que a interpretao prossegue, i nicia-se
um constante retroprojetar, isto , a substituio dos conceitos e compreenses
prvias orientada pelos sentidos emanados no contato com o texto, movimento
circular, constante reelaborar do projeto inicial no qual o crculo orienta-se da pr-
compreenso do todo compreenso das partes e a partir da compreenso destas
at ao sentido do todo; este o processo de fuso de horizontes postulados por
Gadamer (1997), a projeo de um hori zonte histrico que culmina em um novo
hori zonte histrico composto pela relao dialgica entre a experincia no mundo do
intrprete e a alteridade do texto.
158
A complexidade do autor-pessoa no dedutvel a partir da obra, no entanto,
permanece no texto, quando i ntencionado durante o processo criati vo, enquanto
presena que no excede a tentati va de restrio a um elemento estruturante de
uma obra. E a poesia uma das possibilidades de intencionar-se um si que,
afetado pela vida anedtica do eu emprico e pelo contorno social, inscrito no
texto. Conforme Combe, a chave da criao potica sempre a experincia e sua
significao na experincia existencial (2009-2010, p. 118). H, assim, uma
presena, fumus auctoris que excede o limite textual atravs de posicionamentos
axiolgicos, mais especificamente, certa projeo tica e esttica inscrita na
idiossincrasia de um si que si mesmo como outro (Ricoeur), constitudo
dialeticamente entre a indi vidualidade e o social; individualidade que a confluncia
no tempo e no espao do entrecruzamento das vozes, fatos, afetos, imprevistos,
aes e posicionamentos que particularizam uma identidade entre a multiplicidade
exterior; isto , a histria pessoal e a dimenso tica e esttica assumida por um si
que existe si ngularmente no mundo, ao qual, conforme leciona Ricoeur (1991),
no se deve i nquirir quem ?, mas o que diz?, como age?. Em Bakhtin, parece
igualmente haver um si que se constitui no movimento interlocutivo, na relao
alteritria de todo enunciado, e que se posiciona eticamente na arena de vozes do
discurso. Sobral, a este respeito, afirma que
Recusando certa recepo socializante de suas teorias, o Crculo
de Bakhtin destaca essencialmente a individualidade, entendida em
fidelidade s propostas de Marx como a soma das relaes sociais
da vida do sujeito, e no como entidade submissa ao social nem
subjetivista e autarquicamente autnoma com relao a ele (o cogito
cartesiano e derivados): tornamo-nos eus a partir de outros eus,
mas no somos cpias desses outros eus. (SOBRAL, 2009, p. 122)
O sujeito no resultado das relaes sociais, mas agente responsvel tica e
esteticamente, e seu discurso sempre resposta ao outro como algum dotado de
um excedente de viso, capaz de saber do outro o que este no pode saber.
(SOBRAL, 2009, p. 123). Em um poema, gnero no qual se pode intencionar a
exposio de afeies, afeces ou experincias da vida anedtica do autor, h,
quando pretendido, um sujeito que se evidencia por meio do posicionamento tico e
esttico do enunciado na relao dialgica com o outro; presena que excede s
estruturas internas que se constituem no movimento refratrio entre as dimenses
159
sociais, ideolgicas e culturais, e a obra; s assim se justificaria a diviso da obra
em fases ou os pontos de convergncia entre os fatos biogrficos e produes
bibliogrficas de um autor. Por exemplo, no poema rastros, da obra Saxfraga
(1993), h um si que emerge intencionalmente, e que justifica uma interpretao
que exceda aos elementos li ngusticos presentes no poema, presena que
denominamos fumus auctoris.
rastros
cogumelos gratuitos, vestutos
dando relva um reflexo escuro
compostura desses cogumelos:
a da pele, dos bagos de um velho
os pendes no pediram licena
e perdem a crena, solitrios
razes no se sabem razes
raiz se confunde com galho
clangor da folhagem entreabrindo
disfara o cicio do limo
o cheiro dos gomos pisados
alastra-se feito um boato
e eu no espinheiro, sem rumo
longe, o cho de pedregulhos
a flor essncia saxtil.
(ROQUETTE-PINTO, 1993, p. 6)
As imagens cogumelos, relva, folhagem, pendes, gomos, etc.
remetem a uma paisagem natural. No entanto, a relao entre as imagens e o
espao natural/controlado do jardim apenas tem sentido se relacionada apario
frequente deste ambiente em outros poemas, como exemplo, os versos j citados da
obra zona de sombra no recorte da janela/ empresta foco ao hipottico jardim
(2000, p. 17). Entretanto, no o jardim o tema, no se trata de uma descrio
potica de um ambiente natural, o jardim hipottico, sua descrio meio para a
emerso/revelao da subjetividade, assim como tambm a constitui e eu no
espinheiro, sem rumo/ longe, o cho de pedregulhos/ a flor essncia saxtil.. O eu
(o si) est escrito, parte dos elementos lingusticos do poema, h um analogia
160
entre a flor saxtil, que nasce entre pedregulhos e espi nhos, textualmente
demarcada como imagem que simboliza introspeco avaliativa do eu-lrico sobre si;
no entanto, a percepo de todo o espao natural como hipottico e elemento de
constituio subjeti va confirma-se apenas quando se recorre a elementos exteriores,
tais como a entrevista j citada no Jornal Plstico Bolha, na qual Claudia afirma toda
paisagem natural em sua poesia uma paisagem mental que se refere a um estado
anmico e a uma representao de seu fazer potico Quando estou falando de
uma flor, de uma planta, [...] so dois centros sobre os quais eu me debruo: o
processo de pensamento, que engloba a prpria feitura do poema e o envolvimento
amoroso (2007, p. 3). Neste sentido, coerente estabelecer o jardim enquanto
posicionamento tico/esttico de um si emerso intencionalmente na obra.
Alm disso, h no poema um contraste entre a luz e a sombra cogumelos
gratuitos, vestutos/ dando relva um reflexo escuro estas duas tenses tambm
so recorrentes no poema tela, de zona de sombra (2000), tambm analisado: [...]
camadas de/ preto confundidas, tisne sobre tisne at o oclusi vo, ltimo negror./ ao
redor, ilhas de cor, eltricas, sazonadas pela imagi nao dos/ poentes (2000, p.
19). Tenso, conforme visto, entre a dupla valorao dos smbolos nictomrficos
na sombra, vida e morte esto muito prximas. O mesmo acontece entre o alto e o
baixo razes no se sabem razes/ rai z se confunde com galho , que se repete
em outros poemas: ora o ambiente o alto Por que novamente me perco/ entre
hortnsias, no acli ve,/ mais altas que os homens, mais vi vas/ que o Exrcito de
Terracota? (ROQUETTE-PINTO, 2000, p. 31) ora a ao se encontra na descida
deso no poo de silncio/ que em gerndio vara madrugadas (ROQUETTE-
PINTO, 2000, p. 17); O mundo ora me engole, ora me vara (2006, p. 4). Descida
interioridade que, em tela, representada pelos verbos tragar e engolfar-nos, foi
vista como atitude eufmica frente queda do regime noturno do imaginrio,
conforme Durand.
E neste sentido que as predilees ticas e estticas de um autor podem, se
intencionadas, excederem o texto e serem compreendidas a partir de analogias
estabelecidas no apenas entre a obra e os aspectos socioculturais, mas tambm
considerando aspectos da vida anedtica e opes idiossincrticas do autor-pessoa,
usando termo bakhti niano, apontando certa recorrncia de um estado anmico que
excede a estrutura do texto e s pode encontrar coeso alm do texto.
161
Assim, o problema maior parece ser a concepo de sujeito subjacente
anlise literria. No se pode depreender de uma obra um sujeito monolgico, um
eu responsvel pelo enunciado, plenamente consciente de sua inteno e de seu
projeto de dizer, pois tal sujeito, de base cartesiana, uma iluso conceitual. Alm
disso, quanto mais extenso o texto, mais desnecessria a relao entre sujeito e
obra, pois menores so as lacunas do texto (conforme salientam Iser e Eco). Isto ,
em um texto extenso Dom Quixote, por exemplo uma anlise sistemtica, na
qual se pressupe que o sentido de cada parte tem uma relao com o sentido do
todo (princpio da hermenutica clssica), pode ser suficientemente satisfatria, sem
a necessidade de recorrer a elementos extratextuais, i nclui ndo nestes no apenas a
inteno tica/esttica do autor, mas igualmente o contexto na qual a obra foi
produzida. No entanto, em textos menores, as lacunas so proporcionalmente
maiores, e a necessidade de recorrer aos elementos extralingusticos tambm. Ou
seja, um enunciado simples como Feche a porta!, abre uma possibilidade muito
maior de interpretaes que um enunciado como Feche a porta! Maria, tremendo
de frio, pediu gentilmente a Joo; embora o segundo, assim como qualquer texto
independente da extenso que possua, elimine todas as lacunas sobre as quais o
interlocutor reali za o trabalho de i nterpretao.
Poderamos ainda levar o argumento a outro patamar. Se a linguagem mantm
os sentidos do contexto de produo de um enunciado, necessrio crtica
literria procur-los nos elementos extrali ngusticos, incluindo o autor. Ao contrrio,
se esvaziarmos a linguagem dos sentidos extralingusticos na pretenso de uma
anlise imanente ao texto, consequentemente, devemos compreender que os
elementos extralingusticos no atuam no sentido veiculado por um texto, inclui ndo o
autor. No entanto, trata-se de uma via dupla de equvocos. Conforme Geraldi
assinala esclarecedoramente em Portos de Passagem (1997), mesmo no se
voltando propriamente literatura,
Admitir uma indeterminao absoluta da linguagem seria trocar uma
iluso por outra: a iluso da uniformidade pela iluso da
multiplicidade indeterminada. Numa posio estaramos negando o
presente; na outra estaramos negando o passado. Uma e outra
negam os fatos. Uma e outra so negadas pelos fatos. (1997, p. 10)
Isto , a semntica de uma lngua relati vamente indetermi nada, no h
univocidade absoluta transparncia do sentido , nem i ndetermi nao absoluta
162
possibilidade de atribuir qualquer sentido (GERALDI, 1997). Em sentido semelhante,
Umberto Eco, ao ressaltar a caracterstica plurissignificante da obra de arte, ressalta
que passvel de mil i nterpretaes diferentes, sem que isso redunde em alterao
em sua irreproduzvel singularidade. (ECO, 2005, p. 40). Mesmo em um uni verso de
mltiplas possibilidades de interpretao, no permitido qualquer i nterpretao, o
que Eco assi nala mais explicitamente em obra posterior
Cuando en 1962 publiqu Obra abierta, me plante El siguiente
problema: cmo una obra de arte poda postular, por un lado, una
libre intervencin interpretativa por parte de sus destinatarios y, por
otro, exhibir unas caractersticas estructurales que estimulaban y al
mismo tiempo regulaban el orden de sus interpretaciones? Como
supe ms tarde, esse tipo de estudio corresponda a la pragmtica
del texto o, al menos, a lo que en la actualidad se denomina
pragmtica Del texto; abordaba un aspecto, el de la actividad
cooperativa, en virtud de la cual el destinatario extrae del texto lo que
el texto no dice (sino que presupone, promete, entraa e implica
lgicamente), llena espacios vacos, conecta lo que aparece en el
texto con el tejido de la intertextualidad, de donde ese texto ha
surgido y donde habr de volcarse
59
(ECO, 1993, p. 13)
Ou seja, se h dialtica entre a iniciativa do intrprete e a necessidade de
fidelidade obra, consideramos que, quando as afeces, afeies e fatos
anedticos do autor so intencionados na obra, as opes estticas e ticas do
autor-pessoa tambm podem entrar no jogo das negociaes de sentido, pois sendo
o texto uma estrutura aberta, mas no totalmente i ndetermi nada, pode haver na
coero interpretati va elementos que apenas se justifiquem enquanto
idiossincrasias de um si i ntencionado.
59
Quando publiquei o meu trabalho Obra aberta, escreve Eco, eu me perguntava como que uma
obra podi a postular, de um l ado, uma li vre interveno i nterpretati va a ser feita pel os prprios
destinatrios e, de outro, apresentar caractersticas estruturais que ao mesmo tempo estimul assem e
regulamentassem a ordem das suas int erpretaes. Conforme aprendi mais tarde, sem saber eu
estava ento s volt as com a pragmtica do texto (...) ou seja, a ativi dade cooperati va que leva o
destinatrio a tirar do texto aquil o que o texto no diz (mas que pressupe, promete, implica e
implicita), a preencher espaos vazios, a conectar o que existe naquele t exto com a trama da
intertextuali dade da qual aquel e texto se origi na e para qual acabar conflui ndo. Cf. Umberto Eco.
Lector in fabula. A cooperao i nterpret ati va nos textos narrati vos, trad. de Attlio Cancian, So Paulo,
Perspecti va, 1986.
163
CONSIDERAES FINAIS
Cada poema a consagrao de um instante que, embora no passado,
presentifica-se a cada encontro entre leitor e obra. Dele, participam autor,
sociedade, obra e imaginrio em um dilogo no qual no h sntese, mas uma
relao de completariedade, em unio indissolvel de contrrios; e este o princpio
pelo qual nos guiamos neste trabalho, composto por trs captulos, nos quais
analisamos caractersticas marcantes da lrica de Claudia Roquette-Pinto, poeta
contempornea, nascida no Rio de Janeiro.
No primeiro Captulo, Campos do imaginrio, nossa anlise se orientou pela
teoria das estruturas do imagi nrio de Gilbert Durand, e seus desdobramentos em
Jean Burgos e Maria Thereza de Queiroz Guimares Strongoli. Neste captulo,
observamos que o imaginrio, meio pelo qual as experincias sensveis so re-
presentadas por articulaes simblicas, estabelece na Lrica de Claudia Roquette-
Pinto um movimento antittico entre duas principais imagens a queda, face terrvel
do tempo inscrita na atitude heroica do Regime Diurno do Imaginrio, e a descida,
smbolo de inverso da queda em movimento lento e seguro rumo a uma
interioridade aconchegante.
Sob esta dicotomia, observamos que a sensualidade corporal, por vezes, a
forma pela qual o eu-lrico contrape-se queda, mas no a vence, pois o corpo em
sua lrica tambm representado em uma zona de fronteira entre duas formas de
relao com a alteridade. Como observamos, este movimento de dialtica dos
antagonistas caracteriza as estruturas sintticas do regime noturno do imaginrio,
segundo Durand, dramati zao rtmica orientada pela domi nante copulati va,
justificando a frequente sensualidade corporal e a preferncia pelas situaes
limtrofes. E desta forma que o imaginrio de Roquette-Pinto traduz a
complexidade antagnica de sentimentos caractersticos do nosso tempo a razo
apolnea-prometeana orientado pela dominao da natureza perturbada pelo
esprito demonaco de Dioniso.
No captulo, tambm observamos uma procura pela interioridade,
representao de uma subjeti vidade que no se constitui em uma identidade
164
singular, mas surgida da presena do outro, que expressa pelo imaginrio
circular e opaco do jardim.
E neste nterim, o eu-lrico de Claudia Roquette-Pinto, em sua constituio
autorreferencial, transforma corpo, flor, jardim e queda em imagens da busca
de delimitao das zonas e limites existncias, nas quais a preferncia pelos
ambientes controlados do jardim contrape-se ao desejo de transitar livremente pela
existncia sensual do corpo. Enfim, rico imaginrio construdo na fronteira entre o
sacralizado e o novo, e, por isso, zona de sombra, sob a qual ainda no h luz,
porque infensa claridade diurna e ainda i nefvel clari vidncia noturna.
No segundo captulo, O jardim social, observamos a dimenso da sociedade
sobre a lrica de Claudia Roquette-Pinto, procurando perceber como os elementos
externos constituem a obra. Para discutir esta dimenso, escolhemos as formas
como se manifestam as relaes de socialidade contempornea sobre o corpo
imagem recorrente em Claudia Roquette-Pinto.
Para a anlise, cotejamos duas posies tericas: a primeira, orientada pelo
pensamento de Zygmunt Bauman, que estabelece o corpo ps-moderno como
instrumento de prazer, constitudo na contradio entre o imperativo da fruio
ilimitada das sensaes e a necessidade do cuidado de si, isto , situado na
ambivalncia incurvel e angustiante de, por um lado, dever ser receptor voraz de
prazeres e, por outro, de se comprometer com a profici ncia de sua forma fsica. E
sob esta perspectiva, vimos que o outro representa, ao mesmo tempo, expanso da
possibilidade de prazer do ego e limitao da fruio do prazer pela imposio de
sua liberdade enquanto outra conscincia.
A segunda, orientada pelo estudo da relao sujeito-fenmeno-forma de
Maffesoli , que compreende o corpo como locus pri vilegiado do fenmeno do desejo
de estar-junto, percebido nas marcas corporais (tatuagem, roupa, cabelo, etc.) e na
teatrali zao das mscaras sociais (processos de identificao). Sob esta tica,
Maffesoli afirma ser o vnculo entre a tica (comunho de valores) e a esttica
(aparncia) o que melhor caracteriza certa ps-modernidade que ainda se encontra
em constituio; e a qual a insurgncia de uma nova perspecti va global, holstica,
que integra a vivncia, a paixo e o sentimento comum nas relaes interpessoais,
uma nova forma de socializao. Neste sentido, Maffesoli contrape o homem
moderno e sua atitude prometeana mudar, transformar, dominar o mundo o
165
homem ps-moderno e seu desejo de estar-junto, sob o ideal do carpe diem, na qual
o corpo um meio de comunicao.
Na lrica de Claudia, observamos estas duas posies tericas tambm como
constitutivas da zona de fronteiras, estabelecida igualmente pela alternncia entre as
imagens antitticas do Regime Diurno orientadas pelo esquema subida/queda e a
posio conciliadora da descida do Regime Noturno fundada na comunho das
emoes. E devido a esta constituio que a relao com o outro, em certos
momentos, transposio violenta de barreiras e, em outros, experimentar junto,
compartilhar vi vncias, participar de um mesmo espao e comungar dos mesmos
valores, atravs de um hedonismo latu sensu, caracterstica da tribalizao
apontada por Maffesoli.
Neste sentido, observamos no captulo que o eu lrico de Claudia Roquette-
Pinto parece estabelecer-se no dilogo entre Bauman e Maffesoli, pois, por vezes,
sente a relao com o outro enquanto ameaa integridade do corpo em sua
procura pelo prazer, em outras, experimenta a ligao com a alteridade enquanto
comunho constituti va de uma nova ordem social; transferncia do mbito do
econmico para o ecolgico, de uma estrutura de domnio e aproveitamento
planejado dos recursos para outra na qual o que importa a fruio destes recursos.
E a imagem mais bem acabada deste movimento a dualidade observada no sexo,
ora smbolo de negatividade pelo mau uso de suas funes econmicas: a
procriao e a manuteno do ncleo familiar, ora como modo homeoptico de
alcanar integrao consensual (cum sensualis), isto aproveitar o prazer da
existncia, con-vi ver. Lrica, assim, tambm i nserida nesta zona de sombra,
interstcio entre os dois pontos.
No terceiro captulo, paisagens da subjetividade, procuramos compreender a
relao entre sujeito e obra de arte, perscrutando a dimenso da subjetividade.
Partimos de um breve histrico dos pressupostos tericos sobre a relao entre
autor e obra e seus desdobramentos sobre a noo de subjetividade, e o lugar que
esta ocupa na produo literria. Neste captulo, observamos, pri ncipalmente, a
metapoesia e a constituio de um si dentro da Lrica de Roquette-Pinto, tambm
dois temas principais em sua obra. Percebemos que o fazer literrio da autora
prefere, em vrios momentos, imagens e ambientes ligados ausncia de luz,
privilegiando a indeterminao dos contornos visuais, o corpo a corpo, a hipertrofia
do toque, e a sensibilidade da pele, caractersticas que apontam para certa
166
indisposio estreita racionalidade tcnico-cientfica smbolo do homo faber.
Neste sentido, a autora ope-se a um discurso clarificante dos fenmenos do
mundo, orienta-se em favor de um movimento para a indeterminao, para o
sentido ttil das coisas, vapor e sensaes emanadas como perfume e apreendidas
com o corpo.
No entanto, i ntumos neste captulo que a preferncia pelo noturno ai nda se
insere em um ambiente crepuscular, isto , no qual a luz ainda no se dissipou por
completo, o que nos remete novamente a constante dualidade da obra, neste caso,
apreendida na ambiguidade dos smbolos nictomrficos que, por um lado, agregam
o simbolismo das trevas e do anoitecer, prenncios de morte; e, por outro,
representam a quietude, a calmaria e a possibilidade de afastar-se do turbilho dos
perigos da vida.
Quanto subjeti vidade, vimos que grande parte da lrica de Claudia uma
viagem de si a si mesmo, na qual o autoconhecimento elevado categoria de
mistrio maior, caracterstica de um tempo no qual a mxima conhece-te a ti
mesmo hipertrofiada pelo individualismo, e que tambm pode ser relacionada ao
conhecimento necessrio de si para a fruio dos prazeres exposto por Bauman.
Entretanto, como se trata de uma poesia constituda entre dois limiares, o ego no
se revela, e o que existe a violncia dolorosa e fascinante de sua presena
sensual.
Neste captulo, indagamos, ainda, a obra artstica enquanto expresso humana
que ultrapassa o fato anedtico da biografia pessoal de um autor e i nscreve-se no
universal, manifestando coerncia com o ethos social; assim como tambm
refrao e reflexo de um si, o que permite entrever na obra um fumus auctoris, isto
, a presena, ainda que difusa, do autor. Para tal fim, contamos com as
contribuies do bilogo Edward Wilson, fundador da sociobiologia, que afirma ser a
conscincia acidente evoluti vo, surgido da necessidade de cooperao para a
preservao da espcie observao na qual pontuamos semelhanas com o
pensamento de Nietzsche e Bakhti n. Neste ponto, Wilson nos permiti u observar que
a lrica, antes de expresso de uma conscincia autnoma, parece-nos ser uma
forma de exercitar a capacidade de estruturar a experincia do ser-no-mundo e,
tambm, encenar a vivncia de relaes i ntersubjeti vas, sejam j passadas ou
prospectivamente encenadas; contexto no qual surgem a capacidade de revelar ou
dissimular i ntenes atravs da lngua e dos elementos prosdicos, a competncia
167
de interpretar as intenes do outro por meio de uma teoria da mente que
possibilitava o compartilhamento dos prprios estados mentais e reconhecimento
dos estados mentais do outro, e a aptido de prever as reaes do outro atravs da
memria de longo prazo e da capacidade de criao de cenrios.
Esta vinculao entre enunciao e simulao foi elucidativa na aproximao
entre poeta e poema. A partir dela descrevemos a no transparncia do criador
engendrada a partir de cinco problemas: a) a lngua , conforme Saussure, um fato
social, sistema de signos arbitrrios nos quais a ligao entre o significante e o
significado estabelecida aleatoriamente; b) a mente dividida em estruturas
consciente, pr-conscincia e inconsciente e a menor destas estruturas o
consciente, impossibilitando a existncia do sujeito centrado, homogneo e
completamente racional do Racionalismo/Ilumi nismo; c) todo enunciado, segundo
Ricoeur, uma manifestao de um si que vive entre duas tenses ontolgicas, a
mesmidade, a identidade do que permanece do ser no tempo, e a ipseidade, o que
se constri no ser no tempo devido pluralidade de acontecimentos que o
atravessa; d) a simulao e a dissimulao so estratgias necessrias para a vida
em grupo e constitutivas da conscincia, constitudas to profundamente que agem
sobre a prpria conscincia, simulando ou racionalizando atitudes e estados de
esprito em uma espcie de atitude jurdica sobre si; e) toda i nterpretao do
interlocutor, alm de responsiva, orientada por pr-conceitos e pr-compreenses
oriundas da experincia do ser-no-mundo.
E assim, salientamos que o si (a subjeti vidade) tambm dimenso que
compe a obra de arte, se intencionadas pelo autor, e que na lrica de Claudia
Roquette-Pinto se manifesta atravs de posicionamentos axiolgicos e estticos.
Por fim, na escrita deste trabalho, pautamo-nos em duas posies, a
completariedade e a redundncia significati va. A completariedade, a coexistncia
no excludente dos opostos, compreendemos como o mtodo de funcionamento das
quatro dimenses (autor, obra, sociedade, imaginrio), pri ncpio contrrio a uma
sntese totali zadora, o que pode ser observado na prpria composio do texto que,
nos momentos em que aponta para direes diversas, pretende revelar justamente a
coexistncia de direes diversas, fato que assenta esta tese alm de uma lgica
aristotlica e/ou cartesiana, embora a partir delas, inevitavelmente, tambm construa
sentidos. A redundncia significati va, princpio constituidor da si ntaxe do imaginrio
pela repetio das imagens, foi responsvel pela opo de manter a repetio de
168
certas constataes a cort-las, assim respeitando a sabedoria do imaginrio que
aconselha a manter aquilo que constitui sentido pela repetio.
169
REFERNCIAS
OBRAS DE CLAUDIA ROQUETTE-PINTO
ROQUETTE-PINTO, Claudia. Corola. Rio de Janeiro: Ateli Editorial, 2001.
______. Margem de manobra. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2005.
______. Saxfraga. Rio de Janeiro: Salamandra, 1993.
______. Homepage de Claudia Roquette-Pinto. Disponvel em
<www.claudiaroquettepinto.com.br>.
______. zona de sombra. Rio de janeiro: 7Letras, 2000. (2 edio)
GERAL
ADORNO, Theodor W.. Conferncia sobre lrica e sociedade. In; Textos escolhidos.
Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Junrgen Habermas. So
Paulo: Abril Cultura, 1980.
______. Teoria Esttica. Trad. Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 1993.
ALEGHIERE, Dante. A divina comdia: paraso. Trad. Italo Eugnio Mauro. So
Paulo: 1998.
ANDRADE, Carlos Drummond. Nova reunio: 19 livros de poesia. 3. ed. Rio de
Janeiro: Jos Olympio, 1978.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia potica. Rio de Janeiro: Record, 2006.
ARISTTELES. Arte potica. So Paulo: Marti n Claret, 2004.
______. tica a Nicmaco; Potica: seleo de textos de Jos Amrico Motta
Pessanha. Trad. Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da verso inglesa de W. D.
Ross. 4. ed. So Paulo : Nova Cultural, 1991. (Os pensadores ; v. 2).
BACHELARD, Gaston. A formao do esprito cientfico: contribuio para uma
psicanlise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
______. A potica do devaneio. Trad. Antnio de Pdua Danesi. So Paulo : Martins
Fontes, 1988.
BAKHTIN, M. M.; VOLOSCHINOV, V. N. Discurso na Vida e Discurso na Arte (sobre
a potica sociolgica). 1926. Trad. De Carlos Alberto Faraco & Cristvo Tezza
[para fi ns didticos]. Verso da lngua i nglesa de I. R. Titunik a partir do original
170
russo.
BAKHTIN, Mikhail. Esttica da criao verbal. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1999.
BAUDRILLARD, Jean. A transparncia do mar: Ensaio sobre os fenmenos
extremos. Trad. Estela dos Santos Abreu. Campinas, SP: Papirus, 1990.
BAUMAN, Zygmunt. A vida fragmentada ensaios sobre a moral Ps-Moderna. trad.
Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relgio Dgua Editores, 2007.
BOHR, Niels. Fsica atmica e conhecimento humano: ensaios 1932-1957. Rio de
Janeiro: Contraponto, 1995.
BOHR, Niels. The unity of knowledge. Nova York: Doubleday, 1995.
BOSI, Alfredo. Leitura de poesia. So Paulo: tica, 1996.
CAMES, Lus de. Os Lusadas. So Paulo: Klick, 1999.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e histria literria. So
Paulo: T. Queiroz, 2000.
CARDOZO, Maurcio Mendona. A obscuridade do Potico em Paul Celan.
Pandaemonium. So Paulo, v. 15, n. 19, p. 82-108, Jul. 2012. Disponvel em
<www.fflch.usp.br/dlm/alemao/pandaemoniumgermanicum>. Acesso em 25/03/2013.
CHARBONNIER, Georges. Arte, Linguagem, Etnologia: entrevista com Claude Lvi -
Strauss. Campinas: Papirus, 1989.
COMBE, Dominique. A referncia desdobrada. O sujeito lrico entre a fico e a
autobiografia. Trad. Vagner Camilo e Iside Mesquita. Revista USP, So Paulo, n. 84,
dezembro/fevereiro 2009/2010 , p.112-128.
COMPAGNON, Antoine. O demnio da teoria. Belo Hori zonte: EdUFMG, 2010.
DURAND, Gilbert. As Estruturas Antropolgicas do Imaginrio: introduo
arqueologia geral. So Paulo: Marti ns Fontes, 2002.
_____. Campos do imaginrio. Lisboa: Piaget, 2001.
_____. O imaginrio: ensaio a cerca das cincias e da filosofia da imagem. Rio de
Janeiro: Difel, 2004.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introduo. Trad. Waltensir Dutra. 4.
ed. So Paulo: Marti ns Fontes, 2001.
ECO, Umberto. Interpretao e superinterpretao. Trad. MF. 2. ed. So Paulo:
Martins Fontes, 2005.
171
_____. Lector in fabula: La coperacion interpretativa en el texto narrativo. Barcelona:
Lumen, 1993.
_____. Obra Aberta: forma e indetermi nao nas poticas contemporneas. So
Paulo: Perspecti va, 2005.
_____. Seis passeios pelos bosques da fico. Trad. Hildegard Feist. So Paulo:
Companhia das Letras, 1994.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura. So Paulo: Marti ns Fontes, 2003.
EIKHENBAUM, B. Teoria da literatura. Formalistas russos. Porto Alegre: Globo,
1973.
FABRI, Marcelo. Entre unidade e pluralidade: husserl e o sujeito racionalmente
motivado. In: s voltas com a questo do sujeito. Org. Csar augusto Battisti. Iju:
Ed. Uniju; Cascavel: Edunioeste, 2010.
FAGGION, Andrea. Objetividade, subjetividade e intersubjeti vidade em Kant. In: s
voltas com a questo do sujeito. Org. Csar augusto Battisti. Iju: Ed. Uniju;
Cascavel: Edunioeste, 2010.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
FREUD, Sigmund. Delrios e sonhos na Gradiva de Jensen. In: Obras psicolgicas
completas. Vol. IX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
GERALDI, Joo Wanderley. Portos de passagem. 4 ed. Sao Paulo: Martins
Fontes, 1997.
GUATTARI, Fli x. Caosmose: um novo paradigma esttico. Trad. Ana Lcia de
Oli veira e Lcia Cludia Leo. So Paulo: Editora 34, 2012.
HAMBURGER, Kte. A lgica da criao literria. So Paulo: Perspectiva, 1975.
HEGEL. Esttica e Poesia. Lisboa: Guimares Editoras, 1980.
HEIDEGGER, Marti n. Ser e tempo. Trad. Marcia S Cavalcante Schuback.
Petrpolis: Vozes, 2005.
HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime; traduo do prefcio de Cromwell. So
Paulo: Perspecti va. 2004.
JARESKI, Krishnamurti. A i nspirao potica no on de Plato. Knesis, So Paulo,
v. 2, n. 3, p. 284-305, abr. 1997. Disponvel em
<http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Kinesis/20_KrishnamurtiJare
ski.pdf>. Acesso em 21 mai. 2013.
JENNY, Laurent. Intertextualidades. Coimbra: Li vraria Almeida, 1979.
172
JOACHIM, Sbastien, A potica do imagi nrio: uma introduo a Jean Burgos
(1982). Signtica: Gois. n. 8. jan./dez., 1996. p. 125-143.
JOUVE, Vicent. Por que estudar literatura?. Trad. Marcos Bagno e Marcos
Marcionilo. So Paulo: Parbola, 2012.
JUNG, Carl Gustav. Psicologia e religio. Petrpolis: Vozes, 1978.
KANT, Immanuel. Crtica da Faculdade do juzo. Trad. Valerio Rohden e Antnio
Marques. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Uni versitria, 2002.
KUHN, Thomas. S. A estrutura das revolues cientficas. So Paulo: Perspecti va,
1991.
LAPLANTINE, Franois; TRINDADE, Liana. O que imaginrio. So Paulo:
Brasiliense, 2001.
MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparncias. Trad. Bertha Halpern Gurovitz.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2010a.
_____. Sobre o nomadismo: vagabundagens ps-modernas. Traduo de Marcos de
Castro. Rio de Janeiro: Record, 2001.
_____. O tempo das tribos: o declnio do individualismo nas sociedades de massa.
Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1998.
_____. Saturao. Trad. Ana Goldberger. So Paulo: Ilumi nuras: Ita cultural,
2010b.
MARTINEZ, Horcio Lujn; HACK, Rafael Fernando. Michel Foucault: O sujeito entre
o Poder e o Saber. In: s voltas com a questo do sujeito. Org. Csar augusto
Battisti. Iju: Ed. Uniju; Cascavel: Edunioeste, 2010.
MARTINS, Roberto de Andrade. O universo: teorias sobre sua origem e evoluo.
So Paulo: Editora Moderna, 1994.
MELLO, Ana Maria Lisboa de. Poesia e imaginrio. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
MULLER-GRANZOTTO, Marcos Jos. Mundo e subjetividade: o ncleo da diferena
entre husserl e Heidegger. s voltas com a questo do sujeito. Org. Csar augusto
Battisti. Iju: Ed. Uniju; Cascavel: Edunioeste, 2010.
NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Cincia. Trad. Jean Melville. So Paulo: Martin
Claret, 2004.
PR-SOCRTICOS. Os pensadores: Pr-Socrticos. So Paulo: Nova Cultura,
2005.
PADILHA, Simone de Jesus. Relendo Bakhtin: autoria, escrita e discursividade.
Polifonia, Cuiab, MT, v. 18, n. 23, p. 91-102, jan./jun., 2011. Disponvel em <
173
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/24>. Acesso em
24 mar 2013.
PAZ, Octavio. A outra voz. So Paulo: Siciliano, 1993.
_____. Signos em rotao. Trad. Sebastio Uchoa Leite. So Paulo: Perspecti va,
2006.
_____. O arco e a lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
_____. O arco e a lira. Trad. Ari Roitman e Paulina Wacht. So Paulo: Cosac Naify,
2012.
OS UPANISHADS, Sopro Vital do Eterno. De acordo com a verso inglesa de
Swami Prabhavananda. Disponvel em http://www.estudantedavedanta.net/Os-
Upanishads.pdf. Acesso em 21 jan 2014.
PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciao teoria do imaginrio de Gilbert Durand. Rio
de Janeiro: Atlntica Editora, 2005.
RICOUER, Paul. Interpretao e ideologias. Rio de Janeiro: F. Alves, 1988.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingstica geral. So Paulo: Cultri x, 1991.
SIMON, Iumna Maria; DANTAS Vinicius. Consistncia de corola Novos estudos. So
Paulo, n. 85, dez. 2009. Disponvel em
<http://www.scielo.br/pdf/nec/n85/n85a10.pdf>. Acesso em 15 mai 2013.
SOBRAL, Adail. O conceito de ato tico de Bakhti n e a responsabilidade moral do
sujeito. Bioethikos: Centro Uni versitrio So Camilo. v. 3, n. 1, 2009, p. 121-126.
Disponvel em http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/68/121a126.pdf. Acesso
em 10 nov. 2013.
STEIN, Ernildo. Mundo e subjeti vidade: o ncleo da diferena entre Husserl e
Heidegger. s voltas com a questo do sujeito. Org. Csar augusto Battisti. Iju: Ed.
Uni ju; Cascavel: Edunioeste, 2010.
STRONGOLI, Maria Thereza de Queiroz Guimares. Encontros com Gi lbert Durand:
Cartas, Depoimentos e Reflexes sobre o imaginrio. i n: PITTA, Danielle Perin
Rocha (org.). Ritmos do Imaginrio. Recife: Ed. Uni versitria da UFPE, 2005.
WILSON, Edward O. A conquista social da Terra. Trad. Ivo Korytovski. 1 ed. So
Paulo : Companhia das Letras, 2013.
WUNENBURGER, Jean-Jacques. O imaginrio. Trad. Maria Stela Gonalves. So
Paulo: Edies Loyola, 2007.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Relatorio LimonenoDokument22 SeitenRelatorio LimonenoFerrari Rafael100% (2)
- O Tatwametro (Portugues)Dokument40 SeitenO Tatwametro (Portugues)Valéria Guimarães0% (1)
- Asquini e Os Perfis Da EmpresaDokument4 SeitenAsquini e Os Perfis Da EmpresaFrederico RamosNoch keine Bewertungen
- Dissertação Ondjaki Se Amanha o MedoDokument99 SeitenDissertação Ondjaki Se Amanha o MedoESTUDO CFONoch keine Bewertungen
- Resumos OK e Corrigidos COMPLETO Publicação No Site 26 Nov 2013Dokument367 SeitenResumos OK e Corrigidos COMPLETO Publicação No Site 26 Nov 2013Rafaela Souza MaldonadoNoch keine Bewertungen
- Sobre Flora Sussekind PDFDokument257 SeitenSobre Flora Sussekind PDFManuela Manu100% (1)
- Poesia VisualDokument41 SeitenPoesia VisualLeonardo CruzNoch keine Bewertungen
- 2 - ARTE POÉTICA - LivroDokument19 Seiten2 - ARTE POÉTICA - LivroHakusan KogenNoch keine Bewertungen
- Talysson TambergDokument23 SeitenTalysson TambergJohn Jefferson AlvesNoch keine Bewertungen
- T - Estética Da Transitoriedade - Arthur Schnitzler e Freud PDFDokument112 SeitenT - Estética Da Transitoriedade - Arthur Schnitzler e Freud PDFEloisa BenvenuttiNoch keine Bewertungen
- Artigo Completo - Relações Entre Psicologia e Literatura - Um Olhar Analítico A Partir de Freud e JungDokument18 SeitenArtigo Completo - Relações Entre Psicologia e Literatura - Um Olhar Analítico A Partir de Freud e JungalexcollNoch keine Bewertungen
- Literatura Comparada - Módulo 4Dokument61 SeitenLiteratura Comparada - Módulo 4Monica CardosoNoch keine Bewertungen
- A Construção Do Conceito de 'Redução Estrutural'Dokument13 SeitenA Construção Do Conceito de 'Redução Estrutural'samuelufpb201901Noch keine Bewertungen
- O Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea - Sylvia Helena CyntrãoDokument10 SeitenO Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea - Sylvia Helena CyntrãoJu PSNoch keine Bewertungen
- Poesia No Século Xxi: Modos de Ser, Modos de VerDokument36 SeitenPoesia No Século Xxi: Modos de Ser, Modos de VerArthur von ArthurNoch keine Bewertungen
- Cenografia e Autoria em Campo Geral PDFDokument7 SeitenCenografia e Autoria em Campo Geral PDFLETICIA HELENA VICTOR DE OLIVEIRANoch keine Bewertungen
- TCC Auto Barca Inferno Auto Compadecida PDFDokument27 SeitenTCC Auto Barca Inferno Auto Compadecida PDFAna Júlia DantasNoch keine Bewertungen
- LOurival HollandaDokument21 SeitenLOurival HollandaCristiano DurãesNoch keine Bewertungen
- ALBUQUERQUE, Thays Keylla De. Poesia Contemporânea: Uma Aproximação HorizontalDokument13 SeitenALBUQUERQUE, Thays Keylla De. Poesia Contemporânea: Uma Aproximação HorizontalLee_ClearwaterNoch keine Bewertungen
- TCC Oficial 1 - Kelly Christi (Kelly Cristina P. Nepomucena)Dokument52 SeitenTCC Oficial 1 - Kelly Christi (Kelly Cristina P. Nepomucena)Kelly ChristiNoch keine Bewertungen
- Moriconi, Italo - Que Poesia - A Poesia e As Línguas Do Brasil. Notas VertiginosasDokument8 SeitenMoriconi, Italo - Que Poesia - A Poesia e As Línguas Do Brasil. Notas VertiginosasDianaKlingerNoch keine Bewertungen
- Resumos Enafa Semana de Filosofia AtualizadoDokument53 SeitenResumos Enafa Semana de Filosofia Atualizadoapi-269522359Noch keine Bewertungen
- 8 O Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea Um Mapa Da ProduçãoDokument10 Seiten8 O Lugar Da Poesia Brasileira Contemporânea Um Mapa Da ProduçãovvitoyNoch keine Bewertungen
- TEXTO GREIMAS, Algirdas Julien. Da Imperfeição - Parte 1Dokument88 SeitenTEXTO GREIMAS, Algirdas Julien. Da Imperfeição - Parte 1JuNoch keine Bewertungen
- O Ensaio Como VocaçãoDokument20 SeitenO Ensaio Como VocaçãoKarolina de AbreuNoch keine Bewertungen
- A Escrita Clariceana Como Possibilidade de LiberdadeDokument17 SeitenA Escrita Clariceana Como Possibilidade de LiberdadeElias BarrosoNoch keine Bewertungen
- Oswald de Andrade e Arnaldo Antunes Poéticas Criativas Na Era Da Reprodutibilidade Técnica, Digital e DialógicaDokument19 SeitenOswald de Andrade e Arnaldo Antunes Poéticas Criativas Na Era Da Reprodutibilidade Técnica, Digital e DialógicaMarcosNoch keine Bewertungen
- Palavra e imagem na literatura contemporâneaVon EverandPalavra e imagem na literatura contemporâneaNoch keine Bewertungen
- Foucault - Pintura e PoesiaDokument3 SeitenFoucault - Pintura e PoesiaLucasNoch keine Bewertungen
- 1-5-CANDIDO Antonio - A Literatura e A Formacao Do HomemDokument10 Seiten1-5-CANDIDO Antonio - A Literatura e A Formacao Do HomemMariana TuriniNoch keine Bewertungen
- O Antropologo Na Figura Do Narrador PDFDokument19 SeitenO Antropologo Na Figura Do Narrador PDFAna Carvalho da RochaNoch keine Bewertungen
- A Literatura e A Formação Do HomemDokument10 SeitenA Literatura e A Formação Do HomemDeimisonVitorianoNoch keine Bewertungen
- Poéticas Verbais e Visuais em Peter Pan e Wendy: o Encontro Empírico Entre Livro e Leitor Na Cultura Das MídiasDokument279 SeitenPoéticas Verbais e Visuais em Peter Pan e Wendy: o Encontro Empírico Entre Livro e Leitor Na Cultura Das MídiasPaula MastrobertiNoch keine Bewertungen
- Linguistica eDokument11 SeitenLinguistica eVeronica GurgelNoch keine Bewertungen
- Artigo Revista Encontros de VistaDokument7 SeitenArtigo Revista Encontros de VistaJoao Batista PereiraNoch keine Bewertungen
- Arnaldo AntunesDokument361 SeitenArnaldo AntunesLívia BertgesNoch keine Bewertungen
- 1813+REFLEXO ES+SOBRE+ECOPERFORMANCE,+PAISAGEM+E+CONTEMPLAC A O Eduardo+Colombo+e+Victor+KinjoDokument14 Seiten1813+REFLEXO ES+SOBRE+ECOPERFORMANCE,+PAISAGEM+E+CONTEMPLAC A O Eduardo+Colombo+e+Victor+KinjoTeatro do IrruptoNoch keine Bewertungen
- Literatura e PaisagemDokument255 SeitenLiteratura e Paisagembeto_33100% (1)
- Dialnet ALiteraturaEAMitologia 8093242Dokument12 SeitenDialnet ALiteraturaEAMitologia 8093242katiasmmartinsNoch keine Bewertungen
- Assim transitam os textos: ensaios sobre intermidialidadeVon EverandAssim transitam os textos: ensaios sobre intermidialidadeNoch keine Bewertungen
- Literatura Comparada: Credenciada Junto Ao Mec Pela PORTARIA #1.004 DO DIA 17/08/2017Dokument61 SeitenLiteratura Comparada: Credenciada Junto Ao Mec Pela PORTARIA #1.004 DO DIA 17/08/2017Evan CarvalhoNoch keine Bewertungen
- LITERATURA CENSURADA O POLITICAMENTE (IN) CORRETO NA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS - Danilo Fernandes Sampaio de SouzaDokument15 SeitenLITERATURA CENSURADA O POLITICAMENTE (IN) CORRETO NA LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS - Danilo Fernandes Sampaio de SouzaMaíra Zibordi100% (1)
- Palmyra Wanderley para Além Da Cor LocalDokument18 SeitenPalmyra Wanderley para Além Da Cor LocalJhonnys NascimentoNoch keine Bewertungen
- CP 101328Dokument234 SeitenCP 101328thayhiostoriaNoch keine Bewertungen
- Leitura e Sociedade: Um Estudo de O Primo Basílio, de Eça de QueirózDokument121 SeitenLeitura e Sociedade: Um Estudo de O Primo Basílio, de Eça de QueirózcarolineNoch keine Bewertungen
- Poesia e escolhas afetivas: Edição e escrita na poesia contemporâneaVon EverandPoesia e escolhas afetivas: Edição e escrita na poesia contemporâneaNoch keine Bewertungen
- DISSERTACAO Poetica Do Voci Ferar MimesiDokument78 SeitenDISSERTACAO Poetica Do Voci Ferar MimesiLouiseNoch keine Bewertungen
- Caderno de Resumos Siliafro 2012Dokument119 SeitenCaderno de Resumos Siliafro 2012Leno CallinsNoch keine Bewertungen
- Critiquedart 27461Dokument4 SeitenCritiquedart 27461Meici SouzaNoch keine Bewertungen
- Jove Da Mata: Identidade E Memória Na Literatura Popular SanfranciscanaVon EverandJove Da Mata: Identidade E Memória Na Literatura Popular SanfranciscanaNoch keine Bewertungen
- Notas Sobre A Evolução Do Sujeito Lírico Feminino.Dokument23 SeitenNotas Sobre A Evolução Do Sujeito Lírico Feminino.Margarita SalomeNoch keine Bewertungen
- Candido A - A Literatura e A Formação Do HomemDokument10 SeitenCandido A - A Literatura e A Formação Do HomemRhuana LimaNoch keine Bewertungen
- RETORNO DA NARRATIVA: A BUSCA DO SIGNIFICADO - Luiz Gonzaga MottaDokument12 SeitenRETORNO DA NARRATIVA: A BUSCA DO SIGNIFICADO - Luiz Gonzaga MottaViviane Silva DutraNoch keine Bewertungen
- Eles Eram Muito Cavalos - Analise Da Obra - Muito Bom - 29-09-17 PDFDokument211 SeitenEles Eram Muito Cavalos - Analise Da Obra - Muito Bom - 29-09-17 PDFcoelhosapeca13Noch keine Bewertungen
- TESE Antonio Aílton Santos SilvaDokument354 SeitenTESE Antonio Aílton Santos SilvaRodrigues De SennaNoch keine Bewertungen
- Relatà Rio Parcial JonasDokument24 SeitenRelatà Rio Parcial JonasJonas Vinicius AlbuquerqueNoch keine Bewertungen
- A Farmacia LiteráriaDokument18 SeitenA Farmacia LiteráriaisadorarodriguesNoch keine Bewertungen
- A Virada Antropologica o Retorno Do Sujeito e Da HDokument16 SeitenA Virada Antropologica o Retorno Do Sujeito e Da HLuiza CamargoNoch keine Bewertungen
- O Texto Literário Na Perspectiva Histórico Cultural: COSTA, Sueli Silva GorrichoDokument8 SeitenO Texto Literário Na Perspectiva Histórico Cultural: COSTA, Sueli Silva GorrichoJáfer GomesNoch keine Bewertungen
- MariliaGoncalvesBorgesSilveira TESEDokument209 SeitenMariliaGoncalvesBorgesSilveira TESEraquer do samuNoch keine Bewertungen
- MARCUS, George. O Intercâmbio Entre Arte e Antropologia - Revista de Antropologia. São Paulo, 2004.Dokument26 SeitenMARCUS, George. O Intercâmbio Entre Arte e Antropologia - Revista de Antropologia. São Paulo, 2004.Rodrigo Duarte100% (1)
- Fala e EscritaDokument210 SeitenFala e EscritaCeel Ufpe100% (4)
- Ferramentas Digitais para Aprender e EnsinarDokument58 SeitenFerramentas Digitais para Aprender e EnsinarNaty Silva100% (1)
- Exercícios Estruturais-Laboratório de RedaçãoDokument31 SeitenExercícios Estruturais-Laboratório de RedaçãommaissNoch keine Bewertungen
- Ensino de GramáticaDokument48 SeitenEnsino de GramáticaIgor Pinheiro100% (1)
- A Literatura em PerigoDokument48 SeitenA Literatura em PerigommaissNoch keine Bewertungen
- Quadro Europeu TotalDokument279 SeitenQuadro Europeu TotalGualberto Targino PraxedesNoch keine Bewertungen
- Repensandoaavaliao 120321065926 Phpapp01Dokument43 SeitenRepensandoaavaliao 120321065926 Phpapp01mmaissNoch keine Bewertungen
- Gallo em Torno de Uma Educacao MenorDokument6 SeitenGallo em Torno de Uma Educacao MenormmaissNoch keine Bewertungen
- Cachaça' Na Tradução de Obras Literárias Brasileiras para A Língua InglesaDokument16 SeitenCachaça' Na Tradução de Obras Literárias Brasileiras para A Língua InglesammaissNoch keine Bewertungen
- A Literatura em Perigo - TodorovDokument48 SeitenA Literatura em Perigo - TodorovsmassagliNoch keine Bewertungen
- Orientaçoes - Provas DiscursivasDokument7 SeitenOrientaçoes - Provas DiscursivasmmaissNoch keine Bewertungen
- Lei - 8080/90 Diretrizes Do SUSDokument19 SeitenLei - 8080/90 Diretrizes Do SUSrico.ferr100% (147)
- Prova Espm2006-PortuguêsDokument25 SeitenProva Espm2006-PortuguêsmmaissNoch keine Bewertungen
- FASE2 Ingles Uel2011Dokument4 SeitenFASE2 Ingles Uel2011mmaissNoch keine Bewertungen
- Medida Da Resistência Do Circuito de TerraDokument13 SeitenMedida Da Resistência Do Circuito de TerraJoao Miguel SilvaNoch keine Bewertungen
- MATERIAL DIDATICO DISTRIBUICAO DE ENERGIA PGamaDokument126 SeitenMATERIAL DIDATICO DISTRIBUICAO DE ENERGIA PGamaRonaldo SouzaNoch keine Bewertungen
- Resumo de Física 10ºanoDokument27 SeitenResumo de Física 10ºanoMicaelaeuNoch keine Bewertungen
- Aula de Mecaninica Rudney TorqueDokument36 SeitenAula de Mecaninica Rudney TorqueDREZZYOFCNoch keine Bewertungen
- Prova ITA - Química 2000Dokument11 SeitenProva ITA - Química 2000Roger WallacyNoch keine Bewertungen
- Aula 04 - Sistema de AlavancasDokument13 SeitenAula 04 - Sistema de AlavancasFelipe ParkerNoch keine Bewertungen
- Prova de Física 1 - VetoresDokument2 SeitenProva de Física 1 - VetoresGian MoritaNoch keine Bewertungen
- A Mentalidade Imparável Do Empreendedor DigitalDokument43 SeitenA Mentalidade Imparável Do Empreendedor DigitalkminvestidorNoch keine Bewertungen
- 1a Lista de Exercicios ESTA004Dokument5 Seiten1a Lista de Exercicios ESTA004Andrei FernandesNoch keine Bewertungen
- 235 - 191 Tubo de Raios CatodicosDokument1 Seite235 - 191 Tubo de Raios Catodicosericajoanamocumbe4Noch keine Bewertungen
- UC17.Projetos Elétricos Residenciais e Prediais PDFDokument88 SeitenUC17.Projetos Elétricos Residenciais e Prediais PDFsuedcozersartorioNoch keine Bewertungen
- Arquivo 1235Dokument194 SeitenArquivo 1235Gustavo MollicaNoch keine Bewertungen
- Manual Do Usuario Corp 16000Dokument94 SeitenManual Do Usuario Corp 16000Mastengreg MastengregNoch keine Bewertungen
- 2017 2 ICF1 AP3 GabaritoDokument11 Seiten2017 2 ICF1 AP3 GabaritoAndres RobertNoch keine Bewertungen
- Cap03 - Sistemas de Multiplos Estagios de PressãoDokument70 SeitenCap03 - Sistemas de Multiplos Estagios de PressãoGABRIEL BENTO DA SILVA SOUZANoch keine Bewertungen
- Dos Marcadores Discursivos e Conectores - Conceituacão e Teorias Subjacentes (Gláuks)Dokument36 SeitenDos Marcadores Discursivos e Conectores - Conceituacão e Teorias Subjacentes (Gláuks)Dan MaViAlNoch keine Bewertungen
- 2 - Aspectos Fisiológicos e Bioquímicos Do Processo de DestreinamentoDokument6 Seiten2 - Aspectos Fisiológicos e Bioquímicos Do Processo de DestreinamentoPablo HenriqueNoch keine Bewertungen
- Teste 4 Fisico Quimica 9 Global Tipos de Movimentos Rapidez Velocidade e Aceleracao Medias Limites de Velocidade e Distancia de SegurancaDokument2 SeitenTeste 4 Fisico Quimica 9 Global Tipos de Movimentos Rapidez Velocidade e Aceleracao Medias Limites de Velocidade e Distancia de SegurancaLiliana LaranjeiraNoch keine Bewertungen
- O Guia Definitivo para Aprender Arduino Na Pratica 1Dokument58 SeitenO Guia Definitivo para Aprender Arduino Na Pratica 1Pedro Miguel100% (4)
- Experimento 2:: Condutividade Elétrica de Alguns MateriaisDokument7 SeitenExperimento 2:: Condutividade Elétrica de Alguns MateriaisMarcel SouzaNoch keine Bewertungen
- Revista Saude Quantica - 8 EdicaoDokument72 SeitenRevista Saude Quantica - 8 Edicaoarnaldo junior100% (2)
- Relatório Mundial Sobre Violencia e SaúdeDokument380 SeitenRelatório Mundial Sobre Violencia e SaúdeAna_Paula_Sant_2985100% (1)
- Treinamento de GoleirosDokument14 SeitenTreinamento de GoleirosCristiano Alves100% (1)
- Lista F2-1 PDFDokument3 SeitenLista F2-1 PDFManoelitoNoch keine Bewertungen
- 4 Mecanismos de Aumento Da Resistência Dos MetaisDokument21 Seiten4 Mecanismos de Aumento Da Resistência Dos MetaisMarcos PauloNoch keine Bewertungen
- Sólidos InorganicosDokument8 SeitenSólidos InorganicosVanessa AlvesNoch keine Bewertungen
- Relatório p1 QuímicaDokument3 SeitenRelatório p1 QuímicabrunawolffNoch keine Bewertungen