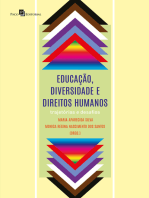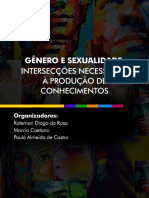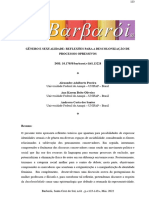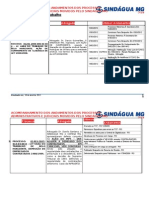Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Livro Etnia, Diversidade e Formação
Hochgeladen von
Eliana Aparecida da SilvaCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Livro Etnia, Diversidade e Formação
Hochgeladen von
Eliana Aparecida da SilvaCopyright:
Verfügbare Formate
Alexandre Sebastio Ferrari Soares
Andra Cristina Martelli
Valdeci Batista de Melo Oliveira
(Organizadores)
II SEMINRIO INTERNACIONAL
DE ETNIA, DIVERSIDADE E FORMAO
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
2015
TOLEDO - PARAN
Alexandre Sebastio Ferrari Soares; Andra Cristina Martelli; Valdeci Batista de Melo Oliveira -
(Orgs.)
Coordenao Editorial
Osmar Antonio Conte
Organizadores
Alexandre Sebastio Ferrari Soares; Andra Cristina Martelli; Valdeci Batista de Melo Oliveira
Projeto Grfico
Higor Miranda Cavalcante
Reviso
Higor Miranda Cavalcante
Ficha Catalogrfica: Mariana Senhorini Caron - CRB9-1462
S456
II Seminrio Internacional de Etnia, Diversidade e Formao: a inscrio do gnero/etnia
em prticas discursivas e formao docente / Alexandre Sebastio Ferrari Soares,
Andra Cristina Martelli, Valdeci Batista de Melo Oliveira (Orgs.) Toledo: Fasul, 2015.
301 p.
1. Identidade de gnero na educao. 2. Etnologia. 3. Educao. I. Soares, Alexandre
Sebastio Ferrari. II. Martelli, Andra Cristina. III. Oliveira, Valdecir Batista de Melo. IV.
Universidade Estadual do Oeste do Paran - Unioeste.
CDD 21.ed. 305.3
ISBN 978-85-89042-27-7
Direitos desta edio reservados :
Fasul Ensino Superior Ltda
Av. Ministro Cirne Lima, 2565
CEP 85903-590 Toledo Paran
Tel. (45) 3277-4000 - e-mail: fasul@fasul.edu.br
proibida a reproduo total desta obra,
sem autorizao prvia dos organizadores, autores ou da editora.
Depsito Legal na Biblioteca Nacional
Divulgao Eletrnica - Brasil - 2015
Os textos assinados, tanto no que diz respeito linguagem como ao contedo, so de inteira responsabilidade dos autores
e no expressam, necessariamente, a opinio da Fasul Ensino Superior Ltda. permitido citar parte dos textos sem
autorizao prvia, desde que seja identificada a fonte. A violao dos direitos do autor (Lei n 9.610/98) crime
estabelecido pelo artigo 184 do Cdigo Penal.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
PREFCIO
Um beijo pras travestis.
Mc Xuxu, 2013.
m uma viagem para conhecer quem de longe, no encalo das terras
cascavelenses, durante tempos de repreenso discursiva e manuteno dos
instrumentos histricos e sociais de marginalizao, foi encontrado
enfrentamento e resistncia. O II Seminrio Internacional de Etnia, Diversidade e Formao
representou a recusa: o no-lugar ser rejeitado e combatido. Qui, num ato provocativo,
esse posto ser utilizado como combustvel para mover (trans)formaes sistemticas e
combater os setores reacionrios. O evento arriscou ao expandir e renovar, literalmente, o
leque das ferramentas de luta (prticas fechativas1 e oficinas de montagem2).
diante de uma constante tarefa de reconhecimento, e produo de tecnologias que
atualizam o que chamamos de humanidade, que as propostas e negociaes so dadas.
Assim, o presente contedo visa apontar fatores de composio que relegam determinados
sujeitos ao campo da anormalidade. Romper com processos contnuos de naturalizao, que
estigmatizam e marcam os considerados incongruentes de acordo com uma suposta
natureza. E contribuir para a desmistificao do possibilismo3.
A realizao deste livro denuncia a necessidade palpitante de viralizar o debate
acerca das relaes raciais, tnicas, feministas, etrias, sexuais e de gnero que so, muitas
vezes, consideradas dispensveis e irrelevantes. Pois, ao primeiro contato superficial com o
mundo vigente, a noo de igualdade e oportunidade ofertada apresentada como uma
ferramenta universal, onde todos possuem igual acesso e os descontentes buscam
privilgios. Tal descaso, no que tange esses tpicos, aponta para a realidade de que a
atualizao dessa sociedade hierarquizada no uma demanda dos seus verdadeiros
agentes, e reais favorecidos. O que torna, ainda mais, o debate necessrio, inevitvel e
Pgina
Fechativa uma palavra que indica destaque, exagero e afetao. Comumente utilizada entre a populao
LGBT.
2
Utilizo montagem para descrever o ato de fazer-se uma dragqueen, ou transformista, a partir do
preenchimento e desorganizao de signos considerados femininos.
3
Sufixo ismo empregado propositalmente para denotar a limitao do imaginrio social acerca das mais
diversas possibilidades.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
fundamental quando questiona-se qual a configurao de humanidade desigual que est
sendo dada e se, realmente pode-se dizer que, essa a desejada por quem no
contemplado por ela.
Contra essas estratgias de nivelao que, apesar de atuarem inocncia e
neutralidade, escondem e apagam necessidades especficas, preciso produzir autonomia e
empoderamento. De forma que a pessoa aproprie-se e comande a sua posio no/para o
mundo. Interrogando os saberes e poderes (biomdicos, polticos, religiosos, familiares,
psicolgicos, psiquitricos, psicanalticos, etc.) que visam administrar e nortear a
subjetividade coletiva.
Para a execuo de tamanho desafio existencial, a substncia do que aqui se l est
profundamente articulada aos mais diversos atravessamentos. Considerando, bem como,
uma perspectiva interseccional, permitido perceber ao longo da leitura um elemento
heterogneo que, alm de fugir das narrativas hegemnicas, tambm procura escapar do
conhecimento maquinado e cedido pelas classes dominantes.
Dessa maneira, nesse intenso desfazer de assujeitamentos, novas perspectivas e
produes de saber so apresentadas ao leitor. Essas produes, manifestadas atravs de
fundamentos tericos, objetivam disponibilizar instrumentos para ao e reflexo. Dentre
eles:
1) (re)educar um pblico j afetado por vieses eurocntricos, onde a historicidade da
cultura negra e indgena foi devorada e substituda por uma elaborao inadequada e
estereotipada. Que busca, ao priorizar narrar a histria sob a tica colonizadora,
subjulgar ambos os contingentes populacionais e as suas identidades;
2) ponderar a coparticipao entre instituio e estabelecimento/organizao, educao e
escola, respectivamente. Encarando a cumplicidade dessas esferas na formao
diferenciada do indivduo embasada no gnero. Perpetuando, assim, meninos
(masculinos) e meninas (femininas);
3) a elucidao da luta pelo fim da negao de direitos e as barreiras do senso comum
Pgina
diante da disputa homoafetiva;
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
4) como a violncia contra a(s) mulher(es)4 e a lei do feminicdio adentram o mbito
jurdico e so discutidas.
Pensar todos esses desdobramentos, polticos, econmicos e culturais, no horizonte
atual, expressa ponderar conjuntamente as suas ressignificaes. Como, por exemplo, o
papel dos coletivos, organizaes, associaes, etc. No sendo mais pertinente falar em
movimentos sociais sem que compreenda-se antes a dinmica das relaes
multifacetadas, em que a internet apresenta um novo ngulo considervel de conexes
avaliando distncias e acessibilidade5.
Fora do campo virtual, indagando a carne e o esquema analtico, o corpo encarado
como um campo de batalha. A lente da episteme acadmica, nesse territrio paranaense,
estava observando os que esto na linha de frente do conflito. Como a bssola das
orientaes sexuais", ela apontava nessa direo. Ainda no por reconhecimento, mas por
vulnerabilidade. Esses corpos que, com a autorizao do meio, de alguma forma esto sendo
esquecidos e, quando no, maltratados e desumanizados. Talvez sejam o sintoma para o
paradigma que orbita alguns dos questionamentos aqui instalados.
Que o leitor aproveite o percurso instvel que o espera, visando ignorar as estradas
normativas, e empreenda as suas prprias fronteiras subversivas e nada naturais a partir
disso.
Aracaj SE, 1 de junho de 2015
Sofia Favero Ricardo
Pgina
Quais mulheres esto seguras? A lei que configura o feminicdio, para receber o apoio das bancadas
conservadoras, precisou ter em seu texto original a palavra gnero retificada pelo termo sexo. Retirando as
travestis, transexuais e mulheres trans da sua cobertura. Uma vez que, para a biologia, entende-se por sexo
feminino somente os corpos que nasceram com tero, cromossomos XX e vulva.
5
No h a mesma facilidade de acesso presencial para pessoas com deficincia. Fazendo o espao on-line ser,
medianamente, inclusivo quanto a questes de mobilidade urbana.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
SUMRIO
CUERPO, GNERO Y SEXUALIDAD: UN BREVE RECORRIDO HISTRICO POR MXICO ......... 10
Mauricio List Reyes
GNERO(S) E/NA PERSPECTIVA (PS)IDENTITRIA: VELHAS QUESTES, NOVOS
OLHARES ..................................................................................................................... 29
Cssia Cristina Furlan
Eliane Rose Maio
A DIVERSIDADE SOB O OLHAR E AES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: UMA
EXPERINCIA NA EDUCAO FORMAL
46
Sofia Neumann
Denise Rosane Calsing
Dulce Maria Strieder
A EDUCAO ESCOLAR E A REAFIRMAO DOS SABERES INDGENAS ............................. 59
Rosa Maria Cavalheiro
Jefferson Olivatto da Silva
A LEI MARIA DA PENHA E O FEMINISMO DA DIFERENA ................................................ 67
Flvia Candido Da Silva
A MULHER IDOSA: O OLHAR SOBRE SI RETRATADO NAS OBRAS DE ADLIA PRADO E
CECLIA MEIRELES ...................................................................................................... 777
Jaqueline Pizzi Melchior
Vera Lcia souza Garcia
Valdeci Batista de Melo Oliveira
A VIOLNCIA CONTRA A MULHER EM TERMOS DE DECLARAO .................................... 90
Patrcia Cristina Capelett
Josiane Smiderle
Carmen Terezinha Baumgrtner
ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANAS E ADOLESCENTES .................................................. 101
Indianara dos Santos Meurer
Andra Cristina Martelli
Pgina
ENTRE BRINCADEIRAS E MSICAS: CRESCENDO MENINA OU MENINO .......................... 118
Kleiton Linhares
Andra Cristina Martelli
MOSTRA DE CINEMA DA DIVERSIDADE SEXUAL EM CASCAVEL: UM ESPAO
FORMADOR E TRANSFORMADOR DE PRTICAS E ENTENDIMENTOS. ............................ 129
Jonathan Chasko da Silva
Rodolfo Csar Mafra Previato
Andra Cristina Martelli
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
MOVIMENTOS
SOCIAIS
MOVIMENTO
HOMOSSEXUAL
E
SUAS
PARTICULARIDADES/LUTAS ........................................................................................ 141
Vanderlize Simone Dalgalo
Mariclia Aparecida Nurmberg
MULHERES ENCARCERADAS: AS QUESTES DE GNERO NA CADEIA PBLICA DE
CASCAVEL-PR ............................................................................................................ 156
Katiuska Glria Simes
O QUE MESMO UM COLETIVO?: REFLEXES SOBRE O CONSENSUAL NO DISCURSO
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS ....................................................................................... 167
Denise Machado Pinto
OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE NA ESCOLA: COMPROMISSO E EFETIVAO DAS LEIS
10.639 E 11.645 NA EDUCAO BSICA ...................................................................... 177
Alessandra Lopes de Oliveira Castelini
Jefferson Olivatto da Silva
PENETRAES BIOPOLTICAS NO CORPO: SEXUALIDADE E PSIQUIATRIZAO NO
DISCURSO PEDAGGICO CONTEMPORNEO ............................................................... 190
Juslaine de Ftima Abreu Nogueira
Amanda da Silva
RAA/ETNIA E FORMAO: FOCO NOS MULTILETRAMENTOS ...................................... 204
Susana Aparecida Ferreira
Aparecida de Jesus Ferreira
RESSIGNIFICAO DA IDENTIDADE FEMININA NA LITERATURA DE CORDEL ................... 216
Solange Aparecida Medeiros
Emanoela Luisiana Pereira
Valdeci Batista de Melo Oliveira
RELIGIES DE MATRIZES AFRICANAS: CULTURA E INTERDISCIPLINARIDADE NA ESCOLA . 229
Ivanete Vanzella Filippi Chiella
Kellys Regina Rodio Saucedo
Vilmar Malacarne
RESSIGNIFICANDO OS CONTOS DE FADAS: A SUBVERSO DOS ESTERETIPOS
FEMININOS EM A MOA TECEL, DE MARINA COLASANTI............................................ 239
Renata Zucki
Danielle Bin dos Reis
Valdeci Batista de Melo Oliveira
Pgina
SEXO, GNERO E SEXUALIDADE: PRINCPIOS PARA UMA DISCUSSO INICIAL................. 250
Jonathan Chasko da Silva
Rodolfo Csar Mafra Previato
Andra Cristina Martelli
SEXUALIDADE: INFNCIA, FAMLIA E A ESCOLA ........................................................... 258
Keli Andra Vargas Paterno
Vernica Regina Mller
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
TODOS SO IGUAIS PERANTE A LEI? ANLISE DE DISCURSOS SOBRE O GNERO
FEMININO ................................................................................................................. 274
Ana Maria de Ftima Leme Tarini
Eliana Cristina Pereira Santos
Pgina
VIOLNCIA SEXUAL EM ANGOLA NO SCULO XVII: RELAES ASSIMTRICAS ENTRE
BRANCOS, MESTIOS E ESCRAVAS (O ROMANCE DE PEPETELA) .................................... 285
Denise Rocha
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
CUERPO, GNERO Y SEXUALIDAD: Un breve recorrido histrico por Mxico
Mauricio List Reyes1
Todas las sociedades deben tomar medidas para la organizacin de la vida ertica sin
embargo no todas lo hacen con la preocupacin obsesiva de occidente. (WEEKS, 1998, p.
36)
1. INTRODUCCIN
El texto que presento a continuacin se centra en los procesos socioeconmicos y
polticos que se dieron en Mxico a lo largo del siglo XX, y que tuvieron una repercusin
directa en los sujetos que se salen de los modelos normativos de gnero y sexualidad.
El periodo al que se refiere el presente texto inicia con un evento que se dio en la
capital del pas en 1901, en el que hubo la primera exhibicin pblica y castigo penal a un
grupo de sujetos identificados por su orientacin sexual y lo cierro con la decisin legislativa
del ao 2011 cuando se estableci en la Constitucin Poltica Federal la prohibicin expresa
a toda forma de discriminacin por esa misma razn.
Este periodo de un poco ms de un siglo se caracteriz, entre muchos otros aspectos,
por el rechazo, exclusin y la agresin a esos sujetos con el beneplcito o al menos
indiferencia de las autoridades judiciales del pas, y al mismo tiempo su creciente presencia
pblica que llevara a generar un movimiento social por el reconocimiento de sus derechos.
Se trata por tanto de un periodo en el que las referencias a la sexualidad y de forma
importante, las relativas a la homosexualidad masculina, provocaron reacciones de los ms
Pgina
10
diversos sectores sociales, desde los ms conservadores hasta los que suelen ser
denominados progresistas. Debo sealar que las referencias existentes son fragmentarias y
Doctor en Antropologa de la Universidad Autnoma de Puebla. E-mail: mauriciolist@gmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
se trata en muchos casos de obras literarias, fotografa, cine, entre otros productos
culturales.
Antes de iniciar el recorrido histrico propuesto quisiera, dejar apuntados algunos
aspectos tericos muy generales que considero ayudaran a dar sentido a mi exposicin.
Dado que mi trayectoria acadmica se ha centrado fundamentalmente en la situacin de la
homosexualidad masculina, intentar mostrar cul fue su desarrollo en el periodo sealado,
partiendo de la consideracin de que la sexualidad es un producto histrico-social en el
sentido que plantea Jeffrey Weeks cuando afirma que sta lejos de ser el elemento ms
natural de la vida social, el que ms se resiste a la modelacin cultural, es tal vez uno de los
ms susceptibles a la organizacin. De hecho, yo dira incluso que la sexualidad slo existe a
travs de sus formas sociales y su organizacin social (1998, p. 29).
Al respecto es necesario recordar un hecho sobre el que reflexiona Michel Foucault.
La sexualidad del siglo XIX va a adquirir un estatus importante gracias al desarrollo de una
ciencia de la sexualidad que gener la visin que an actualmente compartimos. Esa ciencia
se refiri a las prcticas sexuales a partir de lo cual cre una compleja clasificacin de tipos
cuya sexualidad los definira, sin embargo, la figura del homosexual condensara en el
pensamiento comn, toda forma de transgresin a la norma heterosexual. Esa ciencia
defini entonces la normalidad y las mltiples patologas que an hoy se identifican en el
Manual diagnstico y estadstico de los trastornos mentales de la Asociacin Psiquitrica
Americana que es reconocida a nivel internacional. Bajo la visin de esa ciencia se forjaron
los discursos que a lo largo de la siguiente centuria definieron toda patologa sexual.
As, a lo largo del siglo XX se fueron construyendo identidades sexuales que tomaron
un cariz particular, dado por la raza y la etnia en ciertos casos, as como por las formas de
expresin de gnero, que en muchos ms evadi los modelos normativos. Ese siglo contiene
referentes que nos hablan de personajes muy poco comprendidos y, en general ms bien
repudiados. Es una historia en la que podemos ver cmo se fueron construyendo
identidades, formas de socialidad y visibilidad, pero tambin es una historia en la que la
homofobia fue tomando forma. Como lo he dicho en otro sitio, los actos homofbicos no
Pgina
11
son espontneos sino productos histricos, y es una historia que sigue marcando la manera
en que se castiga la transgresin a la sexualidad normativa.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Es pertinente sin duda sealar aqu que mucho de esta historia est marcada por la
clase social, por la etnia, la raza, el gnero y el sexo. Como se ver a lo largo de este trabajo,
los diversos sectores sociales asumieron de forma distinta las definiciones sexuales que se
hicieron en el siglo XIX y por tanto, la manera de vivir y eventualmente reivindicar una
identidad sexual se dio de forma distinta en los sectores sociales. Aunque los provenientes
de las clases bajas fueron los ms agraviados por ello, la luchar por su reivindicacin se dio
en los sectores medios fundamentalmente, y por tanto, muchos de sus temores,
aspiraciones y objetivos, tienen esa impronta de clase que ha caracterizado los diversos
momentos a los que har referencia.
Me parece muy importante considerar el papel del dispositivo de la sexualidad2 en
trminos de Foucault que ira entonces en el sentido de establecer formas de control del
cuerpo y la sexualidad normalizndolo por mltiples vas. Para l, la manera en que opera el
poder no es en el sentido de prohibir, ms bien se establece otra manera de incidir sobre esa
sexualidad que se sale de los parmetros convencionales, y en ello la ciencia mdica y la
psicologa tendrn un papel fundamental (FOUCAULT, 1991, p. 58).
Esta visin de la sexualidad intento entonces ponerla en contexto para comprender
mejor cmo es que fue posible alcanzar el reconocimiento de derechos que hoy se tienen en
Mxico, sin que ello signifique un cambio total en la visin que los diversos sectores sociales
tienen de ella, y permite explicar la oposicin y resistencia de gobiernos y legislaturas locales
que siguen intentando revertir los logros alcanzados a nivel federal.
Esta historia, por otra parte, fue adquiriendo un carcter particular en cada contexto,
pues responde a una serie de fenmenos que se presentaron a nivel global, aunque algunos
son especficos del mbito latinoamericano y otros son realmente particulares de Mxico. En
este sentido, lo que pretendo revisar en este texto es cmo funcion el poder en relacin a
la sexualidad, poniendo atencin particular en la disidencia sexual y genrica.
Es importante igualmente sealar los procesos culturales en torno al cuerpo,
tomando en cuenta que responde a ciertas condiciones histricas que le dan sentido. La
dimensin de cuerpo es importante en este contexto, pues es a travs del cuerpo que se va
Pgina
12
estableciendo una serie de disciplinas que tienen por objetivo un mayor control de los
2
El dispositivo es la red de relaciones que se pueden establecer entre eelementos heterogeneos: discursos,
instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados cientficos, proposiciones
filosficas, morales, filantrpicas, lo dicho y lo no dicho. El dispositivo establece la naturaleza del nexo que
puede existir entre estos elenetos heterogneos. (CASTRO, 2004, p. 98)
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
sujetos. Por ello considero relevante lo sealado por David Le Breton cuando afirma: El
cuerpo es una construccin simblica no una realidad en s mismo. [] El cuerpo parece algo
evidente, pero nada es, finalmente, ms inaprehensible que l. Nunca es un dato
indiscutible, sino el efecto de una construccin social y cultural. [] La definicin de cuerpo
es hueca si se la compara con la de la persona. No se trata, de ningn modo, de una realidad
evidente, de una materia incontrovertible: el cuerpo slo existe cuando el hombre lo
construye culturalmente. (LE BRETON, 2002, p. 13-14).
Cuerpo, gnero y sexualidad tendrn un papel muy importante en la constitucin de
los sujetos homosexuales a lo largo del siglo XX. Cada una de estas dimensiones incidir en la
representacin que en diferentes momentos se har sobre estos sujetos yendo desde el
sujeto travestido y afeminado de inicios del siglo XX hasta otras ms masculinizadas pero
que siguen siendo consideradas transgresoras de los modelos normativos.
A partir de estas consideraciones mi planteamiento es que estamos ante sujetos
histricos que se constituyen de manera compleja, y que por lo tanto para intentar
comprender el sentido que tienen en la contemporaneidad es necesario atender a los
procesos que permitieron que se fueran, no solo constituyendo, sino reconociendo como
sujetos que han tenido un papel sociopoltico importante a lo largo de la pasada centuria.
He organizado este texto bajo cinco apartados que remiten a otros tantos momentos
importantes en la historia del siglo XX en Mxico, a travs de los cuales pretendo mostrar el
papel que jug la sexualidad, el gnero y el cuerpo en el desarrollo sociopoltico nacional.
El primer apartado lo titulo El mito de origen, en el que me refiero a un evento que se
considera fundante de la homosexualidad mexicana, cabe sealar que a diferencia del resto
de los apartados, ste se refiere a un hecho particular que impact directamente a los
sujetos a los que hago referencia y por tanto es ms fcil ser reconocido para los sujetos
homosexuales y no para el resto de la sociedad; el segundo La reconstruccin nacional en el
que me refiero al periodo pos revolucionario y que llevara a la consolidacin del Estado
nacional; el tercero se refiere al Estado de bienestar y su desarrollo en Mxico; el siguiente
aborda los Movimientos sociales de los aos sesenta y setenta; despus viene uno titulado
Pgina
13
Del Estado neoliberal al Neoconservadurismo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
2. EL MITO DE ORIGEN
En este apartado voy a referirme a un evento ocurrido a principios del siglo XX en
plena dictadura porfirista que, cabe sealar, dur alrededor de 30 aos entre 1880 y 1910, y
que dio paso a un movimiento revolucionario cuya principal reivindicacin tena que ver con
el reparto agrario, aspecto que se cumpli parcialmente varias dcadas despus. Lo que si
consigui la lucha armada fue establecer un nuevo orden sociopoltico y econmico en el
pas, y que fundamentalmente reorganiz el poder, estableciendo un rgimen que puso
como elemento central la no reeleccin que se ha mantenido hasta la fecha.
El hecho al que me voy a referir y que ha sido recuperado por los sujetos LGBT como
mito de origen es el llamado Baile de los 41. Lo denomino de esa manera pues se trata de un
evento que tiene un mayor valor simblico que histrico y que ha sido elegido como inicio
simblico de su existencia pblica en Mxico.
Recin iniciado el siglo, segn se ha podido conocer a travs de algunas fuentes de la
poca, hubo una redada en una fiesta privada que se celebraba en una casa de la ciudad de
Mxico, en la que se hallaba reunido un grupo de hombres, 42 segn indican las crnicas,
muchos de ellos vestidos de mujer. Se dice que la polica fue alertada por los vecinos
molestos de que se llevara a cabo dicha fiesta. Parte del relato ubica al yerno del presidente
entre los asistentes a dicha tertulia. En un afn de salvar del escndalo al ilustre personaje, la
cifra oficial de los presentes se redujo a 41, y con ello se dio pie a que se estableciera dicho
nmero como una forma ms de designar al sujeto desviante, es decir, durante mucho
tiempo el nmero 41 fue utilizado como eufemismo cuando se quera designar a un sujeto
homosexual. Esos jvenes, provenientes de ilustres familias de la poca, recibieron severos
castigos, algunos de ellos fueron enviados a plantaciones al sur del pas para realizar trabajos
forzados.
Hay que sealar que trata de una poca de profundos contrastes econmicos entre la
clase trabajadora y la lite de la nacin. Mientras que la clase campesina, mayoritaria a nivel
nacional, contaba con ingresos exiguos que los mantena endeudados con las plantaciones
en las que laboraban, las elites polticas y econmicas eran dueas de la tierra y mantenan
Pgina
14
el control de las instituciones del estado.
Las diversas versiones sobre el hecho relatado son poco claras y los detalles pueden
variar en las mltiples crnicas de la prensa de la poca. Carlos Monsivais afirma que:
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Lo ms significativo del episodio de Los 41 es, desde luego, la redada con su negacin
absoluta de los derechos humanos y civiles. A partir de ese momento, se sienta
jurisprudencia y lo que viene es legal porque ya lo fue: redadas continuas, chantajes
policiacos, torturas, golpizas, envos a las crceles y al penal de las Islas Maras. Slo se
necesita una frase en el expediente: "Ofensas a la moral y las buenas costumbres". No
hace falta ms, no hay abogados defensores (en el caso de los jotos ni siquiera de oficio),
no hay juicios, slo caprichos judiciales dictados por el prejuicio y "el asco". Y la sociedad,
o la gente que se entera, encuentra normales o admirables esos procedimientos (LETRAS,
2001).
Se puede decir que este evento originario dio la posibilidad de que se hablara
abiertamente de un tema que, a pesar de que pudo haber estado presente previamente en
las conversaciones cotidianas, e incluso que se sealara a algn sujeto de dudosa reputacin,
hasta ese momento no se haba hecho una imputacin directa de personajes visibles con la
trascendencia pblica que se le dio en ese momento. De hecho, fue dicho escndalo lo que
permiti que finalmente el homosexual adquiriera carta de naturalizacin en el imaginario
mexicano, el trmino adquira contenido, eran los hombres invertidos, los que se vestan
de mujer, los afeminados que ahora resultaban reconocibles e identificables. Ese sujeto se
convertir en el otro que la cultura nacional requiere para el reconocimiento de los hombres
de verdad.
Pocos aos despus de este evento, en 1910, surge un movimiento armado que va a
durar varios aos en resolverse y dio paso en 1917 a la constitucin poltica que actualmente
rige al pas. Ese movimiento revolucionario permiti una reorganizacin poltica del pas y
resolver parcialmente una serie de situaciones de orden ms bien poltico, estableciendo un
nuevo proyecto de nacin que permitiera su incorporacin a la modernidad.
El hombre nuevo que emergi de la revolucin mexicana tena que encarnar una
serie de atributos que representaban a esa nacin moderna en construccin: era el hombre
masculino, trabajador, decidido, el hombre que fue retratado por el arte y la literatura
nacionalistas. Hctor Domnguez afirma que para esa poca el Estado mexicano trata de
convertirse en una institucin viril mediante el rechazo del afeminamiento y el revestimiento
de los temas pblicos con una significacin de gnero (2014, p. 61) Ese afeminamiento est
identificado con el afrancesamiento del rgimen pre-revolucionario, que vea en Europa la
Pgina
15
posibilidad de cultivarse y adquirir un estatus de modernidad. Domnguez explica Esta
modernidad autoritaria revela que la condicin masculina, como fuente alegrica de la
nacin, es un tropo cultural para entender la cultura mexicana (2014, p. 14).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Por supuesto, estas ideas no pueden ser consideradas privativas ni de Mxico ni de
ese momento. Muchos pases en gran parte del mundo persiguieron a quienes se salan de la
norma heterosexual y de gnero, entre otros argumentos, por traicionar a la patria con
comportamientos que abiertamente transgredan los modelos normativos que definiran a la
nacin.
Cabe mencionar que es hasta la segunda dcada del siglo XX que encontramos
algunos ejemplos que hacen referencia a la transgresin de la normatividad sexual por parte
de algunas mujeres. Heriberto Fras, periodista y novelista mexicano en un breve texto de
1915 hace referencia a una pareja de mujeres que llama Las inseparables. Despus de
hacer una breve descripcin de ambas mujeres termina Fras sealando:
As pues se explican muchos los eclipses de esa estrella doble de lindas mujeres que
gozan paseando con orgullo triunfal su intimidad entraable, su volcnico amor de
voraces almas femeninas que desprecian al hombre, sabindose crear sin l, un, paraso
de amor sfico.
En este texto, el autor pinta a las mujeres que comparten ese amor sfico a partir de
su imaginacin como hombre de su poca. Su relato no va ms all de hacer mencin a una
suerte de amistad, de compaerismo que no plantea aspectos especficos de su sexualidad.
Lo que me parece relevante en relacin a este trabajo es esa temprana visibilizacin de las
mujeres en un contexto en el que la lucha armada an no haba concluido.
Efrn Rebolledo otro poeta mexicano por su parte alude al encuentro ertico entre
dos mujeres en 1918, en el poema El Beso de Safo. A pesar de que estaba lejos de darse un
reconocimiento social a los homosexuales hombres y mujeres. Estas dos referencias me
parecen muy importantes porque dejan ver una valoracin distinta de las relaciones entre
hombres y entre mujeres. Claramente hay una mirada indulgente e incluso de cierta
simpata hacia ellas, caso que no se repite en relacin con los varones, quienes a final de
cuentas sern identificados socialmente como transgresores, como traidores no slo a la
masculinidad hegemnica sino tambin a la patria.
3. LA RECONSTRUCCIN NACIONAL
Pgina
16
La dcada de los aos veinte fue fundamental en el proceso de reconstruccin
nacional en Mxico. Por un lado era necesario lograr la pacificacin del pas y por otro
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
encarrilarlo hacia el desarrollo, lo que implicaba medidas en mltiples mbitos: econmico,
social, poltico, de salud, de educacin, etctera. Elsa Muiz se refiere a ese decenio como:
en el que se realiza la primera propuesta integral para construir una cultura nacional
planteada por Jos Vasconcelos entre 1920 y 1924, y la iniciativa de Narciso Bassols de
introducir la educacin sexual en las escuelas primarias, lo cual desat una candente
polmica entre diversos sectores durante 1931-1934. Los debates estuvieron
protagonizados por las tendencias que representaban las instituciones que se disputaban
el control de las conciencias y de los cuerpos de los individuos: la Iglesia y el Estado. Estas
discusiones expresaban la confrontacin entre laicos y tradicionalistas en un contexto de
inminente aculturacin de la sociedad en el que ambos bandos manifestaban una
marcada preocupacin por el cuerpo y las maneras de dominarlo (MUIZ, 2002, p. 6).
Precisamente un control que se fue construyendo a travs de disciplinas de las que
habla Foucault, y que la misma Muiz y muchos otros autores que han recuperado en
diversos trabajos para referirse a las formas en las que los gobiernos decimonnicos y de
principios de siglo XX se dispusieron a construir cuerpos dciles que sirvieran a la nacin. Al
respecto Georges Vigarello afirma que El cuerpo es el primer lugar donde la mano del
adulto marca al nio, es el primer espacio donde se imponen los limites sociales y
psicolgicos que se le dan a su conducta, es el emblema donde la cultura inscribe sus signos
como si fueran blasones (VIGARELLO, 2005, p. 9).
La educacin en Mxico obtuvo un fuerte impulso durante los aos veinte por la idea
del ministro del ramo en el sentido de que era necesario impulsar una campaa amplia a
travs de lo que se llam las misiones culturales. La intencin era integrar a la nacin a
travs de la educacin por lo que fue muy importante la labor de la escuela rural en ese
proceso.
Jos Vasconcelos, ministro de educacin en ese momento tena un proyecto en el
que el humanismo se coloca en el centro para construir una patria nueva, en la que la
educacin y la cultura juegan un papel primordial para construir la unidad iberoamericana.
Parte de este proyecto implica la promocin de la cultura a travs del impulso a jvenes
escritores y muralistas.
A principios de los aos 20 algunos intelectuales expresaban a travs de la poesa sus
Pgina
17
intereses sexuales homoerticos utilizando un lenguaje cifrado y muchas veces crptico. Se
trataba de jvenes que fueron cobrando notoriedad por sus textos publicados pero tambin
por su incursin en variados puestos pblicos que ocuparon en los ramos de educacin y
cultura en el pas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Sin embargo, ya no se trata de los maricones, de los 41 que a principios de siglo
haban sido perseguidos y castigados. Estos jvenes intelectuales estaban empezando a
construir de una manera distinta su sexualidad y su identidad. Uno de esos poetas, Xavier
Villaurrutia le llam el Grupo sin grupo por el hecho de que cada uno de ellos desarroll un
estilo propio, y ms tarde seran conocidos como Los contemporneos, nombre de una de las
revistas literarias en la que participaron ampliamente.
Muy cercanos a la lite intelectual de la poca, el reconocimiento de su obra les
permiti no solo participar en diversas publicaciones literarias, sino adems ir incursionando
en instituciones pblicas tan importantes como la Universidad Nacional y la Secretara de
Educacin. A diferencia de los 41, no obstante de que se fue haciendo de conocimiento
general la orientacin sexual de algunos de ellos, se desarroll una estrategia comn hasta
nuestros das, negar el hecho, evitar mencionarlo, silencio absoluto y con ello impedir que se
hiciera tema de discusin.
Hay que sealar que no obstante que la actitud generalizada fue de disimulo, hubo
personajes, como Salvador Novo, dramaturgo, poeta y cronista, que hicieron de su actitud y
su imagen un frecuente elemento de confrontacin. En este caso se exhibe, mediante un
comportamiento que cuestiona la masculinidad y los modelos hegemnicos de una manera
cada vez ms abierta y directa.
Como ya deca, ciertos estilos de escritura, ciertos temas eran inaceptables para un
sector social que se imagina a la sociedad mexicana como heterosexual y con una fuerte
idealizacin de lo masculino como valiente, armado, arrojado, agresivo. El nacionalismo que
eman del movimiento armado tendra una importante representacin a travs del arte,
muy particularmente del muralismo. Los artistas de la revolucin sostenan una serie de
ideas y valores de lo que deba ser la nueva sociedad producto del movimiento armado.
De hecho la obra de Los contemporneos caus revuelo dentro del contexto
intelectual al punto que se generaron reacciones que pretendan acabar con expresiones
que se consideraban inaceptables. Manuel Maples Arce, mximo representante del
Estridentismo, otro movimiento intelectual de escasa repercusin artstica aunque de
Pgina
18
importante presencia poltica, se expres fuertemente contra quienes identificaba por su
transgresin sexual como lo relata Sheridan:
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Entre 1927 y 1940 hace un despliegue obsesivo de machismo con todo lo que implica
respecto a la definicin sexual de quien lo ejerce- dirigido a denigrar a los
Contemporneos por homosexuales. As, habr de tomar partido junto a otros enemigos
del grupo para quienes una poesa no viril resultaba daina para el pas. Maples Arce, ya
convertido en diputado en 1934, llegar a pedir, desde la Cmara, accin legal contra la
comedia de los maricones y el cinismo de los pederastas que se amparan bajo la naciente
publicidad de Proust y Gide. A su vez, Germn List Arzubide declaraba que mientras el
estridentismo amurallado de masculinidad atalaya de los avances, ellas se derretan sin
cautela en sus frases puestas de pie al fin de los ases rotundos; los verseros
consuetudinarios haban sido descubiertos en la alameda en juntas con probabilidades
femeninas y haban sido obligados por la Inspeccin General de Polica a declarar su sexo
y comprobarlo, acusados de un chantaje de virilidades en cada. (SHERIDAN, 2003, p.
132)
En el imaginario de los aos 30 y 40 se va construyendo un sujeto desviante de la
heterosexualidad a quien se le adjudica una serie de caractersticas que desde los diversos
puntos de vista: izquierda, derecha, laico o religioso resultan inaceptables. Sin embargo, a
pesar de ello, muchos de esos artistas e intelectuales, identificados como homosexuales,
mantuvieron su posicin de prestigio.
Propiamente es en los aos 30 que se logra la pacificacin del pas y se establecen las
bases polticas para el desarrollo del moderno estado mexicano. Ello llev a la creacin de
las grandes corporaciones de trabajadores mexicanos, lo que en lo sucesivo permitira su
control social a travs de las instituciones del estado, especialmente a travs del partido
oficial, hegemnico a todo lo largo del siglo XX.
Por supuesto los grandes problemas nacionales no estaban resueltos. Claramente el
gobierno federal operaba de manera autoritaria y aunque iba generando condiciones
sociales y econmicas con las que pretenda mantener tranquilos a los sectores de clase
media urbana, era claro el descontento social en amplios sectores de la poblacin.
4. EL ESTADO DE BIENESTAR
Para los pases capitalistas de la posguerra el Estado de Bienestar era necesario en un
periodo de crecimiento econmico como una manera de mitigar el conflicto de clases y las
contradicciones sociales. En ese momento se consideraba importante impulsar acciones
para lograr el pleno empleo, la atencin a la alimentacin y a la salud para la poblacin en
Pgina
19
general como aspectos fundamentales para el desarrollo. Por supuesto ello implicaba un
control del Estado a travs de polticas de asistencia social.
En este periodo, de igual modo, se mantuvo la poltica indigenista del estado
mexicano. El objetivo, integrar al indio al desarrollo nacional. Durante cincuenta aos se
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
generaron polticas en este sentido con la intencin de sacar de las condiciones de pobreza y
marginacin a los pueblos indios. No obstante fue claro que en este como en otros temas las
polticas asistencialistas no tuvieron el efecto esperado, y el aproximado 7% de la poblacin
total del pas de origen indgena continua padeciendo las peores condiciones
socioeconmicas del pas.
Result de gran importancia el papel que jugaron en el mbito poltico la central
obrera, la central campesina y la que aglutinara a las organizaciones urbano-populares para
controlar a los principales sectores sociales.
Para ese momento Mxico ya mantena muy buenas relaciones con los Estados
Unidos y se dio un importante acercamiento lo que permiti que el vecino del norte se
beneficiara econmicamente de forma amplia de esta relacin. La posguerra trajo consigo
todo un despliegue de productos culturales que promovan una visin sobre el estilo de vida
de una nacin que se eriga como una potencia a nivel internacional.
Alfonso Ceballos observa en los Estados Unidos de la posguerra, el desarrollo de un
interesante fenmeno cultural, que centra el nacionalismo en la construccin de una imagen
masculina agresiva, poderosa, vigorosa. Es la metonimia de esa nacin encarnada en
modelos masculinos que vienen a recrear figuras como la del cowboy colonizador del viejo
oeste a travs de imgenes difundidas por los mass media.
Esa imagen hipermasculina en la que se ha centrado el icono del hombre
norteamericano siendo una imagen principal el personaje de Marlon Brando en la pelcula
The Wild One (Salvaje) de 1954. Ese personaje lo podemos ver representando al sujeto rudo,
soltero, el estereotipo del delincuente juvenil y que no se compromete con las mujeres. Un
personaje que adquiere diversos matices en pelculas como Rebelde sin causa de 1955. Estas
pelculas presentan a este chico solitario que es amado, admirado, seguido por hombres y
mujeres que se sienten atrados hacia l. Dice Alfonso Ceballos: La soltera del homosexual
masculino su naturaleza predadora y sexualmente promiscua, unido a su incapacidad para
sociabilizar ser una patologa destacada en la literatura psicoanaltica de los aos 50. Los
hombres sin mujeres eran peligrosos; el cuerpo masculino erotizado era un cuerpo
Pgina
20
peligroso (CEBALLOS, s/d).
Sin embrago, en este recuento que hace Alfonso Ceballos, los sujetos gay le seguan
de cerca la pista a estos conos creando sus propias imgenes pero alejndose de las del
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
homosexual afeminado. Sin duda ste va a ser un momento muy importante para la
autodefinicin de los varones homosexuales, pues van a establecer modelos distintos para
su propia representacin. Por supuesto el homosexual afeminado no desaparece ni como
representacin ni como auto representacin, no obstante el modelo masculino va a ganar
terreno rpidamente.
Las mujeres empiezan a tener de igual manera un papel no slo relevante sino visible
dentro del contexto econmico y poltico del pas. Con la obtencin del derecho al voto en
1953 se reconoca formalmente su derecho a la participacin poltica an cuando estaban
lejos de reconocerse su ciudadana plena para la participacin en igualdad de circunstancias
en la vida pblica del pas. De hecho dicho reconocimiento no era producto de alguna
movilizacin popular o de la lucha de las mujeres, sino que ms bien respondi a una
estrategia poltica del rgimen oficial en el poder.
Me parece ilustrativa la manera en que el premio nobel de literatura mexicano
Octavio Paz se refera a las mujeres en 1950:
La mujer, otro de los seres que viven aparte, tambin es figura enigmtica. Mejor dicho,
es el Enigma. A semejanza del hombre de raza o nacionalidad extraa, incita y repele. Es
la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas las
diosas de la creacin son tambin deidades de destruccin. Cifra viviente de la extraeza
del universo y de su radical heterogeneidad, la mujer esconde la muerte o la vida?, en
qu piensa?, piensa acaso?, siente de veras?, es igual a nosotros? El sadismo se inicia
como venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa desesperada para
obtener una respuesta de un cuerpo que tememos insensible. Porque, como dice Luis
Cernuda "el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe". A pesar de su desnudez redonda, plena- en las formas de la mujer siempre hay algo que desvelar. (PAZ, p. 60)
Sin duda resulta reveladora la expresin del poeta que coloca a las mujeres en una
condicin de extraamiento, de otredad. En este texto son extraas, extranjeras. No
pertenecen al mundo de los hombres del cual adems estn exiliados los homosexuales.
Desde esta visin misgina y por aadidura homfoba podemos ver el sentido que tiene la
representacin de las mujeres en una sociedad que se reconoce como masculina.
5. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Pgina
21
En la dcada de los aos 50 del siglo XX se dieron importantes movimientos sociales
que evidenciaban el descontento de amplios sectores de la poblacin respecto a las
condiciones laborales en diversas ramas productivas, a la mediatizacin de la organizacin
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
obrera a travs de las grandes centrales oficiales, y al autoritarismo del gobierno que no
permita ninguna clase de expresin de disidencia en el plano poltico.
A partir de este momento y hasta los aos setenta, se dara la persecucin a los
principales lderes de esos movimientos, muchos de los cuales fueron encarcelados,
torturados y algunos desaparecidos o asesinados. Quizs el momento ms dramtico fue la
matanza estudiantil de 1968 y su secuela con una nueva represin violenta en 1971, con las
que el gobierno federal pretenda lograr el apaciguamiento de la ola de protestas que no
haban dejado de estar presentes en el espacio pblico.
En ese contexto el movimiento feminista en el contexto nacional igualmente cobr
mayor importancia. Ana Lau Jaiben seala que El 9 de mayo de 1971 hizo su aparicin en la
ciudad de Mxico el primer grupo de lo que sera el movimiento feminista mexicano:
Mujeres en Accin Solidaria. Dicho movimiento tuvo su trayectoria importante y no estuvo
exento de contradicciones, rupturas, desencuentros con otros sectores sociales que
igualmente estaban luchando por sus propias reivindicaciones. En el contexto de este
trabajo resulta importante destacar la vinculacin que se estableci con el movimiento
lsbico, igualmente incipiente, y con quien mantuvo una relacin tensa, en buena medida
por el estigma por su transgresin a la heterosexualidad que era vista como una condicin
que ms bien perjudicaba al movimiento feminista.
Es importante no perder de vista el hecho de que los procesos que se vivieron a nivel
internacional incidieron en la visin en torno a la sexualidad en Mxico. El avance del
movimiento feminista en diversos pases, la comercializacin de la pldora anticonceptiva, la
lucha por una sexualidad ms libre, el cuestionamiento a la institucin familiar como
autoritaria y que no responda a las necesidades de la poca, y la revuelta de Stonewall en
Nueva York son solo algunos de los aspectos que marcaron la situacin de la sexualidad y de
las formas no heterosexuales en los aos sesenta.
El movimiento homosexual se hallaba igualmente en una etapa incipiente y
articulaba a un muy reducido grupo de personas muchos de ellos universitarios de clase
media. A pesar de que regularmente se identifica este movimiento con la primera
Pgina
22
participacin en una demostracin pblica en conmemoracin del dcimo aniversario de la
matanza del 68, la organizacin surgi desde 1971 aunque de manera poco visible y sin
mucha repercusin en el mbito social.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Por supuesto los acontecimientos que se dieron en el plano internacional impactaron
de manera muy importante en el activismo mexicano que alent a que algunos hombres y
mujeres consideraran la posibilidad de exigir el reconocimiento de derechos y contra la
represin y extorcin por parte de las fuerzas policiacas en el pas.
Los aspectos aqu sealados, como ya se ha dicho, de ninguna manera eran
generalizados para el conjunto de los sujetos que transgredan la norma heterosexual. El
temor fundado a sufrir algn tipo de represin o ataque y ms an, a ser exhibido
pblicamente por su orientacin sexual, hacan que la mayora de los sujetos optaran por
una vida discreta y evitar as el escarnio de que podan ser objeto. Por su parte, una gran
cantidad de sujetos de sectores populares asuman casi de forma fatalista que
eventualmente seran objeto de persecucin y ataques policiacos, y de la poblacin que en
general repudiaba cualquier signo de transgresin al gnero normativo y a la
heterosexualidad.
A partir de los aos 70 es posible seguir ms sistemticamente la presencia
homosexual a travs de diversos medios escritos a nivel internacional. A diferencia de la
poca anterior, a la que hice referencia, para este momento se va generando una gran
cantidad de productos culturales y simblicos que en buena medida tienen el sentido de
abonar a la construccin de identidades basadas en la orientacin sexual. De hecho, se
puede apreciar que incluso desde los grupos organizados, la idea es poder definir los
elementos que permitan reconocerse entre pares.
As en 1973 la dramaturga y activista lesbiana Nancy Crdenas acept una entrevista
en el noticiero televisivo ms importante del pas para hablar sobre la situacin de lesbianas
y homosexuales. Esta primera aparicin pblica sera un nuevo parte aguas para la
visibilizacin de los homosexuales en Mxico pues a pesar de que no desaparecieron las
representaciones previas que los mostraban como sujetos transgresores y que se salan de la
norma heterosexual, empiezan a desarrollarse elementos identitarios en los que pueden
empezar a reconocerse de forma positiva.
La literatura de temtica homosexual va a tener un papel muy importante con obras
Pgina
23
como El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata de 1978, Funcin de media Noche de
Jos Joaqun Blanco de 1981 y Utopa Gay de Jos Rafael Calva de 1983 por citar algunas.
Estos textos, en ese sentido, permiten ir observando ya claros aspectos que van en el
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
sentido de construir una identidad a partir del reconocimiento de ciertas caractersticas
pretendidamente definitorias de dicho personaje, como el sealamiento de Jos Joaqun
Blanco en su texto Ojos que da pnico soar:
Alguna vez el lector se ha topado con algn puto en la calle? Ha sentido su mirada fija;
lo ha visto aproximarse para pedirle un cigarro, hacerle conversacin, sugerirle...?
(BLANCO, 1995)
A pesar de que an no se puede observar un modelo afirmativo en este texto, hay
una intencionalidad en la literatura de la poca de empezar a reconocer a esos sujetos que
estn incorporando el aspecto de la orientacin sexual en su propia definicin de identidad.
En algunas obras literarias de esta poca se siguen reproduciendo las
representaciones sobre el sujeto homosexual que operaron durante el siglo XX, en las que se
suele considerar que la transgresin a la sexualidad normativa conlleva necesariamente la
del gnero normativo. Si bien el feminismo y posteriormente los estudios de gnero,
aportaron elementos para la comprensin de cmo opera la relacin entre ambas
dimensiones, es innegable que la relacin entre ambos conceptos sigue siendo
problemtica.
Para esos aos, tambin aparece una filmografa incipiente que muestra una serie de
imgenes, que permiten seguir el proceso de definicin de una identidad que adquirir una
mayor fuerza en los aos 80. Desde mi punto de vista, la pelcula de Doa Herlinda y su hijo
dirigida por Jaime Humberto Hermosillo en 1984, es fundamental para su momento, pues
marca de una manera sorprendente la forma en que la clase media negocia con los aspectos
de la orientacin sexual. Es memorable en ese sentido la frase de doa Herlinda cuando les
dice a sus consuegros He hecho de mi hijo un autntico ambidiestro, frase que en el
contexto de la trama de la pelcula, deja claro cmo el protagonista termina llevando una
doble vida con su esposa y su amante varn ante la mirada complaciente de su madre.
La visibilizacin que se dio a finales de los 70, con las primeras incursiones pblicas en
demanda de derechos, plante una nueva relacin con la sociedad y el Estado. Ya no habra
retorno al closet en lo sucesivo. Lo que vendra sera una paulatina incursin en el espacio
Pgina
24
pblico estableciendo con ello nuevas formas de socialidad ms visibles.
Sin embargo, no se puede olvidar que en la medida en que fue creciendo esa
visibilidad igualmente fue creciendo la homofobia, y con ella los actos de discriminacin y
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
violencia, llegando hasta el asesinato, tomando como blanco en muchos casos a quienes
resultaban ms visibles, sea por su activismo, sea por su aspecto abiertamente transgresor.
6. DEL ESTADO NEOLIBERAL AL NEOCONSERVADURISMO
La irrupcin del SIDA a principios de los aos ochenta oblig a los movimientos de
disidencia sexual a redefinir prioridades. Ante la inmovilidad de los gobiernos frente a la
pandemia, los grupos que se haban organizado para luchar por los derechos de la poblacin
homosexual y lesbiana, tuvieron que poner su atencin y su accin en generar estrategias de
prevencin ante la enfermedad desconocida, pues era claro que para los gobiernos no era
prioritario la atencin a quienes en ese momento eran identificados como grupos de riesgo
especficamente hombres homosexuales, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas
inyectables. De acuerdo con Judith Butler Algunas vidas valen la pena, otras no; la
distribucin diferencial del dolor que decide qu clase de sujeto merece un duelo y qu clase
de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quin es
normativamente humano. (BUTLER, 2006, p. 16) El planteamiento de la autora me parece
pertinente pues retrata la visin que desde los sectores conservadores se tena de los
infectados y de quienes potencialmente se hallaban en mayor riesgo.
Es importante decir que esa consideracin parti ms de una valoracin en trminos
morales pues se parta de la idea de que las personas que se estaban contagiando eran
fundamentalmente quienes tenan una sexualidad desordenada, promiscua. As, el
discurso de alguna manera planteaba un castigo a quienes estaban transgrediendo la
sexualidad normativa, de ah que no sorprenda que las campaas oficiales en Mxico
hicieran nfasis en la fidelidad en la pareja, y en la abstinencia como mtodos de
prevencin de la infeccin.
Un aspecto muy importante de la poltica neoliberal que tom fuerza a nivel
internacional en los aos ochenta fue el paulatino desmantelamiento del Estado de
Bienestar. De esta forma el gobierno federal, a partir de un discurso que por un lado
alertaba acerca de la crisis de las finanzas pblicas y la necesidad de eficientar la
Pgina
25
administracin de la nacin, se dio a la tarea de desincorporar o privatizar organismos
pblicos o parte de ellos, principalmente en reas no productivas como educacin, salud y
asistencia social, y los sustituy con programas clientelares que tuvieran una utilidad poltica
en los procesos electorales. Estas polticas dieron paso a la intervencin de organismos de la
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
sociedad civil en reas que requeran atencin inmediata como fue el caso de VIH. En este
sentido es necesario considerar las polticas pblicas desarrolladas hacia el exterior por
Estados Unidos a partir del gobierno de Reagan, que condicionaron la entrega de
financiamientos a organismos internacionales dedicados a la prevencin del vih, a la
promocin de campaas de slo abstinencia.
Ello nuevamente trajo una visin del homosexual como sujeto promiscuo entregado
al hedonismo y carente de valores. Desde diversos frentes se plante que la nueva
enfermedad era prcticamente una consecuencia lgica de una sexualidad irresponsable que
se apartaba de la norma heterosexual. No obstante esa estigmatizacin se mantuvo una
accin constante; ya fuera para generar nuevas estrategias de prevencin, ya para presionar
para que se buscara una cura, el movimiento de disidencia sexual ira en aumento.
En los ltimos aos del siglo XX se fue dando un incipiente y paulatino
reconocimiento de derechos incluyendo algunos en materia sexual y reproductiva. Sin
embargo, no se estaba garantizando reconocimiento pleno para la poblacin en general, ni
para todo el pas. Se trat de logros parciales que constantemente han corrido el riesgo de
ser eliminados por accin de sectores conservadores que mantienen una permanente
presin para echarlos abajo o para detener su avance.
Sin duda, la lucha por el reconocimiento de derechos ha sido muy ardua y mltiples
organizaciones sociales han estado presionando por ello. Los partidos polticos por su parte
han estado respondiendo a las exigencias ciudadanas en funcin de sus intereses electorales
fundamentalmente.
La ms reciente coyuntura que trajo un avance excepcional fue la modificacin
Pgina
26
constitucional de 2011, que a decir del jurista Miguel Carbonell:
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial
de la Federacin del 10 de junio de 2011, ofrece varias novedades importantes. Las
principales son las siguientes:
1)
El artculo primero constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora
simplemente los reconoce.
2)
En el mismo artculo primero constitucional se recoge la figura de la interpretacin
conforme, al sealarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango
jerrquico que sea) se debern interpretar a la luz de la propia Constitucin y de los
tratados internacionales.
3)
Se incorpora en el prrafo segundo del artculo primero constitucional el principio
de interpretacin pro personae. Este principio supone que, cuando existan distintas
interpretaciones posibles de una norma jurdica, se deber elegir aquella que ms proteja
al titular de un derecho humano.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
4)
Se seala, en el prrafo tercero del artculo primero, la obligacin del Estado
mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepcin) de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos.
5)
Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos
debern cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad de los derechos.
6)
Queda prohibida la discriminacin por causa de preferencias sexuales.
Es previsible que esta reforma constitucional haya tomado por sorpresa a los
sectores ms conservadores del pas, pues muy poco tiempo despus el partido oficial
intent hacer nuevas reformas acotando los alcances de sta, sin embargo la presin social
fue tan fuerte que tuvieron que desistir de hacerlo.
7. CONCLUSIONES
Es un hecho que a lo largo del siglo XX se dieron muchas otras expresiones de la
homosexualidad que han quedado en el olvido, empolvndose en el fondo de archivos
judiciales, en obras artsticas y literarias que no alcanzaron la notoriedad por lo
estigmatizado de su tema, e incluso en diagnsticos mdicos que sellaron el destino de
personas consideradas enfermas o criminales por no seguir la norma heterosexual.
Es claro que me estoy refiriendo a un aspecto de la sexualidad que no podra ser
comprendido si lo desvinculamos de una serie de procesos socioculturales que marcaron el
desarrollo de esa centuria.
Desde mi punto de vista, este brevsimo repaso nos permite ver que a pesar de ser
limitados, se han dado importantes avances en el reconocimiento de derechos. Estos
avances sin embargo no se han dado espontneamente sino que son producto de la accin
de sujetos decididos a expresarse de diversas maneras. Por supuesto que la accin poltica
es fundamental en la gestin de esos derechos, sin embargo no se puede soslayar que una
gran aportacin la han hecho quienes se han expresado a travs de la literatura, el cine, el
arte en general, as como quienes le han apostado a vivir su vida cotidiana en congruencia
con sus intereses y deseos sexuales y afectivos. Es decir, estos logros son producto de una
accin colectiva a lo largo por lo menos de los ltimos cien aos.
Pgina
27
Es este sentido, y a pesar de la importancia que ha demostrado que tiene este sector
social, la atencin que se le ha puesto sigue siendo mnima. En Mxico no existe un instituto
de investigacin, un programa universitario, un posgrado que haya puesto su atencin en la
sexualidad dentro del contexto social. En pleno siglo XXI la educacin sexual en las escuelas
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
primarias y secundarias an no ha logrado su insercin plena, ni siquiera hay programas
especficos de financiamiento a la investigacin en estos temas. En este sentido es claro que
estos logros siguen siendo exiguos si no garantizan en los hechos que los sujetos puedan
conocer y ejercer su sexualidad de manera informada, libre, autnoma y segura; si el estado
no garantiza las condiciones necesarias en materia de educacin y salud por lo menos.
Pgina
28
8. REFERENCIAS
BLANCO, Jos Joaqun. Funcin de media noche. Era: Mxico, 1995.
BUTLER, Judith. Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. Paidos: Buenos Aires, 2006.
CASTRO, Edgardo. El vocabulario de Michel Foucault: Un recorrido alfabtico por sus temas,
conceptos y autores. Prometeo 3010, Universidad Nacional de Quilmes: Buenos Aires,
2004.
MUOZ, Alfonso Ceballos. Yo quiero ser un macho man: La representacin camp de la
masculinidad
en
la
identidad
gay-leather.
Disponible
en:
<http://www.hartza.com/machoman.htm>.
DOMNGUEZ RUVALCABA, Hctor. De la sensualidad a la violencia de gnero: La
modernidad y la nacin en las representaciones de la masculinidad en el Mxico
contemporneo. Ciesas: Mxico, 2014.
FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad: La voluntad del saber. vol. 1. Siglo XXI: Mxico,
1991.
FRAS, Heriberto. Los piratas del boulevard: desfile de znganos y vboras sociales y polticas
en
Mxico.
Andr
Botas
y
Miguel:
Mxico.
Disponible
en:
<http://www.archive.org/stream/3677304/3677304_djvu.txt>, 1915.
JAIBEN,
Ana
Lau.
Feminismo
en
Mxico.
Disponible
en:
<http://www.uam.mx/difusion/revista/feb2003/lau.html>.
LE BRETON, David. Antropologa del cuerpo y la modernidad. Nueva Visin: Buenos Aires,
2002.
MONSIVS, Carlos. La gran Redada. LETRA S, Noviembre 8 de 2001. Disponible en
<http://www.jornada.unam.mx/2001/11/08/ls-monsivais.html>.
MUIZ, Elsa. Cuerpo, representacin y poder Mxico en los albores de la reconstruccin
nacional. 1920-1934. Universidad Autnoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco: Miguel
ngel Porra, Mxico, 2002.
PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Econmica: Mxico, 1976.
REBOLLEDO, fren. El beso de Safo. Disponible en: <http://www.vivir-poesia.com/el-besode-safo/>.
SHERIDAN, Guillermo. Los contemporneos ayer. Fondo de Cultura Econmica: Mxico,
2003.
VIGARELLO, George. Corregir el cuerpo: Historia del poder pedaggico. Nueva Visin:
Buenos Aires, 2005.
WEEKS, Jeffrey. El malestar de la sexualidad: Significados, mitos y sexualidades modernas.
Talasa: Madrid, 1993.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
GNERO(S) E/NA PERSPECTIVA (PS)IDENTITRIA: velhas questes, novos olhares
Cssia Cristina Furlan1
Eliane Rose Maio2
1. INTRODUO
A cultura um dos elementos mais dinmicos e imprevisveis da mudana histrica
no novo milnio. Nossas identidades so formadas culturalmente. Essas complexas formas
de construes esto firmemente ligadas questo cultural (HALL, 1997). Entretanto,
algumas pesquisas (LOURO, 2007; BUTLER, 2003; FURLAN, 2013, dentre outras) em diversos
momentos verificaram que as identidades so construdas na e pela cultura, porm uma
cultura hegemnica que produz e fixa identidades segundo uma norma social, e as
identidades que por vezes escapem a essa norma so consideradas anormais e desviantes.
Sob esse vis, podemos questionar a formao das identidades, supondo uma outra viso de
mundo que supere a viso tradicional, a qual impede a transformao das estruturas
discriminatrias.
Dadas as mudanas ocorridas em diversos campos de estudo e, sobretudo dentro do
prprio movimento feminista, o grande desafio que nos cerca assumir que h uma
multiplicidade de possibilidades de construo (ps)identitria, no tocante aos gneros e
sexualidades, sendo impossvel lidar com esquemas binrios e homogeneizantes. Como
afirma Louro (2001), as fronteiras (uma construo cultural que objetivou inviabilizar
diferentes subjetividades), vm sendo constantemente atravessadas e alguns sujeitos vivem
1
Pgina
29
Cssia Cristina Furlan: Graduada em licenciatura em Educao Fsica pela Universidade Estadual de Maring
(UEM). Graduanda em Pedagogia (FAINSEP). Especialista em Educao Profissional integrada Educao
Bsica na modalidade de Jovens e Adultos - PROEJA (UTFPR-CP). Mestre em Educao (PPE-UEM).
Doutoranda em Educao (PPE-UEM). E-mail: cassiacfurlan@gmail.com.
Graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maring (UEM); Especialista em: Psicopedagogia,
Metodologia da Pr-Escola e Sries Iniciais, Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem e Educao
Sexual. Mestrado em Psicologia pela UNESP/Assis; Doutorado em Educao Escolar pela
UNESP/Araraquara; Ps-Doutorado em Educao Escolar pela UNESP/Araraquara. professora da
Universidade Estadual de Maring (UEM), no Departamento de Teoria e Prtica da Educao (DTP) e do
Programa de Ps-Graduao em Educao (PPE) - Mestrado e Doutorado, pela Universidade Estadual de
Maring (UEM). E-mail: elianerosemaio@yahoo.com.br.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
exatamente na fronteira, por ser um lugar de mltiplas construes, portanto, as
transformaes ocorridas na contemporaneidade afetam as formas de viver e construir
identidades, constituindo novas formas de existncia para todos, inclusive para aqueles e
aquelas que no experimentam-nas de forma direta (LOURO, 2000).
Para Stubs et. al. (2014), uma das prteses de subjetividade que enfraquecem sua
potncia desejante a nfase na identidade, tida tradicionalmente como fixa e essencialista.
Nesse sentido, [...] a esttica da existncia nos auxilia a pensar um modo de viver essas
mltiplas identidades de forma tica e inventiva, intima de um desejo de produzir a vida e
experienciar-se em potncia (STUBS et. al., 2014, p. 791).
Nessa perspectiva, este escrito se prope a discutir a construo do conceito de
gnero dentro das teorias feministas e os questionamentos que foram propostos em relao
categoria de gnero, propondo um olhar mltiplo e nmade, que se efetive pela
desconstruo das estruturas binrias, heteronormativas e universais.
2. O OLHAR DO MOVIMENTO FEMINISTA
A categoria gnero, como apresentam Mayorga et. al. (2013), desde que recebeu
uma releitura por uma perspectiva de poder pela teoria feminista, se tornou o centro na
ao poltica e nos feminismos, principalmente a partir da segunda metade do sculo XX.
O conceito de gnero uma categoria de pensamento e, portanto, de construo do
conhecimento no sentido de possibilitar anlises dos efeitos do gnero no e sobre o
conhecimento, pois um princpio classificatrio de organizao do universo (SARDENBERG,
2002). As teorias feministas vm sendo reconhecidas na rea da educao, incorporando e
legitimando crescentemente suas teorizaes.
As tericas feministas criaram a noo de gnero como categoria analtica da diviso
sexuada do mundo, trazendo luz a construo dos papis sociais naturalizados em
torno da matriz genital/biolgica. Se a diviso binria, entretanto, a sexualidade faz
parte integrante de suas definies, pois as prticas sexuais so os componentes que
ancoram os papis sexuados. O binmio sexo/gnero se traduz assim, implcita e
naturalmente em sexualidade reprodutiva, heterossexual (SWAIN, 2000, s/p.).
Pgina
30
Rago (2000) enfatiza que a partir da luta poltica que nasce uma linguagem
feminista. Partindo das lutas em prol dos direitos das mulheres nasce a categoria relacional
do gnero, eliminando a preocupao de fortalecimento da identidade mulher, como
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
explicitou Lauretis (1994), ao contrrio do que se visava inicialmente com um projeto
alternativo de uma cincia feminista.
Para Louro (2007b, p. 21-22), o conceito de gnero est ligado diretamente histria
do movimento feminista contemporneo. por meio das feministas anglo-saxs que
gender passar a ser usado como distinto de sex [...] busca-se, intencionalmente,
contextualizar o que se afirma ou se supe sobre os gneros, tentando evitar as afirmaes
generalizadas a respeito da Mulher ou do Homem. Dessa forma, o conceito passa a exigir
que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e representaes sobre mulheres
e homens so diversos.
Para Soihet (2004), os estudos de gnero devem apontar para a importncia da sua
historizao e desconstruo3 da oposio binria, revertendo-se e deslocando-se a
construo hierrquica, ao invs de aceit-la como bvia ou como estando na natureza das
coisas. necessria autocrtica quanto aos modos como pensamos as relaes de gnero,
seno corremos o risco de reproduzir as prprias relaes sociais que questionamos e, nesse
intento, precisamos investigar barreiras tanto sociais quanto filosficas para a compreenso
das relaes de gnero (FLAX, 1991).
Flax (1991) sugere pensarmos as relaes de gnero como relaes sociais
constituintes e no como relaes de dominao. Os entendimentos baseados na anatomia,
biologia, corporificao, sexualidade e reproduo esto enraizados em relaes de gnero
preexistentes, portanto, preciso pensar no gnero fora da biologia, visando contestar as
explicaes que levam em conta a constituio biolgica enquanto explicao das relaes
de gnero.
Diversas crticas esto sendo formuladas para questionar as noes de gnero
formuladas inicialmente pelas tericas feministas, e que acabaram tornando-se esquemas
pr-estabelecidos de identificao. Uma autora importante nos estudos feministas e de
gnero e que nos possibilita pensar em diferentes formas de visualizao das relaes de
gnero Judith Butler (2003). A autora prope uma reflexo sobre o sistema sexo/gnero,
Pgina
31
questionando-o na construo das variadas identidades.
Termos de Jacques Derrida citado por Soihet (2004).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A criao e manuteno do sistema sexo/gnero/desejo 4 se efetiva por meio de toda
uma fixao das ideias e conceitos dados como verdadeiros e universais, e, portanto,
binrios, inviabilizando a permanncia nas fronteiras, e que produzem efeitos de
normatizao atuando sobre todos os corpos e seus desejos, sejam eles masculinos e
femininos, homossexuais e heterossexuais, travestis e transexuais (PERES, 2012).
O gnero no deve ser concebido como meramente uma inscrio cultural de
significado num sexo previamente dado; ele tem de designar um aparato mediante o qual os
prprios sexos so estabelecidos. Para Butler (2003), essa ideia de que o gnero construdo
sugere, por vezes, certo determinismo de significados de gneros em corpos
anatomicamente diferenciados, compreendidos como recipientes passivos de uma lei
cultural inabalvel. Quando se d esse processo de construo cultural dos gneros
determinados em leis ou conjuntos de leis, [...] tem-se a impresso de que o gnero to
determinado e to fixo quanto na formulao de que a biologia o destino. Nesse caso, no
a biologia, mas a cultura se torna o destino (BUTLER, 2003, p.26). Desta forma, a autora
explicita um fenmeno denominado heterossexualidade compulsria. Enfim, segundo a
autora, a tarefa no celebrar qualquer nova possibilidade, mas reescrever as possibilidades
que j existem dentro de domnios culturais apontados como culturalmente ininteligveis e
impossveis.
Nesse sentido, como argumenta Lauretis (1994 apud NAVARRO-SWAIN, 2000, s/p.),
preciso entender que o feminismo no apenas expande limites e inclui categorias, mas
representa e traz uma mudana na conscincia histrica, na medida em que reconhece e
articula o situacional do presente, o poltico-histrico e o poltico-pessoal do prprio
pensamento para melhor questionar suas evidncias, seu instrumental terico e suas
prticas.
Outra terica feminista que apresenta ideias desconstrutivas em relao ao
binarismo e normatizaes sociais Haraway (1994). Ela apresenta o mito cyborg, que
originalmente um organismo ciberntico hbrido: mquina e organismo. Defende em seu
texto uma tradio utpica de imaginar um mundo sem gnero, talvez um universo sem
Pgina
32
gnese, mas que pode ser tambm um mundo sem fim. [...] o cyborg uma criatura num
4
O sistema sexo/gnero/desejo o direcionamento de caractersticas biolgicas, afirmando que a genitlia
com que se nasce define todos os outros modos de subjetivao posteriores, construindo sujeitos binrios, no
que se refere sua identidade de gnero (homem ou mulher, de acordo com sua genitlia) e que dessa
identificao decorra sua identidade sexual a nica permitida e incentivada a heterossexualidade.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
mundo ps-gnero [...] e o mito cyborg se refere a fronteiras violadas, fuses potentes e
possibilidades perigosas que as pessoas progressistas poderiam explorar como uma parte do
trabalho poltico necessrio (HARAWAY, 1994, p.245-249).
Stubs et. al. (2014, p.793), analisando a perspectiva cyborg de Haraway, afirmam que
o hbrido seria uma figura [...] ps-identitria que desloca o esquema de um sistema
heteronormativo, sai dos polos masculino e feminino e seus correlatos identitrios, e lana
esse corpo em um territrio de fronteira, mais afeito experincia que representao.
Haraway (1994) expe que estamos dolorosamente conscientes do que significa ter
um corpo historicamente constitudo. Nesse sentido, as feministas cyborgs procuram
explicitar que no querem mais nenhuma matriz natural de unidade e nenhuma construo
que represente o todo, e aqui podemos citar Butler (2003), Haraway (1994), Lauretis (1994),
dentre outras/os.
3. A CATEGORIA GNERO: QUESTES E REFLEXES
Vrios estudos (BUTLER, 2003; PERES, 2012; MAYORGA et. al., 2013; dentre outros),
tm problematizado as noes universais da categoria gnero. Para Mayorga et. al. (2013,
p.464), [...] outros feminismos emergiram indicando os limites, os efeitos normativos e os
reducionismos da categoria gnero para a compreenso da opresso das mulheres,
levando problematizao, inclusive, da prpria noo de mulher. Um importante ponto de
debate e tenso se refere possibilidade de se construir uma agenda poltica comum.
A complexidade do conceito de gnero exige um conjunto interdisciplinar e psdisciplinar de discursos (BUTLER, 2003), visando resistir domesticao acadmica dos
estudos e de radicalizar a noo de crtica feminista. Butler (2003, p.8) trabalha com a
articulao do poder s noes de gnero, afirmando que o gnero uma espcie de [...]
imitao persistente, que passa como real. O desempenho dela/dele desestabiliza as
prprias distines entre natural e artificial, profundidade e superfcie, interno e externo
por meio das quais operam quase sempre os discursos sobre gnero. Esses discursos sobre
gnero so perpassados pelas relaes de poder, possuindo mltiplas faces de opresso. A
Pgina
33
autora entende que no h uma sexualidade fora da cultura, ou seja, o sexo j nasce gnero,
sendo este masculino ou feminino. E a partir disso, Butler (2003, p.8-9) questiona-se [...] ser
mulher constituiria um fato natural ou uma performance cultural, ou seria a naturalidade
constituda mediante atos performativos discursivamente compelidos, que produzem o
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas? , problematizando, assim, uma
questo identitria, podendo-se pensar nos mesmos questionamentos em relao ao
homem.
Nesse sentido, so diversos os questionamentos que podem ser propostos acerca do
conceito de gnero. Sendo um avano nos estudos feministas, tambm acaba por vezes,
tornando-se mera categoria relacional de sexo, tornando a construo cultural destinada
reverberao biolgica. extremamente necessrio o constante questionamento para no
cair nas armadilhas impostas pela cultura hegemnica, e mesmo pelas prprias armadilhas
inscritas no binarismo de gnero.
Para Mayorga et. al. (2013, p.467), isso deixa explcito que a produo de gnero
integra o processo de domesticao de sujeitos para a socializao em culturas e engendra
violncias a partir desse mesmo sistema de sexo/gnero, entendido como norma. Nessa
perspectiva, a categoria gnero acaba sendo usada como demarcador de diferenas,
participando intensamente da produo de corpos para se adequarem ao sistema
sexo/gnero, padronizando e excluindo, ao mesmo tempo. H uma clara domesticao de
sujeitos para uma socializao binria e sexista.
Butler (2003) afirma que na presente conjuntura poltica-cultural, talvez existam
perodos que alguns/mas chamariam de ps-feminista, uma oportunidade de refletir a
partir de uma perspectiva feminista sobre a exigncia de se construir, por exemplo, um
sujeito do feminismo, pois, entre as crticas de muitas formulaes feministas
contemporneas est a universalizao de um sujeito do feminismo, uma mulher universal,
uma agenda poltica comum, um gnero mulher. preciso repensar radicalmente as
construes ontolgicas de identidade na prtica poltica feminista, e, para Butler (2003,
p.23), [...] de modo a formular uma poltica representacional capaz de renovar o feminismo
Pgina
34
em outros termos.
Deparamo-nos com um nmero significativo de tericas, principalmente as ps-coloniais,
as feministas negras e as pensadoras lsbicas, que questionaram o conceito de gnero e
apresentaram crticas contundentes a ele, o que permite dizer, tal como afirma Rosi
Braidotti, que a noo de gnero atravessa um momento de crise. Como dizer das
opresses e das violncias vivenciadas por mulheres negras, pobres e lsbicas, se gnero
pretende abarcar uma abstrao universalizante do que seja mulher? (MAYORGA et. al.,
2013, p.469).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Assim, como propem as autoras, necessrio construir um feminismo que no se
pretenda universal/universalizante, mas que reconhea outros feminismos, especialmente
aqueles que no nasceram da Revoluo Francesa. urgente assumir posturas de
compromisso que referenciem diferentes histrias do feminismo pouco ou nunca contadas,
criando uma oposio ao feminismo ilustrado, branco, heterossexual, institucional e estatal
e possibilitando a construo de uma prtica poltica radical que no permita que a categoria
gnero continue sendo utilizada para despolitizar a luta das mulheres (MAYORGA et. al.,
2013, p.480).
Nesses termos, preciso criar novas conscincias, advindas da crtica permanente e
constante, para que possamos exercer a escuta, permitindo que outras histrias e outras
lutas possam ter visibilidade diante de um cenrio de imensas excluses e violncias.
4. NOVAS CONSCINCIAS
Algumas/uns autoras/es tm trabalhado com noes diversas de construo dos
Movimentos Feministas, perpassando a conscincia das fronteiras (ANZALDUA, 1987;
BRAIDOTTI, 2002), produes ps-identitrias (HARAWAY, 1994), a descolonizao dos
gneros/feminismos (MAYORGA et. al., 2013), crticas ps-coloniais e feministas (ALMEIDA,
2013; BAHRI, 2012), construes de subjetividades nmades (BRAIDOTTI, 2002; PERES,
2013), corpos abjetos (BUTLER, 2003), dentre outras.
Para Stubs et. al. (2014), a insistente afirmao da identidade evidencia que o eu
uma fico poltica, que muitas vezes torna as pessoas subservientes, sem vida prpria. Para
as/os autoras/es, lanar uma estratgia poltica acerca do sujeito da fico pulveriza os
contornos desta suposta unidade e faz insurgir uma srie de linhas constitutivas e atributos
que compem esse/a sujeito/a. sendo assim, no tocante ao gnero, h a necessidade de
desmontar concepes essencialistas acerca do feminino e masculino e inventar essas
concepes de acordo com outras medidas.
Discutir a crtica feminista na contemporaneidade requer que estejamos atentas/os
s vrias teorizaes recorrentes nos ltimos anos que fortaleceram a crena em um espao
Pgina
35
plural de articulaes em suas mltiplas manifestaes (ALMEIDA, 2013).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Diante das opresses sofridas, de todos os lados, sobretudo dentro do movimento
feminista universalizante5, vrias formulaes tericas vm questionar a universalidade das
questes envolvidas no movimento, recorrendo a diferentes posies.
Glria Anzalda (1987) discorre sobre a formao de uma nova conscincia, uma
conscincia mestiza, uma conscincia da fronteira. Para ela, a ideia de fronteira aparece de
formas distintas a fronteira geogrfica, mas tambm metafrica, referindo-se tanto s
tenses culturais, polticas e econmicas vivenciadas na fronteira entre Mxico e Estados
Unidos, como tambm de um contexto poltico e social marcado por opresses e
colonizao espanhola. Essa demarcao da fronteira se refere a outras fronteiras, alm da
estrutura fsica e fixa; so as fronteiras de raa, classe, orientao sexual, gnero, as
fronteiras rgidas criadas pelo pensamento binrio ocidental. Para a autora, o cruzamento da
fronteira um movimento que evita o aprisionamento, remete ao hibridismo e fluidez,
possibilidade de transitar entre lugares distintos e com efeitos de poder diversos
(ANZALDA, 1987 apud MAYORGA et. al., 2013). A fronteira uma metfora para dizer das
experincias mltiplas que perpassam o sujeito, sendo muitas dessas incompatveis;
antagonismos esses que causam intensa dor, mas que podem transformar a prpria
existncia do sujeito e a sua percepo e relao com a realidade (MAYORGA, 2013,
p.471).
Perspectivas de subverso so abordadas pelo movimento feminista ps-colonial,
criando a possibilidade latente de profcuo dilogo entre o feminismo e os estudos pscoloniais. Essa juno promove o resgate ou releitura de [...] experincias invisibilizadas,
silenciadas ou construdas como um Outro na modernidade ocidental (ADELMAN, 2007
apud ALMEIDA, 2013, p.690).
Pgina
36
Se podemos dizer, por um lado, que o ps-colonialismo se fortalece com a interrupo
ocasionada pelos estudos feministas; por outro lado, podemos salientar como a crtica
feminista, questionada h algum tempo por seu branqueamento e seu ocidentalismo,
tem sido insistentemente levada a refletir, pelas prprias crticas feministas e pelo
debate ampliado pelas discusses trazidas pelo ps-colonialismo, sobre a categoria
universalista da mulher, abrindo caminho para se teorizarem vrias outras e novas
formas de se pensarem o lugar das mulheres na contemporaneidade, a falcia da
universalidade, a diferena entre as mulheres, os vrios sujeitos do feminismo, a
5
Justifico o termo, objetivando mostrar a percepo de muitos e muitas tericas/os que observam o
Movimento Feminista, surgido da Revoluo Francesa, como um movimento com causas universais, que
excluem as reivindicaes das mulheres negras, lsbicas e muitas outras personagens dessa histria de
excluses e inquietaes (MAYORGA et. al., 2013).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
transversalidade do gnero, entre outros. No entanto, como observa Ania Loomba, ainda
hoje a palavra feminismo e as agendas popularmente associadas ao feminismo
ocidental so vistas com profundo ceticismo no mbito de vrios movimentos de
mulheres ps-coloniais (ALMEIDA, 2013, p.692).
Sendo assim, refletir sobre histria legveis, alternativas e crticas, torna-se papel
decisivo de toda a crtica que se quer coerente e desestabilizadora. A juno das duas
correntes de pensamento, feminista e ps-colonialista, podem desestabilizar as bases
consolidadas de construo de saber e conhecimento, tendo um papel decisivo na reflexo
terica e prtica efetiva por meio de uma crtica intrinsecamente articulada (ALMEIDA,
2013).
Para Bahri (2013), os Estudos Ps-Coloniais podem questionar o feminismo
(ocidental) predominante, apontando o seu fracasso ou incapacidade de incorporar
questes raciais, tendo a tendncia de estereotipar ou generalizar em excesso a questo da
mulher do Terceiro Mundo. A autora Depika Bahri (2014), faz uma srie de discusses a
respeito da construo do termo mulher de terceiro mundo, levantando uma srie de
crticas ao feminismo ocidental por suas teorizaes a respeito da mulher de terceiro
mundo.
A escrita da autora, baseada em diversos estudos, afirma que crticas foram feitas s
perspectivas construdas por mulheres brancas que dominavam o discurso feminista atual,
pois raramente questionavam se sua perspectiva sobre a realidade das mulheres
corresponde ou no s experincias vividas das mulheres como um grupo coletivo. Constata
que a perspectiva feminista no ps-colonialismo, nesse sentido, acabava tornando-se
divisionista (aos olhos da crtica), porm isso aconteceria enquanto houvesse um processo
de descolonizao em curso (BAHRI, 2012).
A questo da representao uma crtica contundente da autora (BAHRI, 2012), a
respeito das noes de Mulher de Terceiro Mundo. Para ela, representaes de diversos
tipos acabariam por considerar respondida as necessidades de representar os subalternos.
Nesses termos, h um potencial para a interpretao equivocada. Nessas representaes h
a construo monoltica das mulheres no ocidentais e a usurpao do espao de
Pgina
37
representao pelas mulheres de Terceiro Mundo no Ocidente.
Suleri recusa a naturalizao dessas categorias pelos discursos hegemnicos ao expor
rigorosamente que noes como mulher e mulher do Terceiro Mundo so
discursivamente construdas. Tais categorias podem ser identificadas com certos
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
atributos estereotipados que dificultam uma investigao sistemtica mais acurada.
Suleri se refere a esse processo com desprezo quando diz que a teoria crtica
contempornea nomeia o outro para que no seja necessrio conhec-lo melhor.
(SULERI, 1992a apud BAHRI, 2012, p.672).
H, nesse sentido, uma categorizao estereotipada das mulheres de Terceiro
Mundo. Envolto em sugestes de falta, subdesenvolvimento e diferena, a perspectiva
do Terceiro Mundo cria uma reao claramente hierrquica com o Ocidente. Sendo assim, as
mulheres de Terceiro Mundo jamais superam a generalizao debilitante de sua posio de
objeto. Segundo Bahri (2012), o problema no est no uso da terminologia fundamentada
no critrio geogrfico, mas no colapso da diferena na base dessa terminologia. Quando se
tornam categoria sociolgica homognea que surgem os problemas. Ao falar de Mulheres
de Terceiro Mundo, preciso considerar a heterogeneidade de vidas dessas mulheres. Suleri
(1992a apud BAHRI, 2012) mantm o uso da categoria Mulher de Terceiro Mundo, mas
afirma que para isso preciso que ela seja uma teoria feminista materialmente situada.
No existe, portanto, um autntico ser feminino do Terceiro Mundo que fica (note-se o
trocadilho) espera de desvelamento; h apenas o que reside nos jogos de linguagem, nas
armadilhas e nos regimes discursivos do mundo social (BAHRI, 2012, p.673).
Em outras palavras, seremos obrigadas a reconhecer as complexidades da construo do
sujeito em todo lugar e a aprender a ler o mundo atravs do que eu chamaria de lgica
da adjacncia. Leramos, ento, as mulheres no mundo no como iguais, mas como
vizinhas, como moradoras prximas cuja adjacncia pode tornar-se mais significativa.
Atravs dessa lgica uma lgica que poderia ser proveitosamente aplicada orientao
geral do ps-colonialismo , leramos o mundo no como nico (no sentido de j estar
unido), mas como um conjunto (BAHRI, 2012, p.683).
Glria Anzalda (2000), em seu artigo Falando em lnguas: uma carta para as
mulheres escritoras do terceiro mundo, escreve para e com as mulheres de cor, mulheres de
terceiro mundo, resistindo a ocidentalizao da escrita das mulheres de terceiro mundo. Ela
escreve: Minhas queridas hermanas, os perigos que enfrentamos como mulheres de cor
no so os mesmos das mulheres brancas, embora tenhamos muito em comum. No temos
muito a perder nunca tivemos nenhum privilgio (ANZALDA, 2000, p.229).
Para a autora, a mulher de cor invisvel no mundo dominante dos homens brancos
Pgina
38
e no mundo feminista das mulheres brancas, mudando gradualmente o mundo feminista.
No caso da lsbica de cor, ela no somente invisvel como no existe. Nosso discurso
tambm no ouvido. Ns falamos em lnguas, como os proscritos e os loucos (ANZALDA,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
2000, p.220). Levanta os perigos de vender a prpria ideologia, fazendo parte de um mundo
branco literrio.
Para a mulher do terceiro mundo que, na melhor das hipteses, tem um p no mundo
literrio feminista, grande a tentao de acolher novas sensibilidades e modismos
tericos, as ltimas meias verdades do pensamento poltico, os semidigeridos axiomas
psicolgicos da new age, que so pregados pelas instituies feministas brancas. Seus
seguidores so notrios por adotar as mulheres de cor como sua causa enquanto
esperam que nos adaptemos a suas expectativas e a sua lngua (ANZALDA, 2000,
p.231).
Nesse sentido, afirma que no se pode deixar que rotulem o movimento de mulheres
de cor. Afirma a prioridade nos escritos das mulheres de terceiro mundo. Escrevo para
registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histrias mal escritas sobre
mim, sobre voc (ANZALDUA, 2000, p.232).
Destarte, para a autora, preciso que quem est na condio de mulheres de cor ou
mulheres de terceiro mundo assuma a escrita de si, e conte sua prpria histria. Enquanto
Suleri (1992a apud BAHRI, 2012) afirma que a escrita de terceiro mundo no deve ser uma
escrita pessoal, Anzalda (2000) reflete sobre a possibilidade de que essa escrita de si conte
muito melhor uma histria negada, maquiada pelos olhos das feministas de primeiro
mundo. preciso considerarmos, portanto, uma descolonizao do feminismo, para que
outras possibilidades possam entrar na escrita feminista. As divergncias demonstram a falta
de visibilidade que ainda perdura no momento atual.
Nessa perspectiva, Mayorga et. al. (2013, p.481-482) afirmam que necessria a
descolonizao do prprio feminismo, uma tarefa complexa e contnua que deve ser
enfrentada. A ao feminista, como movimento de problematizao das relaes de poder
que oprimem, invisibilizam e deslegitimam certas experincias, exige tambm movimentos
de reflexividade contnuo, tonando a si mesmo/a e ao feminismo objetos de reflexo e
Pgina
39
desconstruo.
Assim, importante problematizar o gnero, reconhecendo e valorizando todas as
conquistas que possibilitou ao feminismo, mas necessrio reconhecer as limitaes da
categoria, fazendo com que conviva com outras formas de anlise e luta. Fazer do
feminismo uma posio e ao plurais no um exerccio simples e que se reduz
retrica do "vamos incluir todas as mulheres". preciso problematizar e analisar quais
dinmicas de poder separam as mulheres e colocam, em disputa, a (re)construo de um
projeto feminista. [...] necessrio tambm desnaturalizar e constantemente politizar o
prprio feminismo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Verificamos que a noo estvel de gnero j no serve mais como premissa bsica
da poltica feminista, pois de forma binria e excludente normatiza relaes e submete a
excluses. necessria uma poltica feminista, como prope Butler (2003), que tome a
construo varivel da identidade como um pr-requisito metodolgico e normativo, seno
como um objetivo poltico. Para superar essa viso binria da construo dos gneros,
Teresa de Lauretis (1990 apud NAVARRO-SWAIN, 2000) chama o sujeito do feminismo de
eccentric subjet sujeito excntrico -, ou seja, aquele que est dentro e consciente de suas
condies de produo, mas constitudo por uma constante atividade de des-identificao
e des-locamento, um constante cruzar de fronteiras, um remapeamento dos limites entre
corpos e discursos, identidades e comunidades.
5. CONSTRUES SUBJETIVAS: OUTRAS SIGNIFICAES
A subjetividade, tal como afirma Peres (2012) sempre datada historicamente,
atravessada por relaes de saber/poder/prazer (FOUCAULT, 1984), evidenciadas por lgicas
discursivas que tanto podem normatizar quanto singularizar a fabricao dos sujeitos. Traz
em seu bojo elementos de classe social, raa/etnia, sexo, sexualidade, orientao sexual,
gnero, gerao, grupo, nacionalidade, enfim, multiplicidades que nos levam a pensar na
constituio do sujeito com mltiplos devires.
Sendo assim, a abordagem de uma poltica (ps)identitria contesta as normas de
inteligibilidade socialmente institudas e mantidas. Considerando o gnero como a
estilizao repetida do corpo, a poltica das ontologias do gnero, proposta por Butler (2003,
p.59), em sendo bem-sucedida, [...] desconstruiria a aparncia substantiva do gnero,
desmembrando-a em seus atos constitutivos, e explicaria e localizaria esses atos no interior
das estruturas compulsrias criadas pelas vrias foras que policiam a aparncia de uma
necessidade natural [...].
Ou seja, com essa poltica das ontologias do gnero, este no faria parte de uma
colonizao ou domesticao dos sujeitos, mas partiria para a desconstruo de uma
essncia substantiva do gnero, aliada s estruturas compulsrias criadas pela suposta
Pgina
40
naturalidade. Questiona a autora:
Haver humanos que no tenham um gnero desde sempre? A marca do gnero parece
qualificar os corpos como corpos humanos; o beb se humaniza no momento em que a
pergunta menino ou menina? respondida. As imagens corporais que no se
encaixam em nenhum desses gneros ficam fora do humano, constituem a rigor o
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
domnio do desumanizado e do abjeto, em contraposio ao qual o prprio humano se
estabelece. Se o gnero est sempre presente, delimitando previamente o que se
qualifica como humano, como podemos falar de um ser humano que se torna de seu
gnero, como se o gnero fosse um ps-escrito ou uma considerao cultural posterior?
(BUTLER, 2003, p.162).
A crtica da autora perpassa as noes de gnero dadas a posteriori, pois essas
mesmas noes ora humanizam ora tornam o corpo abjeto. Portanto, que construes de
gnero esto sendo permitidas? Nos perguntaramos, ser mesmo que o gnero uma
construo cultural, ou torna-se a norma social estabelecida para que se pertena a um
grupo social aceito? Os gneros acabam se proliferando em seus limites binrios impostos
pelo aspecto binrio aparente do sexo.
Todo corpo que no se encaixa dentro dessa estrutura binria de normatizao dos
gneros constri-se como um corpo abjeto, o estranho. O abjeto inexiste para a
inteligibilidade lgica das compreenses normativas, ou seja, no reconhecido como
sujeito, no existe como sujeito e no tem, portanto, garantia de direitos.
A noo de uma identidade de gnero original ou primria do gnero
frequentemente parodiada nas prticas culturais do travestismo e na estilizao sexual das
identidades butch/femme (BUTLER, 2003). Essa relao de imitao problematiza as noes
de gnero original, como no caso das drags, que performatizam a distino entre anatomia
do performista e o gnero que est sendo performado, mostrando trs dimenses: sexo
anatmico6, identidade de gnero7 e performance de gnero8. Essa noo de pardia de
gnero, segundo a autora, no presume a existncia de um original para a imitao. A
pardia exatamente feita devido ideia de gnero original. Como imitaes que deslocam
efetivamente o significado do original, imitam o prprio mito da originalidade (BUTLER,
2003, p.197). Assim, a autora questiona se necessrio consolidar as identidades
naturalizadas, afirmando que assim como as superfcies corporais so impostas como o
6
Sexo biolgico definido pela genitlia com que se nasce. Exemplo: Vulva = mulher; Pnis = homem.
Louro (2000, p.96), afirma que [...] as noes de gnero e de identidade de gnero tm sido, cada vez mais,
questionadas; o que significa ser macho ou fmea, masculino ou feminino, em contextos sociais e culturais
diferentes, pode variar enormemente, e a identidade de gnero no claramente redutvel a qualquer
dicotomia biolgica subjacente. Todos os machos e fmeas biolgicos devem ser submetidos a um processo de
socializao sexual no qual noes culturalmente especficas de masculinidade e feminilidade so modeladas
ao longo da vida. Portanto, podemos dizer que a identidade de gnero uma construo social que se faz
sobre o corpo, como nos construmos culturalmente, a partir de quais identificaes, no sendo,
necessariamente, uma construo pautada no binmio sexo-gnero de forma binria e homogeneizante.
8
Performance de gnero a estilizao criada em torno do gnero, de modo a representa-lo, de maneira
parodiada ou no, construindo-se a partir dessa identificao. As travestis, por exemplo, realizam uma
performance de gnero, juntamente com os/as drags.
Pgina
41
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
natural, elas podem tornar-se o lugar de uma performance dissonante e desnaturalizada,
revelando o status performativo do prprio natural.
Nesse sentido, a fronteira torna-se lugar privilegiado de crtica social s noes de
originalidade do gnero e demarcao constante de binarismos. Silva (2000) expe que
cruzar fronteiras pode significar simplesmente mover-se livremente entre os territrios
simblicos de diferentes identidades. Esse cruzamento de fronteiras significa no respeitar
os sinais que demarcam artificialmente os limites entre os territrios das diferentes
identidades, partindo para uma desconstruo das polticas identitrias normalizadoras.
Considerando-se a vivncia na fronteira, em condies diaspricas, por exemplo,
Santos (2002a) explicita que num perodo de transio e de competio paradigmticas, a
fronteira surge como uma forma privilegiada de sociabilidade. Quanto mais vontade se
sentir na fronteira, melhor a subjectividade poder explorar o potencial emancipatrio
desta. Segundo o autor, viver na fronteira significa ter de inventar tudo, ou quase tudo,
incluindo o prprio ato de inventar.
Viver na fronteira significa converter o mundo numa questo pessoal, assumir uma
espcie de responsabilidade pessoal que cria uma transparncia total entre os actos e as
suas consequncias. Na fronteira, vive-se a sensao de estar a participar na criao de
um novo mundo. As reservas de experincia e de memria que cada pessoa ou grupo
social leva consigo para a situao da fronteira transformam-se profundamente quando
aplicadas num contexto completamente novo, mas a liberdade quase incondicional com
que so transformadas pela primeira vez condiciona a liberdade de futuras
transformaes (SANTOS, 2002a, p.348).
Assim, a vida na fronteira existe fora dos esquemas convencionais dominantes de
sociabilidade,
tornando-se
particularmente
vulnervel,
atravessando
fronteira
ultrapassando limites. A fronteira possui uma ausncia de demarcao ntida entre ser e no
ser membro (SANTOS, 2002a).
Essa perspectiva nos d a ideia de sujeitos como processos, subjetividades em
construo permanente que no se fixam nem se cristalizam em identidades acabadas e
definitivas. Nas percepes de Braidotti (2002), o nmade9 expressaria as figuraes de uma
Pgina
42
Alguns autores como Zygmunt Bauman e Stuart Hall rejeitam as figuraes nmades. Stuart Hall teme um
modismo que pode despersonificar o sujeito nmade e ignorar seus lugares histricos prprios. J para
Bauman essas metforas nmades no so radicais o suficiente. James Clifford teme associaes desmedidas
do nomadismo por outros movimentos. Para Braidotti (2002, p. 12), figuraes de subjetividade mveis,
complexas e mutantes esto aqui para ficar. Falando como uma embranquecida antirracista ps-estruturalista
europeia mulher feminista, eu apoio figuraes de subjetividade nmade, para agir como uma desconstruo
permanente do falologocentrismo eurocntrico. Conscincia nmade o inimigo dentro desta lgica.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
compreenso situada, culturalmente diferenciada do sujeito. O nmade se posiciona pela
renncia a qualquer senso de identidade fixa, tendo conscincia perifrica, desempenhando
uma rebelio de saberes subjugados. O estilo nmade tem a ver com transies e
passagens sem destinos pr-determinados ou terras natais perdidas (BRAIDOTTI, 2002,
p.10).
A autora afirma que Feministas Nmades visam
[...] desfazer as estruturas de poder, que sustentam as oposies dialticas dos sexos,
enquanto respeitam a diversidade das mulheres e a multiplicidade dentro de cada
mulher. [...] Elas nunca cessam de expor e explodir o racismo, o masculinismo, a violncia
masculina, e a monotonia destruidora de almas do patriarcado, sem fazer concesses,
nem para crenas essencialistas na superioridade das mulheres, nem na possvel
homologao, dentro do suposto fluxo de identidades ps-moderno que impem o
gnero. Elas tentam combinar complexidade com compromisso ao projeto de
empoderamento das diferenas que o feminismo pode fazer (BRAIDOTTI, 2002, p.15).
Por isso, para a autora, precisamos aprender a pensar de maneira diferente
sobre nossa condio histrica para nos reinventar, renunciando a pensamentos
historicamente estabelecidos que tm fornecido a viso padro de subjetividade humana.
6. ALGUMAS CONSIDERAES
As inquietaes propositivas dos diversos estudos de cunho feminista nos levam a
pensar mltiplas possibilidades de construo das subjetividades que os esquemas binrios e
homogeneizantes escondem. So diversas as produes que discutem as construes
(ps)identitrias, refletindo sobre o sistema sexo/gnero/desejo, como algumas vertentes
dos movimentos feministas, os tericos e tericas Queer10, dentre outros/as.
Pgina
43
10
No expusemos, neste texto, as significaes advindas da Teoria Queer, entretanto, consideramos
extremamente importante nome-la, pois suas reflexes proporcionam a crtica intencional e constante s
formulaes identitrias binrias (homem x mulher, heterossexual x homossexual). Queer pode ser traduzido
por estranho, talvez ridculo, excntrico, raro, extraordinrio. Mas a expresso tambm se constitui na forma
pejorativa com que so designados homens e mulheres homossexuais. Um insulto que tem, para usar o
argumento de Judith Butler, a fora de uma invocao sempre repetida, um insulto que ecoa e reitera os gritos
de muitos grupos homfobos, ao longo do tempo, e que, por isso, adquire fora, conferindo um lugar
discriminado e abjeto queles a quem dirigido. Este termo, com toda sua carga de estranheza e de deboche,
assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar sua perspectiva
de oposio e de contestao. Para esse grupo, queer significa colocar-se contra a normalizao venha ela de
onde vier. Seu alvo mais imediato de oposio , certamente, a heteronormatividade compulsria da
sociedade; mas no escaparia de sua crtica a normalizao e a estabilidade propostas pela poltica de
identidade do movimento homossexual dominante. Queer representa claramente a diferena que no quer ser
assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ao muito mais transgressiva e perturbadora. [...]
Efetivamente, a teoria queer pode ser vinculada s vertentes do pensamento ocidental contemporneo que, ao
longo do sculo XX, problematizaram noes clssicas de sujeito, de identidade, de agncia, de identificao
(LOURO, 2001, p.546-547).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Outros feminismos emergiram dentro dessas crticas culturais indicando os limites, os
efeitos normativos e os reducionismos da categoria gnero, questionando-o em suas
reverberaes na questo cultural/biolgica. Nesse sentido, esse trabalho visou tambm
questionar a produo dos gneros, numa matriz normativa e binria, que domestica os
sujeitos e invisibiliza outros, considerando-os abjetos/excludos do contexto social.
preciso reflexo constante, contando histrias pouco ou nunca contadas, para que
hajam outras medidas de construo de subjetividades. A importncia de cruzar fronteiras
ou estar nas fronteiras essencial para reconhecer aqueles e aquelas que perpassam os
hibridismos e a fluidez das identidades.
Nesse sentido, crucial a crtica constante aos reducionismos e limitaes
hegemnicos impostos socialmente, propondo sempre a descolonizao do feminismo, para
que este continue repensando e produzindo crticas culturais que nos permitam viver
mltiplas diversidades cambiantes sem o julgamento e a recusa. preciso que
reconheamos as mltiplas possibilidades de construo e reconstruo constante do ser,
pautados/as por uma conscincia nmade, de reinvenes e negociaes, complexidades e
anti-essencialismos.
Pgina
44
7. REFERNCIAS
ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. Intervenes feministas: ps-colonialismo, poder e
subalternidade. Estudos Feministas. Florianpolis, v.21, n.2, p.689-700, maioagosto/2013.
ANZALDA, Glria Evangelina. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco:
Spinsters/Aunt Lute Books, 1987.
______. Falando em lnguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo.
Estudos Feministas. Florianpolis, v.8, n.1, p.229-236, jan./jun. 2000.
BAHRI, Deepika. Feminismo e/no ps-colonialismo. Revista Estudos Feministas.
Florianpolis, v.21, n.2, p.659-688, mai./ago. 2013.
BRAIDOTTI, Rosi. Diferena, Diversidade e Subjetividade Nmade. LABRYS, Estudos
Feministas, n.1-2, p.1-16, jul./dez.2002.
BUTLER, Judith. Problemas de gnero: feminismo e subverso da identidade. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 2003.
FLAX, Jane. Ps-modernismo e relaes de gnero na teoria feminista. In: HOLLANDA,
Heloisa Buarque de (Org.). Ps-modernismo e poltica. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
p.217-250.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984
FURLAN, Cssia Cristina. Crianas e professoras com a palavra: gnero e sexualidade nas
culturas infantis. 2013. 230 f. Dissertao (Mestrado em Educao) Universidade
Estadual de Maring, Maring, 2013.
Pgina
45
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revolues culturais do nosso tempo.
Educao & Realidade, Porto Alegre, v. 22, n. 2, p. 15-46, jul./dez. 1997. Artigo traduzido
do original publicado em THOMPSON, Kenneth (ed.). Media and cultural regulation.
London, Thousand Oaks, New Delhi: The Open University; SAGE Publications, 1997.
HARAWAY, Donna. Um manifesto para os cyborgs: cincia, tecnologia e feminismo socialista
na dcada de 80. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Tendncias e impasses: o
feminismo como crtica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p.243-288.
LAURETIS, Teresa de. "A tecnologia do gnero". In: HOLLANDA, Helosa Buarque de (Org.).
Tendncias e impasses: o feminismo como crtica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994,
p. 206-242.
LOURO, Guacira Lopes. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autntica, 2000.
______. Teoria queer: uma poltica ps-identitria para a educao. Revista Estudos
Feministas, Florianpolis, v.9, n.2, p.541-553, 2001.
______. Gnero, sexualidade e educao: uma perspectiva ps-estruturalista. Petrpolis:
Vozes, 2007b.
MAYORGA, Claudia; COURA, Alba. MIRALLES, Nerea; CUNHA, Viviane Martins. As crticas ao
gnero e a pluralizao do feminismo: colonialismo, racismo e poltica heterossexual.
Revista Estudos Feministas, Florianpolis, v.22, n.2, p.463-484, mai./ago.2013.
NAVARRO-SWAIN, Tnia. Quem tem medo de Foucault? feminismo, corpo e sexualidade. In:
PORTOCARRETO, Vera; CASTELO BRANCO, Guilherme (Org.). Retratos de Foucault. Rio de
Janeiro:
Nau
Editora,
2000,
p.
138-158.
Disponvel
em:
<http://www.tanianavarroswain.com.br/chapitres/bresil/quem_tem_medo_de_foucault.
htm>. Acesso em: 03 mar. 2009.
PERES, William Siqueira. Travestilidades nmades: a exploso dos binarismos e a
emergncia queering. Estudos Feministas, Florianpolis, v.20, n.2, p.539-547, maioagosto/2012.
RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gnero e histria. In: PEDRO, Joana Maria;
GROSSI, Miriam Pillar. Masculino, feminino, plural: gnero na interdisciplinaridade.
Florianpolis: Editora das Mulheres, 2000, p.21-41.
SANTOS, Boaventura de Souza. A crtica da razo indolente: contra o desperdcio da
experincia. 4. ed. So Paulo: Cortez, 2002a.
SARDENBERG, Ceclia Maria Bacellar. Da crtica feminista cincia a uma cincia feminista?
In: COSTA, Ana Alice Alcantara; SARDENBERG, Ceclia Maria Bacellar. Feminismo, cincia
e tecnologia. Salvador: REDOR/NEIM-FFCH/UFBA, 2002, p.89-120.
SILVA, Tomas Tadeu. A produo da Identidade e da Diferena. SILVA, Tomas Tadeu (Org.),
HALL, S. WOODWARD, K.. Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos culturais.
Petrpolis/RJ: Vozes, 2000, p.73-102.
SOIHET, Rachel. Histria das mulheres e relaes de gnero: debatendo algumas questes.
Disponvel em: <www.consciencia.br>. Acesso em: 03 mar. 2004.
STUBS, Roberta; TEIXEIRA FILHO, Fernando Silva; PERES, Wiliam Siqueira. A potncia do
cyborg no agenciamento de modos de subjetivao ps-identitrios: conexes parciais
entre arte, psicologia e gnero. Fractal, Rev. Psicol., v. 26 n. 3, p. 785-802, Set./Dez.
2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A DIVERSIDADE SOB O OLHAR E AES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR:
Uma experincia na educao formal
Sofia Neumann1
Denise Rosane Calsing2
Dulce Maria Strieder3
1. INTRODUO
A miscigenao ponto chave para compreenso da diversidade tnico-racial no
Brasil. A ancestralidade indgena mais caracterizada pela diversidade do que pela
homogeneidade. Os colonizadores portugueses tm em suas origens tnicas a miscigenao
com povos gregos, romanos, hebreus, rabes mouros, celtas e escravos africanos. Quanto
aos negros africanos, estudos indicam que estes tm suas origens em diferentes regies da
frica (CARNEIRO, 2008; FIGUEIREDO; ARAJO, 2013). E a esses grupos, somam-se os
imigrantes franceses, holandeses, ingleses, italianos, espanhis, alemes, japoneses, entre
outros para composio da nao brasileira. Esse fato, porm, no significa dizer que as
diferentes culturas sejam respeitadas e tratadas com igualdade. Nesse contexto, muitos
grupos nem sempre so aceitos pela maioria, sofrendo discriminao e preconceitos. Em
geral, o que prevalece a cultura do homem ocidental, vista como superior s demais
naes e populaes.
No mbito educacional, a diversidade deveria ser entendida como algo plural, a ser
valorizado, entretanto, muitas vezes, o que ocorre so discriminaes ou a desvalorizao
em relao a determinados grupos tnicos. Aes na escola com o objetivo de informar,
Pgina
46
Mestranda em Educao da Universidade Estadual do Oeste do Paran UNIOESTE. E-mail:
sofianzang@hotmail.com.
2
Especialista em Histria de Educao Brasileira pela Universidade Estadual do Oeste do Paran - UNIOESTE. Email: denisecalsing@seed.pr.gov.br.
3
Doutora em Educao; Integrante do Grupo de Pesquisa Formao de Professores de Cincias e Matemtica;
Docente do Programa de Mestrado em Educao e da rea de Fsica/CCET/UNIOESTE - Cascavel, PR. E-mail:
dulce.strieder@unioeste.br.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
refletir, investigar e buscar uma formao que valorize e respeite diversidade cultural so
essenciais, porm o que se percebe que essa prtica nem sempre acontece.
Neste sentido, a Lei n. 10.639/03, que alterou a Lei no 9.394/96, surge com a
finalidade de incluir no currculo oficial da rede pblica de ensino a obrigatoriedade da
temtica "Histria e Cultura Afro-Brasileira". Atualmente, vigora a Lei n. 11.645/08, que
incluiu a questo indgena nos currculos escolares. O objetivo da legislao federal
combater aes de preconceito, racismo e discriminao, por meio de contedos que
abordem as relaes tnico-raciais, visando reduo das desigualdades presentes na
educao brasileira, o que j havia sido assegurado na Constituio de 1988.
Para aprofundar reflexes sobre a temtica, o presente trabalho objetiva socializar as
atividades de um projeto com foco na diversidade, atravs da multidisciplinaridade,
desenvolvido em um colgio pblico estadual desde o ano de 2010. As atividades
desenvolvidas so orientadas pela Equipe Multidisciplinar composta professores das
diferentes reas do conhecimento residentes em Santa Helena, extremo Oeste Paranaense.
O Projeto de Interveno da Equipe Multidisciplinar desenvolve reflexes, estudos da
legislao, seminrios, apresentaes artsticas e culturais, informativos, entre outros, como
sendo aes de enfrentamento discriminao e ao preconceito, buscando zelar pelo
respeito diversidade presente no espao escolar.
2. A DIVERSIDADE CULTURAL PRESENTE NA SOCIEDADE E NA ESCOLA: Passo inicial do
projeto
A chegada dos portugueses ocorrida no Brasil em 1500 culminou em aes de
imposio cultural, moral e religiosa sob os nativos da terra. Tentaram escraviz-los. Porm
diante da resistncia dos nativos, muitos destes foram dizimados ou aculturados. Para
continuar o processo de colonizao da terra brasilis os mandatrios portugueses
precisavam de mo-de-obra para seu projeto e dessa forma escravizaram os povos africanos.
Pgina
47
Apesar das leis que previam a libertao dos escravos e a determinao de reas
demarcadas pela Fundao Nacional do ndio (FUNAI) para atender aos indgenas, os
mesmos no tiveram acesso s condies dignas de sobrevivncia. Conforme destaca
Guimares (2005) apud Gadea (2013, p. 65-66):
Sendo assim, tanto a tonalidade da pele quanto outras formas figuradas da linguagem
naturalizam grandes desigualdades sociais e legitimaram prticas discriminatrias que,
aos poucos foram comprometendo a autoimagem brasileira de democracia racial.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A universalizao da educao permitiu o acesso escolarizao s pessoas de todas
as raas e essa diversidade observada nos espaos escolares. Estes grupos se identificam
conforme sua etnia e se relacionam. Assim, a identificao racial resulta de uma atribuio
realizada pelos prprios indivduos ao inserir-se numa especfica relao em que preciso
definir marcas como sinnimo de distino de fronteiras grupais (GADEA, 2013, p. 24). No
contexto escolar, assim como na sociedade em geral, cada um desses grupos deve ser
respeitado.
O autor ainda se refere a uma pesquisa da Datafolha realizada entre os anos de 1995
a 2008, publicada pela Folha de So Paulo no dia 23 de novembro de 2008, sobre racismo.
Os resultados apontam que o preconceito entre os brasileiros diminuiu, um nmero maior
de brasileiros se declara negra. Mais brasileiros se assumiam pretos e pardos, diminuindo
a parcela da populao que se identificaria como branca: de 50% em 1995 para 37% em
2008 (GADEA, 2013, p. 18).
No mbito escolar, especificamente do Colgio Estadual Humberto de Alencar
Castelo Branco Ensino Mdio e Normal, procura-se abordar essa temtica e refletir sobre a
luta pela igualdade e conquista de direitos e cidadania de ndios e afrodescendentes. Buscase abordar os diversos momentos pelos quais esses povos ndios e negros vivenciaram a
explorao e a excluso, que perdura em algumas situaes at os dias atuais. Objetivando
caracterizar o perfil dos alunos que estudam na referida escola, objeto do projeto de ao
ora discutido, realizou-se uma pesquisa a partir da matrcula escolar, com o seguinte
resultado para composio tnica dos alunos:
Pgina
48
Grfico 1- Composio tnica dos alunos
FONTE: PPP do Colgio Elaborado pela Equipe Multidisciplinar
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A divulgao no ambiente escolar da diversidade racial presente na comunidade foi o
passo inicial para o processo de formao em torno da conscientizao.
Outro passo importante para o dilogo e o respeito diversidade cultural presente
no ambiente escolar, foi o estmulo organizao da Equipe Multidisciplinar que trabalha no
sentido de buscar a superao das prticas discriminatrias e as formas de racismo e
preconceito racial presentes no ambiente escolar.
3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: Histrico e atribuies
As Equipes Multidisciplinares so instncias escolares legitimadas na Lei de Diretrizes
e Bases de Educao Nacional (LDBEN) 9394/96 (na alterao do artigo 26, Lei 10.639/03)
quando da incluso no currculo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temtica
"Histria e Cultura Afro-Brasileira".
Coqueiro et. al. (2013) destacam que no ano de 2007 a Secretaria de Estado da
Educao (SEED) do Paran criou o Departamento da Diversidade (DEDI) com o objetivo
atuar [...] na defesa e promoo dos direitos humanos dos sujeitos da diversidade,
oferecendo formas de acesso escola e de continuidade na formao escolar (SEED-PR). .
Em 2008, a Lei 11.645 integrou a educao indgena nos currculos escolares,
estabelecendo no artigo 26:
Art. 26: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino mdio, pblicos e
privados, torna-se obrigatrio o estudo da histria e cultura afro-brasileira e indgena.
1o O contedo programtico a que se refere este artigo incluir diversos aspectos da
histria e da cultura que caracterizam a formao da populao brasileira, a partir desses
dois grupos tnicos, tais como o estudo da histria da frica e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indgenas no Brasil, a cultura negra e indgena brasileira e o negro e o
ndio na formao da sociedade nacional, resgatando as suas contribuies nas reas
social, econmica e poltica, pertinentes histria do Brasil.
2o Os contedos referentes histria e cultura afro-brasileira e dos povos indgenas
brasileiros sero ministrados no mbito de todo o currculo escolar, em especial nas
reas de educao artstica e de literatura e histria brasileiras (BRASIL, 2008).
Alm desta lei, a Secretaria de Estado da Educao (SEED) estabeleceu uma
orientao que visa garantir a implementao da lei federal nas escolas. Trata-se da
Pgina
49
Deliberao n. 04/06 do Conselho Estadual de Educao (relacionada Instruo n 017/06
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
SUED/SEED, e com desdobramentos na Resoluo n 3399/10 SUED/SEED e Instruo n
010/10 SUED/SEED). Esta legislao4 estabelece:
- Garantir, no Projeto Poltico Pedaggico, que a organizao dos contedos de todas as
disciplinas da matriz curricular contemplem, obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a
Educao das Relaes tnico- Raciais e ensino da Histria e Cultura Afro-Brasileira e
Africana, na perspectiva de proporcionar aos alunos uma educao compatvel com uma
sociedade democrtica, multicultural e pluritnica;
- Registrar, no requerimento da matricula do aluno o seu pertencimento tnico-racial,
garantindo-se o registro da sua auto-declarao;
- Compor Equipe Multidisciplinar, que poder envolver direo, equipe pedaggica,
professores e funcionrios, para orientar e auxiliar o desenvolvimento de aes relativas
educao das Relaes tnico-Raciais e ao Ensino de Histria e Cultura Afro-Brasileira e
Africana, ao longo do perodo letivo (PARAN, 2006).
O objetivo das Equipes Multidisciplinares desenvolver aes que orientem o
trabalho pedaggico de forma com que os afrodescendentes e indgenas tenham garantido
o acesso e permanncia escola e que sua histria e cultura sejam respeitadas. Nesse
sentido, conforme divulgado no site oficial da Secretaria de Estado da Educao do Paran
(SEED), as equipes multidisciplinares:
So espaos de debates, estratgias e de aes pedaggicas que fortaleam a
implementao da Lei n 10.639/03 e da Lei n 11.645/08, bem como das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes tnico-Raciais e para o ensino de
Histria e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indgena no currculo escolar das instituies
de ensino da rede pblica estadual e escolas conveniadas do Paran. Na perspectiva da
construo de uma educao de qualidade, da consolidao da poltica educacional e da
construo de uma cultura escolar que conhece, reconhece, valoriza e respeita a
diversidade tnico-racial, as Equipes Multidisciplinares tem como prerrogativa articular
os segmentos profissionais da educao, instncias colegiadas e comunidade escolar
(SEED-PR).
Dessa forma, podemos destacar que o objetivo principal do trabalho desenvolvido
nas escolas o reconhecimento e valorizao da identidade, histria e cultura dos afrobrasileiros e indgenas no interior das salas de aula e nas aes fora dela. Sendo assim, o
trabalho da Equipe Multidisciplinar, analisada nesse artigo, definiu os seguintes objetivos:
Pgina
50
- Diagnosticar os conhecimentos da comunidade escolar acerca dos diferentes povos;
- Desenvolver estratgias de conscientizao da comunidade escolar para com a
temtica, problematizando as relaes entre as culturas africana, indgena e ocidental;
- Socializar os contedos e dinmicas trabalhadas no Estabelecimento de Ensino;
- Divulgar a importncia e os objetivos da Equipe Multidisciplinar e do Ensino de Histria
e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indgena;
- Constituir acervo bibliogrfico;
4
http://www.nre.seed.pr.gov.br/irati/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=193.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
- Promover aes de enfrentamento ao preconceito e discriminao;
- Mobilizar e sensibilizar os profissionais da educao para a reeducao do olhar sobre
as contribuies prprias da Histria e Cultura Africana, Afrobrasileira e indgena as quais
contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade democrtica, multicultural e
pluritnica (SANTA HELENA, 2014).
Tendo como referncia toda a legislao que ampara a educao para as relaes
tnico-raciais, a Equipe Multidisciplinar do Colgio Estadual Humberto de Alencar Castelo
Branco tem por objetivo a divulgao e produo de conhecimentos, assim como a formao
de atitudes, posturas e valores que preparem os cidados para relaes pautadas na
alteridade. Todas as aes a serem desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar esto
previstas e regulamentadas no Projeto Poltico Pedaggico do Estabelecimento de Ensino. O
foco central so as abordagens positivas, sempre na perspectiva de contribuir para que os
alunos das mais variadas etnias se percebam como cidado de direito, quer pela valorizao
da histria de seu povo, da cultura de matriz, suas razes, da contribuio para o pas e para
a humanidade, atravs de estudos, seminrios, aulas, produes, painis, oficinas,
discusses e reflexes desenvolvidas na instituio.
3.1 O efetivo trabalho da Equipe Multidisciplinar
Anualmente, a Equipe Multidisciplinar da instituio de ensino anteriormente citada,
elabora o Plano de Trabalho para o ano letivo em curso. Tais aes orientam todo o trabalho
a ser desenvolvido. Quanto s aes, pode-se destacar:
- Diagnostico tnico-racial da Escola (alunos e educadores)
- Necessidades formativas: contedos e conhecimentos que pautaro os estudos da
Equipe Multidisciplinar;
- Anlise dos instrumentos internos do colgio, tais como Projeto Poltico Pedaggico,
Proposta Pedaggica Curricular, Plano de ao da Equipe multidisciplinar, legislao
vigente e insero da ERER;
- Anlise dos Planos de Trabalho Docentes e insero da ERER a fim de relacionar as
temticas nas disciplinas;
- Anlise e orientaes de possveis situaes de discriminao tnico-racial.
- Anlise dos materiais didticos utilizados pela escola (SANTA HELENA, 2014).
Destacamos que as atividades propostas pelo Plano de Trabalho da Equipe
Multidisciplinar so desenvolvidas pelos diferentes segmentos da escola. As reunies so
Pgina
51
realizadas periodicamente pelo grupo de profissionais de educao. No incio do ano a
equipe da secretaria da escola realiza o diagnstico tnico racial, que se trata de um
diagnstico da formao tnica dos educandos e educadores, alm de realizar um
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
levantamento das necessidades de formao que o grupo considerar necessrio. As
atividades so desenvolvidas atravs de seminrios e grupos de estudos, nos encontros fazse a leitura dos documentos do colgio como PPP e demais legislaes. Os professores so
orientados a elaborar o Plano de Trabalho Docente (PTD) em consonncia com a legislao,
alm de realizar com os alunos a anlise do material didtico utilizado em sala de aula e as
eventuais aes discriminatrias sofridas por alguns alunos so orientadas por todos os
profissionais da escola.
Aes com um carter mais formativo sobre a temtica tambm so implementadas.
Nesse sentido, podemos destacar:
- Discusso e estudos peridicos sobre a temtica para qualificar nossas prticas;
-Buscar o enriquecimento do acervo bibliogrfico junto biblioteca da escola;
- Proporcionar e incentivar o coletivo escolar no aprofundamento terico sobre os temas
propostos;
- Realizar pesquisas e atividades que permitam fazer um diagnstico mais detalhado
sobre os conhecimentos dos temas propostos na comunidade;
- Valorizar em diferentes situaes a importncia histrica dessas culturas perante a
humanidade;
- Realizar debates, palestras, discusses, passeios, entre outros;
- Proporcionar momentos de socializao das atividades realizadas;
- Construo de murais.
- Apresentar comunidade escolar o resultado dos trabalhos realizados em sala por meio
de murais, fotos, site do colgio, rdio comunitria, imprensa escrita, entre outros;
- Divulgar as Diretrizes emanadas da SEED, bem como, implement-las. (SANTA HELENA,
2014).
Para tanto, as equipes vm desenvolvendo encontros peridicos de quatro horas,
onde organizam pasta de legislao, coletnea de textos estudados, pasta com sugestes de
filmes que abordam a temtica da diversidade, espao na biblioteca escolar para artigos,
peridicos e livros.
Todas as aes so registradas ao final de cada ano letivo em sistema prprio da
mantenedora e, a cada incio de perodo letivo reavaliado e retomado. Os participantes
podem ser os mesmos ou no, num total de vinte educadores por ano, que recebem
certificao, aps a anlise dos registros realizados pelo coordenador.
A Equipe Multidisciplinar supervisiona e desenvolve aes para responder as
Pgina
52
diretrizes estabelecidas pela Deliberao n. 04/2006-CEE ao longo do perodo letivo e no
apenas em datas festivas, pontuais, deslocadas do quotidiano da escola. O dia 20 de
novembro, Dia Nacional da Conscincia Negra, o escolhido como data para anlise das
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. Todas essas aes so registradas e
arquivadas em pasta prpria no Estabelecimento de Ensino.
3.2 Atividades desenvolvidas nas diferentes disciplinas
O trabalho da Equipe Multidisciplinar consiste, entre outros, em orientar o trabalho
de elaborao do PTD e estes podem implementar aes que visem superar prticas
discriminatrias adotadas por racismo e preconceito racial. As propostas apresentadas para
o trabalho desenvolvido nas distintas disciplinas para o ano letivo de 2014 so descritas a
seguir:
1. Lngua Portuguesa: - Estudos e pesquisas: Debates; Expresses e vocabulrios;
Estudo de obras literrias; Interpretao de letras de msicas; Gneros Musicais.
2. Histria: Construo de um novo olhar sobre a histria nacional e regional/local
sobre a contribuio dos africanos e afrodescendentes na constituio da nao brasileira.
3. Geografia: Estudo do espao geogrfico e suas inter-relaes nos contextos:
miscigenao de povos, distribuio espacial da populao afrodescendente no Brasil,
contribuio do negro na construo da nao brasileira, movimento do povo africano do
tempo e no espao, questes relativas ao trabalho e renda, colonizao da frica pelos
europeus, origens dos grupos tnicos e rota da escravido, imigrao, localizao em mapas
de pases, organizao espacial de aldeias africanas, estudo do contingente africano, anlise
de dados sobre a composio da populao brasileira, discusses a respeito de prticas de
segregao racial.
4. Arte: A contribuio artstica da cultura africana da formao da Msica popular
brasileira; Poesia Musical; Cantores e compositores negros; Artistas plsticas e presena da
arte africana; Arquitetura, penteados, msica, estamparia, objetos decorativos; Esttica: cor,
som, forma, movimento.
5. Biologia: Estudo sobre as teorias antropolgicas e desmistificao das teorias
racistas; Estudo das caractersticas biolgicas dos diversos povos; Contribuies dos povos
africanos para o avano da Cincia e da Tecnologia; Anlise do panorama de sade dos
Pgina
53
africanos considerando aspectos polticos, econmicos, ambientais, culturais e sociais.
6. Educao Fsica: Estudos das prticas corporais da cultura negra em diferentes
momentos histricos; As danas e suas manifestaes corporais na cultura Afro-brasileira;
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Brinquedos e Brincadeiras na cultura africana; Jogos africanos; As manifestaes corporais
expressas no folclore brasileiro.
7. Matemtica: Anlise de dados do IBGE sobre a composio da populao brasileira
por cor, renda, escolaridade no pas e no municpio; Analisar pesquisas relacionadas ao
negro e mercado de trabalho no pas.
8. Disciplinas especficas do Curso de Formao de Docentes Metodologia e Prtica
de Formao: Estudos e debates da legislao que norteia a prtica cotidiana nas escolas;
Realizaes de atividades que propiciem o contato com a cultura africana e
afrodescendente: exposies, mostras, danas, jogos, culinria, pesquisas, debates,
discusses e atividades que tenham como foco a criana e o jovem negro, a sua famlia em
diferentes contextos sociais e profissionais; Construo e desenvolvimento de projetos
possveis para serem desenvolvidos nas regncias dos alunos nas escolas e centros de
educao infantil.
3.3 Aes desenvolvidas em 2014 pela Equipe Multidisciplinar
Conforme orientaes da SEED as atividades desenvolvidas pela Equipe
Multidisciplinar foram planejadas e desenvolvidas, com distribuio mensal, da seguinte
maneira:
Maio: Composio da Equipe Multidisciplinar 2014; Elaborao das atividades da
Equipe Multidisciplinar.
Junho: Anlise dos instrumentos internos do Colgio (PPP, PPC, PTD...); Discusses e
estudos; Diagnstico tnico-racial de alunos e educadores; Elaborao de pasta com
sugesto de livros, artigos e filmes sobre a temtica.
Julho: Estudo da legislao que ampara as relaes tnico-raciais; Produo de artigo
para imprensa sobre a temtica; Elaborao de projetos para desenvolver em cada disciplina
e apresentao no dia da Conscincia negra; Reviso do Plano de ao da Equipe e Memorial
Descritivo; Elaborao de sugesto de Plano de Trabalho Docente para Ensino Mdio e
Formao de Docentes sobre a temtica.
Pgina
54
Agosto: Discusses e estudos de material disponvel; Encaminhamentos de aes em
sala de aula: Filme a Vida Secreta das abelhas Todas as turmas; Encaminhamento de
Leitura de Livro Casa Grande & Senzala de Gilberto Freire nas turmas do Curso de Formao
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
de Docentes e posterior realizao de painel para exposio no Dia Nacional da Conscincia
Negra.
Setembro: Encaminhamento de leitura de Poesias sobre a Cultura afro-brasileira e
apresentao em momento especfico para a comunidade escolar; Leitura e discusso dos
cadernos temticos Histria e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Outubro: Pesquisa sobre comidas tpicas africanas com alunos; Pesquisa e ensaio
sobre danas africanas com alunos; Artigo para imprensa sobre as aes da Equipe
Multidisciplinar 2014.
Novembro: Sensibilizao sobre a temtica; Evento de conscientizao por ocasio
do Dia Nacional da Conscincia Negra 20/11: Conscientizao; Apresentao de Danas;
Apresentao de Poesias; Exposio de Painel sobre o livro Casa Grande e Senzala;
Degustao de Comidas tpicas africanas; Seminrio para a comunidade Escolar.
Dezembro: Avaliao, registros e arquivamento das aes realizadas durante o ano
letivo.
No quadro abaixo apresentado o cronograma de encontros nos quais as aes
descritas acima foram desenvolvidas durante o ano de 2014.
Pgina
55
Quadro 1. Datas dos encontros desta equipe Multidisciplinar teras-feiras.
FONTE: Equipe Multidisciplinar.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
4. CONSIDERAES FINAIS
A Equipe Multidisciplinar desenvolve a cada ano o grupo de estudos sob a superviso
do Ncleo Regional de Educao e que tem a funo de coordenar o trabalho que visa
orientar todos os profissionais da instituio de ensino a observar suas prticas em relao
ao grupo que forma nossa comunidade escolar, a refletir sobre situaes em que ocorre
desvalorizao, desrespeito, discriminao, bullying, tendo como objetivo primordial o foco
no combate de todas as formas de discriminao no ambiente escolar. Desses temas de
reflexo so pensados planos de ao. Os planos de ao so constantemente avaliados
pelos educadores e membros da Equipe Multidisciplinar na medida em que o trabalho
avana no desenvolvimento das aes previstas e se obtm resultados.
Todas as atividades realizadas pela Equipe Multidisciplinar so avaliadas pela
comunidade escolar, por meio da participao nas aes a serem desenvolvidas e pela
anlise dos registros feitos pela Equipe, que so registradas em atas e, posteriormente,
arquivadas.
O trabalho desenvolvido pelas diferentes aes que ocorrem durante todo o ano
letivo demonstra que o dia 20 de novembro, Dia da Conscincia Negra, no trabalhado
apenas como uma data folclrica e pontual, mas o resultado de um projeto permanente
desenvolvido pela escola que tem sua culminncia neste dia.
Apesar de todo o empenho, acreditamos que a educao das relaes tnico-raciais
no Brasil ainda um desafio, principalmente se entendermos que nosso papel de educador
tem um compromisso com as mudanas sociais. Ningum nasce odiando outra pessoa pela
cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religio. Para odiar, as pessoas precisam
aprender e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar (MANDELA, 1995).
De acordo com a Deliberao 04/06 CEE, no Art. 1 e 1:
Educao das Relaes tnico-Raciais tem por objetivo a divulgao e produo de
conhecimentos, assim como de atitudes, posturas e valores que preparem os cidados
para uma vida de fraternidade e partilha entre todos, sem as barreiras estabelecidas por
sculos de preconceitos, esteretipos e discriminaes que fecundaram o terreno para a
dominao de um grupo racial sobre outro, de um povo sobre outro (SEED-PR).
Pgina
56
Destaca-se a importncia da reflexo por parte dos educadores sobre o seu papel na
formao e na informao dos alunos em relao ao que est proposto na lei. Sabe-se que
h a obrigatoriedade da insero de tais contedos no currculo, os quais so elencados no
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
incio de cada ano letivo e previstos no Plano de Trabalho Docente de cada professor e no
esporadicamente em datas comemorativas ou no dia 20 de Novembro, destacado em nosso
calendrio escolar como o Dia da Conscincia Negra. Mas o que pensamos? Somos
preconceituosos? Nossas aes diferem de nossas prticas? E nossos alunos? Como orientlos para que respeitem a legislao, respeitem a diversidade e acima de tudo respeitem as
pessoas que convivem. Precisamos refletir sobre nossa prtica independente do que
preconiza a lei.
Os resultados obtidos nestes anos de efetivo trabalho da proposta vm contribuindo
com atitudes cotidianas de respeito diversidade cultural, mas acima de tudo, na
conscientizao de respeito pessoa, na relao do professor com o conhecimento e com os
valores da cultura e, sobretudo, com a autonomia intelectual de educadores e alunos.
Pgina
57
5. REFERNCIAS
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988. Disponvel em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao. htm>. Acesso Em: 29 de set. de
2014.
______. Lei 10.639/03 - que trata a obrigatoriedade de incluir no Currculo escolar as
discusses referentes Histria e Cultura Africana, Afro-brasileira.
______. Lei 11.645/08 que trata a obrigatoriedade de incluir no Currculo escolar as
discusses referentes Histria e Cultura Africana, Afro-brasileira e Indgena.
______. Resoluo 01/04, do Conselho Nacional de Educao - que Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes tnico-Raciais e para o Ensino de
Histria e Cultura Afro-brasileira e Africana.
______. Parecer 03/04 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educao das Relaes tnicoraciais, do Conselho Nacional de Educao.
______. Plano Nacional de Implementao das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educao das Relaes tnico-raciais e para o ensino de Histria e Cultura Afro-brasileira
e Africana.
______. Resoluo 3399/2010 - relacionada composio das Equipes Multidisciplinares.
______. Instruo 010/2010 - relacionada s Equipes Multidisciplinares;
CARNEIRO, E. Candombls da Bahia. 9. ed. So Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2008.
COQUEIRO, E. A.; SILVA, E. T.; LOPES, T. A.; SANTOS, K. D.; ROCHA FILHO, L. C. P. Equipe
Multidisciplinar: uma experincia da educao das relaes tico-raciais e para o ensino
da histria e cultura afro-brasileira, africana e indgena na rede estadual da educao
bsica do Paran. XI Congresso Nacional de Educao EDUCERE, 2013.
FIGUEIREDO, J.; ARAJO, P. C. Nkisi na dispora. In: FIGUEIREDO, J. (org.). Nkisi na Dispora:
razes religiosas Bantu no Brasil. So Paulo: Acubalin, 2013, p. 30-42.
GADEA, C. A. Negritude e Ps-africanidade: crticas das relaes raciais contemporneas.
Porto Alegre: Sulina, 2013.
PARAN. Cadernos Temticos: Histria e Cultura Afro-brasileira e Africana. SEED. Curitiba.
PR. 2008.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
58
_______. Cadernos Temticos: Educando para as Relaes tnico-raciais II. SEED. Curitiba.
PR. 2008.
_______. Projeto Poltico Pedaggico do Colgio Estadual Humberto de Alencar Castelo
Branco Ensino Mdio e Normal de Santa Helena. 2012.
_______. Proposta do Plano Curricular do Colgio Estadual Humberto de Alencar Castelo
Branco Ensino Mdio e Normal de Santa Helena. 2012.
_______. Departamento da diversidade. Disponvel em: <http://www. educacao.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10>. Acesso em: 29 de set. de 2014.
_______. Deliberao 04/06, do Conselho Estadual de Educao, que trata das Normas
Complementares s Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes
tnico-Raciais e para o ensino de Histria e Cultura Afro-brasileira e Africana, 2006.
SANTA HELENA. Plano de Ao da Equipe Muldisciplinar do Colgio Estadual Humberto de
Alencar Castelo Branco Ensino Mdio e Normal de Santa Helena. 2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A EDUCAO ESCOLAR E A REAFIRMAO DOS SABERES INDGENAS
Rosa Maria Cavalheiro1
Jefferson Olivatto da Silva2
1. INTRODUO
O Estado Brasileiro tem implementado nos ltimos anos polticas pblicas voltadas
promoo da igualdade e justia social, com nfase parcela da populao historicamente
marginalizada, e expropriada em seus direitos bsicos, como populao negra, indgena,
quilombola, comunidades tradicionais de maneira geral, entre outros.
Neste sentido a Constituio Federal de 1988 pode ser considerada um marco nas
relaes entre o Estado e essas populaes, pois, alm de reconhece-las passou a garantirlhes alguns direitos, negados at ento:
Art. 231. So reconhecidos aos ndios sua organizao social, costumes, lnguas, crenas e
tradies, e os direitos originrios sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo Unio demarc-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (BRASIL,
1988)
No que se refere Educao Nacional na Lei de Diretrizes e Bases n9394/96
tambm podemos perceber alguns aspectos que demonstram essa caracterstica. Em seu
artigo 78 est definido que:
Pgina
59
O Sistema de Ensino da Unio, com a colaborao das agncias federais de fomento
cultura e de assistncia aos ndios, desenvolver programas integrado de ensino e
pesquisa, para oferta de educao escolar bilngue e intercultural aos povos indgenas,
com os seguintes objetivos:
I proporcionar aos ndios, suas comunidades e povos, a recuperao de suas memrias
histricas; a reafirmao de suas identidades tnicas; a valorizao de suas lnguas e
cincias;
Graduada em Histria pela Unicentro, Guarapuava. PR, mestranda do Programa de Ps Graduao em
Educao da Unicentro, Guarapuava, PR. E-mail: mariarosa0102@yahoo.com.br
2
Ps doutor em Cincias Sociais pela Universidade Federal do Paran, docente do Programa de Ps
Graduao em Educao da UNICENTRO Guarapuava, PR. E-mail: jeffcassiel@yahoo.com
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
II garantir aos ndios, suas comunidades e povos, o acesso s informaes,
conhecimentos tcnicos e cientficos da sociedade nacional e demais sociedades
indgenas e no-ndias. (BRASIL, 1996)
Neste mesmo sentido, a Lei Federal 11.645 de 2008 que, alterando a LDB, passou a
incluir a obrigatoriedade do ensino de Histria e Cultura Indgena na Educao Bsica, criou
tambm uma nova expectativa com relao diminuio do preconceito e discriminao
que esto postos em nossa sociedade, em especial nas relaes tnico raciais presentes na
escola.
Assim, faz-se necessria uma discusso bem mais ampla do que somente o ensino
desta temtica na escola, pois muitas vezes as abordagens desses assuntos derivam de uma
formao baseada essencialmente na historiografia ocidental, sob o ponto de vista dos
colonizadores europeus e consequentemente de um currculo que prioriza esses pontos de
vista.
Este trabalho tem como objetivo promover discusses mais aprofundadas sobre a
Histria e Cultura Indgena no ambiente escolar, subsidiando estas discusses com
informaes relevantes sobre o assunto, bem como de analisar os avanos, desafios e
possibilidades proporcionadas pela Lei 11645/08, na perspectiva de uma educao no
excludente e que valorize de fato a Histria, a cultura, e a identidade do povo indgena em
nossa sociedade, pois de grande importncia trazer para o ambiente escolar os
conhecimentos e as vozes desses sujeitos como elementos essenciais ao currculo escolar.
Para tanto apresentaremos aqui alguns aspectos referentes legislao que trata do
assunto e seus possveis impactos nas prticas pedaggicas, apontando algumas
possibilidades para estas aes, bem como apontando alguns equvocos cometidos quando
se aborda desses assuntos de forma a dar um tratamento mais adequado s questes
indgenas na escola.
2. FUNDAMENTAO TERICA
As polticas pblicas para a Educao com vistas ao atendimento diversidade tm
apontado atualmente algumas necessidades em busca de torna-la de fato diferenciada,
Pgina
60
especfica, intercultural e bilngue, como determina a Constituio Federal Brasileira de
1988.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Neste contexto apontamos a Lei Federal 11645 de 2008, como um importante
dispositivo legal para a adoo de uma poltica de reparao das desigualdades
historicamente proporcionadas pelo sistema educacional brasileiro. Lei esta que, tornando
obrigatrio o ensino da Histria e Cultura Indgena na Educao Bsica, trouxe um novo
direcionamento s relaes culturais na escola como um todo, pois deve contemplar a
cultura indgena como importante elemento formador da identidade nacional, pois
acrescenta estes aspectos Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional - Lei n
9.394, de 20 de dezembro de 1996:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino mdio, pblicos e
privados, torna-se obrigatrio o estudo da histria e cultura afro- brasileira e indgena.
1 O contedo programtico a que se refere este artigo incluir diversos aspectos da
histria e da cultura que caracterizam a formao da populao brasileira, a partir desses
dois grupos tnicos, tais como o estudo da histria da frica e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indgenas no Brasil, a cultura negra e indgena brasileira e o negro e o
ndio na formao da sociedade nacional, resgatando as suas contribuies nas reas
social, econmica e poltica, pertinentes histria do Brasil.
2 Os contedos referentes histria e cultura afro-brasileira e dos povos indgenas
brasileiros sero ministrados no mbito de todo o currculo escolar, em especial nas
reas de educao artstica e de literatura e histria brasileiras.
As prticas docentes s quais se referem esta lei, devem ir ao encontro do que
preconiza o Parecer 14/2004 do Conselho Nacional de Educao / Conselho Pleno, que
estabelece as Diretrizes Nacionais para o ensino de Histria e Cultura Afro Brasileira e
Africana nas escolas, uma vez que as questes culturais indgenas tambm passaram a fazer
parte do texto da lei.
A escola tem papel preponderante na eliminao das discriminaes e para a
emancipao dos grupos discriminados, ao propiciar acesso aos conhecimentos
cientficos, a registros culturais diferenciados, conquista de racionalidade que rege as
relaes sociais e raciais, a conhecimentos avanados, indispensveis para a consolidao
e concerto das naes como espaos democrticos e igualitrios. (BRASIL, 2004, p. 6).
Este parecer de fundamental importncia para que os profissionais da Educao
possam compreender a complexidade que implementar de fato a Lei qual se refere e, ao
mesmo tempo d direcionamentos efetivos ao trabalho docente, pois ao apontar a
Pgina
61
necessidade de tornar o espao educativo democrtico e igualitrio o referido Parecer no
se refere somente aos sujeitos mas tambm a uma abordagem equnime dos contedos
que fazem parte do currculo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Sabemos que o ensino da temtica em questo por si s no trar as mudanas que
residem na intencionalidade da lei, pois a abordagem da Histria e Cultura Indgena deve
trazer em seu bojo um ideal de valorizao deste povo e reconhecimento de sua importncia
para a Histria e Cultura Brasileira, e isso requer um posicionamento poltico, onde se
explicitam at mesmo as polticas educacionais defendidas pela escola.
Assim percebemos que as questes relacionadas ao Ensino da Histria e Cultura
Indgena so muito mais complexas e profundas, e que esta discusso ainda carece de muita
ateno pelas instituies pblicas que atuam sobre educao, pois as leis necessitam sair
do papel e se efetivarem nos ambientes escolares.
Quando a legislao nos aponta a necessidade de valorizao dos aspectos culturais
de um povo nos leva a refletir sobre a profundidade que isso representa, bem como nos leva
a algumas indagaes: por que a valorizao dessas temticas nos remete legislao? Por
que alguns aspectos merecem lugar nos textos legais e outros no?
3. DESENVOLVIMENTO
Historicamente no Brasil houve uma prevalncia da cultura europeia, em especial
dos pases colonizadores em detrimento dos povos colonizados. A histria oficial foi escrita
a partir da historiografia europeia e as populaes indgenas ficaram margem desse
processo, restando aos seus sujeitos um lugar secundrio na literatura e na prpria Histria.
Sendo assim a Educao Brasileira se construiu a partir desses alicerces e desta
forma, algumas culturas foram mais valorizadas do que outras, o que levou seus
representantes, como o caso dos povos indgenas, a uma luta contnua pela conquista
dessa valorizao ao longo do tempo. E esta luta se constituiu tambm em luta por direitos.
Feita esta breve considerao, voltemos ao tema central deste texto, que o trato
das questes indgenas pela escola, a partir da valorizao de suas caractersticas.
A escola deve proporcionar aos alunos uma educao significativa e contextualizada
no tratamento de seus contedos curriculares e neste sentido a ao pedaggica deve
considerar os conhecimentos prvios dos alunos como ponto de partida para suas
Pgina
62
abordagens, oferecendo elementos para que os alunos possam de forma emancipada
construir seus conceitos e elaborar suas opinies e posicionamentos diante do mundo.
Diante disto apresentam-se dois aspectos que considero imprescindveis para uma
abordagem adequada das questes indgenas pela escola: o primeiro refere-se abordagem
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
desses contedos na escola no-indgena, que deve reconhecer para desfazer os equvocos
cometidos historicamente no seu tratamento; o outro so as prticas pedaggicas
relacionadas escola indgena, aquela que atende as comunidades indgenas e o trato
pedaggico que esta d aos aspectos culturais especficos da comunidade a que se destina.
A partir da Lei 11.645 de 2008 as preocupaes com a abordagem da temtica
indgena passaram a ocupar um espao at ento inexistente na escola. A obrigatoriedade
desses contedos trouxe um movimento diferente para as discusses sobre a organizao
do trabalho pedaggico, pois o que se fez at ento, ou, pelo menos durante muito tempo,
foi apresentar na escola os esteretipos criados e reproduzidos por dcadas pela histria e
pela literatura que trata do assunto.
Falar sobre a cultura indgena na escola requer a superao de preconceitos e
equvocos cometidos historicamente. Segundo FREIRE (2000, p.17)
importante discutir essas idias equivocadas, porque com elas no possvel entender
o Brasil atual. Se ns no tivermos um conhecimento correto sobre a histria indgena,
sobre o que aconteceu na relao com os ndios, no poderemos explicar o Brasil
contemporneo. As sociedades indgenas constituem um indicador extremamente
sensvel da natureza da sociedade que com elas interage. A sociedade brasileira se
desnuda e se revela no relacionamento com os povos indgenas. ai que o Brasil mostra
a sua cara. Nesse sentido, tentar compreender as sociedades indgenas no apenas
procurar conhecer o outro, o diferente, mas implica conduzir as indagaes e
reflexes sobre a prpria sociedade em que vivemos.
Ainda segundo FREIRE os equvocos que cometemos ao abordar as questes
indgenas so basicamente cinco: tratar o ndio genericamente, considerando-o como um
todo homogneo; considerar como uma cultura atrasada, primitiva, abord-las de modo a
deix-las no passado; trat-las como culturas congeladas e no considerar o ndio como
parte do povo brasileiro, separando-o dos elementos formadores da identidade nacional.
Esses equvocos nos levam a reafirmar ainda mais os preconceitos e discriminao a que
estes sujeitos estiveram e esto expostos em nossa sociedade. Ao desconsiderar a riqueza
cultural desses povos estamos privando nossos alunos e nossa sociedade de maneira geral
de conhecer e de valorizar uma parcela de nossa prpria histria, de nossa prpria
Pgina
63
identidade.
MELLO (2012) considera o processo educativo como um elemento importante no
processo de compreenso da vida e do mundo. A autora chama este processo de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
aprendizagem dialgica, em que as pessoas refletem sobre sua cultura e podem
compreender a cultura do outro:
O reconhecimento da diversidade e da diferena como riqueza humana e fonte de
conhecimento completa o ciclo de princpios da aprendizagem dialgica para o
desenvolvimento da conduo da prpria vida e de participao na construo de um
mundo melhor para todos (MELLO, 2012, p. 48).
A relevncia de se refletir sobre a cultura do outro pode contribuir significativamente
na afirmao e valorizao de nossa prpria identidade. Assim, se nossos alunos puderem
ter acesso a uma educao que valorize a diversidade de culturas existente em seu entorno,
ver sua prpria cultura valorizada e consequentemente proporcionar um convvio mais
harmonioso na escola e na sociedade como um todo.
Outro aspecto muito importante que toma corpo entre as preocupaes pedaggicas
no trato das questes indgenas justamente como elas so abordadas pelas escolas
territorializadas nas terras indgenas, onde o pblico alvo so os prprios protagonistas
dessa cultura. E nesse aspecto vale voltar s questes legais, pois s comunidades indgenas
so garantidas:
[...] a armao das identidades tnicas, a recuperao das memrias histricas, a
valorizao das lnguas e cincias dos povos indgenas e o acesso aos conhecimentos e
tecnologias relevantes para a sociedade nacional (BRASIL, 1996, p. 79)
Desta forma h que se superar as prticas pedaggicas que desconsideraram, ao
longo de nossa histria, os saberes e conhecimentos tradicionais dos povos indgenas, pois
ao hierarquizar as culturas a nossa histria inferiorizou os conhecimentos de povos que
tiveram participao indiscutvel na formao de nossa sociedade.
Na escola indgena estas consideraes so ainda mais importantes pois o que se fez
ao longo do tempo foi uma educao para os ndios e no uma prtica advinda dos
conhecimentos prprios das comunidades, partindo de seus costumes e modos de vida.
Ao reconhecer a importncia da diversidade sociocultural das populaes indgenas,
a escola tem a possibilidade de superar ideias ultrapassadas sobre esses povos,
Pgina
64
desconstruindo assim preconceitos, esteretipos e a desfazer equvocos como os que
comentamos anteriormente.
Uma escola indgena se faz com os conhecimentos que esta populao traz, com a
riqueza de suas contribuies para a cultura nacional valorizando os saberes tradicionais e as
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
trajetrias desses povos para que a identidade de suas crianas no seja inferiorizada e
relegada ao papel secundrio no mosaico cultural do Brasil.
No se trata aqui de colocar em p de igualdade conhecimentos tradicionais e
cientficos, mas sim de dar a ambos a devida importncia, sem cometer o erro de
hierarquiza-los, pois:
Em cada sociedade, inclusive na nossa, contempornea, o que vem a ser, s de incio de
conversa, conhecimento ou saber? Em que campo se enquadram? Quais suas
subespcies, seus ramos, suas especialidades? E como se produz? A quem atribudo?
Como validado? Como circula? Como se transmite? Que direitos e deveres gera? Todas
essas dimenses j separam de sada o conhecimento tradicional e o conhecimento
cientfico. Nada, ou quase nada, ocorre no primeiro da mesma maneira em que ocorre
no segundo (CUNHA, 2009, p. 19).
A educao escolar indgena deve contribuir para que a educao indgena seja
central nas aes pedaggicas, onde a revitalizao e a valorizao da memria oral dos
mais velhos tenha lugar nas abordagens escolares, para que tanto os saberes tradicionais
quanto os cientficos sejam considerados para a reafirmao da identidade destes povos e o
acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, de forma a
proporcionar a emancipao e o empoderamento dessas comunidades no que diz respeito
s suas lutas e conquista de direitos.
4. CONCLUSO
A educao brasileira tem trilhado caminhos significativos rumo a um tratamento
adequado das diferenas culturais de seu povo. As conquistas legais contriburam para que
esses avanos ocorressem e as populaes historicamente marginalizadas passaram a
adquirir direitos negados at ento.
Entretanto h muito ainda o que se fazer para que os saberes tradicionais indgenas
ocupem seu espao de direito na educao escolar de forma a valorizar e reafirmar a
identidade de seus descendentes, dando condies de sobrevivncia de suas prticas
culturais tradicionais bem como de empoderar estas comunidades na convivncia
Pgina
65
harmoniosa com a sociedade envolvente.
5. REFERNCIAS
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Dirio Ocial da Unio, Braslia, p.1,
5 out. 1988.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
66
BRASIL. Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educao nacional. Dirio Ocial da Unio, Braslia, 23 dez. 1996.
BRASIL. Lei n.11645, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educao nacional, para incluir no
currculo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temtica Histria e
Cultura Afro-Brasileira, e d outras providncias. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF,
p.1, 10 jan.2003.
BRASIL. Referencial curricular nacional para as escolas indgenas/ Ministrio da Educao,
Secretaria Educao Fundamental Braslia: MEC/SEF, 2002.
CUNHA. Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. So Paulo: Cosac Naify.
2009
FREIRE, J.R. Bessa. Cinco idias equivocadas sobre o ndio. In Revista do Centro de Estudos
do Comportamento Humano (CENESCH). N 01 Setembro 2000. P.17-33. ManausAmazonas.
MELLO. Roseli Rodrigues de. Comunidades de Aprendizagem: outra escola possvel. Roseli
Rodrigues de Mello, Fabiana Marini Braga, Vanessa Gabassa. So Carlos: EdUFSCar, 2012.
PARAN. Caderno Temtico da Educao Escolar Indgena. Secretaria de Estado da
Educao. Superintendncia de Educao. Departamento de Ensino Fundamental.
Coordenao da Educao Escolar Indgena. Curitiba: SEED Pr., 2006.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A LEI MARIA DA PENHA E O FEMINISMO DA DIFERENA
Flvia Candido da Silva1
1. INTRODUO
O feminismo da diferena a proposta terica que advoga pela deteco da
hierarquizao dos saberes em razo do gnero 2, principalmente nos campos da filosofia e
da psicologia do desenvolvimento da moral e da tica. A Lei Maria da Penha3 se prope no
somente a criminalizar condutas, pois estas j esto todas previstas no Cdigo Penal, mas a
punir e coibir de outras maneiras os episdios destas condutas quando cometidos em razo
do gnero, atendendo s demandas especficas que requer a violncia familiar.4 Assim nos
propomos a pensar neste artigo acerca do feminismo da diferena como suporte terico e
exemplo prtico de poltica pblica de Estado a favor da visibilizao da violncia de gnero,
no sentido de vislumbrar esta lei como uma emerso de diferenas hierarquizadas, que
eram at ento invisveis no ordenamento jurdico brasileiro.
2. CONTEXTO DA PROMULGAO DA LEI MARIA DA PENHA
As prticas violentas contra a mulher acontecem ao longo dos tempos em quase
todas as sociedades, embora aqui esteja em pauta somente o cenrio brasileiro aps a era
da industrializao. Ao final da dcada de 60, EUA e Europa experimentaram uma nova
cultura: a revoluo sexual (o amor livre, a plula anticoncepcional, o fortalecimento dos
Pgina
67
Mestranda do Programa de Cincias Sociais pela UNESP, Especialista em Antropologia pela USC, Graduada em
Direito pela UNIOESTE. E-mail: flaviacandido_adv@hotmail.com
2
A expresso gnero aqui utilizada de acordo com o aporte terico que considera o ser mulher ou homem
como resultado de direcionamentos culturais impostos desde o nascimento, que vo definir os papis e
identidades atribudos a cada um destes. Definies estas que sero elemento constitutivo das relaes sociais
e histricas fundadas sobre diferenas percebidas entre os dois sexos. Diferenas tais, que no seriam
apontadas se no fossem utilizadas sistematicamente como eixo de dominao do masculino sobre o feminino.
Portanto, a violncia de gnero (ou em razo do gnero) uma violncia poltica e simblica, que se torna,
porm, impressa de realidade quando se traduz em prticas violentas contra mulheres.
3
Lei n 11.340/2006, assim chamada em homenagem Maria da Penha Maia Fernandes, que por vinte anos
militou sua aprovao para ver o ex-marido agressor preso. Ele tentou assassin-la duas vezes, uma delas
deixou Maria paraplgica.
4
Por violncia familiar aqui entenderemos aquelas cometidas contra quaisquer entes, consanguneos ou no,
residentes no mesmo domiclio ou no, (sejam mulheres, filhos, enteados, sobrinhos, etc.) conforme se d no
entendimento jurisprudencial brasileiro. Por questo de ordem, e por entender que no h espao num s
artigo para discutir todos os tipos de violncia familiar, restringiremos a discusso quela cometida contra
mulheres, primeiramente por serem as vtimas mais frequentes e tambm por ser j objeto de pesquisas
anteriores, havendo desta maneira, maior campo de discusso sobre o assunto.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
movimentos feministas e homossexuais, as discusses sobre aborto, o trabalho feminino
fora do lar, o divrcio) trazendo transformaes ntidas no relacionamento entre homens e
mulheres (LUSTOSA, 2001, p.67).
Neste ponto temos que destacar a dimenso de importncia do trabalho feminino
fora do ambiente domstico. Sempre houve ao longo da histria mulheres que prestavam
servios fora de suas residncias, porm aps a industrializao moderna trabalhar ganhou
outro status por conta da remunerao, embora baixa. Esta incorporao da mulher na fora
de trabalho remunerado, aumentou o seu poder de barganha vis--vis o homem, abalando a
legitimidade da dominao deste em sua condio de provedor da famlia (CASTELLS, 1999,
p.32).
A liberao da mulher fez-se acompanhar de vrias revises comportamentais. A
moda foi o parmetro da liberdade: surgiram a minissaia e o biquni. Os anos 70 trouxeram
mudanas na relao homem mulher: a sexualidade, o corpo, as questes sexuais
femininas passaram a ser enfocadas pelas revistas e obras literrias. Em meio a todas estas
mudanas, houve uma crescente participao da mulher no espao poltico pblico e
masculino (CASTELLS, 1999, p.32).
No Brasil estas influncias foram sentidas e vistas nesta mesma poca. Movimentos
feministas com reivindicaes para a punio de parceiros agressores, maior participao
feminina no sistema poltico, garantias trabalhistas para gestantes e ps-parto, foram
manchete nos jornais do pas, mulheres vestindo minissaias ou biqunis causaram furor e
fizeram histria como smbolos desta revoluo.
Neste momento, o movimento feminista ganha fora, e casos de violncia domstica
passam a ser assunto e capa de jornais, sob a cobrana de feministas por justia e punio.
Tais cobranas tambm acompanharam a reviso da teoria jurdica da legtima defesa da
honra, muito aplicada poca, onde se presumia legtimo o crime do marido cuja esposa
no tivesse conduta moral ilibada e fidelidade inquestionvel, teoria tal que isentava a culpa
do agressor e tirava a pretenso punitiva do judicirio brasileiro. Observando as discusses
nos jornais e o aumento do nmero de condenaes por violncia domstica o cenrio da
Pgina
68
violncia em razo do gnero no Brasil comea a mudar, e com este panorama muitas
mulheres sentiram-se encorajadas a denunciar seus agressores.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Contudo, tais mudanas no se fazem pacificamente porque elas deslegitimam
aquele poder que era historicamente masculino. Quem antes decidia pela vida ou pela
morte da parceira j no contava mais com tanta liberdade, e mais que isso, tambm j no
poderia mais opinar de maneira proibitiva acerca da conduta financeira, moral e sexual da
parceira, esta subtrao de poder era naquela poca, e ainda nos dias de hoje tm este
efeito, um gerador de conflitos interpessoais, para Manuel Castells, essa no foi nem ser
uma revoluo de veludo:
A paisagem humana da liberao feminina est coalhada de cadveres, de vidas partidas,
como acontece em todas as verdadeiras revolues. Entretanto, no obstante a violncia
do conflito, a transformao da conscientizao da mulher e dos valores sociais ocorrida
em menos de trs dcadas em quase todas as sociedades impressionante e traz
consequncias fundamentais para toda a experincia humana, desde o poder poltico at
a estrutura da personalidade.
O ndice de denncias contra homens agressores no Brasil
aumentou
significativamente nas ltimas dcadas (SANTOS, 2011, p. 03), no somente porque as
prticas violentas tenham se elevado, mas porque as mulheres j no se submetem mais a
elas. Isto significa dizer que as mulheres esto batendo s portas da justia exigindo
solues: elas no querem mais ser invisveis, querem ter o mesmo peso de cidadania e
dignidade que os homens.
fato que a violncia contra o gnero feminino no era abarcada pelos cdigos
brasileiros at certo tempo atrs. As condutas eram tipificadas sem levar em considerao
marcadores externos ao ato delituoso em si, e por isso o judicirio convivia com algumas
incoerncias por no levar em considerao justamente a relao de intimidade (ou
intimidao) e de poder (emocional, financeiro etc.) em que acontecem estas violncias.
Felizmente este panorama comeou a ser alterado, embora com algumas limitaes,
aps a intensa manifestao dos grupos feministas. Durante toda a dcada de 80, os
movimentos feministas no Brasil definiram e puseram em prtica diferentes estratgias para
atuar em relao a este quadro. Barsted (Apud IMIG, 2005, p. 113) menciona que foram
passeatas, debates na imprensa, encontros, seminrios e publicaes que procuraram
Pgina
69
chamar a ateno para o absurdo da tese da legtima defesa da honra e para a necessidade
de alterar o padro cultural que legitima a violncia contra a mulher (Barsted Apud IMIG,
2005, p.113).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Lastreado nesta perspectiva, o Governo Federal lanou em 2004/05, a Poltica
Nacional de Enfrentamento a Violncia Contra as Mulheres, cuja finalidade estabelecer
conceitos, princpios, diretrizes e aes de preveno e combate violncia contra as
mulheres, assim como de assistncia e garantia de direitos s mulheres em situao de
violncia.
Ainda nesta esteira, foi promulgada em 2006 a Lei n11.340 (Maria da Penha), que
trouxe inegvel avano na visibilizao da violncia em razo do gnero e na mobilizao
judiciria para o impedimento desta. Entre outras benesses, a Lei prev o atendimento da
mulher por equipe multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas reas
psicossocial, jurdica e de sade (BRASIL, 2013).
Contudo, esta Lei no consegue abranger todos os contextos da delicada situao
familiar em que vive uma mulher vtima de violncia. Submetida a um relacionamento
violento, ela pode no se sentir capaz de romper o vnculo de perversidade com seu
agressor, justamente pelas ameaas e humilhaes sofridas, to reiteradas a ponto de minar
e comprometer sua identidade, vendo-se imersa nesta realidade de tal forma que pensa ser
impossvel a reverso.
3. CRTICAS CRIMINALIZAO DE CONDUTAS POR NO SER MANEIRA EFICAZ DE
COIB-LAS
Para os estudos da criminologia crtica, essa dupla criminalizao da conduta
(tipificada no cdigo penal com o agravante da relao familiar) no cobe novos episdios
por no solucionar a matriz ou as matrizes desses atos alm de duplicar tambm a vitimao
feminina porque alm de violentadas pelo parceiro ainda o so tambm pela violncia
institucional que reproduz a violncia estrutural das relaes sociais patriarcais e de
opresso sexista, sendo submetidas a julgamento e divididas (ANDRADE, 2003, p.59).
ANDRADE ainda aponta outra falha nesta operao, quando afirma que pouca
proteo real ou simblica pode esperar-se de um sistema penal dominado por homens
Pgina
70
socializados na cultura patriarcal e impregnados de valores profundamente machistas:
O sistema penal ineficaz para proteger as mulheres contra a violncia porque, entre
outros argumentos, no previne novas violncias, no escuta os distintos interesses das
vtimas, no contribui para a compreenso da prpria violncia [...] e gesto do conflito
ou muito menos para a transformao das relaes de gnero.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
H posicionamentos doutrinrios clssicos no sentido de que necessrio sustentar a
criminalizao de condutas opressoras no sistema penal, porm, a vertente crtica entende
que isto seria somente redimensionar a situao, transformando um problema social em
problema penal, desencadeando assim ainda mais violncias.
Assim diz ANDRADE:
A converso de um problema privado em problema social e deste em problema penal
uma trajetria de alto risco, pois, regra geral, equivale a duplic-lo, ou seja, submet-lo a
um processo que desencadeia mais violncia e problemas do que aqueles a que se
prope resolver, pois o sistema penal tambm transforma os problemas com que se
defronta.
E isto porque se trata de um (sub) sistema de controle social seletivo e desigual (entre
homens e mulheres) e porque , ele prprio, um sistema de violncia institucional que
exerce seu poder e seu impacto tambm sobre as vtimas. E, ao incidir sobre a vtima
mulher a sua complexa fenomenologia de controle social a culminao de um processo
de controle que certamente inicia na famlia - o sistema penal duplica ao invs de
proteger a vitimao feminina.
Alm disso, preciso atentar que se trata de um processo violento e no de um ato
isolado. Quando pensamos em como esto sendo construdos os posicionamentos e as
formas de enfrentamento do poder judicirio, h que se perguntar sobre como julgar, como
mediar, e como conciliar os sujeitos no em torno de um isolado ato j passado, mas em
torno de aes contnuas que provavelmente se do num contexto de relacionamento onde
convivem insidiosamente amor e violncia (MACHADO, 2002, p.22).
MACHADO ainda refora:
Se o elemento desencadeador do processo judicial apenas um nico ato violento, os
processos de mediao, transao e conciliao se do entre sujeitos imergidos num
processo violento. No se trata de mediao entre pares, mas entre parceiros em
posies desiguais de poder. O processo violento se d num contexto cultural fortemente
tolerante em relao ao controle pela fora do homem sobre sua companheira. Os
valores culturais que legitimam o controle das mulheres pelos homens, os tornam
desiguais.
Independentemente do posicionamento adotado, no se pode olvidar que a violncia
de gnero sim um problema do Estado, em que pese s demandas que gera tanto em
sade pblica quanto com aparato policial e proteo s vtimas. A atuao pblica sobre tal
Pgina
71
violncia crucial para fazer frente gravidade de seu impacto nos direitos das mulheres
(MACHADO, 2002, p.22).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
4. FEMINISMO DA DIFERENA E A VISIBILIZAO DA VIOLNCIA EM RAZO DO
GNERO
O feminismo um movimento plural, porque no possui uma s voz, nem uma nica
demanda ou vertente. Ento, perante essa imensa heterogeneidade de enunciaes, assim
como so mltiplas as formas de violncia, tambm so multiplicadas as formas pelas quais
as mulheres gostariam de respond-la (ANDRADE, 2003, p.61).
Dentre estes feminismos, utilizaremos aqui como categoria de anlise para o objeto
da discusso, aquele intitulado Feminismo da Diferena, que aponta para as diferenas de
gnero e para a maneira com que estas diferenas so hierarquizadas e demarcadas em
diversos campos. O movimento tem incio na dcada de oitenta, especialmente a partir dos
estudos da filsofa americana Carol Gilligan, que inquietou-se ao perceber dois modos de
falar e pensar em relao a mulheres e homens por parte dos pensadores e lsofos
histricos, reforados pelos que publicavam naquela poca, porque reproduziam o modo de
pensar sem se dar conta de que na gnese da produo daqueles conhecimentos havia uma
hierarquizao de saberes, onde a moral e a tica masculinas eram tidas como superiores na
escala estabelecida para as proposies acerca dos sujeitos.
Ela ento volta a ateno de suas pesquisas ao fato de que os sujeitos morais,
propostos na gnese da filosofia moderna, no eram de maneira nenhuma neutros, mas
tinham gnero (GILLIGAN, 1990, p.47). A autora discutiu as diferenas de gnero
especificamente no campo da psicologia e da filosofia da moral. Realizou uma crtica s
pesquisas de Lawrence Kohlberg sobre o desenvolvimento moral, e por conseguinte Jean
Piaget, porque Kohlberg debruava-se sobre as teorias de Piaget na formao de crianas
para explicar o desenvolvimento da moral. Gilligan prope em sua obra a existncia de
diferenas hierarquizadas entre o raciocnio moral feminino e masculino, demonstrando que
tais hierarquias invisibilizam e subalternizam os saberes femininos, considerados de segunda
ordem, ou de menor relevncia nas categorias de anlise destes tericos. Para tanto, ela
busca em seus textos, abrir os conceitos de tica e moral ao cerne, revelando quais so os
requisitos elencados na filosofia e na psicologia para que o sujeito seja considerado em
Pgina
72
consonncia com a tica e a moral estabelecidas, para ao fim, revelar que tais requisitos so
absolutamente masculinos, pois partem de agentes qualificadores que somente tm
atribuio os homens.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Em 1990 Gilligan lana Uma Voz diferente, mostrando que a tica feminina tambm
existe, acontece e se estabelece de forma diferente. A autora avalia a tica e a moral
partindo de perspectivas diferentes. Mulheres e homens, na verdade, nunca partilharam o
mundo em igualdade de condies e, ainda hoje, embora a condio feminina venha
evoluindo, a mulher continua arcando com um pesado fardo, handicap, como nomeia
Beauvior (1980): Mesmo quando os direitos lhes so arbitrariamente reconhecidos, uma
forte presso do hbito impede que a mulher encontre nos costumes expresso concreta de
sua dignidade, respeito e reconhecimento efetivo.
A histria construda e escrita por homens nega s mulheres o direito e o
reconhecimento efetivo de seu lugar e potencial, destinando-lhes o papel de compreensiva e
passiva. Esta condio coloca-nos numa posio na qual proibido reivindicar como sujeito
capaz de ter vontade prpria, por no possuir os meios concretos para tanto. Os perigos e
injustias da dominao e pela falta de respeito para com a diferena so denunciados por
Gilligan. O direito a discernir diante da particularidade de uma cultura dominante, elevada
categoria universal, reivindica um modelo de educar diferente das formas clssicas, que
mantm a estrutura social de dominao dos mais fracos (GILLIGAN, 1990, p.20).
Os estudos de Gilligan esto entre as temticas contemporneas da losofia moral
que buscam apreender e compreender a diferena moral nos principais conflitos das
relaes que envolvem jogos desiguais de fora, seja na esfera de hierarquia ou poder. Os
prprios traos que tradicionalmente tm denido a bondade das mulheres, seu cuidado e
sensibilidade s necessidades dos outros, so aqueles que as assinalam como decientes no
desenvolvimento moral (GILLIGAN, 1990, p.21).
As mulheres parecem mais inclinadas a revelar sentimentos de empatia e simpatia,
seu julgamento mais contextualizado, imerso nos relacionamentos e seus pormenores.
No seria aspecto para uma anlise discriminatria do julgamento e enquadramento moral,
colocando a mulher como fraca ou deciente, mas sim uma manifestao de maturidade
moral que encara o eu como imerso numa rede de relacionamentos com os outros (PEREIRA,
2013, p.47).
Pgina
73
O mais impressionante entre essas diferenas so as imagens de violncia nas
respostas do menino, retratando um mundo de confronto perigoso e conexo explosiva; e a
menina enxerga um mundo de cuidado e proteo, uma vida vivida com outros a quem pode
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
amar tanto ou at mais do que ama a si mesma (PEREIRA, 2013, p. 49). Uma vez que a
concepo de moralidade reete o entendimento de relacionamentos sociais, essa diferena
nas imagens do relacionamento causa uma mudana no prprio preceito moral (GILLIGAN,
1990, p. 50).
O predomnio da violncia na fantasia masculina, como as imagens explosivas no
julgamento moral do menino, est em consonncia com a perspectiva de agresso como
endmica nos relacionamentos humanos. Essas fantasias, segundo a autora, revelam um
mundo onde a conexo fragmentada e a comunicao falha, onde a traio ameaa
porque parece no haver meio algum de saber a verdade, pois para o masculino a verdade
est na lgica e no existe verdade nos relacionamentos pessoais (GILLIGAN, 1990, p. 23).
Ao reivindicar sua inteligncia, sua sexualidade, educao, o movimento feminista
julgava que o seu autodesenvolvimento estaria ligado ao exerccio da razo. Via a educao
como atitude decisiva para as mulheres adquirirem seu prprio controle. Ainda hoje as
questes deste gnero continuam a suscitar o fantasma do egosmo, o medo que a liberdade
para a mulher leve-a ao abandono dos relacionamentos.
Assim, o dilogo entre os direitos e responsabilidades, no seu debate pblico e em sua
representao psquica, focaliza os conflitos causados pela incluso das mulheres no
pensamento sobre responsabilidade e relacionamentos. Ao mesmo tempo em que esse
dilogo elucida alguns dos aspectos mais enigmticos da oposio das mulheres aos
direitos das mulheres, tambm esclarece como o conceito de direito conduz o
pensamento das mulheres sobre conflitos de escolha moral (GILLIGAN, 1990, p.23).
Os referenciais tericos do feminismo da diferena no do conta de que masculino e
feminino devem ser iguais, ser diferente no ruim. Ruim hierarquizar politicamente essa
diferena, excluindo ou diminuindo as mulheres. Wallerstein (2004, p. 01) diz que o
pensamento feminista um pensamento crtico na medida em que ele desconfia das coisas
que nos parecem como naturais, e que esse feminismo deve combater toda a opresso que
se funde numa hierarquizao da diferena.
Mas, antes de pensar sobre diferena pensemos em igualdade. As mulheres querem
igualdades polticas, na concesso de direitos, oportunidades de trabalho, condies de vida,
Pgina
74
igualdade real e simblica em relao aos homens, e se esta relao polarizada,
hierarquizada ou, no mnimo tensa, sinaliza que no h essa equalizao. Ento reivindicar
igualdade no reivindicar ser idntico, e sim o direito de possuir os mesmos patamares de
considerao e relevncia.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Por isso a teoria do feminismo da diferena nos faz pensar que as diferenas no
sejam a causa da reduo do reconhecimento das mulheres. Para Scott (1991, p. 01) a
igualdade um princpio absoluto e uma prtica historicamente contingente. No a
ausncia ou a eliminao da diferena, mas sim o reconhecimento da diferena e a deciso
de ignor-la ou de lev-la em considerao.
Para que sejamos iguais primeiro preciso emergir as diferenas, saber quais e
quantas so, para identificar quais marcadores devem ser respeitados e quais devero ser
nivelados. Nesta esteira de pensamento, o feminismo da diferena nos d suporte para a
avaliao da Lei Maria da Penha como instrumento de visibilidade, empoderamento das
mulheres e equalizao desta hierarquia, pois, no momento em que uma srie de condutas
que j esto enquadradas no Cdigo Penal (agresso, ameaa, etc.) so apartadas em outra
Lei e elevadas a um outro patamar de punio por terem sido cometidas contra um
grupo/sujeito especfico (mulher), tal iniciativa do Estado se torna uma amostra vvida do
que a teoria do feminismo da diferena de Gilligan prope: lana luz diferena para que ela
seja combatida de maneira a se buscar pela simetria.
5. CONSIDERAES FINAIS
imprescindvel lembrar que a teoria de Gilligan refere-se s diferenas existentes
especificamente no campo do raciocnio moral, no desenvolvimento dos sujeitos, na
formao da tica e da moral. Suas pesquisas apontaram para a hierarquizao em razo do
gnero na gnesis destes conceitos, com crticas fortes aos tericos da filosofia histrica, da
psicologia do desenvolvimento, e por conseguinte aos tericos nos quais estes se pautavam,
apontando para a necessidade de uma complementariedade entre as perspectivas femininas
e masculinas. A leitura feita aqui se vale da anlise da Lei Maria da Penha como forma
instrumental do feminismo da diferena para visibilizao deste tipo especfico de violncia,
uma teoria que toma corpo e se constitui como iniciativa do Estado para proteger as
mulheres e punir agressores. Por esta razo preciso aplaudi-la pelo servio que presta em
sua concepo epistemolgica ao feminismo da diferena, visto que traz luz diferenas
Pgina
75
entre violncias e punies tipificadas pelo cdigo penal e violncias em razo do gnero,
que a olho nu seriam idnticas e agora esto evidenciadas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
6. REFERNCIAS
Pgina
76
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal mximo x cidadania mnima: cdigos da
violncia na era da globalizao. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. Vol I e II.Traduo de Sergio Milliet. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1980.
CASTELLS, Manuel. Era da informao, Vol. II - O poder da identidade. So Paulo: Paz e
Terra, 1999.
GILLIGAN, Carol. Uma voz diferente. Traduo de Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Rosa
dos Tempos, 1990.
GILLIGAN, Carol. Joining the Resistance. Cambridge: Polity Press, 2011.
LUSTOSA, Ana Jussara. Violncias e Gnero: Coisas que a gente no gostaria de saber\org.
Patrcia Krieger Grossi, Graziela C. Werba Porto Alegre: EDIPUCRS,2001.
MACHADO, Lia Zanotta. Atender vtimas, criminalizar violncias. Dilemas das delegacias da
mulher. Srie Antropologia, Braslia, v. 319, p. 1-23, 2002.
PEREIRA. Ires Aparecida Falcade. tica do cuidado X tica da Justia: O Olhar Feminino de
Estudantes Privadas de Liberdade. Curitiba, 2013. Dissertao (Mestrado em Educao)
Universidade Federal do Paran, 2013.
SANTOS, Ana Cludia Wendt dos; MORE, Carmen Leontina Ojeda Ocampo.
Repercusso da violncia na mulher e suas formas de enfrentamento. Paidia (Ribeiro
Preto),
Ribeiro
Preto,
v.
21, n.
49, Aug.
2011.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103863X2011000200010&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 25 jan. 2014.
SCOTT, Joan W. O enigma da igualdade. Estudos feministas. Florianpolis, vol. 13
num1. PP. 11-30, janeiro-abril/2005. 1991.
WALLERSTEIN, Valeska. Feminismo como pensamento da diferena. Labrys (estudos
feministas)
janeiro/julho,
2004.
Disponvel
em:
<http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys5/textos/valeskafeminismo.htm.>
Acesso em: 25 jan. 2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A MULHER IDOSA:
o olhar sobre si retratado nas obras de Adlia Prado e Ceclia Meireles
Jaqueline Pizzi Melchior1
Vera Lucia de Souza Garcia2
Valdeci Batista de Melo Oliveira3
1. O INCIO DA VELHICE
Para a Organizao Mundial da Sade a entrada na velhice ocorre a partir dos 60
anos. No Brasil, a Lei n 8.842 de 04 de janeiro de 1994, tambm considera essa idade e
dispe sobre a poltica nacional do idoso e cria o conselho Nacional do Idoso entre outras
providncias. Em 1 de outubro de 2003 o Ministrio da Sade declara que os brasileiros
com mais de 60 anos representam 8,6% da populao e que esta proporo chegar a 14%
em 2025 (32 milhes de idosos). A partir disso, o envelhecimento tornou-se questo
fundamental para as polticas pblicas e por meio da Lei 10.741 criou-se o Estatuto do Idoso
que regula seus direitos para que sejam garantidos assegurando-lhes:
[...] todas as oportunidades e facilidades, para preservao de sua sade fsica e mental e
seu aperfeioamento moral, intelectual, espiritual e social, em condies de liberdade e
dignidade. (BRASIL, MINISTRIO DA SADE, 2003).
Para a Organizao das Naes Unidas (ONU) as condies de um pas que
determinam o incio da velhice. Os pases desenvolvidos tm esse estgio iniciado aos 65
anos, enquanto que os pases em desenvolvimento devem considerar os 60 anos de idade.
Embora haja muitas variveis individuais e sociais a se considerar, a cada poca a sociedade
Pgina
77
Aluna do Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Letras, Nvel de Mestrado Profissional em Letras
PROFLETRAS, UNIOESTE, professora da rede estadual de ensino em Cascavel, PR. E-mail:
jaqueline_pizzi@hotmail.com.
2
Aluna do Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Letras, Nvel de Mestrado Profissional em Letras
PROFLETRAS, UNIOESTE, professora da rede estadual de ensino em Moreira Sales, PR. E-mail:
vera.souza.garcia@hotmail.com
3
Professora Doutora em Literatura lotada no colegiado de Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paran
UNIOESTE, campus Cascavel. E-mail: valzinha.mello@hotmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
estabelece novos critrios para agrupar as categorias etrias. Isso ocorre devido s
mudanas evolutivas a partir de questes biolgicas, sociais, histricas e culturais.
Parece ento difcil teorizar sobre o conceito de velhice quando at mesmo os
critrios mdicos encontram dificuldade, pois, uns demarcam o perodo da aposentadoria,
outros apontam o surgimento dos primeiros sinais de debilidade ou dependncia. Se
considerarmos o contexto cultural, encontraremos sociedades como os orientais, que
respeitam e valorizam o idoso em oposio sociedade brasileira contempornea onde os
velhos necessitam de leis para garantir os seus lugares.
Na sociedade mundial, diversos estudiosos e pesquisadores determinaram
parmetros para assinalar a velhice. Entre eles, Durigan e Queiroz, (2005, p. 114) que a
definem como um conceito genrico e abstrato em que esto includas pessoas com 60
anos ou mais que passou a existir a partir do sculo XVII, com a instituio da cincia do
evolucionismo. Nesse sentido, Costa (1998) argumenta que, por estar inserido num campo
de valores, ainda um tema muito difcil de ser enfrentado, seja para os mais jovens ou para
o prprio idoso, que, na maioria das vezes, passa a se sentir intil ao perceber suas
capacidades fsicas diminudas, sua sade fragilizada a ponto de no conseguir mais definir
um papel social que permita preservar a sua prpria imagem de cidado cumpridor de seus
deveres.
Norberto Bobbio, jurista e filsofo italiano, nascido em 1909, que se autodeclarou
filho do sculo XX, escreveu: O mundo dos velhos, de todos os velhos, , de modo mais
ou menos intenso, o mundo da memria. Bobbio (1997). Esse autor, que adentrou aos 80
anos de idade ao mesmo tempo em que saiu do sculo XX retratou bem a esttica da velhice
para muitos velhos. E sobre a prpria velhice, depois de comparar o status social do velho
nas sociedades antigas e no mundo contemporneo e de buscar explicaes para a
mudana, constatou que a segurana, o conforto e o refgio do idoso so as suas
Pgina
78
lembranas do passado, e disse sobre si mesmo:
Tenho uma velhice melanclica, a melancolia subentendida como a conscincia do norealizado e do no mais realizvel. A imagem da vida corresponde a uma estrada cujo fim
sempre se desloca para frente, e quando acreditamos t-lo atingido, no era aquele que
imaginramos como definitivo. A velhice passa a ser ento o momento em que temos
plena conscincia de que o caminho no apenas no est cumprido, mas tambm no h
mais tempo para cumpri-lo, e devemos renunciar realizao da ltima etapa. (BOBBIO,
1997, p. 31)
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Buscamos ento em Freud, o criador da psicanlise, alguns dados que nos aproximam
de suas ideias sobre a velhice e de seu prprio processo de envelhecimento. preciso
lembrar que sua produo intelectual foi influenciada pelos acontecimentos trgicos em sua
vida pessoal, como o fato de ser um judeu em uma sociedade antissemita que lhe negou o
direito de escolha entre todas as carreiras profissionais podendo optar apenas entre
Medicina e Direito. Ao optar pela medicina, aproximou-se ainda mais do contexto social e
poltico de um mundo devastado por guerras, fome, violncia e doenas.
Para Freud a velhice ocorreria por volta dos 50 anos:
Em uma idade prxima aos 50 anos criam-se condies desfavorveis psicanlise. A
acumulao de material psquico dificulta o trabalho, o tempo necessrio para a
recuperao torna-se longo demais e as possibilidades dos processos psquicos acharem
novos caminhos comeam a se paralisar. (REVISTA KAIRS, 2000)
Tal citao Freud fez por volta de seus 47 anos e apenas um ano mais tarde declarou
ainda que os velhos no so educveis, pois, as pessoas prximas dos 50 anos
necessitavam de uma plasticidade dos processos anmicos para que sua relao com os
tratamentos analticos pudesse ser empreendidas. Isso revelava seu posicionamento
contrrio aplicao do mtodo psicanaltico em pessoas idosas. Foi apenas em 1937, aos
seus 81 anos, que ele reconheceu que esses fenmenos, que impediam a aplicabilidade da
psicanlise, como a resistncia a mudanas, a rigidez, o esgotamento da plasticidade e
flexibilidade, estavam muito mais ligados ao quadro clnico apresentado pelo paciente do
que com sua idade cronolgica.
Os ltimos anos de vida foram difceis para Sigmund Freud. O luto pela morte de seus
pais, de dois de seus filhos homens, de sua filha Sophie e posteriormente de seu neto mais
prximo Heinelle, vtima de tuberculose aos quatro anos. Tudo isso somado ao cncer na
boca e mandbula que o fez passar por mais de 33 cirurgias e usar uma prtese que
dificultava sua comunicao, fez com que o pai da psicanlise se sentisse mais prximo da
Pgina
79
morte:
[...] Como as pessoas velhas devemos ficar contentes quando a balana quase se
equilibra entre a inevitvel necessidade de descanso final e o desejo de aproveitar ainda
um pouco de amor e amizade dos que lhes so prximos. Creio ter descoberto que essa
necessidade de repouso no algo elementar e primrio, mas expressa o desejo de se
livrar de um sentimento de insuficincia em detalhes dos mais significativos da
existncia.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Contudo essa declarao feita aos 77 anos de vida, no significava que ele se sentia
velho, mas, sim esgotado pelo sofrimento que a vida lhe imputara. Aos 82 anos ainda,
apesar de muita resistncia em deixar a casa onde viveu por mais de 40 anos em Viena, as
perseguies da Alemanha hitlerista, o obrigaram a mudar-se para Londres com sua filha
Anna onde, at os 83 anos, continuou trabalhando sem cessar e escreveu at o fim de sua
vida, em 23 de setembro de 1939. Essa breve descrio de parte de sua biografia, revela que
seu processo de envelhecimento foi marcado por muita tristeza e dor, no entanto,
continuou ativo, criativo e interessado em seu trabalho cientfico posicionando-se superior
forma destrutiva que as circunstncias lhe ocorreram.
Costa (1998, p. 19) em seus estudos, apontou que os filsofos pr-socrticos j
falavam da velhice. Um deles, Demcrito de Abdera, chegou a dizer: Velhice mutilao
total: tudo tem e de tudo carente. Esse julgamento rigoroso, essa viso unilateral que
vem desde a antiguidade, faz com que o idoso seja visto por ele mesmo como atrasado,
nostlgico, maante e de muitas outras maneiras negativas; no se dando nem mesmo o
direito de buscar situaes novas, comum ouvir o idoso dizer sou velho demais para fazer
coisas novas (COSTA, 1998, p.19-20).
Para Brandini (2003), falar de envelhecer envolve inevitavelmente falar da finitude
existencial, nica certeza do ser humano. Morrer inerente ao processo da vida, do mesmo
modo que o nascimento, o crescimento e a morte.
Mas e a morte social? Aquela propiciada pelo prprio modo de vida a que se resigna
um ser? Se considerarmos o contexto cultural, encontraremos sociedades como as orientais,
que respeitam e valorizam o idoso em oposio sociedade brasileira contempornea onde
os velhos no tm um lugar, onde os velhos acabam colocados a um canto, preterido por
tudo o que novo.
Na realidade, essa viso calcada no social, sobre o velho ser intil se firmou em
nosso meio, tendo em vista que a sociedade valoriza ao extremo o novo, o belo. Isto o
ideal para a manuteno do consumismo exacerbado. A beleza e a juvenilidade so
caractersticas que alimentam a indstria do consumo. Opostamente a tudo isso est a
Pgina
80
velhice. Nas palavras de Bosi (2003, p. 73), quando se vive o primando da mercadoria sobre
o homem, a idade engendra desvalorizao.
As estatsticas no Brasil e no mundo exibem uma predominncia da populao
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
feminina entre os idosos e, este fenmeno uma realidade numrica constatada
internacionalmente na literatura, por estudos sociodemogrficos. H no mundo, cerca de
302 milhes de mulheres e 247 milhes de homens com 60 anos de idade ou mais. (VERAS,
2002)
2. O MITO DE NARCISO E O EU-VELHO
Da Mitologia Grega, conhecemos Narciso, jovem de rara beleza, filho do rei Cfiso e
da ninfa Lirope. Aps seu nascimento, Tirsias profetizou que ele viveria por muito tempo
se no tivesse conhecimento de sua beleza. Seu pai quebrou todos os espelhos da casa e
providenciou apenas um, onde o rapaz tinha sua imagem distorcida. Mesmo assim, sua
beleza era tal, que o arrogante jovem nunca largava seu espelho e mulher alguma bastava
sua vaidade. Um dia, aps uma cansativa caada, Narciso aproximou-se de um lago de guas
lmpidas e cristalinas e ao defrontar-se com sua imagem refletida nas guas encantou-se
com tamanha beleza. Apaixonou-se por aquilo que imaginava ser outro algum e como a
imagem no correspondia ao seu amor, diz o mito que ele definhou lentamente beira do
lago at que sua sobra infeliz viajasse ao pas das trevas onde ainda uma ltima vez se olhou
no rio Estige.
Conforme a previso de Tirsias, Narciso no chegou velhice porque conheceu sua
imagem. Freud concebia o narcisismo como um estado normal no processo da constituio e
do desenvolvimento psquico. O narcisismo infantil coincide com a constituio do ego
enquanto unidade psquica e representao corporal. A criana toma a si prpria como
objeto de amor, numa espcie do que Freud chamou de narcisismo primrio.
Em 1936, Jacques Lacan enriquece as reflexes freudianas sobre o narcisismo com
seu trabalho sobre o estdio do espelho. Tal reflexo revelava a dialtica entre a alienao
e a subjetivao e a partir disso, Lacan elaborou o registro do imaginrio como um dos trs
registros psquicos. Entre os seis meses e os dois anos e meio, a criana ao ver sua imagem
refletida pelo espelho no percebe a totalizao de seu corpo e sofre uma alienao
imaginria. A imagem que a criana v, vista por outro (a me) que a nomeia e a
Pgina
81
reconhece, permitindo ao beb que se reconhea como tal. A criana se identifica atravs
desse outro com a imagem que, apesar de ser sua, a de outro que representa um espelho.
Na concepo lacaniana, a imagem ideal de si mesma vai se confundir com a imagem do
semelhante e constituir seu ego ideal.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Para o idoso, sua imagem refletida no espelho marcada por perplexidade e
estranhamento. A imagem refletida , ao mesmo tempo, de si e de outro externo. o
mesmo sujeito em idades diferentes tentando se reconhecer. A velhice se torna difcil de
assumir. Ser que nos tornamos outra pessoa ao envelhecer? Recorremos novamente a
Freud em uma passagem de seu artigo O Estranho (1919):
Posso contar uma aventura semelhante que ocorreu comigo. Estava eu sentado sozinho
no meu compartimento no carro-leito, quando um solavanco do trem, mais violento do
que o habitual, fez girar a porta do toalete anexo, e um senhor de idade, de roupo e
bon de viagem, entrou. Presumi que ao deixar o toalete, que ficava entre os dois
compartimentos, houvesse tomado a direo errada e entrado no meu compartimento
por engano. Levantando-me com a inteno de fazer-lhe ver o equvoco, compreendi
imediatamente, para espanto meu, que o intruso no era seno o meu prprio reflexo no
espelho da porta aberta. Recordo-me ainda que antipatizei totalmente com a sua
aparncia. (FREUD, 1919, p.309)
Na velhice, a autoestima fundamental e isso significa gostar de si mesmo, gostar
daquilo que se , aceitando o equilbrio entre potencialidades, habilidades e limitaes. O
cuidado pessoal um importante indicador de autoestima elevada, mas, os valores sociais
contemporneos e o preconceito acerca do envelhecer exercem um impacto muito grande e
negativo sobre a autoestima dos idosos. Sobretudo para a mulher idosa, que ao se basear no
padro de beleza da juventude exerce uma avaliao negativa de si mesma.
Simone de Beauvoir foi uma das primeiras autoras a eleger o estado da velhice como
tema para reflexes. Sua obra A velhice, publicada em 1970 denunciava que tal como as
mulheres foram subjugadas ao segundo sexo, os velhos so por sua vez, relegados quase
inexistncia. Ao tratar da imagem que o idoso tem de sim mesmo adverte que:
[...] para reencontrar uma viso de ns mesmos, somos obrigados a passar pelo outro:
como esse outro me v? Pergunto-o ao meu espelho. A resposta incerta: as pessoas
nos veem, cada uma sua maneira e nossa prpria percepo, certamente, no coincide
com nenhuma das outras. (BEAUVOIR, 1990, p.363)
Para a autora, a velhice se configura como um processo de sucessivas transformaes
que se concretizam na vivncia e experincia que se acumulam ao longo dos anos, pois nada
mais previsvel que a velhice.
Pgina
82
Envelhecer um processo dinmico e contnuo inerente vida. A velhice nos remete
nossa prpria historicidade, memria. Em sua obra Memria & Sociedade: lembrana de
velhos, da historiadora da USP, Ecla Bosi, a autora afirma: no pretendi escrever uma obra
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
sobre memria, nem uma obra sobre velhice. Fiquei na interseco dessas realidades: colhi
memrias de velhos. (BOSI, 1994, p.19).
As histrias de suas personagens revelam que a funo social exercida ao longo da
vida ocupa uma parte significativa da memria dos velhos e isso no gratuito. Na velhice a
memria uma construo de pessoas que j trabalharam e agora esto envelhecidas. As
narrativas so de homens e mulheres que j no participam ativamente da sociedade,
entretanto, j o fizeram e por isso tornam-se a memria da famlia, do grupo, da sociedade
que aprendem com eles a partir do que viveram e realizaram, porm, a sociedade tende a
valorizar o conhecimento tecnolgico em detrimento da sabedoria acumulada e assim os
valores da juventude foram sendo mais valorizados.
3. A MULHER IDOSA INSCRITA EM VERSOS: O poema Pscoa de Adlia Prado
Nossa anlise busca referncias sobre a condio da mulher idosa, mas, esta
muito pouco referenciada nos estudos publicados e novamente em Simone de Beauvoir
que encontramos descritas particularidades do mundo feminino:
Enquanto ele envelhece de maneira contnua, a mulher bruscamente despojada de sua
feminilidade; perde, jovem ainda, o encanto ertico e a fecundidade de que tirava aos
olhos da sociedade e a seus prprios olhos, a justificao de sua existncia e suas
possibilidades de felicidade: cabe-lhe viver, privada de todo futuro, cerca de metade de
sua vida de adulta.(BEAUVOIR, p.342)
A autora ainda afirma que a crise da idade sentida com menos intensidade pelas
mulheres que no apostam muito em sua feminilidade, as que trabalham duramente em
seus lares ou fora deles, sentem-se na verdade aliviadas com o desaparecimento da
menstruao e do risco de engravidar. No o que ocorre com o eu-lrico feminino revelado
no poema Pscoa de Adlia Prado: Velhice/ um modo de sentir frio que me assalta/ e uma
certa acidez./ O modo de um cachorro enrodilhar-se/quando a casa se apaga e as pessoas se
deitam./Divido o dia em trs partes:/a primeira para olhar retratos,/ a segunda para olhar
espelhos,/a ltima e maior delas para chorar./Eu, que fui loura e lrica,/ no estou
pictural./Peo a Deus, /em socorro da minha fraqueza, /abrevie esses dias e me conceda um
Pgina
83
rosto
/de velha me cansada, de av boa, /no me importo. Aspiro mesmo/ com
impacincia e dor./ Porque sempre h quem diga /no meio da minha alegria: /pe o
agasalho/tens coragem?/por que no vais de culos? /Mesmo rosa sequssima e seu
perfume de p,/ quero o que desse modo doce,/ o que de mim diga: assim .
/Pra
eu
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
parar de tremer e posar para um retrato, /ganhar uma poesia em pergaminho.(PRADO,
1991)
Logo nos primeiros versos, ela descreve essa idade desejada e no desejada como:
um modo de sentir frio que me assalta / e uma certa acidez / O modo de um cachorro
enrodilhar-se /quando a casa se apaga e as pessoas se deitam.. possvel perceber a dor de
se sentir velha, dado que a constatao do momento feita por meio de expresses como
frio que assalta, acidez, cachorro a enrodilhar-se na solido da noite quando todos se
foram e a luz se apagou.
Ao longo do seu poema, a autora vai construindo a imagem que a mulher tem de si
neste momento de velhice a partir de metforas que fornecem ao leitor a percepo de que
envelhecer um mergulhar constante, profundo e triste na memria, como podemos
perceber nos versos que seguem: Divido o dia em trs partes: / a primeira para olhar
retratos, volver o passado; a segunda para olhar espelhos,, constatar perdas fsicas; a
ltima e maior delas para chorar., amargurar as perdas, num constante chorar o que se foi.
Os versos refletem a dor da perda da juvenilidade. A esttica da velhice delineada como a
queda da beleza. Beauvoir nos conta que no incio da Renascena, fins do sculo XIV, a
beleza fsica passou a ser um dos parmetros de valorizao e respeito, assim, o velho por
no possuir um corpo parecido com o idealizado passou a ser considerado feio e
repugnante. Isso persiste na sociedade contempornea onde a valorizao do belo levada
ao contrassenso de, no Brasil, termos atingido o perigoso status de pas em que mais se faz
cirurgias plsticas na atualidade, 100 mil cirurgias anuais, segundo Munir Curi, presidente da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plstica. Uma verdadeira escravido anatomia. Tudo em
busca de um corpo perfeito.
Nos versos de Adlia vemos a amargura da perda da beleza na voz entrecortada do
eu-lrico: Eu, que fui loura e lrica,/no estou pictural.. Aqui percebemos que a expresso
sentimental pode ser elevada da particularidade do eu lrico universalidade do ser
humano. A inevitvel velhice que todos os seres humanos, iremos passar, exceto se
morrermos jovens.
Pgina
84
A exposio do estado de velhice, no poema, parece traada como um momento em
que a mulher despida dos encantos da juventude. O problema da idade, como um tabu
feminino, algo a ser velado, como a nossa cultura de culto aparncia. A velhice
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
delineada como uma queda da estrela. Constatar-se feia e reconhecer o estranho de
considerar uma idade no desejada, porm inevitvel. E ento vem o pedido, marcado de
religiosidade e resignao. Peo a Deus,/ em socorro da minha fraqueza,/abrevie esses dias
e me conceda um rosto/ de velha me cansada, de av boa, no me importo. Aspiro
mesmo/ com impacincia e dor.
Vemos as marcas do querer se livrar dessa memria que fere porque no mais
existe o ser lindo e pictural. Em seu lugar est a velhice difcil de aceitar. Por isso o eu lrico
pede ajuda a Deus para se conformar a esse lugar/tempo de ser velho, de acordo com os
parmetros que vigora no social. A me idosa e bondosa idem a av. Sabemos a figura
materna alvo de uma apreenso de traos espirituais, no fsicos. Por isso, o pedido
mesmo de apagar a memria, esta que tem a funo de ponte entre o que fomos o que
somos e o que queremos ser. Para Sterne (in BOSI, 1994, p. 68):
A funo da lembrana conservar o passado do indivduo na forma que mais
apropriada a ele. O material indiferente descartado, o desagradvel, alterado, o pouco
claro ou confuso simplifica-se por uma delimitao ntida, o trivial elevado hierarquia
do inslito; e no fim formou-se um quadro total, novo.
As palavras do eu lrico nos ltimos versos corroboram essa aluso feita acima:
Mesmo rosa sequssima e seu perfume de p,/ quero o que desse modo doce,/ o que de
mim diga: assim ..
Ao enfrentar a realidade do estado de velhice em conformidade ao papel
socialmente reservado ao velho, ser velho, o eu lrico talvez possa parar de tremer e posar
para um retrato,/ ganhar uma poesia em pergaminho. Aqui claramente vemos a tentativa
de se despojar da esttica da juventude para reconstruir-se, no agora, construindo para si
uma esttica da velhice.
Sobre essa ideia Bosi (1994) afirma que a cincia que temos de velhice deriva mais da
luta de classes que do conflito de geraes. preciso mudar a vida, recriar tudo, refazer as
relaes humanas doentes para que os velhos no sejam uma espcie estrangeira. Para que
nenhuma forma de humanidade seja excluda da humanidade que as minorias tm lutado,
Pgina
85
que os grupos discriminados tm reagido (BOSI, 1994, p.81).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
4. A ESCRITA DA MULHER INSCREVENDO A ESTTICA DA VELHICE NO POEMA
RETRATO DE CECLIA MEIRELES
A viso literria do estado de velhice pode ser constatada nos versos do poema
Retrato, de Ceclia Meireles, quando o eu lrico faz um retrato de si prprio, constatando
as mudanas, as transformaes psicolgicas e fsicas pelas quais foi passando ao longo da
vida. uma exposio ao estado de velhice, como um momento em que ela, a velhice,
mostrada em sua crueza, despojada de todos os encantos de juventude, captada,
simbolicamente na estaticidade do poema, no presente retrato ali observado: Eu no tinha
este rosto de hoje, /assim calmo, assim triste, assim magro, /nem estes olhos to vazios,
/nem o lbio amargo./Eu no tinha estas mos sem fora, /to paradas e frias e mortas;/eu
no tinha este corao/que nem se mostra./Eu no dei por esta mudana, /to simples, to
certa, to fcil:/- Em que espelho ficou perdida/a minha face?
O ontem e o hoje estruturam inicialmente o poema de Meireles. Os versos iniciais:
Eu no tinha este rosto de hoje,/assim calmo, assim triste, assim magro,/ nem estes olhos
to vazios,/ nem o lbio amargo. mostram a comparao entre o que est na memria do
eu-lrico e o que est diante dele, aparentemente num espelho, sob um olhar que passa a
compor o retrato presente do eu lrico agora velho. As transformaes externas acarretam
mudanas internas, vazio no olhar, lbios amargos.
A escrita em primeira pessoa mostra o eu lrico descrevendo seu prprio semblante,
o rosto que ele no reconhece mais como sendo o seu, propondo a temtica da
transitoriedade da vida, tanto fsica quanto psicolgica. Podemos notar a melancolia do eu
lrico ao fazer essa comprovao no segundo verso, em que a repetio dos adjetivos sugere
uma alterao da personalidade consciente, como em assim calmo, assim triste, quanto
uma transformao do exterior fsico, assim magro. No terceiro verso, ainda na primeira
estrofe, a constatao continua acontecendo pela percepo de seus olhos to vazios e lbio
amargo, provavelmente por experincias angustiantes que no so mencionadas (MEIRELES,
1939, p. 21).
Ao ir delineando as partes externas do corpo, primeiro o rosto, depois as mos: Eu
Pgina
86
no tinha estas mos sem fora,/ to paradas e frias e mortas; o eu lrico se compe ao
compor a descrio das alteraes significativas de suas mos. Simbolicamente, as mos
foram outrora coragem e batalha. Mas o tempo, a velhice, levou a eficcia delas. Aqui vemos
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
a fugacidade do tempo, a distncia entre o passado e o presente, as perdas antes no
sentidas. As mos esto estagnadas e inteis, parecem que no tem consistncia para se
agarrar mais aos sonhos como antigamente. O tom, assim, melanclico sereno, sem
chegar ao desespero da lgrima. H uma conscincia fria do eu lrico sobre essas
modificaes ocorridas dentro de si mesmo, ele no mais a mesma pessoa de antes. A
mudana visvel tanto fisicamente quanto psicologicamente.
Ao anunciar o estado do seu corao, o eu lrico se expe constatando: eu no tinha
este corao/ que nem se mostra.. No h lamento. H dura constatao da condio agora
afrontada. Nestes versos da segunda estrofe, os sentimentos que, anteriormente eram
expostos, agora esto retrados e camuflados, indicando a luta interna para entender a si
mesmo e o medo de transparecer-se para o social.
O uso das imagens visuais com as palavras rosto, calmo, triste, magro,
olhos, lbios, mos, espelho, face e as imagens do paladar e do tato em amargo,
fora, parada, fria, morta, expem as mudanas subjetivas do eu lrico que est
desvendando seu estado de velhice agora consciente.
Em seu trabalho, Jung (2000) escreve que a conscincia no alcana a totalidade da
psique; o homem no consciente de tudo que acontece com ele e com os outros ao seu
redor, pois inmeros acontecimentos ocorrem em um estado de semiconscincia ou de
inconscincia. Assim ocorre com as transformaes ocorridas no eu lrico. Eu no dei por
esta mudana,/to simples, to certa, to fcil:/ Em que espelho ficou perdida a minha
face? Com a velhice pode ser assim. A percepo pode ser demorada. E quando vem, pode
chocar.
Na terceira estrofe, verificamos que o tom melanclico ainda persiste, mas com um
sutil tom esperanoso, mesmo com a reafirmao do sentimento de perplexidade por no
ter notado a passagem do tempo. A fugacidade do tempo fsico o smbolo de passagem da
vida e da morte. A morte est intimamente relacionada com a morte da figura juvenil. Em
processo de individuao realiza um renascimento simblico da pessoa, agora velha que
vai se deparar com questes disfaradas por ns mesmos.
Pgina
87
Por fim, o retrato uma das formas de registro do tempo, mantendo a beleza e a
juventude, retratando um tempo completamente diferente do atual. Podemos correlacionar
com a simbologia do espelho, objeto que reflete o presente; no momento em que se olha, o
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
outro obrigado a deparar-se consigo mesmo. Na poesia, a dualidade passado/presente
est presente nessa relao simblica, mostrando as modificaes apreendidas pelo
indivduo. No instante em que nos deparamos com um espelho e com um retrato, somos
forados a refletir sobre a nossa condio e sobre os nossos anseios. o encontro dos
mundos o que fomos e o que somos. Est estabelecido assim o olhar sobre ns mesmos ao
nos depararmos com nossa velhice.
5. CONSIDERAES FINAIS
A velhice um estgio da vida que exige do ser humano muita maturidade social e
equilbrio. Tratando-se da mulher idosa, esse equilbrio ameaado por padres de beleza
impostos culturalmente pela sociedade e internalizados na mulher desde a infncia. Os dois
poemas lidam com o problema da idade como um tabu do universo feminino e imprimem o
sentimento que acompanha essa fase da vida da mulher. O envelhecimento visto como
algo negativo em ambos os poemas.
Embora esse tema seja muito discutido na sociedade contempornea, a cada dia,
mais e mais mulheres buscam negar a idade por meio de recursos plsticos ou cosmticos.
Em Retrato, o eu-lrico no se reconhece no espelho e em Pscoa busca um renascer na
velhice, ser uma outra pessoa j que no pode mais ser jovem.
Pgina
88
6. REFERNCIAS
BEAUVOIR, Simone de. A Velhice. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1990.
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo II A Experincia Vivida. So Paulo, Difuso Europeia
do Livro, 1967.
BOSI, Ecla. Memria e sociedade - lembranas de velhos. 3ed. So Paulo: Cia das Letras,
1994.
BOBBIO, Norberto. O tempo da memria: De senectude e outros escritos autobiogrficos. Rio
de Janeiro: Campus, 1997.
BRANDINI, M. O ciclo de vida representado nas pginas dos almanaques. In O. R.de M. Von
Simson; A. L. Neri & M. Cachioni (Orgs.), As mltiplas faces da velhice no Brasil (pp.
55-76). Campinas: Alnea, 2003.
BRASIL. Ministrio da Sade, 2003.
BRASIL. Lei n 8.842 de 04 de janeiro de 1994.
BRASIL. Lei n 10.741de 1 de outubro de 2003.
COSTA, E.M.S. Gerontodrama: a velhice em cena. So Paulo: gora, 1998.
DURIGAN, M. & QUEIROZ, I. A. Discurso sobre a velhice: da campanha da fraternidade ao
Estatuto do idoso. In: GUERRA, V. M. L. Olhares interdisciplinares na investigao sobre
linguagem. Cuiab: Editora Unemat, 2005.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
89
JUNG, Carl Gustav. Os arqutipos e o inconsciente coletivo. Petrpolis: Vozes, 2000.
MEIRELES, Ceclia. Viagem: poesia - 1929-1937. Lisboa: Ed. Imprio, 1939.
VERAS, R. P. A era dos idosos. (2002). Disponvel em: http:www.arruda.rits.org.br.
Acessado em: 7 de agosto de 2014.
DUARTE, Constncia Lima; ASSIS, Eduardo de; BEZERRA, Ktia da Costa. (orgs) Gnero e
representao na literatura brasileira: ensaios. Belo Horizonte: Ps Graduao em Letras
Estudos Literrios: UFMG, 2002.
FRANCHINI, A.S.; SEGANFREDO, Carmem. As 100 melhores histrias da mitologia: deuses,
heris, monstros e guerras da tradio greco-romana. Porto Alegre: L&PM, 2007.
FREUD, Sigmund. (1914). Sobre o Narcisismo: uma introduo. In: Obras completas. Direo
e traduo de Jayme Salomo. Rio de Janeiro: Imago, 1970, v.14
______. (1919). O Estranho In: Obras completas. Direo e traduo de Jayme Salomo. Rio
de Janeiro: Imago, 1970, v.17
PRADO, Adlia. Poesia Reunida. So Paulo. Siciliano, 1991.
REVISTA KAIRS: gerontologia/ Ncleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento. Programa
de estudos ps-graduados em gerontologia. PUC, So Paulo. Ano 1,n 1. So Paulo: EDUC,
1998.
REVISTA KAIRS: gerontologia/ Ncleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento. Programa
de estudos ps graduados em gerontologia. Envelhecimento: rumo ao novo paradigma.
PUC, So Paulo. Ano 3,n 3. So Paulo: EDUC, 2000.
LACAN, Jacques. Escritos. Traduo de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A VIOLNCIA CONTRA A MULHER EM TERMOS DE DECLARAO
Carmen Terezinha Baumgrtner1
Josiane Jabovski Smiderle2
Patrcia Cristina Capelett3
1. INTRODUO
Este trabalho aborda, de modo amplo, a violncia contra a mulher a partir de relatos
presentes em Termos de Declarao (TD), redigidos entre 2011 e 2012 e coletados em uma
Delegacia de Polcia do oeste paranaense. Justifica-se o presente estudo porque se busca
investigar que formas de violncia as mulheres tm sofrido atualmente nessa regio
agresses que continuam a acontecer mesmo aps a implementao da Lei Maria da Penha.
Primeiramente, aps definir o que se entende por violncia e explicitar as formas
pelas quais ela pode se apresentar na sociedade, procura-se fazer comentrios a respeito da
dinmica da organizao social e familiar e sobre os ciclos da violncia contra a mulher. Este
artigo se apoia em informaes expressas em documentos emitidos pelo Ministrio da
Sade, a fim de expor alguns dos motivos que podem contribuir para a ocorrncia de atos
violentos contra a mulher e que podem estar envolvidos nos casos atestados nos Termos de
Declarao.
Na sequncia, explicita-se um modelo de TD com o fim de apontar caractersticas
estruturais do gnero. So tecidas ento consideraes sobre o corpus do trabalho quanto
aos fatos expressos nos textos e as atitudes tomadas pelas declarantes. Por fim, pretende-se
indicar brevemente alguns dos programas existentes e aes desenvolvidas em prol da
erradicao da violncia contra a mulher.
Pgina
90
Docente doutora do Curso de Letras, do Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Letras - Mestrado
Profissional/PROFLETRAS, e do Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Letras/PPGL, na Universidade
Estadual do Oeste do Paran - UNIOESTE. E-mail: carmen.baumgartner@yahoo.com.br
Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paran
(UNIOESTE). E-mail: josianesmiderle15@hotmail.com.
Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paran
(UNIOESTE). E-mail: patriciacapelett@hotmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
2. FORMAS DE VIOLNCIA
Neste trabalho, toma-se a violncia como o uso proposital da fora, um fenmeno
humano, social e histrico diferente da atuao, prpria de animais e da natureza, os quais
no projetam aes, nem conferem funes a objetos. As ocorrncias violentas no mundo
animal visam somente prpria defesa ou saciao da fome (MIRALES, 2013).
Corrobora-se a viso de que a violncia [...] toda prtica e toda ideia que reduza
um sujeito condio de coisa, que viole interior e exteriormente o ser de algum, que
perpetue relaes sociais de profunda desigualdade econmica, social e cultural (CHAU,
1998 apud MIRALES, 2013, p. 26). A prtica da violncia tem por finalidade a dominao da
conscincia da pessoa por meio da execuo de aes que incidem sobre o seu corpo.
Tomando-se especificamente a violncia contra a mulher, entende-se que o termo
abrange as aes de controle exercidas sobre o grupo das mulheres com o auxlio de fora
fsica ou psicolgica, num esforo de coisificao desses indivduos, sendo a violncia fsica
uma das reclamaes mais recorrentes atendidas em postos de servio a mulheres
(MIRALES, 2013).
So diversos os modos pelos quais a violncia domstica e familiar contra a mulher
pode tomar forma. De acordo com o artigo 7, da Lei n 11.340/2006, a violncia pode ser
Pgina
91
fsica, psicolgica, sexual, patrimonial ou moral:
I - a violncia fsica, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou
sade
corporal;
II - a violncia psicolgica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuio da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas aes, comportamentos,
crenas e decises, mediante ameaa, constrangimento, humilhao [...] ou qualquer
outro meio que lhe cause prejuzo sade psicolgica e autodeterminao;
III - a violncia sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a
manter ou a participar de relao sexual no desejada, mediante intimidao, ameaa,
coao ou uso da fora; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a
sua sexualidade, que a impea de usar qualquer mtodo contraceptivo ou que a force ao
matrimnio, gravidez, ao aborto ou prostituio, mediante coao, chantagem,
suborno ou manipulao; ou que limite ou anule o exerccio de seus direitos sexuais e
reprodutivos;
IV - a violncia patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure reteno,
subtrao, destruio parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econmicos [...];
V - a violncia moral, entendida como qualquer conduta que configure calnia,
difamao ou injria (BRASIL, 2006, p. 2-3).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A violncia contra a mulher consiste em qualquer ao ou omisso (de agresso,
coero ou discriminao) realizada em qualquer espao fsico, resultando em danos ou
morte para a vtima, em virtude de esta ser mulher. Essa violncia pode se desdobrar ainda
em violncia de gnero (que ocorre em um sistema social no qual a mulher subordinada),
domstica (que acontece no ambiente domstico ou que envolve uma relao de
familiaridade ou afetividade) e familiar (que se d entre os membros da comunidade
familiar) (FORMAS..., s. d.).
A violncia intrafamiliar mais abrangente do que a violncia domstica, pois
envolve pessoas que convivem no ambiente domstico, sem qualquer funo parental.
Trata-se de qualquer tipo de relao de abuso cometido no mbito da famlia, dentro ou fora
de casa, por um de seus membros, incluindo aqueles que desempenham uma funo
parental, de poder, mas no compartilham laos de consanguinidade com os demais
integrantes da famlia. A violncia intrafamiliar compreende [...] toda ao ou omisso que
prejudique o bem-estar, a integridade fsica, psicolgica ou a liberdade e o direito ao pleno
desenvolvimento de outro membro da famlia (BRASIL, 2002, p. 15).
A violncia intrafamiliar se apresenta tanto como um problema de sade pblica
quanto como um empecilho para o desenvolvimento social, representando uma violao aos
direitos humanos (BRASIL, 2002).
3. RELAO ENTRE VIOLNCIA E ORGANIZAO DA SOCIEDADE PATRIARCAL
A violncia contra a mulher, especialmente a intrafamiliar, revela as dinmicas de
poder e afeto desenvolvidas no contexto da famlia, em que se constituem relaes de
subordinao e dominao entre seus membros. Esse panorama est associado ao sistema
de diviso sexual do trabalho construdo culturalmente a partir das necessidades de
organizao da sociedade patriarcal, em cujo mbito o homem buscava controlar a vida
sexual e reprodutiva da mulher como forma de assegurar seu prprio patrimnio e sua
descendncia.
Foi a partir dessa diviso que se comeou a associar sexo a determinados atributos,
Pgina
92
os quais, apesar de serem traos culturais, foram sendo compreendidos como caractersticas
inatas ao homem e mulher. O hbito de pensar [...] que a mulher frgil e dependente do
homem ou que o homem o chefe do grupo familiar pode levar as pessoas a conclurem
que natural que os homens tenham mais poderes que as mulheres [...] (BRASIL, 2002, p.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
15). Tal concepo permeou o autoritarismo do homem, levando a crer que a violncia
contra a mulher seria uma prtica natural. Esse pensamento se arraigou na cultura de tal
modo que muitos homens no se reconhecem(ram) como pessoas violentas ao passo que
muitas mulheres no se percebem(ram) enquanto vtimas desse abuso de poder (BRASIL,
2002).
De acordo com Mirales (2013), a violncia contra a mulher um acontecimento
social que se encontra marcado pelo sistema patriarcal, cujos mecanismos de reproduo
so responsveis por servir de sustentculo para os casos de masculinidade agressiva.
A masculinidade, quando se manifesta agressiva, tambm encontra sustentao nos
meios de (re)produo patriarcal que [...] compe a subalternidade das mulheres. A
violncia contra mulheres [...] encontra ambiente favorvel nos espaos domsticos e,
por meio dela, tornam-se as mais comuns formas de subalternidade de gnero e
geracional. Melhor precisando, a violncia domstica derivada de conflitos, os quais
ocorrem em espaos de convivncia e moradia e tambm em outros ambientes, entre
indivduos que convivem e tm relao amorosa ou de parentesco (MIRALES, 2013, p.
33).
Pesquisas apontam que o homem tem frequentemente aparecido como o autor de
abusos fsicos e sexuais contra mulheres. Tal conduta remete a um contexto que dita as
regras para a construo da virilidade (BRASIL, 2002). O homem se v diante da necessidade
de se adequar a um modelo normativo para afirmar sua identidade. Guilmore (1990) cita
cinco regras que comporiam um cdigo de virilidade existente na cultura latina. Entre elas
esto: ser competitivo e corajoso; ter potncia sexual e autocontrole, sem mostrar
fragilidade; e se fazer respeitado pela mulher, para evitar ser desmoralizado diante de
outros homens.
Quando tais expectativas no so atendidas, o homem tende a se sentir ameaado
em sua masculinidade por no ter um apoio no imaginrio cultural. Ao se sentir impotente e
inseguro frente ao insucesso em alguma rea de sua vida, ele pode liber-los por meio de
Pgina
93
atos violentos. A prtica da violncia
[...] tem como finalidade reequilibrar o sistema psquico atravs de uma experincia de
triunfo. Quando o indivduo no possui auto-confiana suficiente para enfrentar suas
necessidades e frustraes adultas procura, atravs do ato violento, resgatar alguma
dignidade. Mesmo de forma fugaz, o agressor tem uma sensao de grandiosidade
atravs da humilhao da sua vtima e da submisso desta (BRASIL, 2002, p. 65).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A soluo encontrada, porm, no satisfaz a necessidade do homem de alcanar um
alvio interior. Pelo contrrio, contribui para elevar o grau de irritabilidade resultante da
depresso posterior ao evento de violncia (BRASIL, 2002).
A ingesto de lcool e/ou drogas tem sido outro significante agente estimulador de
atos de violncia, visto que seu efeito de inibir a censura no sistema nervoso central
estimula o indivduo a tomar atitudes no aceitas socialmente (BRASIL, 2002). A observao
dos Termos de Declarao permite revelar que as agresses fsicas e verbais geralmente
aconteceram aps o consumo de lcool ou drogas por parte do parceiro das vtimas.
Conforme explica o Ministrio da Sade (2002), as aes violentas praticadas no
mbito do casal ocorrem a partir da elevao no nvel de tenso das relaes de poder
envolvidas, quando um dos parceiros tem a necessidade de assegurar os vnculos de
dominao ou obter a confirmao mtua de suas identidades.
Segundo Walker (1979), h um ciclo de violncia domstica contra a mulher
composto por trs fases distintas, cujas caractersticas podem ou no aparecer em um
relacionamento e at mesmo variar na intensidade e no tempo, de casal para casal. A
primeira fase, cuja durao indefinida, geralmente marcada por crises de cimes,
ameaas e insultos, entre outros casos de violncia. Porm, essas ocorrncias so
constantes, embora sejam de menor proporo, e, diante delas, a mulher tende a negar sua
raiva, a acalmar o agressor e a agrad-lo. Associando os ataques a alguma causa externa, a
mulher pensa ter ainda certo controle sobre seu comportamento.
No entanto, a partir da aparente aceitao de seus atos, o agressor pode acentuar e
prolongar as situaes de humilhao verbal, por se sentir impelido a no controlar suas
prprias aes. A mulher, por sua vez, retraindo-se gradualmente, padece com as sucessivas
investidas causadas pelo aumento do nvel de cime e possessividade do parceiro, com o
qual a relao se torna cada vez mais tensa e difcil.
A segunda fase sinalizada pelo pice da tenso manifestado por atos mais graves. O
agressor descarrega sua tenso, sua raiva, de forma incontrolvel sobre a mulher, a fim de
dar-lhe uma lio. Reconhecendo a possibilidade de ocorrer tais eventos, a mulher pode
Pgina
94
sofrer com o estresse psicolgico, caracterizado por ansiedade, raiva, depresso, etc. Diante
disso, sua atitude frequentemente consiste em se esconder em um local seguro.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
J a terceira fase, chamada de lua-de-mel, pode acontecer ou no. Ela se evidencia
pela tentativa de apaziguamento do agressor com a vtima, momento em que a violncia
cessa para dar lugar a pedidos de perdo, demonstraes de carinho e promessas de amor.
Hoje, apesar de existirem vrios mecanismos de amparo vtima de violncia, h
casos em que a mulher suporta as agresses fsicas e/ou verbais e decide continuar em um
relacionamento problemtico. Isso se evidencia nos TDs quando a declarante afirma j ter
sido insultada e/ou agredida outras vezes, mas ter permanecido na casa ou ter tentado
voltar a morar com o amsio novamente, aps se refugiar na casa de familiares ou amigos. A
mulher concede uma segunda chance ao companheiro, acreditando na possibilidade de
mudana deste, que lhe pede perdo e pede para voltar. Como explicitado em alguns TDS,
somente aps sucessivos atos de agresso, a mulher chega concluso de que no suporta
mais a situao e no deseja ficar ao lado do parceiro, aps a qual toma coragem de pedir
auxlio polcia e solicitar medidas protetivas de urgncia.
Precisar o(s) motivo(s) que levou(ram) a tal permanncia no parece ser praticvel,
mas certos fatores podem ter contribudo para as declarantes tomarem tal deciso. O
Ministrio da Sade (2002) aponta alguns fatores geralmente envolvidos em casos como o
exposto, dos quais so apresentados a seguir aqueles que podem ter influenciado a
realidade das declarantes: a esperana na mudana de hbitos e comportamentos do
parceiro; a tendncia de relacionar o comportamento agressivo do outro a motivos de
ordem externa; a incerteza sobre se separar do companheiro; a insegurana e o medo de
sofrer represlias.
4. ESTRUTURA E ANLISE DOS TERMOS DE DECLARAO
O corpus desta pesquisa se constitui de 10 termos de declaraes (doravante T.D.)
que foram coletados em uma Delegacia de Polcia de um municpio vizinho a Cascavel-PR. Os
textos fazem parte de um banco de dados de uma pesquisa mais ampla coordenada pela
professora doutora Carmen Teresinha Baumgrtner. O propsito desta seo observar as
formas mais comuns de denncias de violncia contra a mulher presentes nesses
Pgina
95
documentos.
Conforme define Gurpilhares (2012), o T.D. [...] um gnero no qual se tomam os
depoimentos da vtima ou parte envolvida no processo, a fim de apurar a verdade real dos
fatos (GURPILHARES, 2012, p. 34). A Lei ampara, por meio de registro formal, o ato de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
declarar em desfavor de uma pessoa. O Cdigo Processo Penal, artigo 203, traz
esclarecimentos quanto aos procedimentos que devem ser tomados no momento da
denncia:
A testemunha far, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e
lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residncia,
sua profisso, lugar onde exerce sua atividade, se parente, e em que grau, de alguma
das partes, ou quais suas relaes com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando
sempre as razes de sua cincia ou as circunstncias pelas quais possa avaliar-se de sua
credibilidade (BRASIL, art. 203).
Para melhor compreender as caractersticas de um Termo de Declarao, apresentase a seguir a estrutura do gnero. Como as informaes pessoais do declarante, do agressor
e do delegado(a) no so relevantes pesquisa, decidiu-se por omitidas. Abaixo, segue o
modelo:
Figura 1. Estrutura de Termo de Declarao
Fonte: Paran (2012, n.p.)
No incio do TD, encontram-se indicaes sobre o rgo responsvel pela lavratura
do documento. Em seguida, expressam-se o dia, o ms, o ano e o local em que a declarao
foi lavrada, o nome do(a) delegado(a) e informaes sobre o(a) declarante, tais como nome,
Pgina
96
nacionalidade, nmero da carteira de identidade, filiao, data de nascimento e endereo
residencial. Na sequncia, aps a expresso A qual sabendo ler e escrever, passou a
declarar QUE, relatam-se os fatos emitidos pelo(a) declarante.
4
Adotamos n.p. para significar que o documento no paginado.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Nota-se que na linguagem forense usual o uso de expresses em latim, palavras
arcaicas e eruditas como Ad Hoc, que significam para uma determinada ao ou para
executar certa tarefa. Essa expresso utilizada sucedendo a palavra escrivo ou
escriv, com o objetivo de constar que o documento foi escrito por profissional
competente a esse ofcio.
Na lavratura do documento, o escrivo se utiliza de verbos no tempo presente do
indicativo para indicar hbitos do agressor e a situao atual dos envolvidos (, ameaa,
ofende termos que constam no TD 6); verbos no tempo passado do indicativo para
relatar os fatos ocorridos ou no e narrados pelo(a) declarante (pegou uma faca, partiu
para cima, arrependeu termos que constam no TD 1) e verbos no tempo futuro do
indicativo para apontar as ameaas que a(o) declarante sofre (u) (vai mat-la termo que
consta no TD 2).
No fim do documento, verifica-se a recorrncia de certas construes lingusticas,
como Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deseja representar em desfavor de,
requisita laudo de leses e solicita medida protetiva. Deve-se a isso o fato de tais
expresses integrarem um vocabulrio predominante na rea do Direito.
O padro de escrita revela ainda o distanciamento do escrivo/ com relao ao fato
relatado ou (ao) declarante. Porm, grande parte do documento composta pela verso da
declarante sobre os eventos decorridos.
Em um estudo do corpus, tomando-se os tipos e as formas possveis de violncia
indicados pelo Ministrio da Sade (2002), foram identificados os seguintes casos:
a) Violncia fsica: chutes; torcida dos braos para trs; cortes; empurres; tapas;
socos; leses e ao de arrastar para fora de casa ou em direo casa.
b) Violncia psicolgica: insultos constantes; desvalorizao; chantagem; humilhao;
ameaa; privao arbitrria da liberdade e confinamento domstico.
c) Violncia econmica ou financeira: destruio de bens pessoais (objetos da casa e
partes do carro).
Pelos TDs, constata-se que o agressor tenta mostrar superioridade por meio da fora
Pgina
97
fsica dispensada contra a mulher, afirmando sua autoridade e masculinidade por meio de
ameaas parceira e famlia, alm de se aproveitar, em alguns casos, da debilidade fsica e
dos comprometimentos dos movimentos da mulher, causados por AVC, por exemplo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Verifica-se a negao por parte do homem de sua prpria impotncia, em que ele
no aceita ser mandado, no concorda em se separar da companheira e nem sair de casa
sob qualquer circunstncia. Sua estratgia consiste em provocar medo e insegurana na
mulher para impedir que ela o denuncie polcia. Em virtude disso, como se detecta nos
TDs, a vtima s decide recorrer medida protetiva de urgncia aps j ter sofrido outras
agresses, verbais ou fsicas, e recebido uma ou mais ameaas de violncia e/ou morte, por
vezes tambm proferidas contra seus filhos.
Uma das reclamaes mais evidentes das declarantes de que o companheiro tem o
hbito de ingerir bebidas alcolicas ou usar drogas, j que aps o uso dessas substncias o
homem costuma apresentar comportamentos agressivos. As declarantes se queixam do no
cumprimento de tarefas paternas por parte do agressor, das brigas constantes ocorridas
(muitas vezes em frente aos filhos) e da perturbao da harmonia da famlia, eventos esses
que tornam a situao insuportvel para a mulher, segundo os relatos.
Por outro lado, no foi possvel notar qualquer indicao clara de que os eventos de
agresso aconteceram em razo de crises de cimes do parceiro diante de alguma situao
em que a mulher estivesse envolvida. Apesar disso, observou-se que, em um dos casos, o
parceiro fez uso de violncia em pblico aps a mulher ter contrariado sua vontade e sado
com uma amiga para uma lanchonete agresso que pode ter sido motivada pela
insegurana do parceiro.
5. ALGUNS MECANISMOS DE COMBATE VIOLNCIA CONTRA A MULHER
O combate violncia contra a mulher deve envolver esforos por parte dos poderes
pblicos, das comunidades e dos movimentos sociais, um conjunto que forma a rede de
cidadania, cujo objetivo colaborar para a preveno, a oferta de atendimento e a
erradicao da violncia (BRASIL, 2002).
A Lei N 11.340/2006, intitulada Maria da Penha, foi desenvolvida para proteger e
atender as mulheres por meio da criao de uma srie de medidas para prevenir ou impedir
a violncia domstica e familiar contra a mulher, prevendo medidas protetivas de urgncia
Pgina
98
em favor das vtimas e outras contra os agressores, tais como a suspenso do porte de
armas, seu afastamento das vtimas e sua priso preventiva ou flagrante. Uma das formas de
preveno propostas promover campanhas educativas destinadas para o pblico escolar e
a sociedade como um todo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A promoo de campanhas tambm feita pela Confederao Nacional dos
Trabalhadores em Educao (CNTE), que prope aes nas escolas pblicas, motivando
atividades, debates e palestras sobre gnero, de modo a problematizar a violncia contra a
mulher no ambiente escolar. Os esforos so realizados no sentido de apoiar a campanha
nacional de combate violncia e divulgar o Ligue 180 para incentivar as pessoas a
denunciar casos de violncia para a Central de Atendimento Mulher. Membros da CNTE
acreditam que a escola o meio em que se pode tanto reforar quanto questionar os
esteretipos de gnero presentes na sociedade, sendo, portanto, um ambiente formal de
formao do cidado (VIOLNCIA..., s. d.).
6. CONSIDERAES
O estudo dos Termos de Declarao proporcionou uma viso mais ampla sobre a
realidade de algumas mulheres na regio oeste paranaense. Apesar do nmero limitado de
textos, foram identificados tipos diversificados de violncia contra a integridade fsica e a
dignidade da mulher, assim como exemplos para as fases que compem o ciclo da violncia
domstica apontado por Walker (1979).
Analisando os relatos, percebeu-se que os agressores no se intimidaram com a
possibilidade de serem presos por seus atos de violncia contra a mulher, fato esse
evidenciado nas ameaas em que o homem assevera que ir matar sua companheira aps
sair da cadeia. O homem, que em muitos dos casos atestados, estava sob o efeito de lcool
ou drogas, reafirma seu desejo de superioridade frente mulher, impondo-lhe respeito e
submisso. Isso pode ter provocado medo em algumas declarantes, que s procuraram
ajuda aps a reincidncia de atitudes violentas praticadas contra elas.
Pgina
99
7. REFERNCIAS
BRASIL. Lei N 11.340, de 7 de agosto de 2006. Dirio Oficial [da] Repblica Federativa do
Brasil.
Braslia,
DF,
7
ago.
2006.
Disponvel
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em
22 out. 2014.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Polticas de Sade. Violncia intrafamiliar:
orientaes para prtica em servio. Braslia: Ministrio da Sade, 2001.
BRASIL. Cdigo Processo Penal, Lei n 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponvel em:
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10662226/artigo-203-do-decreto-lei-n-3689-de03-de-outubro-de-1941>. Acesso em: 10 jun. 2013.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
100
FORMAS de violncia contra a mulher. Disponvel em: <http://www.cnj.jus.br/programasde-a-a-z/pj-lei-maria-da-penha/formas-de-violencia>. Acesso em: 18 ago. 2014.
GUILMORE, D. D. Menhood in the making: cultural concepts of masculinity. New Haven:
Yale University Press, 1990.
GURPILHARES, Marlene; GURPILHARES, Giovana; FERRARI, Arlete. Lingustica e discurso
jurdico: um estudo com o gnero discursivo declaraes e depoimentos. ECCON: Revista
de Educao, Cultura e Comunicao. Lorena, SP: Faculdade Integradas Teresa Dvila. v.
3, n. 6, p. 33-50. jul./dez. 2012.
MIRALES, Rosana. Violncia de gnero: dimenses da leso corporal. Cascavel: Edunioeste,
2013.
VIOLNCIA
contra
a
mulher:
a
educao
liga.
Disponvel
em:
<http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/13736-violencia-contra-amulher-a-educacao-liga.html>. Acesso em: 18 ago. 2014.
WALKER, L.E. The battered woman. New York: Harper & Row, 1979.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANAS E ADOLESCENTES
Andra Cristina Martelli1
Indianara dos Santos Meurer2
1. INTRODUO
A violncia um fenmeno social, cultural e econmico e, alm disso, um processo
histrico, que se modifica conforme as relaes estabelecidas pelos sujeitos sociais em cada
modelo social vigente. A vista disso acreditamos na importncia de ampararmo-nos
inicialmente na etimologia da palavra violncia, que por sua vez deriva do substantivo latino
violentia (FARIA, 1962), significando tambm rigor, carter violento, arrebatamento,
veemncia, ferocidade.
Assim, estudos tericos associados a dados estatsticos, em muitas ocasies, podem
ser argumentos contundentes na problematizao da violncia sexual, principalmente, para
transformar vrias instituies e a prpria sociedade civil como agentes de preveno do
abuso sexual contra crianas e adolescentes. Embora muitos abusos sexuais no sejam
denunciados,
conhecer
os
casos
denunciados nos proporcionar
indcios para
compreendermos e, qui, desconstruirmos mitos sobre a temtica, de modo a romper o
pacto de silncio.
2. VIOLNCIA SEXUAL
Para Krug et al (2002, p. 147) a violncia sexual definida como:
Pgina
101
[...] qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentrios ou investidas
sexuais indesejados, ou atos direcionados ao trfico sexual ou, de alguma forma,
voltados contra a sexualidade de uma pessoa usando a coao, praticados por qualquer
pessoa independentemente de sua relao com a vtima, em qualquer cenrio, inclusive
em casa e no trabalho, mas no limitado a eles.
1
2
Professora Doutora em Educao. E-mail: andreamartelli72@hotmail.com.
Mestranda em Educao pela Universidade Estadual do Oeste do Paran (UNIOESTE). E-mail:
narameurer@hotmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Assim, Azambuja (2006) acrescenta quanto violncia sexual contra crianas e
adolescentes, que para seu desenvolvimento fsico, cognitivo e social so dependentes,
imaturos e quanto s atividades sexuais, tanto crianas como adolescentes no tem
condies necessrias para compreender plenamente as questes relacionadas violncia
sexual, quanto mais para dar seu consentimento em uma relao sexual.
Vale frisar que quando trabalha-se com a terminologia criana, sempre presume-se
violncia, em qualquer forma de relao sexual, um vez que a criana depende
integralmente do adulto e no dispe de condies para definio sobre sua vontade sexual.
J referente aos adolescentes, deve levar em considerao que o adolescente pode
estar se desenvolvendo sexualmente junto adolescentes ou at mesmo com adultos,
desde que seja respeitada sua fase de desenvolvimento, pois a estimulao, orientao e
prazeres sexuais fazem parte da sexualidade humana (HAZEU E FONSECA, 1998).
Segundo o Site de Segurana na Internet, existe a violncia sexual no momento em
que algum forado a ter relaes sexuais com ou sem penetrao. Esta violncia envolve
todos os comportamentos sexuais, tornando-se mais intrusiva ou invasiva. Sendo assim, a
violncia sexual qualquer tentativa de obter um ato sexual, utilizando-se de coao. A
coao segundo o Relatrio Mundial sobre Violncia e Sade (2002) pode abarcar distintos
graus de fora, envolvendo fora fsica, intimidao psicolgica, chantagem ou outras
ameaas.
Usualmente, o termo violncia sexual contra crianas e adolescentes empregado de
maneira generalizada para tratar as vrias modalidades existentes. Contudo, ele possui uma
diferenciao de formas distintas e interconectadas que compem o conceito de violncia
sexual.
Desta forma, agregamos alguns dos itens de Krug et al (2002) Lowenkron (2010) e da
caracterizao da violncia feita pelo Sistema de Informaes para Infncia e Adolescncia
(SIPIA), ao qual insere-se as violaes apenas de violncia sexual que adentra-se aos Direitos
Liberdade, ao Respeito e Dignidade. Inclumos, portanto, como modalidades da violncia
Pgina
102
sexual: a seduo, o estupro, a pedofilia, o abuso sexual e outros.
Como primeiro item descrito, temos a seduo, que inclui o aliciamento de crianas
ou adolescentes para a prtica de ato sexual e no mais definido no Cdigo Penal Brasileiro
de 1940, como seduo e corrupo de menores, mas como crimes sexuais contra
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
vulnervel. No art. 218 do Cdigo Penal (1940) sobre corrupo de menores descrito sobre
induzir algum menor de catorze anos a satisfazer a lascvia de outrem, de forma a se
aproveitar de sua inexperincia e confiana (BRASIL, Cdigo Penal, 1940; CBIA, 1993; RIZZINI;
GONALVES, 2003).
Como segunda modalidade, temos o estupro, que todo ato sexual praticado por
persistncia do sujeito, que pode ser acompanhado ou no de agresses fsicas, como o
espancamento, a tortura e a mutilao. Pode ser definido tambm como a penetrao
forada (de forma fsica ou por meio de outra coao, mesmo que sutil) da vulva ou do nus,
utilizando um objeto, o pnis ou outras partes do corpo. A tentativa de fazer a penetrao
conhecida por estupro tentado, j o estupro de um sujeito cometido por dois ou mais
agressores chamado de estupro cometido por gangue (CBIA, 1993, KRUG et al, 2002).
O estupro caracterizado no Cdigo Penal (1940) no art. 213 como constrangimento
mediante violncia ou grave ameaa, a ter conjuno carnal, praticando ou permitindo que
com ele se pratique ato libidinoso.
Na terceira modalidade est a pedofilia, que originalmente, uma categoria clnica
da psiquiatria, definida como perverso sexual e considerada uma modalidade de
parafilia. assim caracterizada pelo foco do interesse sexual em crianas pr-pberes
(geralmente, com 13 anos ou menos) por parte de sujeitos com 16 anos ou mais e que sejam
ao menos cinco anos mais velhos que a criana, ao longo de um perodo mnimo de seis
meses. A pedofilia est situada entre o crime e a doena e enfatiza caractersticas anormais
e perversas do adulto que se relaciona sexualmente com crianas ou daquele que produz,
divulga ou consome imagens de pornografia infanto-juvenil (LOWENKRON, 2010).
Apesar disso, Lowenkron (2010) explicita que em debates pblicos atuais, o termo
pedofilia no empregado apenas na definio de um estado psicolgico, mas aparece cada
vez mais como categoria social, referindo-se tanto a atos sexuais com crianas,
principalmente, quando esses atos envolvem famosos, estrangeiros ou pessoas de status
social elevado, quanto ao fenmeno da pornografia infantil na internet.
Pgina
103
Diversos atos sexualmente violentos podem ocorrer de diferentes formas e em
diferentes contextos, no caso especfico de crianas e adolescentes, podem ocorrer o abuso
sexual de qualquer espcie, como manipulao, constrangimento, induo, fotografias
pornogrficas, alm dos casos em que a criana e o adolescente sofrem constrangimento
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
ertico-sexual em troca de promessas de trabalho e/ou benefcios (LOWENKRON, 2010;
SANTOS et al, 2013).
Na categoria outros, utilizada pelo sistema SIPIA, ao qual pode ser includo: ato
libidinoso, gravidez precoce, criana violando seus prprios direitos, tentativa de abuso por
outros garotos, tentativa de abuso sexual, aliciamento de menores, rapto consensual,
assdio sexual, criana que pode estar sendo molestada e adolescente que era garota de
programa (CBIA, 1993).
Por fim, na categoria do abuso sexual, este pode ser entendido assim como no art.
215 do Cdigo Penal (1940), como ter conjuno carnal ou praticar qualquer ato libidinoso
com algum, mediante fraude ou outro meio de modo a impedir ou dificultar a livre
manifestao de vontade da vtima. Seu contexto e caractersticas sero tratadas mais
especificamente no item a seguir.
3. ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANAS E ADOLESCENTES
Chegamos, portanto, a modalidade de violncia principal desse estudo, tendo em
vista que a violncia sexual e sua modalidade abuso sexual, embora socialmente
inaceitveis, contraditoriamente ocorrem muito frequentemente.
A partir de Flores (1988) conseguimos nos apropriar de que a cultura judaico-crist
uma das mais proibitivas na questo sexual. Com isso, cita exemplos como a proibio de
casamentos entre parentes de sexto grau no imprio romano, haja vista que em 1215 em
Roma, o Conclio de Latro somente invalidou casamentos para parentes de quarto grau em
diante por conta da dificuldade para identificao destes no cotidiano.
O autor supra citado acrescenta que esta no a cultura mais restritiva e, que
simultaneamente nossa cultura por sculos ignorou fenmenos como violncia e abuso
sexuais contra crianas e adolescentes, sendo que nos dias de hoje, suas dimenses ainda
so desconhecidas pela maioria dos sujeitos sociais.
Deste modo, partimos do ponto que o termo abuso sexual infantil parece ter seu
Pgina
104
limiar no meio psi. Este termo comparece em escritos de Freud j no final do sculo XIX.
Todavia, a extenso dos abusos infantis demoraram a fazer parte dos debates pblicos e
polticos nacionais e internacionais. Primeiramente destacaram questes relacionadas
violncia fsica e aos maus tratos contra crianas (LOWENKRON, 2010).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Assim, Lowenkron (2010) explana que o abuso sexual se consolida como problema
poltico, concatenado s desigualdades de gnero, entre os anos de 1960, com a segunda
onda do movimento feminista, ao qual critica o modelo patriarcal de famlia, legitimando
com isso, a violncia de homens contra mulheres e de adultos contra crianas. De 1980 para
a dcada de 1990, essa crtica materializa-se por meio dos movimentos sociais emergentes
que trabalham na defesa dos direitos infanto-juvenis, considerando o abuso sexual contra
criana e adolescentes como questo poltica particularizada e grave.
O conceito de abuso sexual infantil pela militncia definida como interaes sexuais
com crianas, ou seja, a maior proeminncia est na desigualdade de poder, seja ela
provocada pela idade, experincia, posio social e nos danos psicolgicos. O abuso pode
ocorrer por: [...] fora, promessas, ameaa, coao, manipulao emocional, enganos,
presso etc. (LOWENKRON, 2010, p. 16). Ainda segundo Lowenkron (2010), essencial que
compreendamos sobre o consentimento sexual da criana para a elucidao da modalidade
abuso, pois est numa prtica de violncia no validada, fazendo com que as crianas
sempre sejam vistas como objeto de satisfao da concupiscncia alheia e nunca como
sujeito em uma relao sexual.
Lowenkron (2010) fez sua anlise acerca do abuso a partir da verificao de materiais
de mdia impressa, o qual pode perceber que este o termo preferencial para falar de casos
de abusos sexuais intrafamiliares. Tambm muito utilizado junto ao termo pedofilia,
quando o abuso exercido por sujeitos de status social elevado, por artistas famosos ou
estrangeiros. O termo tambm comparece prximo da violncia sexual e do estupro, isto
quando o ato articula-se outras violncias como estrangulamento e morte.
Uma perspectiva relevante para a definio de abuso sexual est na relatividade
social, isto , o que pode ser aceitvel em determinados grupos com culturas e concepes
de sexualidade divergentes, pode ser considerado inadequado para outros grupos. Assim, a
compreenso e identificao de comportamentos abusivos so definidos socialmente e
diferidos geogrfica e temporalmente (FLORES, 1998).
Pgina
105
Faleiros e Campos (2000) destacam crticas relacionadas ao uso do termo abuso
sexual, pois estaria implcito nele a noo de que poderia, e que h um uso sexual permitido
de crianas e adolescentes por adultos.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Dentre os termos abuso sexual e maus-tratos, talvez o mais utilizado e propagado
para definir situaes de violncia contra crianas e adolescentes seja o abuso sexual e de
forma conceitual, o abuso sexual ora considerado maus-tratos, ora como violncia.
Assim, resumidamente, o abuso sexual deve ser compreendido como uma situao
que ultrapassa, vai alm dos limites: [...] dos direitos humanos, legais, de poder, de papis,
do nvel de desenvolvimento da vtima, do que esta sabe e compreende, do que o abusado
pode consentir, fazer e viver, de regras sociais e familiares e de tabus (FALEIROS e CAMPOS,
2000, p. 7). As situaes de abuso infringem maus-tratos aos agredidos e os maus-tratos
referem-se aos danos ou ao que praticado, infringido e sofrido pela vtima, isto , atribuise tanto aos atos como s consequncias do abuso (FALEIROS e CAMPOS, 2000).
Desta maneira, o termo abuso utilizado para definir uma das formas de maus-tratos
relacionados crianas e adolescentes. Comumente o abuso sexual praticado com: [...]
violncia fsica e psicolgica associada, geralmente repetitivo e intencional e, por isso,
praticado, mais frequentemente, por familiares ou responsveis pelo (a) jovem
(CHISTOFFEL e cols., 1992 apud FLORES, 1998, p. 26).
Em nossas pesquisas, inclumos o abuso sexual como uma das modalidades da
violncia, assim como sendo uma das formas de abuso a qual crianas e adolescentes podem
sofrer. Mesmo que sua definio e intensidade variem culturalmente, h um consenso geral
de que o abuso infantil no deve ser permitido (KRUG et al, 2002).
Sendo assim, o abuso sexual infantil considerado para a OMS (2005) como um dos
maiores problemas de sade pblica, sendo que sua definio para o Child Abuse Prevention
and Treatment Act (CAPTA), dos EUA inclui:
[...] o trabalho, uso, persuaso, induzimento, seduo ou coero de qualquer criana a
se envolver, ajudar alguma outra pessoa a se envolver, qualquer conduo explicita de
sexualidade ou simulao de tal conduo com o propsito de produzir uma descrio
visual de tal conduo, ou o estupro e em casos de relaes zelosas ou intrafamiliares,
estupro estatutrio, molestamento, prostituio ou outra forma de explorao de
crianas ou incesto com crianas (CHILD WELFARE INFORMATION GATEWAY, 2011, p. 2,
traduo nossa).
Pgina
106
O abuso sexual , portanto, uma situao em que crianas e/ou adolescentes so
usadas para gratificao sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho e
inclui trs conjuntos de situaes que podem efetuar-se: por meio de violncia fsica, de
abuso sem contato fsico, de exibicionismo, linguagem sexualizada, voyeurismo, pornografia,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
estimulao, toques e carcias inapropriadas, bem como pela realizao de atos sexuais, seja
anal, oral ou vaginal, incluindo tambm casos de explorao sexual. Dessa maneira, o abuso
acaba por envolver questes de sexualidade da criana, do adolescente e dos pais, ou seja,
da dinmica familiar (FLORES, 1998; ABRAPIA, 2002). Complementando o que fora descrito
neste pargrafo, caracterizaremos algumas das formas em que pode materializar-se o abuso
sexual sem contato fsico e com contato fsico.
Das formas que pode ocorrer sem contato fsico temos o assdio sexual, que
caracteriza-se por uma proposta de relao sexual, que baseia-se na maioria das vezes na
condio de poder exercido pelo agressor, caracterizando-se pelo uso de chantagens e
ameaas. Tambm pode ocorrer por abuso sexual verbal, visando despertar o interesse de
crianas e adolescentes ou choc-los, pelo telefonema obsceno, podendo gerar muita
ansiedade em crianas, adolescentes e suas famlias. O ato exibicionista consiste na
experincia de o agressor mostrar os rgos genitais ou se masturbar na frente ou no campo
de viso de crianas e adolescentes. Pelo voyeurismo, que o ato de observar os gestos ou
mesmo os rgos sexuais de outras pessoas quando elas no desejam ser vistas e obter
satisfao com essa prtica, assim como pela pornografia, mostrando material pornogrfico
a crianas ou adolescentes (FLORES, 1998; SANTOS et al, 2013).
Como segundo temos o abuso sexual com contato fsico, que trata da prtica fsicogenital, incluindo carcias nos rgos genitais, tentativa de relao sexual, masturbao, sexo
oral, bem como penetraes vaginal e anal. H uma compreenso, no entanto, mais ampla
de abuso sexual com contato fsico que abrange contatos forados, como beijos e toques em
outras zonas corporais ergenas (SANTOS et al, 2013).
Com as pesquisas realizadas acerca desta temtica, conseguimos perceber variaes
nas classificaes, ou seja, segundo Faleiros e Campos (2000) quer dizer que conforme o
lcus, sociedade e cultura, variam os critrios utilizados, corroborando em diferentes
indicadores.
Portanto, utilizamos para consolidar as modalidades do abuso sexual alguns itens da
Pgina
107
proposta de classificao explicitada por Flores (1998) e Santos et al (2013), de modo a aliar
o agente violador, o local e a modalidade de violao, para contribuir no estabelecimento de
estratgias de enfrentamento da violncia sexual. Deste modo, incorporamos como
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
modalidades do abuso sexual: o intrafamiliar (incesto), o extrafamiliar, o intrarrede social, o
institucional, a explorao sexual e as falsas denncias.
Segundo Arajo (2002) e o Guia Escolar (2013), o abuso sexual intrafamiliar, tambm
chamado de abuso sexual incestuoso pode ser cometido: por pais, parentes ou responsveis
legais e pode ocorrer no espao social interno da famlia ou no, seja de famlia biolgica ou
adotiva. Nela est includa qualquer relao de carter sexual entre um adulto e uma criana
ou adolescente, existindo lao consanguneo ou no. Azambuja (2006) aponta cinco formas
de relaes incestuosas conhecidas, sendo as que ocorrem entre pai e filha, me e filho,
irmo e irm, pai e filho, me e filha, sendo que o mais relatado com 75% o que ocorre
entre pai e filha.
Na modalidade abuso sexual extrafamiliar, compreendemos por meio do Guia Escolar
(2013) que esta pode ser cometida por agentes cuidadores e socializadores infanto-juvenis,
bem como em locais em que as crianas e adolescentes se socializam, assim como em
escolas, ONGs, igrejas, consultrios mdicos e psicolgicos.
Esta forma de abuso sexual tambm pode ser cometida por desconhecidos, tanto da
famlia como da criana e do adolescente, bem como ocorrer em lugares pblicos, que
estejam fora da vigilncia social. O abuso sexual de cunho extrafamiliar ocorre menos do que
a violncia intrafamiliar, todavia, ambas tendem a se emaranhar no plano real (SANTOS et al,
2013).
No abuso sexual intrarrede social, o abuso cometido por pessoas da rede de
sociabilidade da famlia, ou seja, o agressor algum vizinho, amigo ou conhecido. Pelo
agressor fazer parte do mbito familiar, a vtima pode desenvolver uma relao de confiana
e at de admirao com esta pessoa. Assim, pelo grau de proximidade do autor do abuso
com a criana/adolescente e sua famlia, faz com que o abuso sexual intrarrede seja
considerado misto, porque acaba interligando caractersticas dos abusos intra e
extrafamiliares (SANTOS et al, 2013).
A partir do Guia Escolar (2013) o abuso sexual institucional acontece em instituies
Pgina
108
de cunho governamental e no governamental ao qual possui a guarda temporria da
criana ou adolescente, em unidades de abrigo ou para empregar medidas socioeducativas.
Por mais similar esta modalidade seja com as outras, no abuso sexual institucional o ato
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
exercido em espaos sociais institucionais de guarda e proteo de crianas e adolescentes
medida que eles esto sob a proteo legal e parental do Estado.
Sob a perspectiva de outra modalidade, acredita Lowenkron (2010) que o termo
explorao sexual teve sua origem com a vertente do movimento feminista que por sua
vez fora influenciada pelo marxismo. Comportaram neste termo as noes de
mercantilizao do corpo e da alienao dos sujeitos, sejam crianas, adolescentes ou
adultos. Este termo mais especfico utilizado no lugar dos termos prostituio e
pornografia, negando qualquer dimenso de escolha da criana ou do adolescente,
opondo-se a responsabilizao do menor e o carter voluntrio desta situao.
Portanto, consolidam-se as relaes sexuais que envolvem explorao, quando se
utiliza indevidamente do trabalho sexual do outro. Ela pode ser exercida no chamado
mercado do sexo (HAZEU E FONSECA, 1998) e segundo Lowenkron (2010), tambm
associa-se explorao comercial e ao chamado crime organizado, fazendo prevalecer a
ideia da criana e do adolescente como objetos e pior, como mercadorias. Deste modo, fora
compreendida a explorao sexual comercial como fenmeno que articula aliciadores,
clientes, exploradores, estabelecimentos, agncias, boates e comporta as seguintes
modalidades: prostituio infantil, trfico para comrcio sexual, turismo sexual infantil, bem
como a pornografia infantil, todas enfatizando a vulnerabilidade social das vtimas, vinculada
misria, desestruturao familiar, drogatio, etc.
Por fim, as falsas denncias que segundo Flores (1998) podem devastar com a
famlia, fazendo com que os integrantes desta percam o emprego, tenham divulgao
pblica, excluso de amigos e familiares, bem como obteno de processos criminais, tudo
por conta de uma investigao de abuso sexual, principalmente as intrafamiliares. Este
fenmeno pode provocar, deste modo, um trauma secundrio e, segundo relatos das
conselheiras contatadas, a maioria dos casos denunciados so infundados ou inverdicos.
Recapitulamos que em uma relao desta natureza o vitimizado no tem espao para
optar ou consentir. Neste sentido, as questes de responsabilizao e de consentimento da
Pgina
109
vtima so relacionadas ao passo que: [...] o vitimizado no pode ser responsabilizado por
atos dos quais participa enquanto dominado (FALEIROS e CAMPOS, 2000, p. 17).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Deste modo, as consequncias produzidas pelo abuso sexual em crianas e
adolescentes so mltiplas, tendo em vista que os resultados fsicos e psicolgicos podem
perdurar por toda a vida do sujeito agredido.
Com este intuito, Furniss e Knutson (1993; 1995 apud AMAZARRY e KOLLER, 1998)
apontam que o grau de severidade das consequncias produzidas pelo abuso sexual varia
conforme: a idade do menor no incio do abuso sexual, a durao do abuso, o grau de
violncia empreendido, a diferena de idade entre agressor e agredido, a importncia da
relao entre o abusador e a vtima, a falta da figura parental protetora e de apoio social, o
grau de segredo e ameaas contra o abusado, assim como sade emocional prvia, reao
da famlia e dos outros, viver em uma famlia disfuncional, responsabilizao da vtima pelo
abuso, a forma do abuso sofrido (com contato fsico, sem contato fsico), dentre outros.
A partir do grau de severidade do abuso cometido, manifesta-se na vtima diversas
consequncias, que se diferenciam conforme as idades (FINKELHOR, 1993 apud AMAZARRY
e KOLLER, 1998) pr-escolar dos zero aos seis anos, escolar dos sete aos doze anos e na
adolescncia dos treze aos dezoito anos, assim como manifestaes a curto e longo prazo
(DAY et al, 2003).
Os sintomas que comumente ocorrem em pr-escolares so a ansiedade, pesadelos,
transtorno de stress ps-traumtico e comportamentos sexuais inapropriados a faixa etria.
Para os que esto em idade escolar, os sintomas mais comuns so o medo, distrbios
neurticos, pesadelos, agresso, problemas escolares e hiperatividade. J na adolescncia,
os inclui-se a depresso, isolamento, comportamento suicida, autoagresso, queixas
somticas, atos ilegais, fugas, abuso de substncias e comportamento sexual inadequado.
Como sintomas frequentes as trs fases de desenvolvimento anteriormente descritas,
ocorrem os pesadelos, depresso, retraimento, distrbios neurticos, agresso e
comportamento regressivo (FINKELHOR, 1993 apud AMAZARRY e KOLLER, 1998).
Isso leva-nos a ponderar, acerca dos efeitos a curto e longo prazo, provocados pela
experincia do abuso sexual. A curto prazo, podemos incluir a atividade masturbatria
Pgina
110
compulsiva, distrbios do sono, da aprendizagem e da alimentao, conduta isolada, banhos
frequentes, sintomas psicticos, quadros obsessivo-compulsivos, depresso, expresses
repetidas por meio de gestos, bem como sentimento de rejeio, confuso, humilhao,
vergonha e medo (DAY et al, 2003).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Ainda segundo Day et al (2003), abrangemos como efeitos a longo prazo, o abuso de
lcool e outras drogas, promiscuidade, disfunes sexuais e menstruais, coitofobia,
sexualizao ou abuso de seus filhos, comportamento auto e hetero-destrutivo, baixa
autoestima, sentimento de culpa, vergonha e traio, distrbios psiquitricos e o
homossexualismo.
4. DISCUSSES LEVANTADAS LUZ DO LEVANTAMENTO QUANTITATIVO
Para que pudssemos realizar o levantamento quantitativo dos casos denunciados de
abuso sexual no municpio de Cascavel Paran, marcamos horrio por telefone para
conversarmos com algum dos conselheiros no Conselho Tutelar Leste e no Conselho Tutelar
Oeste.
Assim, nos Conselhos Tutelares foi-nos esclarecido que todos os casos de violncia
infanto-juvenis que so denunciados na 15 SDP, Delegacia do Adolescente, CREAS, escolas e
demais instituies que podem lidar diretamente com os casos de violncia contra crianas e
adolescentes, so encaminhados diretamente para o Conselho Tutelar, que por sua vez
utiliza o Sistema de Informao para Infncia e Adolescncia (SIPIA), para registro de
violncia que foram denunciados e confirmados.
Na conversa compreendemos tambm sobre o sistema SIPIA, que antes do dia 01 de
janeiro de 2004, os Conselhos Tutelares utilizavam o SIPIA local, o qual foram extraviados
muitos dados, pois o registro ocorria da seguinte maneira, cada Conselho Tutelar fazia
backup dos casos notificados de violncia todo final de ms, essas informaes iam, ento,
para Curitiba e, s depois eram enviados para Braslia. Contudo, neste processo, perderamse muitos backups, ou seja, diversos registros, resultando na fragmentao de resultados e
em parmetros deficientes.
Portanto, a partir do dia 01 de janeiro de 2012, firmou-se como sistema utilizado, o
SIPIA-CT WEC, na qual todas as informaes sipiadas3 vo diretamente fazer parte dos dados
on-line do pas. Assim, como levantou uma das conselheiras contatadas, os dados
Pgina
111
aproximam-se mais do real, isto no sentido dos casos que so denunciados e tambm
confirmados, porque sabemos que os casos em que efetuam-se as denncias, so a ponta do
Termo utilizado pelos conselheiros tutelares para quando os casos denunciados e confirmados so registrados
no SIPIA, um sistema nacional de registro de informaes on-line.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
iceberg, haja vista, os que no conseguem comprovar o abuso e os casos que so
infundados, isto , nunca ocorreram de fato.
Por conta deste processo de reestruturao do sistema utilizado pelos Conselhos
Tutelares do municpio de Cascavel e da grande fragmentao ocorrida anteriormente com o
SIPIA local, ambas conselheiras disponibilizaram as informaes sob dois perodos e
aspectos, um com a utilizao do SIPIA-CT WEB, com o levantamento de casos ocorridos em
cada bairro no perodo de 01/01/2012 a 28/04/2014, pois apenas neste sistema web
possvel observar as violaes por bairros; e o outro levantamento de forma geral, pelo fato
da utilizao do SIPIA local, com a categoria de direito: liberdade, respeito, dignidade, dos
direitos especficos da violncia sexual e pela classe de idades das vtimas e sexo, este no
perodo de 01/01/2004 a 28/04/2014.
Os dados abrangendo municpios e bairros podem ser vistos apenas por sujeitos com
usurio e senha no site do sistema SIPIA. Com isso, ambas conselheiras entraram no sistema
e buscaram os dados por bairros, sendo que o Conselho Tutelar Leste fica responsvel por
notificar os dados de 78 bairros e o Conselho Tutelar Oeste 48 bairros.
Referente categoria: liberdade, respeito e dignidade, dos Conselhos Tutelares Leste
e Oeste no perodo 01/01/2004 a 28/04/2014, constatou-se um total de 2.239 violaes, ao
passo que 41,80% dos casos dizem respeito aos atos atentatrios ao exerccio da cidadania,
18,49% da violncia sexual, 17,95% violncia fsica, 10,09% violncia psicolgica, 7,19%
s prticas institucionais irregulares, 2,99% discriminao e 1,47% as questes relativas ao
aprisionamento. No caso especifico da violncia sexual, dos 18,49%, isto , 414 casos, 107
(25,84%) so do sexo masculino e 307 (74,15%) do sexo feminino.
Referente aos 18,49% da violncia sexual, constatamos 221 casos no Conselho
Tutelar Leste, com 61 casos masculino e 160 feminino e no Conselho Tutelar Oeste, fora
averiguado 193 violaes, sendo 46 do sexo masculino e 147 do sexo feminino, fazendo um
total de 414 casos, 107 masculino e 307 feminino.
Como uma das modalidades includas nos 414 casos de violncia sexual temos a
Pgina
112
violao especfica de abuso sexual, ao qual no CTL faz-se um total de 221 casos de violncia
sexual, sendo 91 de abuso, 30 so violaes ocorridas com crianas ou adolescentes do sexo
masculino e 61 do sexo feminino, no CTO dos 193 registros totais de violncia sexual, 89 so
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
de abuso sexual, esta tabela referente ao total de violaes por idade e, portanto, no foi
possvel identificar a questo de gnero.
Nas violaes de direitos especficos da violncia sexual, constatamos um total de
414 violaes, agregando os casos do Conselho Tutelar Leste e Oeste. Assim, com 43,47%
est o abuso sexual, 27,53% refere-se a outras formas, 14,97% ao estupro e 14,00%
seduo. Da questo de gnero do abuso sexual levantada apenas pela tabela do CTL,
podemos identificar 30 casos masculinos e 61 casos femininos.
O levantamento realizado nos Conselhos Tutelares Leste e Oeste no perodo de
01/01/2012 a 28/04/2014 constataram apenas os casos de abuso sexual por bairros, o qual
fora averiguado no CTL um total de 143 casos denunciados e comprovados de abuso sexual
contra crianas e adolescentes, sendo 109 casos do sexo feminino e 34 do sexo masculino. J
no CTO confirmou-se um total de 23 denncias, 16 do sexo feminino e 7 do sexo masculino.
Compreendemos, portanto, um total de 166 casos denunciados e comprovados de abuso
sexual conta crianas e adolescentes, sendo 125 casos do sexo feminino e 41 casos do sexo
masculino.
Temos que levar em considerao que no Conselho Tutelar Oeste, a conselheira no
sipiava os dados desde setembro de 2013, bem como alguns dados do ano de 2012,
ocasionando em maior deficincia dos resultados. Esta alega a dificuldade em sipiar os dados
por conta da falta de conselheiros e dos muitos casos em que atende por dia. Por isso, a
conselheira coloca os registros em documentos feitos em Excel e quando passa dois ou trs
meses, a mesma coloca em Power Point, este processo feito para o controle dos registros
e, conforme lhe possvel, vai sipiando gradativamente estes dados. No Conselho Tutelar
Leste tambm havia acumulado uma pilha de casos a serem sipiados.
Conforme a caracterizao da violncia utilizada pelo SIPIA-CT WEB, na violao do
direito fundamental de liberdade, respeito, dignidade (2.0.00.0), tem a violncia sexual
(2.4.00.0) que dentre suas modalidades, incluem-se a seduo (2.4.01.0), o abuso sexual
(2.4.02.0), estupro (2.4.03.0) e outros (2.4.80.0).
Pgina
113
No Conselho Tutelar Leste ocorreu da seguinte maneira, a conselheira foi-nos citando
o nome dos bairros e a quantidade de casos de abuso sexual infanto-juvenil do sexo
feminino e masculino, utilizando-se do meio impresso para apenas conhecermos o formato
dos registros, imprimindo, portanto, os dois bairros com mais incidncias de abuso. No
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Conselho Tutelar Oeste, a conselheira pediu para outra pessoa que trabalha no local, para
realizar a impresso dos registros de todos os bairros.
Com estas vias impressas, percebemos que h subitens na modalidade de abuso
sexual, que apenas possvel ser visualizado pelos conselheiros registrados no sistema,
aparecendo nestes documentos os itens de: abuso sexual por pessoas da famlia (2.8.01.0),
abuso sexual por membros do crculo de relaes sociais e de amizade (2.8.02.0), abuso
sexual por cuidadores (2.8.03.0), estupro (2.8.06.0), exibicionismo (2.8.07.0), assdio sexual
(2.8.10.0) e outros (2.8.80.0). Deve haver outros subitens, portanto, ainda no esto
disponveis on-line.
Assim, o software SIPIA/NBB/MJ - Sistema de Informao para Infncia e
Adolescncia/ Ncleo Bsico Brasil/ Ministrio da Justia um instrumento para contribuir
com os Conselheiros Tutelares no registro e encaminhamentos de crianas e adolescentes
que no tiveram seus direitos assegurados (LOPES et al, 2008). Tambm indica a insero da
tecnologia e a forma mais abrangente de regulao, diagnstico, contabilidade estatstica da
violncia em nvel municipal, estadual e nacional, tal como afirma Leal (1998), tambm
avalia o paradigma civilizatrio de garantia de direitos, no considerando os processos de
trabalho, polticas, projetos e oramentos. Ento, a proteo integral processo e resultado,
carecendo de indicadores.
Portanto, aps a denncia ser realizada e confirmada, feito o registro no SIPIA e,
ento, o conselheiro aplica medidas especficas de proteo para que os danos provocados
por ao ou omisso, sejam revertidos. Para que se consolide o registro dos casos,
necessrio que os Conselheiros Tutelares tenham senha individual de acesso ao sistema,
registrando os fatos especficos de cada caso, os familiares da vtima, endereo, qual fora o
direito violado, o agente violador, assim como as medidas de proteo determinadas pelo
conselheiro e encaminhamentos (LOPES et al, 2008).
Referendando-nos s senhas no sistema, constatamos a importncia destas no que
diz respeito aos conselheiros. A conselheira do Conselho Tutelar Leste possua uma senha
Pgina
114
individual, a maioria dos casos j haviam sido registrados e a conselheira conhecia bem o
sistema, respondendo todas as questes acordadas com facilidade, disponibilizando-nos
mais dados que os pedidos e a do Conselho Tutelar Oeste no possua esta senha, ela no
conseguira responder todas as questes levantadas mais especficas ao sistema utilizado, as
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
questes referentes ao SIPIA fazia-se necessrio o auxlio de outra pessoa do local, para
poder localizar os dados pedidos, sendo que os casos por esta conselheira no eram sipiados
desde setembro de 2013, mais alguns casos de 2012, tendo em vista o no cadastro dela no
sistema.
O estado do Paran utiliza, portanto, o sistema SIPIA-CT WEB desde o dia primeiro de
janeiro de 2012, colaborando no processo de dados mais coerentes com a realidade dos
casos denunciados e confirmados no Conselho Tutelar. A violncia sexual na forma de abuso
sexual integra o direito violado: liberdade, respeito e dignidade, e o Paran dentre os vinte
estados4 includos nas estatsticas do sistema SIPIA on-line, est com mais violaes que
todos os outros em violncia sexual sob a forma de abuso, com 111.113 violaes, isto no
perodo do 01/01/2004 a 28/04/2014, sendo 56.581 masculino e 54.334 feminino. Os dados
municipais podem ser vistos apenas por quem possui usurio e senha no sistema.
5. CONSIDERAES FINAIS
Conseguimos constatar, portanto, 166 casos confirmados de abuso sexual no perodo
de 01/01/2012 a 28/04/2014, j os dados de 01/01/2004 a 28/04/2014 totalizam 180 casos.
Isto implica dizer que em dez anos registraram-se 180 casos, sendo que nos ltimos trs
anos confirmaram-se 92,22% deste total, 166 casos. Isto resulta da fragmentao dos dados
ocorridos antes da utilizao do sistema SIPIA-CT WEB, mas tambm resultaram do maior
conhecimento desta temtica pela populao que por sua vez, corroboram no processo que
ambas conselheiras afirmaram ocorrer, acerca do aumento do nmero das denncias.
Acreditamos desta maneira, na importncia do mapeamento, atrelando definies,
categorizaes, fases do desenvolvimento, dentre outros estudos tericos com o que de fato
est ocorrendo em mbito municipal, estadual ou nacional. Esta vinculao entre plano
formal e plano real, pode mediar a consolidao de meios, com o fim de diminuir
efetivamente os casos de violncia exercidos contra crianas e adolescentes.
Ento, o ECA, bem como todo o aparato legal federal, possui extrema importncia
Pgina
115
para a proteo infanto-juvenil, mas no deve parar por aqui, pois no apenas os nmeros
4
Fazem parte das estatsticas do SIPIA-CT WEB, os estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Cear, Distrito
Federal, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Par, Paran, Pernambuco, Piau, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondnia, Santa Catarina, So Paulo e Sergipe; dos quais no fazem
parte do sistema os estados: Amap, Esprito Santo, Maranho, Paraba, Rio de Janeiro, Roraima e
Tocantins.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
de denncias realizadas devem aumentar, mas tambm deve acrescer o conhecimento
especfico de cada forma de violncia, tanto pelos profissionais que trabalham efetivamente
com crianas e adolescentes, quanto por todos os membros da sociedade civil, sempre
tendo em vista a proteo integral e o mnimo de consequncias produzidas.
De modo a findar o pensamento exposto, acreditamos que devem-se materializar
dispositivos que abranjam todas as complexidades do abuso sexual, bem como
sensibilizao dos sujeitos sociais para a compreenso deste fenmeno na sociedade, maior
fiscalizao para efetivao das leis j sancionadas, contratao de mais profissionais e que
estes sejam capacitados para lidar com este tipo de situao, assim como ambientes
estruturados para todas as adversidades que esta forma de violncia pode causar, tratando
de forma mais humana possvel esses sujeitos que ainda esto em desenvolvimento, para
que as consequncias sejam as mais nfimas possveis.
Pgina
116
6. REFERNCIAS
AMAZARRAY, Mayte Raya; KOLLER, Silvia Helena. Alguns aspectos observados no
desenvolvimento de crianas vtimas de abuso sexual. Psicologia Reflexo e Crtica,
ao/vol. 11, n 003, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Puerto Alegre-BR: 1998.
ISSN: 0102-7972.
ARAJO, Maria de Ftima. Violncia e abuso sexual na famlia. Psicologia em estudo.
Maring,
v.
7,
n.
2,
p.
3-11,
dez.
2002.
Disponvel
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid= S1413-73722002000200002&script=sci_arttext>.
Acesso em: 13 jan. 2014.
ASSOCIAO BRASILEIRA MULTIPROFISSIONAL DE PROTEO INFNCIA E ADOLESCNCIA
(ABRAPIA). Abuso sexual Mitos e Realidade. 3 ed. Petrpolis, RJ: Autores & Agentes &
Associados,
2002.
Disponvel
em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Abuso_Sexu
al_mitos_realidade.pdf>.
Acesso em: 21 abr. 2013.
AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. Violncia sexual intrafamiliar: possvel proteger a
criana? Revista Virtual Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 1-10, 10 nov.
2006.
Disponvel
em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/1022>. Acesso em: 1
jun. 2014.
BRASIL. Cdigo Penal Brasileiro: Decreto-Lei 2848/ 1940. 1940. Disponvel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 1 jun.
2014.
BRASIL. Edio comemorativa 2010 - 20 anos do estatuto da criana e do adolescente e
legislao complementar para a proteo integral de crianas e adolescentes (ECA).
Curitiba-PR: Secretaria de Estado da Criana e da Juventude, 2010.
CENTRO BRASILEIRO PARA A INFNCIA E ADOLESCNCIA (CBIA). Sistema de informao para
a infncia e a adolescncia - SIPIA Brasil. Curitiba: IPARDES, 1993.
Pgina
117
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
CHILD WELFARE INFORMATION GATEWAY. Definitions of child and neglect. Washington,
DC: U.S. Department of Health and Human Services, Childrens Bureau, 2011. Disponvel
em: <www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/stat utes/define.pdf>. Acesso em:
22 abr. 2013.
DAY, Vivian Peres et al. Violncia domstica e suas diferentes manifestaes. Revista de
Psiquiatria, Rio Grande do Sul, v. 25, n. 1, p. 9-21, abr. 2003. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/pdf/rprs/v25s1/a03v25s1>. Acesso em: 7 jul. 2014.
FALEIROS, Eva T. Silveira; CAMPOS, Josete de Oliveira. Repensando os conceitos de
violncia, abuso e explorao sexual de crianas e de adolescentes. Braslia: CECRIA/ MJSEDH-DCA/ FBB/ UNICEF, 2000.
FARIA, Ernesto. Dicionrio escolar latino-portugus. 3 ed. Rio de Janeiro: MEC / DNE/
C.N.M.E., 1962.
FLORES, Renato Zamora. Definir e medir o que so abusos sexuais. In: CECRIA (Org.).
Indicadores de violncia intra-familiar e explorao sexual comercial de crianas e
adolescentes. Braslia: CESE/ Ministrio da Justia/ CECRIA/ Fundo Cristo para Crianas,
1998.
HAZEU, Marcel; FONSECA, Simone. Explorao e violncia contra crianas e adolescentes no
Par. In: CECRIA (Org.). Indicadores de violncia intra-familiar e explorao sexual
comercial de crianas e adolescentes. Braslia: CESE/ Ministrio da Justia/ CECRIA/
Fundo Cristo para Crianas, 1998.
KRUG et al. Relatrio mundial sobre violncia e sade. Genebra: OMS, 2002.
LEAL, Maria Lcia Pinto. Violncia intra-familiar: um estudo preliminar. In: CECRIA (Org.).
Indicadores de violncia intra-familiar e explorao sexual comercial de crianas e
adolescentes. Braslia: CESE/ Ministrio da Justia/ CECRIA/ Fundo Cristo para Crianas,
1998.
LOPES, Jandicleide Evangelista et al. Relatrio de pesquisa das violaes de direitos
fundamentais de crianas e adolescentes do estado do Paran. Sistema de Informao
para a Infncia e a Adolescncia (SIPIA). Paran: Universidade Federal do Paran/ PROEC,
2008.
LOWENKRON, Laura. Abuso sexual infantil, explorao sexual de crianas, pedofilia:
diferentes nomes, diferentes problemas? Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista
latinoamericana. Rio de Janeiro, n. 5, p. 9-29, jul. 2010.
MINAYO, Maria Ceclia de Souza. A violncia social sob a perspectiva da sade pblica. Cad.
Sade Pblica. Rio de Janeiro, 10 (supl. 1), p. 7-18, 1994.
RIZZINI, Irene; GONALVES, Hebe Signorini. Avaliao do ncleo bsico Brasil/ Projeto
SIPIA: Projeto apoiado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos Departamento da
Criana e do Adolescente. Rio de Janeiro e Braslia: Ciespi, 2003.
SANTOS, Benedito Rodrigues dos et al. Guia escolar: identificao de sinais de abuso sexual
de crianas e adolescentes. Ministrio da Educao/ Secretaria Especial dos Direitos
Humanos. Braslia: 2013.
Segurana na Internet. Redes Sociais Virtuais. Violncia sexual. Disponvel em:
<www.educacao-sexual.pt> Acesso em: 22 abr. 2013.
SISTEMA DE INFORMAES PARA INFNCIA E ADOLESCNCIA (SIPIA). Mdulo para
conselhos
tutelares.
Disponvel
em:
<http://www.sipia.gov.br/CT/;jsessionid=C9729F15B4Bw5w*B66IfR6RNFVlnD3B7v4qILw5
15z4-dUPm-R YGESKjgqXVe70wBJ64YywYtZOymsXNqYrZ6o9qjyfAOpaeHjHIrKkj>. Acesso
em: 1 jun. 2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
ENTRE BRINCADEIRAS E MSICAS: crescendo menina ou menino1
Kleiton Linhares2
Andra Cristina Martelli3
1. INTRODUO
Este artigo tem a finalidade de compreender as influncias das brincadeiras do
espao escolar na construo da noo4 de gnero pelas crianas, utilizando-se de padres e
representaes impostas socialmente. Como campo emprico, optamos pela observao de
algumas brincadeiras realizadas pelos alunos e pelas alunas do 3 ano, durante o recreio em
uma escola da Rede Pblica Municipal de Ensino, no municpio de Cascavel-PR. Essas
brincadeiras chamaram a ateno, justamente, por trazerem implcita e explicitamente as
construes de gnero e sexualidade.
Para alcanarmos nosso objetivo optamos pela reviso bibliogrfica da temtica
aliada anlise de duas msicas coletadas do cotidiano escolar dessas crianas. Assim,
entrelaando teoria e empiria, percebemos como a escola contribui na construo do
gnero e de suas relaes. A estrutura do nosso texto conta com trs momentos;
primeiramente, tecemos algumas noes sobre gnero e sexualidade a fim de identificar
nosso local terico; em seguida, abordaremos a escola como espao de construo de
gneros e, por ltimo, compreenderemos as brincadeiras no espao escolar e suas
Pgina
118
Esse texto apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa Cartografia de aes docentes diante da
Sexualidade, cadastrado no Comit de tica da Universidade, com o nmero 03832112000000107, CAAE.
2
Pedagogo, especialista em Ensino de Geografia e Histria. Mestrando em Educao Unioeste. Coordenador
pedaggico da Secretaria Municipal de Educao. Subcoordenador dos Grupos de Formao de Sexualidade
Infantil para professores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino de Cascavel, em Parceria com a
Unioeste. E-mail: thonlinhares80@gmail.com
3
Professora Adjunta do curso de Pedagogia do campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do
Paran. Doutora em Educao pela Universidade Estadual de Campinas. Pesquisadora do Imaginar Grupo
de pesquisas sobre Imaginrio, Educao e Formao de Professores e do Violar Unicamp. E-mail:
andreamartelli72@hotmail.com.
4
No texto utilizaremos a palavra noo como alternativa terica palavra conceito. De acordo com
Maffesoli, conceito algo fechado, o que no coaduna com o momento de mudana de paradigma que
vivemos ( IELE; MAFFESOLI, 2011, p. 522), nem com as nossas noes de produo de conhecimento.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
influncias na construo dos gneros. Ressaltamos que essa diviso no nega a articulao
e interdependncias entre as discusses propostas, to somente a opo de organizao
didtica.
2. CONSIDERAES SOBRE GNERO E SEXUALIDADE
Ao analisarmos o ser humano e seu comportamento partimos do pressuposto da
sua complexidade para alm do biolgico (estrutura) e fisiolgico (funcionamento).
Consideramos que esses dois fatores no abarcam todas as nuances desse ser, nessa direo
o conceito de gnero se coloca na contraposio a concepes essencialistas,
naturalizantes, presas a distines de carter biolgico, que obscurecem as razes
histricas das diferenas e desigualdades entre homens e mulheres (MEC, 2007, p. 16).
Mulheres, homens, meninas e meninos produzem e reproduzem padres de
comportamento construdos historicamente pela e na sociedade na qual esto inseridos.
Nessa perspectiva, nos referimos a gnero como um fenmeno construdo historicamente
nos diferentes tempos e espaos sociais.
Se o gnero uma construo social, por conseguinte, no acontece sem
intencionalidades e, nem sem prticas preestabelecidas. Portanto, gnero [...] produto de
um longo trabalho histrico e cultural da construo terica e prtica sobre corpos e sobre
as mentes (FAGUNDES, 2005, p.10). Fica evidente que as pessoas, na sua maioria, so desde
a mais tenra idade conduzidas e orientadas a seguir padres,
a se revestirem de esteretipos, a manifestarem prticas masculinizantes ou
feminilizantes, afirmando condies, funes e posies sociais que desfrutam, exercem
e ocupam, contribuindo para a sobrevivncia e a perpetuao da dicotomia entre os
sexos (JESUS, 2007, p. 192).
marcado ou mais precisamente imposto em nossa sociedade, que tanto a menina
e o menino, a mulher e o homem, j nascem com os papis sociais pr-definidos, bem como,
as expectativas de comportamentos, constatamos essa padronizao heteronormativa
presente nos imaginrios5 e nos discursos das pessoas. Para o masculino a virilidade, a fora,
Pgina
119
a razo; para o feminino a docilidade, a fragilidade e a emoo. H uma naturalizao para
as diferenas, portanto, se naturais no podem e nem devem ser questionadas ou
5
No decorrer do texto, utilizaremos a noo de Imaginrio, fundamentados em Maffesoli, o qual foi inspirado
em Gilbert Durand. Para esses autores, o imaginrio a relao entre as intimaes objetivas e a
subjetividade. As intimaes objetivas so os limites que as sociedades impem a cada ser. Relao entre as
coeres sociais e a subjetividade (MAFFESOLI, 2001, p. 80).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
transformadas. Essa naturalizao das caractersticas femininas e masculinas no considera
nem os aprendizados ocorridos na vida de cada pessoa, nem suas experincias adquiridas
nos diferentes espaos sociais nos quais convive. Nesse sentido,
[...] no importa negar as diferenas, interessa afirmar que essas diferenas podem se
enfatizadas, negada, interpretadas, estudadas, diminudas ou atribudas a diferentes
fatores de acordo com as circunstncias (CARVALHO; TORTATO, 2009, p. 27).
Dos desafios na discusso de gnero, um deles compreender que as diferenas
existentes entre homens e mulheres, masculinos e femininos, no so elementos de
hierarquizao e, sim, resultados das aprendizagens ocorridas no percurso de existncia de
cada um. A mulher age com a racionalidade em algumas ocasies, o que no a impede de
ser sensvel e afetuosa em outras. Construmo-nos e nos descontrumos de acordo com as
nossas experincias e nossas subjetividades a partir das relaes que estabelecemos com os
outros e as outras e com o meio social.
No entanto, ainda prevalece na maioria do imaginrio social a dicotomia entre os
mundos masculinos e femininos. Citamos aqui o exemplo da mulher grvida. Antes do
nascimento da criana se planeja a roupa, o nome, a cor do quarto se for menino ser azul,
se for menina ser rosa a criana vai aprendendo o que vestir, como se portar, como
reagir, como brincar, com o que e com quem brincar, que brincadeira mais adequada para
o seu sexo. [...] os pais [e as mes] so os principais influenciadores e estimuladores dos
esteretipos no incio da infncia, pois so eles [elas] que vo decidir por elas (BICALHO,
2013, p. 47).
Nosso gnero e nossa sexualidade so pensadas, construdas e limitadas antes de
nascermos. Desde pequenas, as crianas so permeadas pelo significado da cultura de
gnero e de sexualidade, muitas vezes de maneira branda, porm, cravejada de significados
e de simbologias.
Pensar em gnero, nos remete sexualidade. Essa compreendida pelo senso
comum limitada a sexo e a reproduo. Essa concepo permeia os espaos escolares e
Pgina
120
norteia as prticas pedaggicas; quando as aulas de educao sexual so trabalhadas, se
direcionam as funes biolgicas e fisiolgicas do ser humano. Assim, a viso que se tem
sobre a sexualidade reduzida [...] ao estudo e anlise da biologia humana, no sentido de
desvendar os segredos da reproduo e dos aparelhos masculino e feminino [...] (JESUS,
2007, p. 190).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Segundo Fagundes (2005, p.14)
Sexualidade e reproduo so processos que se expressam graas a rgos especficos do
ser humano e, por isso tem uma estreita relao, mas no significam a mesma coisa.
Reproduo o processo pelo qual a vida gerada [...]. Sexualidade muito mais que ter
um corpo apto para procriar e apresentar desejos sexuais; pressupe intimidade, afeto,
emoes, sentimentos e bem-estar individualizados decorrentes, inclusive, da histria de
vida de cada um.
A discusso em torno da sexualidade busca compreender formas, jeitos, maneiras
de como cada um expressa seus prazeres, suas emoes e sensaes. Fagundes (2005, p. 17)
assegura que a sexualidade [...] se associa aos componentes biolgicos e psicolgicos [...] e
[...] se traduz pelo social, histrico e cultural [...] plasmada pela linguagem, normas e
valores vigentes nas sociedades, em diferentes pocas. Assim, se torna possvel asseverar
que a sexualidade humana constitui-se de fatores biolgicos, fisiolgicos e, tambm, de
outros para alm desses. As situaes e as experincias das pessoas, independente da etapa
de sua vida, servem de referncias, inclusive, para a sexualidade.
No decorrer da nossa vida participamos de diferentes instituies sociais, as quais
influenciam nossas vivncias da sexualidade e corroboram na construo de nossa
identidade de gnero, dentre essas, destacamos a escola.
3. A ESCOLA COMO ESPAO DE CONSTRUO DE GNERO
Em nossa acepo a escola constitui-se como o espao de produo, socializao,
sistematizao e construo de saberes e conhecimentos. Ao mesmo tempo, constituda
por pessoas, as quais trazem consigo, vivncias, experincias, desejos e vontades, desde as
mais reprimidas at as mais explicitas. Nesse sentindo, a escola lcus de produo e
socializao de saberes; a educao que a se desenvolve um processo sistemtico e
intencional de formao mltipla dos sujeitos (LOURO, 1995, p. 3).
Sendo assim, vemos a escola reproduzindo padres que a sociedade, eficazmente,
produziu e reproduziu ao longo da histria. Padres, em sua maioria, considerados naturais,
imutveis, inquestionveis. Essa instituio imprime marcas distintivas sobre os sujeitos,
Pgina
121
atravs de mltiplos e discretos mecanismos, escolarizam-se e distinguem-se os corpos e as
mentes (FINCO, 2008, p. 2). Podemos visualizar essa questo em suas paredes com tarjas
azuis com nomes de meninos, tarjas rosas com nome de meninas, filas de meninos e de
meninas. O mesmo acontece com brincadeiras e brinquedos e, inclusive, na cobrana em
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
relao ao comportamento dos alunos, onde vozes pronunciam que isso no coisa de
menino, esse caderno at parece de menina de to caprichado, ele muito delicado, essa
menina parece mais um pia, entre outras atrocidades.
Para Bicalho (2013, p. 45) a criana recebe tratamento diferenciado de acordo com
as normas sociais do grupo que pertence e, do que esse considere como apropriado para o
masculino ou feminino. Dissemina-se no espao da escola padres que no representam
todas as crianas e adolescentes presentes nesse espao, reforando de maneira negativa os
esteretipos que fogem ao padro preestabelecido pela sociedade. Tudo o que no atende
ao padro, destoa da realidade imposta, estranho, portanto, ser criticado, rechaado,
excludo, deixado margem. Assim, o espao que deveria acolher e trabalhar com o universo
do diverso, fragmenta a formao humana e refora os padres que no identificam a
maioria das pessoas que compem o espao escolar.
A multiplicidade de brincadeiras caracteriza o mundo da infncia, inclusive quelas
que meninos e meninas imitam ou reproduzem o comportamento de seus professores e
professoras, pais e mes. Quando as crianas brincam de escolinha, de casinha, observamos
expresses de papis sociais, representando aquilo que aprenderam nas relaes com
adultos.
Na escola, esta realidade marcada tambm pelos discursos, segundo Louro desde
o incio dos tempos modernos, o processo educativo escolar se assenta na figura do mestre,
entendido aqui como um ser do sexo masculino ou feminino, o qual
[...] se tornar responsvel pela conduta de cada um dos estudantes cuidando para que
esse carregue, para alm da escola, os comportamentos e as virtudes que ali aprendeu.
Para que isso acontea, no basta que o mestre seja conhecedor de saberes que deve
transmitir, mas preciso que seja, ele prprio, um modelo a ser seguido (LOURO, 2001,
p. 92).
Refletindo a esse respeito, possvel perceber que muito dos construtos sobre
gnero e sexualidade que permeiam o espao escolar, advm dos discursos dos prprios
professores e professoras, nos quais prevalecem padres de comportamentos cristalizados
Pgina
122
no dualismo masculino ou feminino. Pensar a escola como espao de formao humana,
repensar nossas noes sobre sexualidade e gnero. Torna-se salutar para a formao
cidad e emancipatria o ressignificando de aspectos que foram negligenciados em virtude
de modelos positivistas, lineares e tradicionais de educao, produo de conhecimento,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
enfim, repensar a escola como espao de multiplicidade de vidas, de sexualidades, de
gneros.
A escola deveria ser um espao do diverso, fundamentada nos princpios da
cidadania, da criticidade, da tica, da esttica, contribuindo para vivncias mais livres e
prazerosas. Assumir seu papel como mediadora no processo de desmistificao do modo de
pensar e agir em relao aos modelos preestabelecidos pela sociedade vigente.
4. BRINCADEIRAS NO ESPAO ESCOLAR
As brincadeiras no espao escolar so momentos de aprendizagem, de socializao
e de diverso. Auxiliam no processo de interao das crianas e, tambm, no processo de
desenvolvimento das mesmas. Com o passar do tempo e de acordo com as diferentes
culturas ocorrem adaptaes nas brincadeiras. Se rememorarmos nossas infncias
observaremos o quanto as brincadeiras se repetem, se adaptam, se modificam. De outra
forma, o brincar em suas diversas expresses pertence ao desenvolvimento humano.
Fagundes (2005) enfatiza que a brincadeira fundamental para o desenvolvimento
integral infantil e que cada criana apresenta uma forma singular de lidar com o ldico. Ao
brincar a criana concretiza as regras do jogo, mergulhando na ao ldica (KISHIMOTO,
1996, p. 21). Nos momentos de brincadeiras livres, possvel perceber que estas se
envolvem com as mais variadas atividades, tais como pega-pega, lutinha, menina pega
menino (e vice-versa), me cola, pular corda, futebol, entre outras brincadeiras. possvel
ainda perceber que a maioria das brincadeiras so marcadas pelo gnero. Lutinhas e
futebol so mais voltadas aos meninos; pega-pega, menina pega menino, para ambos; j,
me cola e pular corda voltadas s meninas.
No incio da socializao as crianas escolhem as suas brincadeiras e os seus brinquedos
de acordo com o sexo e acabam estereotipando o brincar. As formas estereotipadas das
crianas procedem dos pais e de outros atores sociais (BICALHO, 2013, p. 47).
Assim, meninos e meninas, segregam suas atividades, classificando-as em
masculino e feminino. Bicalho (2013, p. 46) comenta que com o brincar as crianas
Pgina
123
gradativamente vo introjetando os signos de masculinidade e feminilidade contidos nas
brincadeiras.
No desenvolvimento de atividades de pesquisa e do assessoramento pedaggico
numa escola da Rede Municipal de Ensino de Cascavel, foi possvel perceber algumas
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
brincadeiras de roda diferentes daquelas mais conhecidas como ciranda, cirandinha e roda
cutia. Eram brincadeiras de roda, com msicas e temas atuais. Ao observar a roda e o
comportamento das crianas nos chamou a ateno a maneira como meninas e meninos
representavam as msicas, cantavam e teatralizavam com expresses voltadas ao gnero e
sexualidade.
Dentre as brincadeiras, sero destacadas duas msicas que retratam padres de
comportamentos dos gneros masculinos e femininos.
Ressaltamos que
no seu brincar, a criana constri e reconstri simbolicamente a sua realidade e seria o
existente esse brincar criativo, simblico e imaginrio, como forma de conhecer o mundo
e se apropriar da cultura [...] (BENJAMIN, 1984).
A primeira msica cantada e dramatizada tem a seguinte letra6
Fui ao mercado comprar chicletes.
Veio um menininho me chamou de pirigueti,
Dolim, dolim, dolim, dolim.
Dola, quem ficar de perna aberta.
Vai ter que rebolar na frente dos pias.
1,2,3 e j.
Em crculo, meninos e meninas brincavam; a maioria era composta de meninas,
apenas alguns meninos participavam da brincadeira e, alguns, espreitavam prximos. As
meninas cantavam a msica e na parte onde falava a palavra pirigueti, colocavam a mo
na cintura e rebolavam, descendo at o cho. Quando cantavam dolim, dolim, dolim, dola,
as meninas pulavam e cruzavam as penas, ora ficavam com as pernas abertas, ora ficavam
com as pernas fechadas. Se errassem a sequncia, como castigo, rebolariam na frente dos
meninos.
Os meninos que no faziam parte da brincadeira e ficavam prximos, logo que
percebiam as colegas que ficavam com as pernas abertas, se colocavam em frente s
mesmas e esperavam-nas rebolarem. Riam, voltavam para seus lugares e faziam
comentrios com os outros, aguardando a prxima rodada da brincadeira.
Pgina
124
Percebemos a reproduo do imaginrio construdo socialmente em relao
pirigueti por parte das meninas, imitando as danarinas de funk, assistidas nas mdias. A
As letras foram escritas pelas crianas da turma de terceiro ano, que no souberam informar de onde
aprenderam as msicas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
reproduo deste comportamento revela o olhar sobre o corpo da mulher e o
comportamento de um determinado esteretipo social. Nos pareceu que essas meninas
assumiram o determinismo de muitas falas adultas, de quem dana funk7 pirigueti. Essas
relaes deterministas negam os aspectos culturais de qualquer estilo musical e os analisa
fora do seu contexto.
Diante do comportamento dos meninos, foi possvel perceber o construto do
gnero masculino, reproduzindo um comportamento de dominao masculina sobre o corpo
feminino, onde o gnero feminino fica submisso, merc ou simplesmente como um objeto,
conforme afirma Weeks (2001, p. 56) os padres de sexualidade feminina so,
inescapavelmente, um produto do poder dos homens para definir o que desejvel um
poder historicamente enraizado.
Nesta brincadeira, os papis de gnero ficaram demarcados por esteretipos
construdos historicamente, pautado no discurso dominante que constri os corpos
masculino e feminino como verses hierarquizadas e ordenadas de um nico sexo. Disso
podemos compreender como se o corpo da mulher fosse uma verso inferiorizada do corpo
do homem e enfatiza a importncia do papel da mulher em relao ao prazer sexual.
A letra da segunda msica:
Fui ao cinema assistir a quatro filmes;
O primeiro era de cowboy, cowboy, cowboy, cowboy;
O segundo era de princesas, princesas, princesas, princesas;
O terceiro era de terror, terror, terror, terror;
O quarto era de amor, amor, amor, amor.
Na mesma organizao que anterior, porm, com maior participao dos meninos.
Enquanto cantavam a msica, faziam os gestos das palavras que se repetem. A primeira
palavra que repete cowboy, o gesto era uma arma com as mos, com o dedo indicador
apontado para frente como se estivessem atirando. A maioria que fazia o gesto era
composta de meninos. J as meninas faziam o gesto de maneira mais branda, sem tanta
Pgina
125
empolgao.
A histria do funk carioca tem origem na juno de tradies musicais afrodescendentes brasileiras e
estadunidenses. No se trata, portanto, de uma importao de um ritmo estrangeiro, mas sim de uma
releitura de um tipo de msica ligado dispora africana. Desde seu incio, mesmo cantado em ingls, o funk
foi lido entre ns como msica negra, mais prxima ao samba e aos batuques nacionais do que a um fenmeno
musical aliengena (FACINA, 2009, p. 2-3).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A segunda palavra repetida princesas, neste momento a cena que se comps foi a
de meninos parados e, as meninas, por sua vez, passavam a mo, com a palma voltada para
baixo, abaixo do queixo e jogavam a cabea de um lado para o outro, fazendo balanar seus
cabelos.
A terceira palavra terror, onde os meninos imitavam monstros e as meninas aos
gritos fugiam dos monstros.
A ltima palavra amor, neste momento as meninas uniam as mos em forma de
corao. J os meninos puxavam os braos, simultaneamente, para trs e elevavam a regio
plvica para frente, simulando uma cena de sexo.
Nesta brincadeira possvel perceber novamente os papis de gneros demarcados
por imaginrios apreendidos nos diferentes espaos sociais e reproduzidos na escola. Os
gestos, as letras, a empolgao nas duas brincadeiras expressam como as crianas
internalizam os padres de comportamento.
Das observaes, a encenao diante da palavra amor, merece destaque. De um
lado, as meninas a relacionam com corao, smbolo de sentimentos, de afetos, de carinho,
de amor; por outro, os meninos insinuam movimentos relacionados a sexualidade mais
explcita. Ficou evidente a noo de sexualidade atrelada ao ato sexual e as diferenas entre
o olhar dos meninos e das meninas, dos homens e das mulheres em relao palavra
amor.
Essas diferenas no pertencem essncia masculina ou feminina, nem tampouco
so naturais, so construdas nas relaes estabelecidas com as outras pessoas, nas
percepes que permeiam nossas subjetividades e, acima de tudo, pelos discursos
padronizantes que reforam os esteretipos sociais.
5. CONSIDERAES FINAIS
No decorrer desse trabalho no foi nossa pretenso esgotar a temtica, uma vez
que masculino e feminino como noes culturais, sociais e histricas so passveis de
Pgina
126
alteraes de acordo com os e as protagonistas da sociedade em diferentes tempos e
espaos.
Em nossas experincias e nas leituras realizadas constatamos que a escola, assim
como os demais espaos sociais, convive com ambivalncias no tocante a discusso de
gnero e sexualidade. Por um lado, uma vertente tradicional tenta ignorar ou silenciar
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
qualquer possibilidade que destoe, que fuja, que desconstrua padres estabelecidos de ser
homem e ser mulher e de como viver a sexualidade. De outro lado, as novas formas de viver
o masculino e o feminino sorrateiramente conquistam espao na sociedade. Resistncias e
transgresses desenham o mosaico de se homem e mulher, masculino e feminino.
As brincadeiras so essenciais na construo de gneros menos presos a padres
seculares, especialmente, quando respeitam a subjetividade e os anseios dos menores,
principalmente quando a criana sente satisfao e prazer na atividade de brincar, expressar
seus pensamentos, desejos, emoes e livre para escolher as suas atividades ldicas
preferidas. [...] a partir do imaginrio, as crianas entendem a si prprias e ao outro,
adquirindo conhecimento de mundo e percebendo a diversidade humana e pluralidade de
gnero (BICALHO, 2013, p. 47).
As construes de gnero ocorrem em esferas sociais de convivncia, tais como
famlia, igreja e, principalmente, a escola. Os dois primeiros espaos so norteados por
regras, princpios e doutrinas que dogmatizam, trabalhados como verdades absolutas.
Embora, essas questes tambm constituem o cotidiano escolar; a escola possui uma
especificidade, a produo do conhecimento cientfico vindo ao sentido contrrio aos outros
espaos.
A escola, enquanto espao de produo e socializao do conhecimento cientfico,
deveria ser o espao de desconstruo de mitos, preconceitos, inverdades, dentre outros.
Salientamos que no negamos esses outros elementos que constroem os imaginrios sobre
gnero e sexualidade expressos nas escolas, no entanto, cabe a essa instituio
problematiza-los, question-los, compreend-los, enfim, contribuir nas vivncias de gneros
e de sexualidades mais livres e emancipatrias.
Pgina
127
6. REFERNCIAS
BENJAMIN, W. Reflexes: a criana, o brinquedo, a educao. So Paulo: Summus, 1984.
BICALHO, Chaiton Whashington Cardoso. Brincadeiras infantis e suas implicaes na
construo de identidade de gnero. Rev Med Minas Gerais; 23(supl. 2), 2013.
CARVALHO, Marlia Gomes de; TORTATO, Cntia de Souza Batista. Gnero: consideraes
sobre o conceito. In: LUZ, Nanci Stancki da; CARVALHO, Marlia Gomes de; CASAGRANDE,
Lindamir Salete (orgs). Construindo a igualdade na diversidade: gnero e sexualidade na
escola. Curitiba: UTFPR, 2009.
FACINA, Adriana. No me bate doutor: funk e criminalizao da pobreza. In: V ENECULT Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Faculdade de Comunicao/UFBa,
Salvador, maio, 2009.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
128
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho. Ensaios sobre educao, sexualidade e
gnero. Salvador: Ed. Helvcia, 2005.
___________. Ensaios sobre identidade e gnero. Salvador: Ed. Hvcia. 2003.
___________. Mulher e pedagogia: um vnculo re-significado. Salvador: Ed. Helvcia, 2005.
___________. (Org.) Ensaios sobre gnero e educao. Salvador: Universidade Federal da
Bahia, 2001.
FINCO, Daniela. Socializao de Gnero na Educao Infantil. Fazendo Gnero 8 Corpo,
Violncia e Poder. Florianpolis, agosto, 2008.
JESUS, Railda Maria Bispo de. Aprendendo a ser menina, aprendendo a ser menino: um
estudo sobre representaes de gnero vinculadas em livros para didticos em classes de
alfabetizao em escolas pblicas e particulares de Salvador. 2005. Trabalho de concluso
de curso (Graduao em Pedagogia) Faculdade de Educao, Universidade Federal da
Bahia.
JESUS, Railda Maria Bispo de. Implicaes da ao docente sobre questes de sexualidade e
gnero na escola. Revista Faced n 11. Salvador, 2007.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida O jogo e a educao infantil. In: KISHIMOTO, Tizuko Morchida
(org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educao. So Paulo: Cortez, 1996.
LOURO, Guacira Lopes. Educao e gnero: a escola e a produo do feminino e do
masculino. In: SILVA, Luiz Heron da; AZEVEDO, Jos Clvis de (Org.). Reestruturao
Curricular: teoria e prtica no cotidiano da escola. Petrpolis, RJ: Vozes, 1995.
LOURO, Guacira Lopes. Gnero, sexualidade e educao: uma perspectiva psestruturalista. 4. Ed. Petrpolis, RJ. Vozes, 1997.
_______________. (Org.). O Corpo Educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo
Horizonte: Autntica, 2001.
MAFFESOLI, Michel. O imaginrio uma realidade. Revista FAMECOS mdia cultura e
tecnologia. Porto Alegre, Programa de Ps-Graduao em Comunicao Social da
Faculdade de Comunicao Social da Pontifcia Universidade Catlica do rio Grande do
Sul, n 15, p. 74-82, ago. 2001.
MAFFESOLI, Michel; ICLE, Gilberto. Pesquisa como conhecimento compartilhado. Educ. Real,
Porto Alegre, v. 36, n.2, maio/ago, 2011, p. 521-532. Disponvel em
www.ufrgs.br/edu_realidade.
MINISTRIO DA EDUCAO E CULTURA. MEC. HENRIQUES, Ricardo; BRANDT, Maria Elisa
Almeida; JUNQUEIRA, Rogrio Diniz; CHAMUSCA, Adelaide (Orgs). Gnero e Diversidade
Sexual na Escola: reconhecer diferenas e superar preconceitos. Cadernos SECAD, Braslia,
2007.
WEEKS, J. O corpo e a sexualidade. In: LOURO, G. (Org.). O Corpo Educado: pedagogias da
sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autntica, 2001.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
MOSTRA DE CINEMA DA DIVERSIDADE SEXUAL EM CASCAVEL:
Um espao formador e transformador de prticas e entendimentos
Jonathan Chasko da Silva1
Rodolfo Csar Mafra Previato2
Andra Cristina Martelli3
1. MOSTRA DE CINEMA: A CONSTRUO DE UM ESPAO PARA O DILOGO
A Mostra de Cinema da Diversidade Sexual em Cascavel uma atividade vinculada
Universidade Estadual do Oeste do Paran UNIOESTE, realizada na forma de atividade de
extenso.
A ideia inicial da Mostra surgiu em 2010 com os professores Alexandre Sebastio
Ferrari Soares (Doutor em Letras: Anlise do Discurso pela Universidade Federal
Fluminense) e Valdeci Batista de Melo Oliveira (Doutora em Letras: Literatura Portuguesa
pela Universidade de So Paulo), como uma forma de relacionar aes anti-homofobia e
cultura na cidade de Cascavel. A cidade, apesar de relativamente nova, 60 anos, conta
com quase 300 mil habitantes (dados do IBGE), e um polo universitrio, sendo umas das
principais cidades do estado do Paran, ainda que apresente uma economia em rpido
desenvolvimento, o mesmo no ocorre em aes concretizadas em relao ao combate dos
preconceitos ligados s questes da sexualidade, nem a promoo da diversidade
sexual e de gnero.
O grupo que primeiro estruturou as atividades da Mostra, e que continuou nas outras
edies que se seguiram, foi formado principalmente por acadmicos e professores da
UNIOESTE, alm da colaborao de membros exteriores universidade, por aquele motivo,
Pgina
129
Graduando do curso de Letras Portugus-Espanhol e Bolsista do Programa de Extenso de Promoo e
Defesa
dos
Direitos
LGBT
financiando
pelo
convnio
Unioeste-MEC/Sisu.
E-mail:
jonathanchasko@gmail.com.
2
Graduando do curso de Letras Portugus-Ingls e Voluntrio no Programa de Extenso de Promoo e Defesa
dos Direitos LGBT financiando pelo convnio Unioeste-MEC/Sisu. E-mail: rodolfopreviato@gmail.com
3
Professora Doutora em Educao. Coordenadora do Programa de Extenso de Promoo e Defesa dos
Direitos LGBT financiando pelo convnio Unioeste-MEC/Sisu. E-mail: andreamartelli72@hotmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
ocorreu ideia de vincular a Mostra a uma atividade de extenso, pois, estando na
universidade, a viabilizao
do evento tornar-se-ia mais concreta, com maiores
possibilidades de visibilidade para o mesmo. O grupo organizador das Mostras foi composto
por acadmicos de diversos cursos da UNIOESTE. Cincias Biolgicas (Bacharelado e
Licenciatura), Cincias Sociais, Enfermagem, Filosofia, Letras e Odontologia compunham a
organizao.
As Mostras no foram pensadas, nem estruturadas, para um pblico especfico, delas
participaram, principalmente, acadmicos da UNIOESTE e professores da universidade e do
sistema pblico, o evento era aberto para quem estivesse disposto a estudar e discutir
assuntos relacionados temtica.
O objetivo mais central com as Mostras foi o de abordar e refletir criticamente as
questes, problemas, preconceitos e aes ligadas diversidade sexual e identidade de
gnero, questes que h muito tempo vm sendo ignoradas, levando margem social a
populao LGBT. Os temas foram expostos por meio da exibio de curtas-metragens e
longas-metragens, que abordassem, claro, os temas relacionados pluralidade sexual
humana.
O cinema tem uma capacidade mpar de encantar e comover, um meio rpido de
incitar discusses de assuntos ainda ditos tabus sociais, ele um dos grandes
representantes e disseminadores de uma determinada cultura, consegue abordar
diversos contextos e realidades, alm de um timo veculo para a denncia social.
Aps a exibio do filme, um debatedor previamente selecionado pelos
organizadores, que fosse conhecedor, ou de alguma forma pesquisador da rea tratada e/ou
a ser debatida, conduzia as discusses envolvendo o filme e toda a situao em que ele se
inseria. A participao dos membros da organizao tornou sempre o debate mais
interessante, tendo em vista a pluralidade das reas do conhecimento s quais eles
pertencem, assim, cada indivduo pde acrescentar conceitos e perspectivas de suas
respectivas reas, vinculando suas experincias e relacionando com os temas abordados nos
Pgina
130
filmes, estimulando uma maior discusso com o pblico da Mostra.
Cada edio da Mostra contou com uma mdia de cinquenta participantes, e cada
edio trazia novas pessoas, demonstrando que a Mostra no ficou estagnada com os
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
mesmos participantes, o pblico vem renovando-se a cada edio, aumentando, assim, a
rede de discusso.
O principal objetivo da Mostra exatamente criar essa rede de discusso, que
dissemine o debate acerca das questes LGBT, dissemine os ideais ligados realidade
social dos membros de cada letrinha dentro da sigla, e tambm a viso que
heterossexuais tm dessas temticas, j que a Mostra no exclusiva, ela tenta unir o
pblico LGBT e no LGBT nas polmicas sobre o assunto. Objetivamos sempre contar com
um pblico crtico, receptivo s ideias e disposto a formar uma corrente reflexiva, com
capacidade de interpretar e debater a situao do coletivo LGBT na sociedade, criando, dessa
forma, uma (re)significao acerca da mesma.
2. O ROTEIRO CINEMATOGRFICO E A SEXUALIDADE
Como j dito anteriormente, o cinema tem a capacidade de abordar assuntos ainda
postos margem da sociedade de uma forma simplificada, mas no leviana. Isso , por meio
da exibio de curtas-metragens e longas-metragens que tragam a temtica desejada, seja
de forma explcita ou no, o espectador se pe no lugar dos personagens, retomando, se
for o caso, vivncias semelhantes ou criando e recriando perspectivas da realidade
apresentada.
Tentar compreender as relaes humanas e as sexualidades por meio de filmes,
sejam eles quais forem, desde que abordem o assunto, no algo simplrio, dada a
dimenso da temtica e grande falta de informao que muitas pessoas apresentam.
importante, e preciso, o entendimento da dimenso do tema, e que os assuntos abordados
dentro da diversidade sexual esto ficando cada vez mais diversificados. necessria a
compreenso que:
Pgina
131
Uma srie de questes e de respostas poderia ser ensaiada e, de qualquer modo, a
complexidade desses novos tempos sempre escaparia. Talvez se possa dizer que,
efetivamente, muitos j admitem que as dicotomias homem/mulher,
heterossexual/homossexual no do mais conta das muitas possibilidades de viver os
gneros e as sexualidades. (LOURO, 2008, p. 87)
Pensando nisso, o cinema entra como uma alternativa simples, todavia sem deixar
de ser srio e crtico, de abordar aspectos pontuais relacionados s diversas manifestaes
da sexualidade.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
No caso do uso do cinema para a formao e informao acerca das questes da
sexualidade, diversidade sexual e de gnero, os participantes so capazes de se identificar
com o drama, sofrer com o personagem (...), pois o sofrimento e as alegrias no filme
representados dizem respeito condio humana. (ARAUJO e VOSS, 2009, p.126), e, assim:
Apresentar um filme, seja ele comercial ou educativo, sempre uma boa idia, pois alm
de trazer situaes que devem ter sido vivenciadas pelos (as) adolescentes e jovens,
permite que eles (as) coloquem suas opinies e percepes sem constrangimento.
(BRASIL, 2010, p.34)
Dessa forma, os participantes so capazes de lanar um olhar crtico e reflexivo sobre as
condies, no s humanas, mas s condies em que determinados humanos so expostos, uma
vez que utilizar o cinema como estratgia de simulao da vida real, o mesmo que favorecer um
processo de identificao/projeo e reflexo acerca das experincias apresentadas.
Entretanto, em primeiro momento faz-se necessrio a avaliao da motivao que o filme
pode causar aos participantes, privilegiando enredos que tragam temas que rondam o cotidiano dos
mesmos e se ir despertar sua curiosidade, interesse, se podero se identificar com os personagens
e sua vida. (ARAUJO e VOSS, 2009, p.125). Para que esse interesse exista importante ter a
conscincia que:
quando analisamos e selecionamos um produto audiovisual, precisamos saber o que
pretendemos com seu uso (...) e delimitar os objetivos, ao estabelecer at que ponto a
escolha de um determinado filme consegue atend-los. (ARAUJO e VOSS, 2009, p.124).
valido frisar que, por mais grandiosa que seja a produo, ou apresentao do filme
e sua exposio da temtica a ser abordada, o filme, por ele mesmo, no traz reflexes,
discusses nem as respostas para as inquietaes dos (as) participantes. O ideal pensar
em uma atividade que esse material se encaixe, pois, um filme pode ter diferentes
interpretaes. (BRASIL, 2010, p.34).
com os encaminhamentos supracitados que a Mostra surge, como objetivo de
propor essa discusso que falta no perodo de formao educacional dos indivduos,
propondo encontros que dialoguem com as temticas compreendidas pelo evento.
interessante promover espaos diferentes de discusses sobre esses temas, variar a forma
Pgina
132
como so abordados. Todas essas possibilidades se complementam. Debates, conversas,
filmes (BRASIL, 2010, p.32). Logo, nosso objetivo estimular essas atividades, entendendo
que:
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Discusses em grupo e oficinas so uma oportunidade para uma discusso mais ampla
destas questes e criam um senso de solidariedade. Quanto mais pessoas colocam suas
opinies e pontos de vista, mais respostas em potencial podem surgir para os problemas
que afetam indivduos no grupo ou mesmo o grupo como um todo. Um grupo tambm
proporciona o apoio psicolgico que muitos indivduos precisam para ter prticas sexuais
mais seguras e desenvolver sua auto-estima. (BRASIL, 2005, p.68)
importante entender que as questes ligadas sexualidade em geral so temas que
podem, e devem ser trabalhados na escola durante a formao dos indivduos. Apesar de
no assumir esse papel de formao educadora acerca destes temas, a Mostra acaba por
faz-lo, ao compreendermos que, como aponta Rogrio Diniz Junqueira (2011), a escola
tratou de normatizar-se em regras pr-estabelecidas de como cada um deve ser e qual deve
ser o olhar lanado ao outro considerado estranho, inferior, pecador, doente,
pervertido, criminoso ou contagioso (p.28), na qual somente o bem visto e/ou que
pode livrar-se o valorizado pela heteronormatividade e pelos arsenais multifariamente
a ela ligados centrados no adulto, masculino, branco, heterossexual, burgus, fsica e
mentalmente normal (idem), no erramos ao incluir cristo, ou mesmo religioso, s
palavras de Junqueira. E assim o autor continua apontando que a escola configura-se um
lugar de opresso, discriminao e preconceitos, no qual e em torno do qual existe um
preocupante quadro de violncia a que esto submetidos milhes de jovens e adultos LGBT
(p.29). Ainda em tempo, importante que reflitamos que:
muito recente a incluso das questes de gnero, identidade de gnero e orientao
sexual na educao brasileira a partir de uma perspectiva de valorizao da igualdade de
gnero e de promoo de uma cultura de respeito e reconhecimento da diversidade
sexual. Uma perspectiva que coloca sob suspeita as concepes curriculares hegemnicas
e visa a transformar rotinas escolares, e a problematizar lgicas reprodutoras de
desigualdades e opresso (APP, 2011, p.6).
Dessa forma, levando em considerao o descaso que a educao, e, em alguns
casos, os educadores, tem tido com a reflexo acerca da sexualidade, pertinente citar
Csar (2009) que aborda o trabalho do prprio cinema, enquanto manifestao artstica e
no somente como produto industrial, na escola como metodologia de alcanar s temticas
Pgina
133
aqui discutidas, principalmente quando a autora ressalta a importncia de discutir as
relaes de poder presentes nas diversas sociedades e culturas, a partir de uma
fundamentao terica embasada na construo social do direito. (CSAR, 2009, p.69).
Deve ficar claro que a Mostra, como j dito anteriormente, no foi pensada, nem
estruturada para um pblico oriundo de um local especfico, entretanto, por ter sido
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
realizada dentro da universidade, e por ser promovida por universitrios, houve a previso
de que o pblico seria, em sua maioria, formado por discentes e docentes, e a previso
confirmou-se. Nessa perspectiva, estabeleceu-se como um dos parmetros de gesto da
Mostra, a tentativa de criar um dilogo entre os roteiros selecionados, os debates
orientados e a educao formativa de modo geral, tendo em vista que a universidade
um espao essencialmente educacional, e seu papel dar possibilidade queles que dela
usufruem, de ampliar seus conhecimentos sobre os assuntos mais diversos, inclusive a
sexualidade humana. Ciente desses conceitos, faz-se necessrio que entendamos que:
A Educao Sexual nos espaos educativos vem se apresentando como uma interveno
necessria, uma vez que contribui para a construo da personalidade dos indivduos e
oportuniza questionamentos, reflexes e discusses que resgatam a marca humana da
sexualidade: amor, afeto, qualidade nas relaes sexuais e sociais. Tal educao
possibilita o desenvolvimento de professores e alunos de maneira a viverem a sua
sexualidade de forma mais responsvel, fazendo com que a sexualidade humana seja
encarada como um dos elementos que compem a identidade pessoal e entendida como
processo de desenvolvimento integral de cada indivduo.(GAGLIOTTO e LEMBECK, 2011,
p.1)
A partir das expectativas de reflexes das (des)construes que envolvem a
sexualidade humana e a identidade de gnero, percebemos a positiva serventia do uso dos
recursos udio visuais para a problematizao do local em que se encontra a populao
LGBT, atual e recentemente. Procuramos localizar o sujeito dessa populao e entender
como atender s necessidades dele, ao encontro a isso, o uso do cinema proporciona-nos a
oportunidade de pescar um indivduo, mas no individualmente, isto , aliado a um
determinado contexto e/ou situao conflituosa, que imita, ao mesmo tempo que
representa um contexto real, no cinematogrfico, nem recortado, daquele sujeito LGBT
que est do lado de c da tela, que to protagonista desses contextos e situaes quanto o
indivduo do lado de l. Logo, um acerto usar desses recursos udio visuais, uma vez que:
Pgina
134
Na contemporaneidade, o cinema, como tantas outras instncias, pluraliza suas
representaes sobre a sexualidade e os gneros. Por toda parte (e tambm nos filmes)
proliferam possibilidades de sujeitos, de prticas, de arranjos e, como seria de se esperar,
proliferam questes. (LOURO, 2008, p. 87)
Ademais de observar aquele sujeito, importante entender que este merece
respeito, que um direito a ser garantido a todas as pessoas, sem distino, seja ela qual
for. Ainda em tempo, igualmente importante saber diferenciar o ser respeitoso do ser
tolerante, consoante a seguinte opinio:
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Dentre os direitos destaca-se o respeito como fundamento de qualquer sociedade.
Respeito, entendido aqui, por meio dos Estudos Culturais, em detrimento do conceito de
tolerncia, adotado por muitos pesquisadores e pesquisadoras que confere uma
posio superior do que tolera em relao ao que tolerado. Nesse sentido, concordo
com Tomaz Tadeu da Silva (2007, p. 88), quando diz que Apesar de seu impulso
aparentemente generoso, a ideia de tolerncia, por exemplo, implica tambm uma certa
superioridade por parte de quem mostra tolerncia. (CSAR, 2009, p.69)
3. CONTEXTUALIZAO ORGANIZACIONAL
A Mostra de Cinema da Diversidade Sexual em Cascavel j conta com cinco edies,
uma por ano, e cremos na pertinncia de apresentar aqui algumas informaes acerca das
edies, seus propsitos e filmes exibidos em cada uma.
A primeira edio, ocorrida de 27 de setembro a 02 de Outubro de 2010, por ser a
primeira experincia com a realizao, no teve um foco pr-estabelecido no que tange aos
temas abordados e ao pblico almejado, se no a nica preocupao de contemplar cada
segmento correspondente s letras da sigla LGBT.
Utilizando uma semana toda, durante seis dias da mesma, exibimos, em sequncia,
Meninos No Choram (EUA 1999) com a temtica lsbica, Oraes Para Bobby (EUA
2009) e Bubble (Israel 2006) com a temtica gay, Madame Sat (Brasil 2002) e Caf da
Manh em Pluto (Reino Unido 2005) ambos com a temtica travesti e, por fim,
Transamrica (EUA 2005) com a temtica transexual. Nessa edio, a maior participao
se deu por professores da rede pblica de ensino, alm dos graduandos e professores da
prpria universidade.
A ltima informao revelada interferiu bastante no planejamento da segunda edio
da Mostra, que ocorreu, assim como a primeira, durante uma semana, de segunda-feira a
sbado, no perodo de 21 a 26 de Novembro de 2011.
Uma vez observada a grande participao de professores e profissionais ligados
educao na primeira edio, na segunda, propomos uma reflexo norteada pelo tema da
sexualidade neste ambiente educacional, sugerindo debates que refletissem acerca da
postura que poderia/deveria ser tomada pelo profissional LGBT no ambiente citado, ou a
Pgina
135
postura a ser tomada pelo profissional no LGBT em relao a alunos LGBTs ou que possuam
alguma relao com pessoas LGBT, seja profissionalmente, socialmente e principalmente no
mago familiar.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Para tal abordagem, fizemos a exibio, seguida de um debate, com os seguintes
filmes: no primeiro dia, exibimos dois curtas do mesmo diretor, Daniel Ribeiro, nos quais o
primeiro trazia a questo de um adolescente cego que descobre mais sobre sua sexualidade
em No quero Voltar Sozinho (Brasil 2011) e, no segundo, a realidade de dois irmos que
perdem os pais, sendo o mais velho homossexual e com um relacionamento estvel, no
qual foi possvel perceber as construes de sentido e efeito acerca da sexualidade aos
olhos infantis, concluindo o preconceito como uma dessas construes e no inerente ao
humano em Caf com Leite (Brasil 2010). Nos dias seguintes exibimos os longas Thats
What I Am (EUA 2011), M Educao (Espanha 2002), Minha Vida em Cor-de-Rosa
(Blgica, Frana e Reino Unido 1997), Como Esquecer (Brasil 2010) e Strapped (EUA
2010). Exceto M Educao e Strapped, todos os filmes abordavam o ambiente escolar
aliado sexualidade ou ao preconceito, promovendo, assim, debates importante e
necessrios (re)formao desses indivduos.
A terceira edio da Mostra, ocorrida de 14 a 18 de maio de 2012, trouxe novos
aspectos e concepes. Diferente das duas edies anteriores, essa contou com apenas
cinco dias de durao, assim que constatado a menor participao ao sbado. Alm disso,
fizemos uma mudana no nome da Mostra, de Mostra de Cinema da Diversidade Sexual em
Cascavel, propomos a alterao para Mostra de Cinema da Diversidade Sexual da Unioeste,
uma vez que a Universidade Estadual do Oeste do Paran possui campus em cinco cidades
diferentes, a mudana de nome possibilitaria, assim, o desenvolvimento da atividade nos
demais campi da universidade, e assim uma maior difuso desses temas e conceitos
marginalizados/ignorados dentro da mesma.
Nessa terceira edio, pensamos em abordar a questo da sexualidade em sua
mxima totalidade possvel, incluindo um filme que abordasse questes acerca da
heterossexualidade, uma vez que este pblico participava com grande peso dos encontros e
discusses. Com esse pensamento exibimos os seguintes filmes: Patrick Age 1.5 (Sucia
2008), Amnsia, O Enigma de James Brightom (Canad 2005), Assuntos de Meninas
Pgina
136
(Canad 2011), Os Homens que no Amavam as Mulheres (Noruega, Alemanha, Dinamarca
e Sucia 2010) e Tomboy (Frana 2011)
A quarta edio da Mostra ocorreu entre 29 de julho e 02 de agosto de 2013 e,
seguindo a metodologia na terceira edio, contou com cinco noites de exibio e debate.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Nesta edio o grupo organizador aumento exponencialmente pois houve a organizao e
contemplao, por edital PROEXT/MEC-Sesu, de um programa de extenso para abarcar a
Mostra e diversas outras atividades de enfretamento e conscientizao dos assuntos LGBT.
O programa Promoo e Defesa dos Direitos LGBT iniciou sua atuao em 2013 e a Mostra
de Cinema tornou-se parte de seus feitos, dessa maneira, a discusso e problematizao da
temtica nos ambientes de debate ps filme tornaram-se maiores e mais proveitosos pois os
participantes do programa conseguiam dedicar um tempo maior aos estudos relacionados
sexualidade e identidade de gnero. Os filmes exibidos foram: Um quarto em Roma
(Espanha 2011), Quanto Dura o Amor (Brasil 2009), Latter Days (EUA 2003), Tiresia
(Canad/Frana 2003), De Salto Alto (Espanha, 1991), procurou-se, nesta edio, a
exibio de filmes que tratassem de diferentes modos e pontos de vista, a temtica do amor
entre as pessoas.
A quinta edio da Mostra ocorreu de 12 a 14 de maro de 2014, nessa edio houve
a reduo das noites de exibio para trs, pois o grupo pensou em organizar duas ao ano ao
invs de uma, assim, a sexta mostra viria a ocorrer no segundo semestre do ano de
2014. Nesta edio ocorreu a exibio dos longas: Tudo Sobre Minha me (Espanha
1998), Baby Love (Frana 2008) e Um Toque de Rosa (EUA 2004).
4. REFLEXO CRTICO-CONCLUSIVA DOS OBJETIVOS PROPOSTOS
Cada edio da Mostra possibilitou-nos perceber o quo simples estabelecer
dilogos que partem da singularidade pluralidade do ser humano, focado em um aspecto
da condio humana, a sexualidade. Mas para que esse dilogo seja estabelecido
necessrio muito mais do que a fora de vontade dos que dialogam, isto , para a
construo de um ambiente que proporcione possibilidades de expor e debater os prconceitos.
Brevemente, pretendemos expor um apanhado geral dos aspectos positivos e
negativos na experincia com a elaborao e desenvolvimento e seus feedbacks.
Pgina
137
Comecemos, pois, pelos positivos, seguido dos negativos, finalizando em uma reflexo
acerca da construo dos (pr/pre)conceitos e de como entendemos a maneira como a
Mostra pde contribuir com a contextualizao e desenvolvimentos das questes referentes
sexualidade, diversidade sexual e identidade de gnero.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Quanto aos pontos positivos, a Mostra de Cinema da Diversidade Sexual em Cascavel
conseguiu estabelecer um dilogo com um pblico diversificado, plural, isso , com um
pblico interessado nas questes que tocam populao LGBT, mas que no
necessariamente participam dessa populao e/ou concordam entre si, o que denota a
caracterstica de amplitude do debate estabelecido e a riqueza das construes de sentido
feitas.
Estabelecemos, tambm, alianas com outros segmentos da sociedade que
trabalham com o auxlio de informao e atendimento a no somente a populao LGBT,
mas como tambm a todas as pessoas ligadas de alguma forma sexualidade.
Apesar das condies estruturais ofertadas pela universidade no serem satisfatrias
para a realizao de uma mostra de cinema como poderia/deveria, a comisso
organizadora conseguiu suprir as necessidades essncias para a realizao da Mostra,
utilizando as prprias salas de aula, e equipamento udio visual em partes da universidade
(projetor e equipamento de som), em partes, individual (computadores).
A carter negativo, houve a percepo de um preconceito presente em grande parte
da comunidade acadmica da UNIOESTE, que no foi capaz de compreender a seriedade ao
trabalhar-se as questes referentes sexualidade, no participando, ento. Quanto aos que
participaram, pde- se notar um pequeno, mas no irrelevante, preconceito velado ao tratar
de assuntos que vo um pouco alm da zona de conforto individual, fossem esses
participantes heterossexuais, ou no. Mas nenhum desses aspectos foi to relevante
quanto a falta de experincia e segurana por parte da comisso organizadora na
elaborao e desenvolvimento das atividades propostas para a Mostra, vale a ressalva que
aps trs edies, os membros que integraram a comisso organizadora desde a primeira
edio, sentem um pouco mais de confiana, disposio e habilidade para dar continuidade
ao evento anual.
Dado esse parecer, expomos agora a forma como compreendemos que a Mostra
contribuiu para a reflexo acerca da temtica a qual a Mostra e este trabalho se dispem a
Pgina
138
abordar.
Para entender como a construo e difuso dos conceitos e significados se d,
trazemos uma possibilidade de como pode ser entendido e apresentado essa construo.
Entendendo o ser humano como ser social, indiscutvel que suas experincias, seus
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
conhecimentos e suas crenas construam-se a partir dessa imerso social, assim, muitos
conceitos so pr-estabelecidos por indivduos que, muitas vezes, no possuem
propriedades necessrias para tal, mas por possuir determinada posio de destaque nessa
sociedade, acabam por passar segurana em seus discursos incertos. Dessa maneira o ser
humano (social) em questo, desprovido daquele destaque, absorve esses conceitos sem a
devida reflexo, gerando, assim, os pr-conceitos sobre aes e manifestaes, que nem o
indivduo que propaga o discurso e nem o que absorve conhecem.
A estabilidade devido a repetio desses pr-conceitos, somado ao desinteresse da
reflexo, convergem na cristalizao dos mesmos em preconceitos propriamente ditos. O
que a Mostra sugere e se prope a fazer a quebra desses (pre)conceitos, causando ao
indivduo o desconforto que encadear no questionamento acerca das suas concepes de
naturalidade, realidade e, por fim, de verdade.
Em resposta ao questionamento, que naturalmente surge dentro do prprio
debate, discusso ou dilogo proposto e/ou estabelecido pela Mostra, surge a reflexo
necessria, que no ocorre no primeiro momento de absoro desses conceitos, para a
ressignificao daquele pr-conceitos em novos conceitos, mas, dessa vez, o ser humano
(social) tem a conscincia de que estes conceitos reformulados no esto, necessariamente,
acabados, prontos, e, assim, como os primeiros pr-conceitos, podem/devem passar por
todo esse ciclo de: 1) Quebra de conceito; 2) Questionamento; 3) Reflexo; 4)
Ressignificao.
Compreendendo esse ciclo, a Mostra de Cinema da Diversidade Sexual em Cascavel
possibilita-o satisfatoriamente, uma vez que seus participantes conseguem chegar a
concepes antes desconhecidas, em um tom potico, so capazes de ver alm da curva.
Pgina
139
5. REFERNCIAS
APP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAO PBLICA DO PARAN. GNERO E
DIVERSIDADE SEXUAL. Cadernos APP-Sindicato. World Laser. Curitiba. Caderno 02: Curso
de Extenso em Gnero, Diversidade Sexual e Igualdade Racial. 2011.
ARAUJO, A. R.; VOSS, R. C. R. Cinema em sala de aula: identificao e projeo no
ensino/aprendizagem da Lngua Inglesa In: Conexo Comunicao e Cultura, UCS,
Caxias do Sul, v.
8, n. 15, jan./jun. 2009
BRASIL, Ministrio da Sade. Secretria de Vigilncia em Sade. Programa Nacional de DST e
Aids. Projeto Somos Desenvolvimento Organizacional, Advocacy e Interveno para
ONGs que trabalham com GAYs e outros HSH / Ministrio da Sade, Secretria de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
140
Vigilncia em Sade. Programa Nacional de DST e Aids. Braslia: Ministrio da Sade.
2005.
BRASIL, Ministrio da Sade. Secretria de Vigilncia em Sade. Departamento de DST, Aids
e Hepatites Virais. Braslia: Ministrio da Sade. 2010.
CSAR, M. R. A. Lugar de sexo na escola? sexo, sexualidade e educao sexual. In:
SANTOS, Dayana Brunetto Carlin dos; ARAUJO, Dbora Cristina de. (Org.). Caderno
Temtico de Sexualidade. Secretaria de Estado da Educao do Paran.. Caderno
Temtico de Sexualidade. Secretaria de Estado da Educao do Paran.. 1ed.Curitiba:
Imprensa Oficial, 2009, v. 1, p. 49-58.
GAGLIOTTO, G. M.; Lembeck, T. Sexualidade e Adolescncia: a Educao Sexual Numa
Perspectiva
Emancipatria. Educere et Educare (Impresso), v. 6, p. 93-109, 2011.
JUNQUEIRA, Rogrio Diniz. Homofobia nas escolas: um problema de todos. Cadernos APPSindicato, Curitiba-PR, p. 27 - 47, 10 maio 2011.
LOURO, G. L. Cinema e Sexualidade. Educao e Realidade, v. 33, p. 81-97, 2008.
IBGE. Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun>
Acesso em: 27 out. 2012.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
MOVIMENTOS SOCIAIS - MOVIMENTO HOMOSSEXUAL E SUAS PARTICULARIDADES/LUTAS
Vanderlize Simone Dalgalo1
Mariclia Aparecida Nurmberg2
1. INTRODUO
Os movimentos sociais esto presentes no decorrer da histria, cada grupo organizase a fim de defender sua ideologia perante a sociedade. O foco deste trabalho entender
como o Movimento Homossexual desponta, se organiza e se relaciona com o todo social.
Este tema gera muitas discusses na sociedade vigente, visto que as opinies a respeito de
sua aceitao so divergentes.
O movimento homossexual busca seu espao na sociedade civil, alm de lutar por
seus direitos civis e reconhecimento enquanto cidados com uma orientao sexual
diferente. O seu principal lema a livre orientao sexual, e luta contra o preconceito. Para
eles necessrio transformar qualquer estrutura social moldado pelas crenas religiosas.
Esta transformao ser dada em mbito social, poltico e econmico levando em
considerao a conscientizao das pessoas.
Um dos principais objetivos dessa pesquisa entender a relao dos movimentos
sociais e a educao, o que estes contribuem para o processo de ensino e o que a educao
pode fazer em prol dos movimentos sociais. Assim toma-se por referncia a escola como
locus da transformao to almejada pelos movimentos sociais e como nesta ocorre o
processo de aceitao da diversidade, particularmente a homossexualidade, pois este
assunto no algo simples de ser trabalhado no campo educacional por conta de uma
Pgina
141
bagagem tradicionalista que vem se reproduzindo.
Biloga, Pedagoga com Especializao em Psicopedagogia e Educao Especial, membro do PEE e
transcritora/ledora no campus de Cascavel, Paran. E-mail: vanderlizedalgalo@gmail.com.
2
Pedagoga, Mestrando em Educao, campus de Francisco Beltro. E-mail: ir.maricelia@hotmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
2. ALGUMAS CONSIDERAES SOBRE OS MOVIMENTOS SOCIAIS
Os movimentos sociais so parte atuante no contexto social, podem ser considerados
expresses de uma sociedade que est em constante movimento. Atualmente temos vrios
movimentos integrados/ relacionados ou no. Inicialmente podemos definir movimentos
sociais a partir de Melucci:
Os movimentos sociais no so simplesmente a expresso de uma crise, que se refere
desintegrao do sistema e induz a reaes que tendem a restabelecer o sistema. Eles
so, em sua viso, antes expresses de um conflito onde esto em jogo interesses
antagnicos e por isso tem como resultado produzir mudanas no sistema e no simples
ajustes. Estes conflitos surgem por uma srie de contingncias em lugares e nem sempre
previsveis (MELUCCI, 2002, p 34).
Segundo Paulo Silvino Ribeiro (2011), movimento social se refere ao coletiva de
um grupo organizado que tem como objetivo alcanar a conservao e mudanas ou
transformaes sociais por meio do embate poltico, conforme seus valores e ideologias
dentro de uma determinada sociedade e de um contexto especficos, permeados por
tenses sociais.
A existncia de um movimento social requer uma organizao muito bem
desenvolvida, com pessoas engajadas e responsveis. Os movimentos polticos so
organizaes que sistematicamente atuam para alcanar seus objetivos, o que significa
haver uma luta constante e de longo prazo, dependendo da natureza da causa. Em outras
palavras, os movimentos sociais possuem uma ao organizada de carter permanente por
uma determinada causa.
Pgina
142
Gohn (1997) caracteriza os movimentos sociais:
[] so aes sociopolticas construdas por atores sociais coletivos pertencentes a
diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos cenrios da conjuntura
socioeconmica e poltica de um pais criando um campo poltico de fora social na
sociedade civil. A aes se estruturam a partir de repertrios criados sobre temas e
problemas com conflitos litigiosos e disputas vivenciados pelo grupo em sociedade. As
aes desenvolvem um processo social e poltico- cultural que cria uma identidade
coletiva para o movimento, a partir dos interesses em comum. Esta identidade
amalgamada pela forca do principio da solidariedade e construda a partir da base
referencial de valores culturais e poltico compartilhados pelo grupo em espaos
coletivos no institucionalizados. Os movimentos geram uma serie de inovaes nas
esferas pblicas (estatal e no - estatal) e privada; participam direta ou indiretamente da
luta poltica de um pais e contribui para o desenvolvimento e a transformao da
sociedade civil e poltica. Estas contribuies so observadas quando se realiza analise de
perodos de mdia ou longa durao histrica, nos quais se observam os ciclos de
protestos delineados. Os movimentos participam, portanto da mudana social histrica
de um pais e o carter das transformaes geradas poder ser tanto progressista como
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
conservador ou reacionrio, dependendo das forcas scio polticas aqui esto articulados
em suas densas redes; e dos projetos polticos que constroem com suas aes. Eles tm
como base de suporte entidades e organizaes da sociedade civil e poltica, com
agendas de atuao construdas ao redor de demandas scio econmicas ou polticoculturais que abrangem as problemticas conflituosas da sociedade onde atuam (GHON,
1997, p.251-252).
O movimento homossexual pode ser considerado um movimento social, pois o
mesmo tem uma organizao, estrutura, busca por objetivos e metas pr-estabelecidas,
desempenha manifestaes pblicas como passeatas, paradas, encontros, simpsios, etc.
Os integrantes desse movimento buscam primordialmente pelo reconhecimento
perante a legislao e que seus direitos sejam garantidos na Constituio Brasileira. O
movimento prope uma identificao do gnero e da diversidade sexual, partindo do
pressuposto da no discriminao dos indivduos no interior da sociedade devido a sua
orientao sexual.
3. CARACTERIZAO DO MOVIMENTO HOMOSSEXUAL
Inicialmente podemos destacar algumas anlises sobre o contexto histrico, partindo
de uma concepo de sujeito poltico para alm da relao de classe partido Estado,
assim como aborda Telles (1987, p. 62), a descoberta da sociedade como lugar de poltica.
No entanto, deixam de analis-los na relao da sociedade, juntamente com os partidos e
sindicatos, os quais perdem o lugar de protagonistas polticos para os movimentos populares
que ocorrem no bairro, no espao social da moradia. Nesse sentido, ressaltam que o
processo de produo no mais privilegiava uma determinada posio do sujeito, demonstra
que existem diversas formas de pessoas diferentes vivenciarem uma mesma condio de
classe. A autora Telles, afirma que a novidade dos movimentos populares tambm estava
relacionada com o reconhecimento da existncia de sujeitos sociais que no se encaixavam
na figurao tradicional e paradigmtica da classe operria (TELLES, 1987, p. 66) e que por
isso era necessrio investigar a singularidade dessa configurao. (TELLES, 1987, p.66 apud
GOS, 2004, p.77-78).
Pgina
143
A Rebelio de Stonewall foi um conjunto de episdios de conflito violento
entre gays, lsbicas, bissexuais e transgneros e a polcia de Nova Iorque que se iniciaram
com uma carga policial em 28 de Junho de 1969 e duraram vrios dias. Tiveram lugar no
bar Stonewall Inn e nas ruas envolventes e so largamente reconhecidos como o
evento catalisador dos modernos movimentos em defesa dos direitos civis das Lsbicas,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Gays, Bissexual e Travestis- LGBT. Stonewall foi um marco por ter sido a primeira vez que um
grande nmero do pblico LGBT se juntou para resistir aos maus tratos da polcia para com a
sua comunidade, hoje considerado como o evento que deu origem aos movimentos de
celebrao do orgulho gay.
No sculo XXI, comemora-se 40 anos de luta aps Stonwall. O psicanalista Marco
Antonio Coutinho Jorge aponta durante um colquio sobre o tema na Universidade Veiga de
Almeida, no Rio de Janeiro, que aps a revoluo de Stonewall, os homossexuais puderam
sair as ruas, saram do armrio o que no era um lugar confortvel.
No mesmo perodo, comeou ainda em Nova Iorque, o surgimento das primeiras
entidades LGBTs e a primeira parada do orgulho gay. O Brasil o pas recordista em nmero
de paradas, sendo 127 somente no de 2008, e a maior de todas elas, aconteceu na data de
comemorao da Revoluo de Stonewall, 28 de junho.
Regina Facchini destaca que esse movimento social apareceu por volta de 1970,
sendo entendido como um conjunto de associaes e entidades mais ou menos
institucionalizadas com o principal objetivo de defender e garantir os direitos relacionados
livre orientao sexual.
No Brasil, as primeiras iniciativas do movimento homossexual surgiram no final da
dcada de 70 com a fundao no Rio de Janeiro do Jornal Lampio da Esquina (1978) e do
grupo SOMOS Grupo de Afirmao Homossexual (1979), coincidindo com a chamada
abertura poltica da poca da Ditadura Militar no pas. Em virtude do que foi mencionado
podemos elencar que esses grupos desejavam forjar alianas com outras minorias, ou seja,
os negros, as feministas, os ndios e os movimentos ecolgicos, pois o Jornal O Lampio era
constitudo por intelectuais e artistas homossexuais.
Pgina
144
Segundo Rodrigues,
No fim da dcada de 1970, um grupo de intelectuais assumidamente gays, dentre eles o
prprio Trevisan, valendo-se do arrefecimento da represso poltica brasileira, lana
aquele que considerado o primeiro veiculo da ampla circulao dirigido ao publico
homossexual O Lampio da Esquina. A ideia do jornal surgiu a partir da visita ao Brasil
de editor Winston Leyland, da gay Sunshine Press, de So Francisco, Califrnia Pode-se
dizer que o lanamento do jornal, em abril de 1978, fortaleceu a ao de alguns rapazes
de So Paulo que organizavam grupo que se tomaria responsvel por consolidar o
movimento homossexual no Brasil o Grupo Somos. Com seus textos longos e
comprimidos em letras pequenas, que s no atrapalhavam mais a leitura porque a
vontade de l-los era maior do que a critica que podamos fazer na poca, o Lampio da
Esquina iniciava um novo capitulo para a historia da construo e da afirmao de uma
identidade gay no Brasil (RODRIGUES, 2007, p.66-67).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Portanto, o jornal tinha como principal objetivo formar uma conscincia nos
homossexuais, de modo que pudessem assumir sua orientao sexual e serem aceitos como
cidados, vivenciando sua opo sexual como uma alternativa legtima. Faz-se necessrio
elucidar que o Jornal O Lampio foi o meio de comunicao impresso mais importante para
os gays no Brasil, primeiramente por ser o pioneiro a tratar de assunto to polmico e por
tambm abrir as portas para o movimento homossexual brasileiro, que posteriormente se
juntou ao Grupo Somos.
Salienta Rodrigues (2007, p. 117):
Quando a Universidade de So Paulo, em fevereiro de 1979, organizou um debate
publico sobre as chamadas minorias, o jornal estava presente. Foi a partir da iniciativa do
jornal ao Grupo Somos que em 1980 realizou-se em So Paulo o 1 Encontro Nacional de
Gays e Lsbicas do Brasil, e no h duvida de que o jornal foi um forte catalisador para a
sua concretizao.
Em meados de 1980 houve um declnio no movimento, o qual coincidiu com a
retomada do regime democrtico e o surgimento da AIDS, a chamada peste gay,
juntamente com a dificuldade com uma poltica de identidade da homossexualidade no
Brasil.
No incio dos anos 90, houve um reflorescimento das iniciativas militantes, onde se
tem relatos de que em 1995 notou-se que o movimento sobreviveu ao processo de
redemocratizao. A mdia teve presena marcante no desenvolvimento dos direitos
humanos e de resposta a epidemia da AIDS, com vinculao a redes e associaes
internacionais em defesa de direitos humanos e direitos de gays e lsbicas. Aes junto aos
parlamentos com proposies aos projetos de leis a nvel Federal, Estadual e Municipal,
organizao de eventos de rua, como a manifestao realizada por ocasio do dia do orgulho
gay na cidade de So Paulo.
Vale ressaltar o Movimento Homossexual aparecer juntamente com o perodo da
Pgina
145
Ditadura Militar, perodo de enorme censura e represses. Segundo Ferrari (2004, p. 105):
[] No somente o Movimento Gay, mas outros grupos sociais, nesta poca, articulavamse pela defesa da visibilidade, pela construo de novas formas de conhecimento, de
cidadania plena e pela luta por direitos civis. Essas reivindicaes demonstravam a
importncia do contexto poltico em que se desenvolviam. O fim da ditadura militar fazia
surgir e reforava um sentimento de otimismo cultural e social que atingia a todos. A
abertura poltica possibilitava sonhar com uma sociedade mais democrtica, igualitria e
justa e,mais especificamente, trazia a esperana para o movimento gay de uma
sociedade em que a homossexualidade poderia ser celebrada sem restries. Havia a
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
conscincia de que a luta era rdua e que passava pela desconstruo dos parmetros da
homossexualidade, com seus consequentes tabus, e pela construo de identidades mais
positivas, embasadas na valorizao da auto estima, da auto imagem e do autoconceito
de seus integrantes.
Esses movimentos tm algumas ideologias, segundo Rodrigues (2007) suas aes
esto voltadas para a defesa dos direitos humanos, principalmente na luta pelos direitos dos
homossexuais, alm de atuar contra a homofobia e na criao de polticas pblicas voltadas
ao pblico GLBT, juntamente ressalta-se a luta pela livre orientao sexual. Eles no
querem ser tratados como criminosos ou bandidos, mas como pessoas que lutam por aquilo
que acreditam, ou seja, sua orientao sexual, alm de lutarem para preservar seus direitos
civis perante a sociedade brasileira que ainda preconceituosa em relao ao
homossexualismo pela tradio religiosa.
Por exemplo, no preenchimento de formulrios os homossexuais querem que haja as
opes: feminino, masculino e homossexual. Eles organizam-se em grupos com os objetivos
de que os poderes pblicos os reconheam enquanto cidados. Renem-se a fim de
combater a descriminao e homofobia (atitudes e sentimentos aversivos contra
homossexuais), tentam passar informaes positivas a respeito dos homossexuais s
pessoas, alm de tentar conscientizar os prprios homossexuais a importncia de sua luta.
Um grande avano que os homossexuais conseguiram com sua luta, foi o esclarecimento em
relao transmisso do vrus do HIV, que antes, em uma concepo errnea, era uma
doena vinculada somente aos homossexuais. No mbito Federal apresenta-se alguns
planos, como: Plano Nacional de Promoo da Cidadania e Direitos Humanos e LGBT; Plano
Nacional de Polticas para as Mulheres; II Plano Nacional de Polticas para as Mulheres;
Poltica Nacional de Sade Integral de LGBT; Plano Operativo da Poltica Nacional de Sade
Integral de LGBT; Plano Integrado de Enfrentamento da Feminizao da Epidemia de Aids e
outras DST; Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de Aids e das DST entre Gays,
HSH e Travestis e Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 3.
Segundo Rodrigues (2007) a ABGLT, foi criada em 31 de Janeiro de 1995, com
Pgina
146
31grupos fundadores. De acordo com o site oficial da ABGLT, sua misso consiste em:
Afirmando a livre orientao sexual e identidade. A misso ABGLT promover a
cidadania e defender os direitos de gays, lsbicas, bissexuais, travestis e transexuais,
contribuindo para a construo de uma democracia sem quaisquer formas de
discriminao de gnero (RODRIGUES, 2007, p. 22).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Hoje a ABGLT uma rede3 nacional de 203 organizaes, sendo 141 grupos de gays,
lsbicas, travestis e transexuais e mais de 62 organizaes colaboradoras voltadas para os
direitos humanos e Aids. a maior rede GLBT da Amrica Latina. Podemos destacar que os
grupos se espalham por todo territrio nacional, no entanto tem maior expresso nas
cidades de So Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Maranho e Distrito Federal.
As principais prticas realizadas pelos grupos do Movimento Homossexual segundo
Ferrari (2004, p. 110):
[] Quando o movimento gay luta por visibilidade atravs da poltica do sair do
armrio, est lutando contra a organizao da cultura e de nossa herana moderna de
uma sociedade vigilante e classificadora da sexualidade. A busca por uma nova forma
de pensar a sociedade, pela necessidade de pensar o poltico, nossas prticas cotidianas e
a vida pblica de outra forma. O movimento gay, nesse sentido, lida com uma concepo
de poltico como ruptura com o passado, do que entendido como dado, automtico e
previsvel. [] Dessa forma, as aes polticas se referem a todos os espaos pblicos, o
que nos ajuda a pensar o movimento gay como importante espao pblico educativo, j
que atravs deles podem e devem ser criados e recriados o cotidiano, as aes humanas
e os espaos de forma permanente.
Outra prtica bastante relevante a Parada do Orgulho Gay, Lsbicas, Bissexuais e
Transgneros (travestis e transexuais) que ocorreu pela primeira vez em 1997, com a
participao de 2 mil pessoas. Em 1999, essas estratgias de luta foram organizadas pela
Associao da Parada do Orgulho GLBT de So Paulo. As paradas so estratgias de
mobilizao, reivindicaes e de visibilidade que esto ligadas ao contexto social e a
organizao do movimento.
H vrios grupos sociais que se opem ao Movimento Homossexual, Skinheads, por
exemplo, Talibaneses, nazistas, tambm algumas religies. No Brasil a discriminao crime,
por isso na maioria das vezes seus opositores agem de forma encoberta, sem que possam
ser punidos.
Em seu artigo intitulado Cristianismo e Homossexualidade, Regina Jurkewicz
ressalta:
Pgina
147
Nos tempos atuais o debate sobre a homossexualidade nas igrejas, frequentemente vai
buscar no texto bblico prescries comportamentais, mais do que matizes para o
discernimento. A bem da verdade esse um dos temas que para muitos cristos ainda
considerado um tab, sobre o qual no cabe discusso. Textos bblicos foram referidos e ainda o so por alguns autores buscando-se neles uma resposta simples e direta. No
3
considerada uma rede devido abrangncia de todo o territrio nacional e internacional, e
consequentemente pela estrutura organizacional.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
se considerou que os autores bblicos escreveram originalmente para sua poca e que as
suposies sobre a sexualidade variam muito de uma cultura a outra e de uma poca a
outra. Alguns telogos partem do relato do Gnesis 2:24 Por isso, um homem deixa seu
pai e sua me, e se une sua mulher, e eles dois se tornam uma s carne e interpretam
esta passagem dizendo que Deus, ao criar-nos tambm criou um s modelo de moral
sexual para todas as pessoas: o modelo da monogamia heterossexual. Afirmam que este
modelo parte da ordem criada e no est sujeito mudanas culturais ou histricas. a
chamada viso criacionista que entende o sexo como motivo do companheirismo e da
reproduo, existindo s em virtude de certa complementaridade entre o homem e a
mulher. Sustentam que nenhum outro modelo de vivncia sexual pode ser natural ou
moralmente aceitvel. O modelo uma lei, portanto as relaes sexuais entre pessoas do
mesmo sexo so vistas como imorais (JURKEWICZ, 2012, p. 02).
Destaca Jurkewicz, que existem trs reaes diferentes entre os cristos, quando nos
remetemos homossexualidade, a aqueles que pensam que a homossexualidade deveria ser
rechaada, vista que uma conduta antinatural e pecaminosa, outro pensamento que a
homossexualidade aceitvel, ainda vista como uma opo inferior e aqueles que defende
como digna quanto a heterossexualidade.
O movimento homossexual tem relao com o movimento negro, o movimento
feminista, que juntamente defendem seus direitos de igualdade perante a sociedade e
legislao. Pois dentro da constituio brasileira todos os cidados so iguais quanto a
direitos e deveres. Seguindo sua ideologia, todos os movimentos sociais buscam ser
respeitados e incorporados na sociedade civil, como membros atuantes e representantes da
sociedade brasileira.
De acordo com Santos (2006), as relaes com o Estado sofreu relevantes
modificaes:
[] com a constituio de 1988, foram criados diversos mecanismos de participao da
sociedade na gesto estatal. Fruto das reivindicaes dos movimentos sociais e de outros
atores da sociedade civil pela democratizao do Estado, estes mecanismos encontram,
atualmente, diversas dificuldades de implementao e de funcionamento interno.
Embora os problemas sejam muitos, vrios estudos apresentam as possibilidades destes
espaos criarem uma nova cultura poltica e permitirem uma nova forma de produzir e
gerir polticas pblicas no Brasil.(SANTOS, 2006, p. 12).
Na dcada de 80 o movimento social homossexual comea a ser visvel nas polticas
Pgina
148
do Estado e ganhar bastante repercusso poltica, tendo militantes homossexuais
trabalhando continuamente com os rgos estatais na rea da preveno da DST-AIDS,
vinculado em ONGs AIDS.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Ressalta Santos (2006), que com a eleio de Marta Suplicy ao governo de So Paulo
houve um aumento significativo da participao popular na Parada do Orgulho GLBT. No
entanto na esfera federal, as interlocues foram alm da questo de AIDS, e chegaram ao
Ministrio da Justia no final do governo Fernando Henrique (PSDB) e posteriormente no de
Lus Incio Lula da Silva (PT). Em virtude da evidncia da luta por novas polticas pblicas
sobre o assunto, no governo do Lula inicia-se a implementao do programa Brasil sem
Homofobia.
Devido a tantas inovaes no contexto da homossexualidade, as esferas
governamentais a nvel Federal, Estadual e Municipal desenvolveram algumas iniciativas ou
programas referendando o assunto. Menciona Santos (2006), no mbito federal:
a) Programa Brasil sem homofobia: programa elaborado pelo governo federal, em
trabalho conjunto com grupos do movimento homossexual brasileiro, contempla um
amplo conjunto de aes em diversos ministrios em relao questo da
homossexualidade.
[]
b) Frente Parlamentar Mista pela Livre Expresso Sexual: lanada em outubro de 2003, a
Frente composta por deputados e senadores de diversos partidos polticos e tem por
metas a aprovao de projetos de leis de interesse da comunidade homossexual, [de]
leis como a da parceria civil e a da criminalizao da discriminao e de Emendas
Constitucionais que incluem expressamente a orientao sexual como razo proibitiva de
discriminao, dentre outras [] (SANTOS, 2006, p.58-59).
Os rgos governamentais iniciam o programa Brasil
sem homofobia
desenvolvendo aes na defesa dos direitos de livre expresso e concomitante a liberdade
de orientao sexual. Podemos elencar as relaes do movimento homossexuais com a
Pgina
149
esfera governamental do Estado de So Paulo, citada por Santos (2006),
a) Comit Tcnico da Diversidade Sexual: oriundo do antigo Frum HSH (Homens que
fazem sexo com homens), o comit vinculado ao Programa Estadual de DST-AIDS. Ele
tem participao de grupos do movimento homossexual, de grupos e ONGs que
trabalham exclusivamente com DST-AIDS e membros do Programa Estadual. [] b)
Secretaria de Justia e Defesa da Cidadania: esta relao com o Estado recente (2004) e
foi articulada por meio do Frum Paulista GLBTT. Um dos temas abordados nesta relao
foi a demanda, por parte do movimento, por material para a divulgao da lei 10.948,
aprovada em 2001 e que pune toda manifestao atentatria ou discriminatria
praticada contra cidado homossexual, bissexual ou transgnero. [] c) Frente
Parlamentar pela Livre Expresso Sexual: formada em 2003 basicamente por
parlamentares do PT, a Frente serve de contato do movimento homossexual com o
poder legislativo estadual. [] d) Grupo de Represso e Anlise de Delitos de Intolerncia
(GRADI): grupo composto por membros da polcia militar e civil, diretamente
subordinado ao secretrio de segurana pblica do estado, o GRADI foi estruturado
oficialmente para combater delitos de preconceito (SANTOS, 2006, p.59-60).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Atualmente a agenda do movimento LGBT envolve um conjunto de reivindicaes:
direito ao reconhecimento legal de relaes afetivo-sexuais, adoo conjunta de crianas, a
livre expresso de sua orientao sexual e/ou de gnero em espaos pblicos,
redesignao do sexo e a mudana do nome em documentos de identidade, ao acesso a
polticas de sade especficas e, ainda mais fundamental, a proteo do Estado frente
violncia por preconceito.
Faz-se necessrio elucidar que dever do Estado e da sociedade garantir a todos os
indivduos o pleno direito cidadania, a igualdade de oportunidades e do livre direito a
participao na comunidade.
Destacamos o Programa Brasil Sem Homofobia que elenca trs princpios
norteadores:
A incluso da perspectiva da no - discriminao por orientao sexual e de
promoo dos direitos humanos de gays, lsbicas, transgneros e bissexuais, nas
polticas pblicas e estratgias do Governo Federal, a serem implantadas (parcial ou
integralmente) por seus diferentes Ministrios e Secretarias.
A produo de conhecimento para subsidiar a elaborao, implantao e avaliao
de polticas pblicas voltadas para o Combate violncia e discriminao por
orientao sexual, garantindo que o Governo Brasileiro inclua o recorte de
orientao sexual e segmento GLBT em pesquisas nacionais a serem realizadas por
instncias governamentais da administrao pblica direta e indireta.
A reafirmao de que a defesa, a garantia e a promoo dos direitos humanos
incluem o combate a todas as formas de discriminao e de violncia e que,
portanto, o combate a Homofobia e a promoo dos direitos humanos de
homossexuais um compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira.
(BRASIL. Conselho Nacional de Combate Discriminao. Brasil sem Homofobia:
Programa de combate violncia e discriminao contra LGBT e promoo da
cidadania homossexual. Braslia: Ministrio da Sade, 2004).
Pgina
150
Observamos na Constituio Federal de 1988, alguns artigos mais relevantes, tais
como o Art.1, inciso III da Constituio Federal de 1988 que diz sobre a dignidade da
pessoa humana. O inciso II de fato diz o direito cidadania. No podemos deixar de
ressaltar o Art. 3, inciso IV que relata promover o bem de todos, sem preconceito de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
origem, raa, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminao. O Art. 5 que
relata que todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza na segurana
a propriedade, vida, liberdade, igualdade, entre outros.
No desenvolvimento do Movimento Homossexual so importantes os meios de
comunicao, especialmente a internet. O movimento se torna dependente da opinio
pblica, pois a mdia tem elementos estratgicos que contribui para a direo dos
movimentos que precisam de visibilidade. Hoje os homossexuais esto ganhando um espao
na sociedade, ainda que pequeno, mas lutando para alcanar o mesmo. Em contra partida
podemos mencionar uma relao contraditria citada por Green (2000, p. 284),
O fim da ditadura em 85 criou a falsa idia de que a democracia tinha sido restaurada, e
os direitos dos homossexuais e outros setores da sociedade iam expandir-se sem
dificuldades. A imprensa, o rdio e a televiso disseminavam uma imagem mais positiva
da homossexualidade, e ofereciam um veculo para que as poucas figuras pblicas do
movimento articulassem seu ponto de vista. O crescente consumo gay, que inclua
boates, saunas e bares, tambm sustentou uma iluso de que a sociedade se tornava
cada vez mais livre e que a organizao poltica de gays e lsbicas no era mais
necessria.
Se no passado as organizaes polticas eram realizadas por integrantes corajosos e
grupos isolados, agora destaca-se no movimento campanhas nacionais coordenadas conta a
violncia e a favor da parceria civil e da legislao antidiscriminatria.
4. MOVIMENTO SOCIAL E EDUCAO
Analisaremos brevemente o contexto educacional relacionado com os movimentos
sociais, mais diretamente como o Movimento Homossexual, quais so suas influncias no
cotidiano escolar, se no interior dos movimentos encontramos processos educativos.
O assunto da homossexualidade no contexto escolar hoje simplesmente levado em
relao a anlise do discurso/contedo no simples mbito da educao sexual, sendo
sistema reprodutor feminino e masculino, sem verdadeiramente construir uma formao ou
um carter restrito as verdadeiras questes da homossexualidade ou opo de gnero. A
maior preocupao dos educadores no contexto escolar a contemplao dos estudos ou
Pgina
151
explanaes referentes produo de identidade e de diferenas dentro do espao
escolar, delimitando assim o direito e expresso dos mesmos.
Segundo Gohn podemos destacar que,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
[] A educao no se resume educao escolar, realizada na escola propriamente dita.
H aprendizagens e produo de saberes em outros espaos, aqui denominados de
educao no formal. Portanto, trabalha-se com uma concepo ampla de educao. Um
dos exemplos de outros espaos educativos a participao social em movimentos e
aes coletivas, o que gera saberes. H um carter educativo nas praticas que se
desenrolam no ato de participar, tanto para os membros da sociedade civil como para a
sociedade mais geral, e tambm para os rgos pblicos envolvidos- quando h
negociaes, dilogos ou confrontos (GOHN, 2011, p. 333).
O espao da escola vem sendo utilizado com grande frequncia pelos movimentos
sociais, devido seu potencial dos processos educativos e pedaggicos para o
desenvolvimento de formas de sociabilidade, constituio e ampliao de cultura poltica
(GOHN, 2011, p. 340).
O movimento homossexual pode ser compreendido como educativo, na medida em
que um espao de socializao e de produo de subjetividade, as prticas educativas so
problematizadas dentro do desenvolvimento do Movimento Homossexual, onde
estabelecem marcas, modelos e verdades sobre o que ser realmente Homossexual.
Sendo assim, essas prticas educativas so vinculadas a compreenso da sua existncia em
relao a sua identidade de gnero (Melo, 2008, p.71-80).
Podemos elucidar que segundo Bourdieu (2005), por meio dos mecanismos
educativos que as representaes estigmatizantes sobre a homossexualidade ganham
carter natural e evidente. Sendo assim, elenca-se que dentro do movimento social, temos
uma estrutura que pode ser inserida no contexto educacional, visando construo de
conhecimento dentro do contexto escolar, inserido no somente a discusso da sexualidade
e sim, o conjunto de insero seja o movimento, a sua organizao, seus objetivos de
reconhecimento, suas lutas e todo o processo de socializao, direitos e deveres, ter um
embasamento concreto de cada movimento social, para posteriormente poder se colocar a
favor ou contra o movimento.
Pgina
152
Menciona Ferrari,
[] A educao um campo de criao de subjetividade, um local onde pensamento
critico independentes, de transformao emancipatria, pode e deve ocorrer. Neste
sentido, o Movimento Homossexual pode ser entendido como educativo, na medida em
que contribui para elaborar novas formas de conhecimento para alm de seus
integrantes e para alm da homossexualidade (FERRARI, 2004, p. 104).
De grande significado elencar sobre a organizao de um kit denominado de Escola
sem Homofobia, que foi denominado de Kit Gay, o qual tinha como objetivo ensinar os
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
alunos a aceitarem as diferenas no interior da escola e juntamente evitar agresses e
perseguies a colegas homossexuais. A iniciativa partiu do governo federal, que tinha
como meta distribuir no segundo semestre de 2011 aproximadamente para 6.000 escolas
pblicas do Pas o kit escolar contra homofobia. O material seria destinado a professores e
alunos do ensino mdio, para a faixa etria de aluno entre 14 a 18 anos, o material era
organizado
com dois vdeos polmicos,
que referendavam a transsexualidade,
bissexualidade e o namoro de gays e lsbicas.
Esse assunto gerou muita polmica no Congresso Nacional, devido ter deputados
contrrios a atitude do governo, e que defendiam a ideia que esse material estimularia os
adolescentes para a prtica homossexual. O kit era formado por cinco vdeos em um DVD,
caderno com orientaes para professores, uma carta ao diretor da escola, cartazes de
divulgao para os murais das escolas e seis boletins para distribuio aos alunos em sala de
aula. Segundo o Mistrio da Educao o material serviria com guia para a formulaes de
discusses sobre as diferenas de sexo, orientaes sexuais, discriminao de mulheres e
gays e juntamente a descoberta da sexualidade na adolescncia. Boa parte desse material
ainda desconhecido por todos e permanece em sigilo pelo MEC (Mistrio da Educao). O
Governo junto com o MEC tem certo receio em relao a esse material de como ele ser
recebido nas escolas e pela sociedade civil.
5. CONSIDERAES FINAIS
Movimentos Sociais so aes de determinados grupos inseridos num contexto
social, que lutam por objetivos e transformaes na sociedade. Para se obter sucesso e para
se tornar efetivo o movimento social, deve ter um planejamento e seus integrantes devem
ser participativos e atuantes na sociedade.
O movimento homossexual um dos movimentos mais conhecidos por todo o
mundo, eles buscam perante a legislao, o reconhecimento de direitos, e a no
descriminalizao por sua opo sexual. O mesmo pode ser considerado um movimento
Pgina
153
social, pois tem uma organizao, um planejamento, encontros e passeatas, para assim
manifestar para a sociedade seus ideais.
A luta do Movimento Homossexual necessria e permanente, pois a transformao
das mentalidades ocorre de forma lenta, bem como a superao dos preconceitos, para que
possam viver sua nova identidade social e sexual.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A escola precisa trabalhar sobre as questes da diversidade, para propor diferentes
reflexes e respeito a cada pessoa, independentemente de sua cor, raa, orientao sexual e
classe social.
Pgina
154
6. REFERNCIAS
Associao Brasileira de Lsbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Disponvel em
http://www.abglt.org.br. Acesso em: 31 ago. 2012.
BRASIL. Conselho Nacional de Combate Discriminao. Brasil sem Homofobia: Programa
de combate violncia e discriminao contra LGBT e promoo da cidadania
homossexual. Braslia: Ministrio da Sade, 2004.
________. Constituio da Repblica Federativa do Brasil: texto Constitucional promulgado
em 5 de outubro de 1988. Braslia: Senado federal, subsecretaria de Edies Tcnicas,
2009.
________. Secretaria Nacional dos Direitos Humanos do Ministrio da Justia. Direitos
Humanos no Cotidiano. 2ed. Braslia, 2001.
________. Secretaria de Direitos Humanos. Centros de Referncia. Disponvel no site:
http://www.direitoshumanos.gov.br/brasilsem/Id_BSH_eventos/ID_bsh_centros. Acesso
em: 28 jun. 2012.
BOURDIEU, Pierre. Algumas questes sobre o movimento gay e lsbico. In: BOURDIEU,
Pierre. A dominao masculina. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
FACCHINI,R. Sopa de letrinhas? Movimento Homossexual e produo de identidades
coletivas nos anos 90: um estudo a partir da cidade de So Paulo. Dissertao (Mestrado
em Antropologia Social) Instituto de Filosofia e Cincias Humanas, Universidade
Estadual de Campinas, 2000.
FERRARI, Anderson. Revisando o passado e construindo o presente: o movimento gay
como espao educativo. Revista Brasileira de Educao, N25, Jan/Fev/Mar/Abr, 2004.
Disponvel em www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a09.pdf/. Acesso em: 16 jul. 2012.
GOHN, Maria da Glria. Teorias dos Movimentos sociais. So Paulo: Loyola, 1997.
__________, Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Educao.
v.16. n. 47. Maio- Agosto, 2011.
__________. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e redes
solidrias. 2. ed. So Paulo: Cortez, 2008.
__________. Teorias dos movimentos sociais. Paradigmas clssicos e contemporneos. 9.
ed. So Paulo: Loyola, 2011.
__________. Movimentos e lutas sociais na histria do Brasil. 5. ed. So Paulo: Loyola,
2009a.
__________. Movimentos sociais e educao. 7. ed. So Paulo: Cortez, 2009b.
___________. Novas teorias dos movimentos sociais. 2. ed. So Paulo: Loyola, 2009c.
__________. Educao no formal e o educador social. So Paulo: Cortez, 2010.
GOSS, K. P; PRUDENCIO, K. O Conceito de Movimento Social Revisitado. Revista Eletrnica
dos Ps-Graduandos em Sociologia Poltica da UFSC Vol. 2, n 1 (2), janeiro-julho 2004, p.
75-91. Disponvel em http://150.162.1.115/index.php/emtese/article/viewFile624/12489.
Acesso em: 30 jul. 2012.
GREEN, James N. Mais amor e mais teso: a construo de um movimento brasileiro de
gays, lsbicas e travestis. cadernos pagu (15) 2000: pp.271-295. Disponvel em:
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
155
<www.pagu.unicamp.br/sites/www.pagu.unicamp.br/.../n15a12.pdf>. Acesso em: 05
ago. 2012.
Histria do Movimento Homossexual Cem anos de histria. Disponvel em:
<http://www.oocities.org/br/cidadaniarv/temak.html>. Acesso em: 29 ago. 2012.
Homossexualidade
no
Brasil.
Disponvel
em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade_no_Brasil>. Acesso em: 06 ago. 2012.
JURKEWICZ, Regina Soares, Cristianismo e Homossexualidade. Disponvel em
www.rizoma.ufsc.br/pdfs/regina.pdf. Acesso em: 02 ago. 2012.
MELO, Marcos R. Educao e Movimento Homossexual: Reflexes Queer. Revista Frum
Identidades, Ano 2, v.4 p.71-80- Jul-Dez de 2008.
MELUCCI, Alberto. A inveno do presente: Movimentos sociais nas sociedades
complexas. Traduo de Maria do Carmo Alves de Bomfim. Petrpolis, Rj: Ed. Vozes,
2001.
RIBEIRO, Paulo Silvino.
Movimentos socias: breve definies. Disponvel em
http://www.brasilescola.com/sociologia/movimentos-sociais-breve-definicao.htm.
Acesso em: 04 ago. 2012.
RODRIGUES. Jos Lus Pinto. Impresses de Identidade: histria e estrias da formao da
impressa gay no Brasil. Tese de Doutorado apresentada na Universidade Federal
Fluminense, Centro de Estudos Gerais, Instituto de Letras, Fevereiro de 2007. Rio de
Janeiro.
p.
66-67.
Disponvel
em:
<http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/13134/13134_3.PDF>. Acesso em: 25 jul. 2012.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
MULHERES ENCARCERADAS: As questes de gnero na Cadeia pblica de Cascavel-PR
Katiuska Glria Simes1
1. MULHERES ENCARCERADAS NA CADEIA PBLICA DE CASCAVEL PR
A pesquisa aqui referenciada iniciou-se com o objetivo de investigar e compreender o
funcionamento do sistema carcerrio feminino na cidade de Cascavel, mais especificamente
a cadeia pblica localizada na 15 Subdiviso Policial a partir dos discursos das mulheres
encarceradas, enfatizando as relaes interpessoais e os aspectos que evidenciam a
violncia de gnero no crcere feminino.
Na primeira fase da pesquisa, durante a reviso bibliogrfica foi evidenciado a
estrutura do sistema penitencirio no Brasil, possibilitando perceber a falta de estrutura
fsica expressa na superlotao das instituies penais. Segundo a pesquisa realizada pelo
InfoPen2, em junho de 2013, a populao prisional brasileira era de 574.027 presos. Porm
as casas de deteno brasileiras possuem vagas para 317.733 presos, ou seja, expressa a
superlotao. Dentre a populao prisional relatada as mulheres totalizaram 36.135
encarceradas, apesar de ser inferior a totalidade de presos masculinos, o encarceramento
feminino o que mais cresce no pas. Nos ltimos anos, houve um crescimento de 32% da
populao carcerria feminina, enquanto que a populao masculina cresceu 15%. Segundo
os dados apresentados pelo InfoPen em dezembro de 2007 havia 24.052 mil mulheres
encarceradas, j em 2013 esta populao saltou para 34.159 mil, constituindo 6,48% da
populao total de pessoas detidas.
Pgina
156
Acadmica de Cincias Sociais na Universidade Estadual do Oeste do Paran, pesquisadora bolsista do
programa de iniciao cientifica PIBIC/CNPQ, orientada pela professora Dra. Yonissa M. Wadi. Email:
katyuska_s@hotmail.com.
2
InfoPen- Sistema Integrado de Informaes Penitencirias, consiste em um programa digital de coleta de dados do
sistema penitencirio brasileiro. Disponvel em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={D574E9CE-3C7D-437AA5B6-22166AD2E896}&BrowserType=NN&LangID=pt-br¶ms=itemID%3D%7B28F66113-72A7-4939-B13620568ADC9773%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D> Acesso em: 09 maio
2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
O Paran o quinto Estado com maior populao carcerria no Brasil, segundo os
dados disponibilizados pela Secretaria de Justia, Cidadania e Direitos Humanos, em maio de
2014, havia 28.525 mil3 presos. Nesse sentido, evidencia-se a importncia de pesquisar o
sistema prisional, pois o crescimento da populao carcerria brasileira est potencializada.
A construo desse trabalho foi dividida em trs fases. Na primeira fase realizei uma
reviso da bibliografia de referncia, especialmente a oriunda das Cincias Sociais e da
Histria, sobre a estrutura do sistema prisional brasileiro, destacando as especificidades do
encarceramento feminino. Da mesma forma, foi investigada a configurao do
encarceramento feminino em Cascavel, conhecendo a histria da cadeia pblica, nico local
de aprisionamento de mulheres nesta cidade, bem como as transformaes recentes que a
retiraram do mbito da 15 DP e a colocaram sob jurisdio do Departamento de Execuo
Penal do Estado do Paran - DEPEM.
A segunda fase do trabalho foi composta pela anlise das entrevistas informais
realizadas com as encarceradas da cadeia pblica e anlise documental cedida pela
administrao da carceragem, possibilitando construir o perfil social das detentas. A terceira
fase concretizou-se com a metodologia denominada observao participante que foi
realizada com o objetivo de descrever o ambiente onde as mulheres esto inseridas no
processo de excluso social, percebendo as relaes a institudas, os padres de
sociabilidade, as hierarquias existentes, os rituais que ali dentro so exercidos, as
proibies/tabus implantados nas relaes entre as mulheres encarceradas.
2. O CRCERE E O FEMININO
No entanto, antes de discorrer especificamente sobre as relaes no interior do
crcere, importante lembrar que a forma atual de punir nem sempre foi aplicada. No
decorrer da histria as formas de punir passaram por diversas mudanas. A priso surgiu
com o objetivo de cessar a liberdade de alguns indivduos desviantes das normas existentes.
A princpio servia apenas para aguardar a sentena que poderia ser a morte, tortura,
Pgina
157
deportao ou venda como escravo (BRETAS et al., 2009). Somente em meados do sculo
XVIII surgiu a recluso como forma de punir, fazendo com que os suplcios desaparecessem
gradativamente.
3
O dados esto disponveis no site da Sec. de Justia, Cidadania e Direitos Humanos do Paran: Disponvel em:
<http://www.justica.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=67> Acesso em: 02 jun. 2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
O corpo no faz mais parte do ritual de sofrimentos excessivos e quem sofre as
torturas o esprito/psicolgico, dentro de um jogo de representaes e de sinais que
circulam discretamente (FOUCAULT, 1984), concretizado no interior dos locais onde vrios
indivduos esto em situao semelhante, sendo controlados e privados de liberdade.
A instituio prisional possui como objetivo normatizar o indivduo e devolve-lo
sociedade, porm, atualmente o discurso de reabilitao do criminoso apenas fica na
teoria, pois, como alerta Foucault, as instituies prisionais funcionam segundo a lgica de
controle e de punio, que ineficiente para a ressocializao do indivduo:
As prises no diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aument-las, multiplic-las ou
transform-las, a quantidade de crimes e criminosos permanece estvel, ou ainda pior,
aumenta [...] A deteno provoca a reincidncia; depois de sair da priso, se tm mais
chance que antes de voltar para ela, os condenados so, em proporo considervel,
antigos detentos. (FOUCAULT, 1984, p. 234).
Os dados prisionais brasileiros que sero abordados posteriormente indicam que o
alerta de Foucault (1984) consistente, apontando que tambm aqui as prises no
diminuem a taxa de criminalidade. A recente massificao do encarceramento est ligada
diretamente a substituio da poltica social pela poltica penal (WACQUANT, 2001).
No Brasil, especificamente o crcere feminino teve seu surgimento em meados do
sculo XIX, consistia em casas de domnio religioso que abrigavam mulheres na tentativa de
domestic-las:
Tais instituies, que podemos chamar genericamente casas de depsito, incluam no
s prises para mulheres julgadas ou sentenciadas, mas tambm casas correcionais que
abrigavam esposas, filhas, irms e criadas de homens de classe mdia e alta que
buscavam castig-las ou admoest-las [...] A noo de que o carter feminino era mais
dbil que o dos homens, e a ideia de que as mulheres necessitavam de proteo contra
as tentaes e ameaas mundanas estavam muito arraigadas entre as autoridades
estatais e religiosas. (AGUIRRE, 2007, p. 51-52).
Somente na dcada de 1920, vagarosamente, o Estado se responsabilizou pelas
mulheres encarceradas. fcil perceber o tardio interesse que o poder pblico teve sob as
casas de detenes femininas, pois a maior parte da populao carcerria feminina est
Pgina
158
locada em instituies que no foram construdas para receber tal demanda, esto em locais
improvisados. Como a que irei me referi nessa pesquisa, a Cadeia Pblica de Cascavel, onde
foi construda para aprisionar homens, mas hoje por falta de outra estrutura adequada
tambm confina mulheres.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Nesse sentido, para tratar sobre as condies das mulheres necessrio explicitar o
que se entende por gnero a perspectiva utilizada nesse trabalho foi indicada por Joan Scott.
O termo "gnero" torna-se, antes, uma maneira de indicar "construes culturais" - a
criao inteiramente social de idias sobre papis adequados aos homens e s mulheres.
Trata-se de uma forma de se referir s origens exclusivamente sociais das identidades
subjetivas de homens e de mulheres. "Gnero" , segundo essa definio, uma categoria
social imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferao dos estudos sobre sexo e
sexualidade, "gnero" tornou-se uma palavra particularmente til, pois oferece um meio
de distinguir a prtica sexual dos papis sexuais atribudos s mulheres e aos homens
(SCOTT, 1995, p. 75).
Joan Scott tambm afirma que gnero a forma primria de significar as relaes de
poder (SCOTT, 1995, p. 86). As diferenas entre homens e mulheres podem resultar em
relaes desiguais. Nesse sentido, o conceito de poder que Joan Scott se aproxima o
defendido por Michel Foucault.
preciso substituir a noo de que o poder social unificado, coerente e centralizado
por algo como o conceito de poder de Michel Foucault, entendido como constelaes
dispersas de relaes desiguais, discursivamente constitudas em campos de fora
sociais. No interior desses processos e estruturas, h espao para um conceito de agncia
humana, concebida como a tentativa (pelo menos parcialmente racional) para construir
uma identidade, uma vida, um conjunto de relaes, uma sociedade estabelecida dentro
de certos limites e dotada de uma linguagem uma linguagem conceitual que
estabelea fronteiras e contenha, ao mesmo tempo, a possibilidade da negao, da
resistncia, da reinterpretao e permita o jogo da inveno metafrica e da imaginao.
(SCOTT, 1995, p. 86).
Portanto o sujeito no se confronta com o poder, mas est inserido nas relaes de
poder. Como indicado por Foucault o sujeito subjetivado pode produzir resistncia e
reelaborar a si prprio. Nesse sentido, o presente trabalho ir demonstrar as relaes que
evidenciam o poder, pois enquanto h uma normatizao de prticas disciplinarias no
crcere e no interior dos padres de gnero da atual sociedade, as mulheres encarceradas
estipulam tticas (CERTEAU, 1998) de resistncias e desvios das normas.
Porm, certo poder exercido e radicalmente aplicado pode se tornar violncia.
Influenciado pelos trabalhos j existentes que trabalham o fenmeno da violncia, o
Pgina
159
presente trabalho ir abordar diversas questes do crcere com o intuito de demonstrar a
violncia de gnero existente nesse espao.
Violncia um ato de brutalidade, sevcia e abuso fsico e/ou psquico contra algum e
caracteriza relaes intersubjetivas e sociais definidas pela opresso, intimidao, pelo
medo e pelo terror. A violncia se ope tica porque trata seres racionais e sensveis,
dotados de linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto , irracionais,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
insensveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a tica inseparvel da figura
do sujeito racional, voluntrio, livre e responsvel, trat-lo como se fosse desprovido de
razo, vontade, liberdade e responsabilidade trat-lo no como humano e sim como
coisa, fazendo-lhe violncia nos cinco sentidos em que demos a esta palavra. (CHAU,
1998, p. 01).
A violncia de gnero est presente na atual sociedade que dispe de pelo menos
trs categorias hierrquicas que a etnia, a classe e o gnero. Sem querer desconsiderar
essas outras categorias, as vozes das mulheres encarceradas demonstraram principalmente
a violncia de gnero, pois muitas vezes a imposio de certo poder pode ser extrema e
resultar em violncia pautada nas diferenas de gnero. Dessa forma Foucault afirma as
diferenas existentes entre as relaes de violncia e relaes de poder.
Foucault faz uma distino entre relao de poder e relao de violncia. Esta [...] age
sobre um corpo, sobre as coisas; ela fora, ela submete, ela quebra, ela destri; ela fecha
todas as possibilidades [...] Uma relao de poder, ao contrrio, se articula sobre dois
elementos que lhe so indispensveis [...]: que o outro (aquele sobre o qual ela se
exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido at o fim como o sujeito de ao; e que
se abra, diante da relao de poder, todo o campo de respostas, reaes, efeitos,
intervenes possveis. (FOUCAULT, 1995, p. 243).
Portanto, pretende-se demonstrar os aspectos que evidenciam as relaes de
violncias e as relaes de poder, como tambm, abordar outras questes da vida no
crcere. O encarceramento feminino o que mais cresce no pas, e ele diferente em
muitos aspectos do encarceramento masculino, especialmente em relao violncia de
gnero, o que torna o estudo sobre o tema extremamente importante no sentido de
compreender tal realidade e oferecer instrumentos para a mudana dela.
3. CADEIA PBLICA DE CASCAVEL E SUAS INTERNAS
A cadeia pblica de Cascavel foi inaugurada em julho de 1981, com capacidade para
132 presos, porm no perodo que realizei a pesquisa havia cerca de 430 presos, dos quais
84 eram mulheres. A administrao do sistema penitencirio do Estado do Paran est a
cargo do Departamento de Execuo Penal DEPEN, integrado Secretaria de Estado de
Justia, Cidadania e Direitos Humanos.
Pgina
160
Os dados coletados a partir da anlise das entrevistas informais realizadas na
pesquisa demonstraram que a maior parte das encarceradas (64%) so mulheres entre 18 e
35 anos. O trfico de drogas ou a associao ao trfico de drogas so os delitos mais
cometidos entre as mulheres encarceradas (88%). Entre as encarceradas 89% afirmaram
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
possuir profisso quando detida, sendo a profisso mais citada a de diarista (21%). Apenas
15% declarou estar desempregada. Quando foram presas 59% das mulheres estavam
casadas ou amasiadas e 88% delas possuem filhos.
3.1.
O ABANDONO E O AMOR
Durante a pesquisa pode-se identificar diversos aspectos da vida social das
encarceradas, porm, neste texto sero ressaltadas apenas trs questes: a vivncia das
relaes afetivas, da sexualidade e da maternidade. No interior da cadeia, as relaes
afetivas se modificam especialmente porque, segundo as depoentes, muitas que entraram
no mundo do crime atravs de seus (as) parceiros(as), depois de presas foram
abandonadas por estes. Entre as encarceradas, 57% afirmam no recebem visitas dos
companheiros. No entanto, cultivam novos relacionamentos, principalmente atravs de
cartas que so trocadas entre ela, as presas da galeria feminina e os presos da galeria
masculina.
Rita, condenada pena de cinco anos e trs meses por trfico de drogas, foi uma das
principais interlocutoras que encontrei na minha pesquisa. Em todas as nossas conversas ela
citava o abandono do marido e depois falava sobre o novo namorado dela: Fia vou te falar
uma coisa, a maioria das mulheres so abandonadas pelos maridos, ns visitamos eles, s
que eles no visitam a gente. Mas eu ainda gosto de homens, esse negcio de mulher no
comigo, j arranjei um namoradinho aqui do lado, acho que a gente vai casar..
O abandono por parte da famlia comum, mas so os companheiros, maridos e
namorados que abandonam mais facilmente essas mulheres. Essa situao pode ocorrer por
diversos motivos, como a distncia da cadeia das cidades natais; estigmatizao da mulher
presa, recluso de seu parceiro ou abandono do parceiro por no poder mais contar com a
sua ajuda na prtica ilcita.
O Relatrio sobre mulheres encarceradas no Brasil, elaborado pelo Grupo de Estudos
e Trabalho Mulheres Encarceradas4, em 2007, em parceria com o Centro Pela Justia e Pelo
Pgina
161
Direito Internacional (CEJIL), levou ao conhecimento da Comisso Interamericana de Direitos
Humanos da Organizao dos Estados Americanos (OEA) o abandono que as mulheres
Grupo de estudos e trabalho mulheres encarceradas tem como objetivo pesquisar a atual situao
carcerria feminina no pas e possui sua formao com o apoio da Pastoral Carcerria Nacional.
http://mulheresencarceradas.wordpress.com/
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
sofrem depois de presas. Segundo o relatrio, h poucas prises femininas no Brasil e
acabam sendo foradas a cumprirem suas penas longe de suas casas.
Tambm bastante relevante a estigmatizao social experimentada pela mulher que
comete um delito, fator que tambm contribui decisivamente para o abandono da
detenta pela famlia e amigos. O abandono das mulheres presas ocorre, em um primeiro
momento por seus companheiros, que em pouco tempo estabelecem novas relaes
afetivas, e tambm por seus familiares mais prximos, que no se dispem a se deslocar
por motivos variados ou, ainda no se dispe a aceitar as regras, muitas vezes
consideradas humilhantes, impostas para realizao de visita nas unidades prisionais.
(CENTRO PELA JUSTIA E PELO DIREITO INTERNACIONAL /CEJIL; GRUPO DE ESTUDOS E
TRABALHO MULHERES ENCARCERADAS, 2007, s.p.)
Quando indagava sobre a situao de abandono, a maioria afirmava que quando seus
companheiros estavam presos elas iam visitar e levar alimentos, mas depois de presas, caso
eles estejam soltos, os favores no so retribudos. Para elucidar melhor os motivos do
abandono, descreverei dois relatos que ouvi na cadeia pblica de Cascavel.
Paula estava h dez meses na cadeia e seu marido est detido na Penitenciaria de
Cascavel. No recebe visitas, pois sua famlia reside em outra cidade. Quando perguntei
sobre os seus relacionamentos afetivos, o abandono esteve presente em sua fala: Depois
de presa voc tem que dar um jeito, porque no vai receber visitas do seu marido, ento eu
j t namorando uma presa, a gente sempre d um jeito.
Carla, que aguarda a sua condenao por trfico de drogas, est h um ms detida e
seu marido est preso em outra unidade de deteno. Quando fui presa meu marido foi
tambm. Minha famlia de outra cidade, ento visita eu no recebo. Mas logo que cheguei
aqui comecei a namorar com a Paula e a gente se d bem.
Os novos relacionamentos podem resultar em casamentos. Principalmente entre os
casais heterossexuais que iniciam o relacionamento dentro da cadeia, pois para realizarem
visitas aos seus companheiros devem estar casados. No mais permitida unio estvel,
agora para a realizao de visitas necessitam ser casados no civil.
Quando o casamento solicitado, o Juiz vai at a cadeia e realiza a unio civil, mas
para isso precisam de uma terceira pessoa para encaminhar os papis e documentos
Pgina
162
necessrios. Inclusive recebi diversas propostas para encaminhar os papis de casamento,
mas infelizmente no pude aceitar.
Ser presa praticamente sinnimo de trmino dos relacionamentos anteriores.
Dentro da cadeia novas relaes afetivas vo surgindo e a maioria delas concorda que no
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
devem se prender aqueles que as abandonaram. Conforme as minhas visitas foram
acontecendo, toda essa relao foi sendo vagarosamente evidenciada.
Mesmo enclausuradas as relaes afetivas acontecem. Durante uma conversa com a
carcereira Ana dentro da galeria feminina, fomos interrompidas pela Carol (presa por trfico
e est aguardando condenao), que pediu para que a carcereira entregasse uma cartela de
remdio para acalmar o resfriado do seu namorado detido na ala masculina. Antes da Carol
se aproximar, observei que ela estava conversando com algum pela internet e foi
rapidamente at o seu Xis (cela) e voltou com o remdio para ser entregue. Mesmo
internas, grande parte das mulheres cultivam relacionamentos e curiosamente a maioria no
possui aproximaes fsicas.
3.2.
O SEXO
A visita ntima para mulheres foi regulamentada recentemente, em 1999. Porm, na
ala feminina da Cadeia Pblica de Cascavel dificilmente as visitas ntimas so efetivadas, pois
segundo as depoentes, h muita resistncia da administrao em conceder liberdade para
que as presas satisfaam suas vontades sexuais.
O Doutor em Direito Penal Cezar Roberto Bitencourt, no seu livro Falncia da pena
de priso: causas e alternativas alerta que:
A imposio da abstinncia sexual contraria a finalidade ressocializadora da pena
privativa de liberdade, j que impossvel pretender a readaptao social da pessoa e, ao
mesmo tempo, reprimir uma de suas expresses mais valiosas. Por outro lado, viola-se
um princpio fundamental do direito penal: a personalidade da pena, visto que, quando
se priva o recluso de suas relaes sexuais normais, castiga-se tambm o cnjuge
inocente (BITENCOURT, 2004, p. 220).
Na cadeia pblica de Cascavel as visitas ntimas, que acontecem esporadicamente,
so efetuadas na prpria cela. Quando h a liberao um lenol colocado em frente a cama
de concreto locada na cela, e no h impedimento para que as outras detentas fiquem nesta
durante o ato sexual. Segundo as depoentes, os presos da ala masculina recebem com mais
frequncias liberao para tais visitas.
Pgina
163
O discurso que refora a violncia de gnero facilmente percebido nas falas das
prprias encarceradas, pois no consegui longas conversas sobre as visitas intimas e as
relaes sexuais no interior da cadeia. Grande parte das tentativas de conversas foram
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
desviadas com sorrisos tmidos, salvo quelas que aproveitavam o sorriso da colega e
desabafavam sua abstinncia.
3.3.
MATERNIDADE ATRS DAS GRADES
Por fim, foi notrio que a maternidade uma das maiores preocupaes das presas,
corriqueiramente citavam a falta que sentiam dos seus filhos, as preocupaes em como
esto vivendo sem a presena materna. A situao agrava quando os seus filhos esto em
idade que exige amamentao, pois as condies de amamentao disponibilizadas na
cadeia pblica de Cascavel so precrias.
A Constituio Federal Brasileira afirma que os direitos de amamentao sero
assegurados pelo Estado: Art. 5: L - s presidirias sero asseguradas condies para que
possam permanecer com seus filhos durante o perodo de amamentao (BRASIL, 1988,
s.p.). Tambm a Lei de Execuo Penal, artigo 83, regulamenta a implantao de berrios
nas casas de deteno e afirma o direito da amamentao nos primeiros seis meses da
criana: 2o Os estabelecimentos penais destinados a mulheres sero dotados de berrio,
onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amament-los, no mnimo, at 6
(seis) meses de idade. (BRASIL, 1984, s.p.)
Alguns trabalhos recentes demonstram que estes direitos no so disponibilizados s
mulheres em sua integra ou, s vezes sequer o so. Em pesquisa sobre a Penitenciria
Feminina do Piau, Soares e Castro (2012) indicam, por exemplo, a falta de infraestrutura
adequada para amamentao: a penitenciria em estudo no conta com as disposies
imputadas pela Lei de Execuo Penal [...] As gestantes e parturientes dividem a cela com
outras detentas, no gozando dessa forma da especificidade do local disposto na lei.
(SOARES; CASTRO,2013,s.p.).
Semelhante Penitenciria Feminina do Piau, a priso que estudo nesta pesquisa
no dispe de uma estrutura para que ocorra uma amamentao adequada. Na Cadeia
Pblica de Cascavel, segundo o subchefe da carceragem, a amamentao acontece uma vez
Pgina
164
por dia durante 20 minutos, mas para isso a presa depende de terceiros para levar a criana
at a 15 Subdiviso Policial. Nesse caso pode-se citar o exemplo da detenta Carla, que
aguarda condenao por trfico de drogas, e que ao ser detida tinha um filho com apenas 19
dias de vida. Depois de presa Carla no pde amamentar e no teve mais nenhum contato
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
com o seu filho. Infelizmente esse relato muito comum entre as presas, que em grande
parte perderam contato com seus filhos depois que foram detidas.
Essa situao problemtica no apenas para as encarceradas, mas tambm para
seus respectivos filhos, pois a criana acaba sofrendo o enclausuramento com a sua
genitora, isto , a criana cumpre a pena que era destinada unicamente para sua me.
4. CONSIDERAES FINAIS:
Quando enfatizamos as questes das relaes afetivas, da sexualidade e da
maternidade, percebemos a existncia de uma violncia institucional baseada no gnero no
interior da Cadeia Pblica, ou seja, ocorre um tipo de violncia tambm dentro da priso,
que incide sobre as mulheres devido especificidade de seu sexo e, neste caso especfico,
lhe causa intenso sofrimento psicolgico conforme nos foi relatado.
Com a pesquisa pode-se evidenciar que as mulheres presas na Cadeia Pblica de
Cascavel, so majoritariamente jovens, envolvidas com o trfico de drogas, casadas ou
amasiadas e, em grande parte sofrem com o abandono de seus companheiros. No interior
da cadeia no possuem a garantia de exercer os seus direitos sexuais e maternos, contudo,
formulam tticas de sobrevivncia diante das normas impostas pela instituio penal.
(CERTEAU, 1998).
Expor essas questes a partir tanto do olhar histrico, quando do olhar antropolgico
nos permitiu por um lado, observar as configuraes do sistema de justia e do sistema
carcerrio feminino em especial, em relao s transformaes da sociedade em que se
insere e nas diferentes temporalidades, e por outro lado, observar os indivduos inseridos no
seu espao, ou seja, o espao prisional, as relaes a estabelecidas entre os diversos sujeitos
que o ocupam, ressaltando as questes de gnero.
Pgina
165
5. REFERNCIAS
AGUIRRE, Carlos. O crcere na Amrica Latina, 1800-1940. In: MAIA, Clarissa Nunes et al.
Histria das prises no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 35 - 70, v. 1.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falncia da pena de priso: causas e alternativas. 3. ed. So
Paulo: Saraiva, 2004.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1998.
______. Lei de Execuo Penal n 7.210, de 11 de Julho de 1984.
BRETAS, Marcos Luiz et al. Histria e historiografia das prises. In: MAIA, Clarissa Nunes et
al. Histria das prises no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 9 a 21, v. 1.
CERTEAU, Michel de. A inveno do cotidiano: Artes de fazer. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 1998.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
166
CENTRO PELA JUSTIA E PELO DIREITO INTERNACIONAL (CEJIL); GRUPO DE ESTUDOS E
TRABALHO MULHERES ENCARCERADAS. Relatrio sobre Mulheres Encarceradas. 2007.
Disponvel em: <http://mulheresencarceradas.wordpress.com/>. Acesso em: 02 maio 2013.
CHAU, Marilena. tica e violncia. Rev. Teoria e Debate. Ed. 39, out. 1998.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da priso. Petrpolis: Vozes, 1984. 1
______. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault: Uma
trajetria filosfica, para alm do estruturalismo e da hermenutica. Rio de Janeiro:
Forense, 1995, p. 231-249.
SCOTT, Joan. Gnero, uma categoria til de anlise histrica. Educao e realidade, Porto
Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995.
SOARES, Ericka Maria Cardoso; CASTRO, Augusto Everton Dias. Amamentao no crcere: as
entrelinhas para mes e filhos como sujeitos de direito. Disponvel em:
<http://mulheresencarceradas.wordpress.com/> Acesso em: 21 out. 2013.
WACQUANT, Loic. As prises da misria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
O QUE MESMO UM COLETIVO?
reflexes sobre o consensual no discurso dos movimentos sociais
Denise Machado Pinto1
1. INTRODUO
H uma cor que no vem nos dicionrios. essa indefinvel cor que tm todos os retratos,
os figurinos da ltima estao, a voz das velhas damas, os primeiros sapatos, certas
tabuletas, certas ruazinhas laterais: a cor do tempo...
Mario Quintana, Da cor.
Comeamos nosso percurso terico e analtico trazendo a reflexo primeira que nos
inquieta a pensar acerca do funcionamento dos coletivos no lingustico e discursivo: a
compreenso do apagamento do poltico no processo de dicionarizao da palavra coletivo e
a sua discursivizao em alguns espaos digitais. Para tanto, escolhemos a perspectiva da
Histria das Ideias Lingusticas em interface com a Anlise do Discurso de linha Pechetiana
pois entendemos que por este fazer de descaminhos tericos atravessados pelos processos
de gramatizao, instrumentalizao e ressignificao dos sentidos, nos possvel
compreender na e pela lngua o poltico constitutivo dela.
Partimos das formas como os sentidos esto institucionalizados, a partir do verbete
coletivo nos seguintes dicionrios monolngues de lngua portuguesa: Dicionrio Houaiss da
lngua portuguesa e Novo Aurlio Sculo XXI: o dicionrio da lngua portuguesa. Aps esta
busca, tomamos dois blogs e uma comunidade de rede social da web como lugares de
discursivizao da palavra em uso. Este movimento faz do nosso corpus um corpus de
Pgina
167
arquivo, formado por distintas materialidades, com o qual visamos compreender como o
nome coletivo est sendo reconfigurado na atualidade, atravs de uma forma singular de
significar dos movimentos sociais na sociedade brasileira atual. Tal forma de existncia da
1
Mestranda em Letras na Universidade Federal de Santa Maria UFSM, E-mail: dnisemachado@gmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
palavra, determinada por certas condies de produo, faz com que os sentidos que no
estejam postos apenas dicionarizao.
Dentre as distintas linhas tericas existentes nas cincias da linguagem, enquadramos
nossas anlises a partir da Anlise do Discurso, assim como desenvolveu inicialmente
Pcheux e seus companheiros, na Frana ps 69, e como foi trazida e trabalhada no Brasil,
primeiramente por Eni Orlandi. Nessa perspectiva, optamos por um transitar por
(des)territorializaes tericas2 e movncias conceituais dos campos do materialismo
histrico e dialtico, da lingustica e da psicanlise. Por tais limiares, o analista transita
imerso em inquietaes advindas da prtica imbricada teoria, que possibilitam um
(re)pensar terico constante. A partir desse novo terreno dos estudos discursivos, cunhado
por Michel Pcheux, nasce uma noo de discurso (objeto terico-analtico), que pe em
xeque os esquemas de comunicao linear, assim como surgem novos olhares para a lngua
em relao com o histrico, o ideolgico e o poltico.
Sabemos que a escolha pela Anlise de Discurso, dialogando com os estudos em
Histrias das Ideias, no realizada de forma natural, uma vez que a Histria das Ideias no
estabelece qualquer contato terico na rea da linguagem. Este dilogo s possvel atravs
de convergncias em torno de questes sobre memria e realidade histrica, j que ambas
as teorias tomam uma perspectiva histrica no linear para pensar a linguagem; assim como,
a partir dessas teorias, no conseguimos pensar as palavras sem serem marcadas pela
historicidade constitutiva da linguagem.
A partir do questionamento: Como a produo do conhecimento lingustico resulta
em uma organizao social do trabalho sobre a lngua?, Orlandi (2002, p. 9) introduzir
algumas questes postas no projeto Histria das ideias lingusticas no Brasil. Retomamos
tal questo, que de alguma forma norteia nossa discusso, com vistas a trabalhar a
organizao do dicionrio como um processo de institucionalizao que organiza o trabalha
sobre a lngua. Pensamos, assim, como as palavras chegam a ser posta como verbetes em
dicionrios, j que elas antes disso so produzidas pelos sujeitos. Como se d essa entrada
Pgina
168
no dicionrio e como ele organiza socialmente a lngua, normatizando-a? Tais
questionamentos s nos so possveis quando retomamos a relevante pertinncia da
2
J no interessa mais pensar a dicotomia saussuriana lngua/fala. Nesta perspectiva discursiva, pensamos
lngua/discurso, mas no apenas por uma troca de nomenclaturas, e sim por uma mudana de terrenos.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Histria das Ideias para pensar a lngua posta no ensino formal, reproduzindo efeitos de
unidade e de institucionalizao.
A partir deste olhar especfico para com a linguagem, pensaremos como os sentidos
historicizados de coletivo so reproduzidos em outro espao que no o institucionalizado: as
pginas de coletivos entanto movimentos sociais, em redes sociais e tambm tomando a
mdia digital em forma de discurso sobre algo. Mas antes disso, precisamos fazer o
movimento da institucionalizao.
2. OS SENTIDOS POSTOS, PROPOSTOS EM EFEITOS DE LITERALIDADE
Para analisar o verbete coletivo, necessrio pensar dicionrio como um espao de
institucionalizao dos sentidos, ou seja, um instrumento lingustico que fornece itens.
Conforme define Auroux (2009, p. 72):
Os dicionrios no sentido em que entendemos hoje no faziam parte da tradio
lingustica inicial. Para ns, com efeito, uma gramtica d procedimentos gerais para
engendrar/ decompor enunciados, enquanto o dicionrio fornece os itens que se trata de
arranjar/interpretar segundo esse procedimento.
Alm de descrever e instrumentalizar, objetivos fundantes da chamada revoluo
tecnolgica da gramatizao desenvolvida por Silvan Auroux (2009), os dicionrios
funcionam para uniformizar o ensino institucionalizado, regulado pelo Estado. Os que
escolhemos para o nosso trabalho, por exemplo, fazem parte desse processo de
gramatizao formal, j que so tidos como importantes dicionrios de lngua portuguesa no
Brasil.
Para entender o saber posto nos dicionrios, retomamos Auroux (2009), o qual
afirma que o saber lingustico como tudo que se sabe sobre a forma de pensar sobre a
linguagem na sua gramatizao como epilingustico e metalingustico. Segundo Auroux
(2009), o saber epilingustico sempre anterior ao metalingustico, j que o primeiro
representa um saber inconsciente que todo locutor possui de sua lngua e da natureza da
linguagem (AUROUX, 2009, p.17). Sabemos que os Coletivos Sociais no tm
Pgina
169
responsabilidade de definir o que entendem pelo nome coletivo, uma vez que este j parece
posto. No entanto, quando eles buscam auto afirmarem, pela lngua, as suas identificaes a
partir de uma apresentao no espao digital, tomam o nome coletivo ressignificando,
fazendo funcionar o seu saber epilingustico acerca de um nome que j possui algumas
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
definies. O que no o caso dos dicionrios, que instituem um saber metalingustico
sobre a lngua.
Ento, trazemos, primeiramente, o Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa. E como
vemos, neste dicionrio, h sete definies para o verbete coletivo:
adj. (1671) 1 que abrange vrias pessoas ou coisas 2 que pertence a vrias pessoas 3
GRAM LING diz-se do numeral que designada um conjunto de entidades com nmero
inteiro (p.ex., dezena, dzia, centena etc.) s.m. 4. B veculo para transporte coletivo
(nibus, bonde etc.) 5 aquilo que diz respeito a toda coletividade de <indivduos que se
preocupam mais com o individual que com o c.> 6 DESP B treino em conjunto. Adj SM
GRAM 7 diz-se de ou substantivo que, embora no singular, indica pluralidade de seres. C.
numeral GRAM (...). (HOUAISS, 2009, p. 493)
O Novo Aurlio Sculo XXI: o dicionrio da lngua portuguesa, mesmo se
autonomeando ser do sculo XXI, escrito no final do sculo XX. Dentre os dois dicionrios
aqui trazidos, o mais antigo, servindo amplamente no ensino escolar. O verbete coletivo
neste dicionrio tambm carrega sete definies sendo elas:
[Do lat. Collectivu] Adj. 1. Que abrange ou compreende muitas coisas ou pessoas. 2.
Pertence a, ou utilizado por muitos. 3. E. Ling. Diz-se do substantivo que, no singular,
designa vrias pessoas, animais ou coisas. Ex.: povo, rebanho, laranjal.] 4. Que manifesta
a natureza ou a tendncia de um grupo com tal, ou pertence a uma classe, a um povo, ou
a qualquer grupo. 5. Lg. Diz-se de termo ou conceito cuja compreenso a prpria
extenso. ~ V. autor -, conscincia a, entrevista -, inconsciente -, juzo -, pessoa a, e
ttulo -. S.m. 6. Veculo de transporte coletivo (...) 7. Bras. Esport. Treino que se realiza
com todos os jogadores, titulares e reservas, antes da competio ou partida, para que se
estabelea a melhor formao da equipe. (AURLIO, 1999, p. 501)
Muitas seriam as anlises que poderamos travar aqui, a partir de tais definies
apresentadas. Suas cargas semnticas, assim como as faltas constitudas de efeitos de
sentidos. No entanto, trazemos apenas as definies dicionarsticas, no para fazer uma
ampla anlise sobre as formas que so postas entre o jogo do efeito de literariedade e as
escolhas para definio, mas para partir do que est institucionalizado.
3. OS COLETIVOS NO ESPAO DIGITAL: A BUSCA PELA UNIDADE DA PRTICA POLTICA
Pgina
170
Enquanto o processo de dicionarizao busca institucionalizar os sentidos dos
verbetes, com vistas ao seu funcionamento formal, a internet, enquanto espao discursivo,
institui novos outros sentidos para o que aparentemente estava estabilizado, sendo esses
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
determinados, assim, pelas relaes com as condies histricas, com a memria, ditas a
partir de determinadas Formaes Discursivas (doravante FDs).
a partir da relevncia dada na Anlise de Discurso s condies de produo na
constituio dos sentidos, na sua relao com a memria e com as Formaes Discursivas,
que tomamos a produo dos sentidos e o consenso no discurso sobre os coletivos
enquanto movimentos sociais. Entendemos por Formao Discursiva (FD), conforme Orlandi
(2010), aquilo que numa formao ideolgica dada, ou seja, a partir de uma posio dada
em uma conjuntura scio histrica dada- determina o que pode e deve ser dito (p. 43),
sendo heterognea na sua prpria constituio. A partir desta definio de uma noo
considerada bsica e polmica para teoria, o sujeito assume um lugar e nele sustenta, de
forma inconsciente, sentidos que podem ser outros se produzidos por outros sujeitos.
Podemos perceber, tambm, que a noo est imbricada no somente Formao
Ideolgica (doravante FId), mas tambm, com o interdiscurso, uma vez que o interdiscurso
que possibilita (ou no) os dizeres, atravs do que j-dito.
No interior das FDs, a ideologia, assim como a com concebemos, produz evidncias.
Ela interpela os sujeitos para que o seu dizer se reproduza de determinada maneira e no de
outra. H um contraponto com ideia de ideologia como viso de mundo ou ainda como
ocultao do que real, sendo tomada ento como efeito da relao necessria do sujeito
com a lngua e com a histria para que haja sentido (ORLANDI, 2010, p.48). Para a AD,
somente com a ideologia em seus efeitos que capaz de existir sujeitos. Mas necessrio
destacar que tal como concebida, ela se coloca em uma via de mo dupla: ao mesmo
tempo em que constitui os sujeitos, tambm apaga a inscrio da lngua na histria,
produzindo efeito de evidncias que esto na ordem dos esquecimentos j referenciados
anteriormente.
Para observar esse funcionamento do ideolgico inscrito em FDs prprias dos
Movimentos Sociais no espao digital, optamos, ento, em trabalhar com as publicaes
realizadas por alguns Coletivos de Santa Maria RS, tomando como corpus os espaos
Pgina
171
quem somos, dos blogs do Coletivo Voe! e do Coletivo AFRONTA, e ainda o sobre, da
comunidades da rede social facebook do Coletivo Verde Santa Maria. Nossa escolha por
esses coletivos foi de forma no organizada e intencional, apenas visando a amplitude as
causas: lutas LGBT, negra, pela legalizao da maconha...
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Como afirmamos inicialmente, os Coletivos Sociais so entendidos como uma forma
de organizao civil, ou ainda um Movimento Social organizado por pessoas diferentes que
tm uma militncia em comum. Para especificar melhor o que gostaramos de tratar,
trazemos Orlandi (2010), a qual define comunidade como favela a partir da interpelao dos
sujeitos que l vivem:
(...) os sujeitos tm necessidade de estabelecer laos com grupos que funcionem como
instituies, paralelas s do Estado, quando este falha, para se individuar, e assim poder
entrar em processos de identificao que os signifiquem e que eles signifiquem. Esses
grupos legitimam suas existncias (ORLANDI, 2010, p.16).
Diferentemente dos casos de segregao social tidos na favela, os coletivos no so
formados por uma total excluso, eles significam atravs de efeitos de incluso: excludos
(minorias) se sentindo excludos, lutam pelas suas incluses na sociedade. Uma das formas
de manter tal iluso se d pelo uso das ferramentas digitais (sites, redes sociais), alm da
existncia do espao de instituies pblicas como Universidades e escolas tambm
definidoras para significao do que se entende por coletivo. Atualmente, o espao da rede
social facebook apresenta-se como a principal forma de articular as ideias de muitos
coletivos, assim como divulgar as atividades realizadas por eles atravs de convites para
eventos e postagens coletivas.
Trazemos, ento, nosso primeiro exemplo de coletivo de Santa Maria RS, o qual
funciona por essa via dupla de organizao: entre o digital e o urbano, utilizando-se do
espao do movimento estudantil universitrio para fazer reunies e eventos, alm de outros
espaos pblicos. O Coletivo Voe!, identificado como um coletivo de diversidade sexual,
rene pessoas em diversos espaos como definimos anteriormente, alm de apresentar a
necessidade de organizao poltica em torno da discusso e da organizao do Movimento
Estudantil, mostrando que necessrio o Movimento Estudantil agrupar-se em pautas:
Pgina
172
O Coletivo Voe! um coletivo de diversidade sexual da cidade de Santa Maria RS.
Somos um coletivo que surgiu a partir da demanda de organizao poltica do movimento
estudantil de Santa Maria RS em torno das pautas LGBT. Lutamos contra o machismo,
racismo e homofobia.
Destacamos que a brevidade da definio do grupo marcada por uma FD comum
entre outros Movimentos Sociais como a Marcha Mundial de Mulheres e a Marcha das
Vadias, os quais reproduzem discursos de luta contra o machismo, racismo e a homofobia.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
J o Coletivo AFRONTA identifica-se restringindo ao ambiente acadmico e
evidenciando o discurso do protagonismo negro e a sua identidade, como vemos a seguir:
O coletivo AFRONTA existe desde 2010, idealizado por acadmicas/os de diferentes
cursos da UFSM. Acreditando que ns devemos ser protagonistas de nossa prpria
histria, o coletivo formado exclusivamente por acadmicas/os negras/os; dessa forma,
a proposio de melhorias para o sistema de aes afirmativas surge das/os prprias/os
comtemplados/as. Alm disso, aes so pensadas e construdas visando afirmao da
identidade negra, pois entendemos ser esse um processo dinmico e constante.
Por ltimo, trazemos o Coletivo Verde Santa Maria, um coletivo que, diferentemente
dos dois expostos acima, no utiliza do espao acadmico para significar. No um coletivo
de universitrios, tendo objetivos bem especficos na conjuntura atual, em defesa da
legalizao da maconha e em apoio s marchas da Maconha realizadas em territrio
brasileiro. Na sua comunidade do facebook tem-se um espao destinado Sobre Coletivo
Verde, no qual dispe:
Pessoas em busca de suas liberdades individuais, pensadores, crticos com disposio
para fomentar pautas VERDES sejam elas quais forem. Somos alquimistas da nova era de
aquarius, que sentem a fora da juventude pulsando em seus coraes e mentes.
Com os exemplos que expomos aqui, percebemos o poltico, de acordo como
tomamos em AD, tomado pela diviso. Ao mesmo tempo em que h a individualizao do
sujeito quando buscam identificar-se atravs desses coletivos, h tambm a resistncia ao
que o Estado articula. A partir dos recortes, percebemos a linguagem constituda pelo
simblico e pelo poltico, representando por ltimo uma diviso de classes. Isso nos faz
pensar a relao da poltica com o poltico, tomando Rancire (1996). Sobre a poltica tal
autor define:
A poltica a arte das dedues torcidas e das identidades cruzadas. a arte da
construo local e singular dos casos de universalidade. Essa construo possvel
enquanto a singularidade do dano a singularidade da argumentao e da manifestao
locais do direito for distinguida da particularizao dos direitos atribudos s
coletividades segundo sua identidade.
Ou seja, para ele, que no acredita em poltica mundializada, sendo esta sempre local
Pgina
173
e atendendo s demandas locais de cada sujeito, atualmente est imersa em leituras de
mundo em que existe um nico possvel, ou ainda para se individualizar, como Orlandi
(2010) relata. A ideologia da mundializao constitui tambm o discurso sobre o coletivo,
fazendo com que funcione como o lugar de se praticar boas intenes consensuais, de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
incluso das minorias (ORLANDI, 2010, p.40). Lembrando que tomamos, assim como
Orlandi com base em Rancire, a poltica do consenso produz o no-poltico, j que a
natureza do poltico a diviso de classes.
Com a observao dos sentidos sobre coletivo no espao web, percebemos que
quando tomamos o dicionrio como instrumento lingustico, com o qual desenvolvemos os
processos de gramatizao e de constituio de saberes metalingusticos, acabamos por no
pression-lo para determinar os sentidos, gesto realizado em consequncia da nossa busca
pelo imaginrio de completude e pelos efeitos de literalidade. Quando pensado em uma
perspectiva discursivista e a partir das Histrias das Ideais Lingusticas, o dicionrio deve
abrir-se para outras formas de fazer sentido.
Ainda reconhecemos na linguagem potica de Petri (2010) a certeza dessa fluncia
de sentidos que expomos acima:
(...) o dicionrio marcado pela responsabilidade de guardar os sentidos das palavras.
No entanto, entendemos que os sentidos so aves, eles migram; so aves ariscas,
no se deixam aprisionar; so aves que cantam, seu canto ressoa de diferentes
maneiras. E, como todas as canes, estas provocam diferentes reaes nos sujeitos.
(PETRI, 2010, p.25)
Recordamos tambm, a partir do guardar sentidos, a existncia de imaginrio
sobre o sujeito como controlador desses sentidos, sendo fonte dos sentidos deles. Podemos
dizer que de alguma maneira a Anlise de Discurso desconstri tais imaginrios, com a
teorizao do funcionamento do interdiscurso, da memria e das formaes discursivas que
inscritas em ideologias diferentes, no podem atribuir os mesmos sentidos sempre. Assim o
sujeito que usa a palavra para definir o que um coletivo, em um espao discursivo como os
blogs, as redes sociais, toma-a interpelado por sentidos que no so apenas os
institucionalizados nos dicionrios. H, ento, um processo de apropriao devida, como um
imaginrio de utilizao de palavras apenas suas, j que devem ser sustentadas como tal,
para ocasionar efeitos de legitimidade em relao ao leitor.
De tal maneira, encaminhamo-nos para uma discusso que nunca se esgota: assim
Pgina
174
como os sentidos para a palavra coletivo esto alm de serem cerceados, estando em um
fluxo muito maior do que apresentamos neste trabalho, tambm o seu funcionamento,
realizado por sujeitos falantes, constitudos na e pela linguagem, determinante e faz com
que observemos que os sentidos nunca esto aprisionados palavra. No sabemos se em
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
algum momento histrico haver nos dicionrios que tomamos aqui o verbete coletivo como
referncia a certos Movimentos Sociais, ou at mesmo ao Movimento Estudantil; tambm
no entendemos que isso seja necessrio, j que de alguma maneira, a rede digital tambm
funda sentidos, ressignifica e designa de maneiras diferentes ao dicionrio, sendo ela, por
natureza, um lugar da saturao do efmero e do fluxo constante, tanto de sujeitos, palavras
e discursos e sentidos.
4. CONCLUSO
Neste pequeno percurso, com o qual tivemos contato com as definies de coletivo
atravs da sua forma em verbete dicionarizado e em designaes de grupos dos movimentos
sociais atuais em Santa Maria - RS, podemos perceber a fluncia heterognea de sentidos
para coletivo na atualidade, esteja ele em funcionamento atravs do digital ou para alm
dele. No espao digital, notamos que no h mais necessidades de definir o que um
coletivo, j que os coletivos formados por minorias (ex. negros, gays, mulheres,
maconheiros (?)) so organizados de forma segmentria com vistas a organizar os
movimentos que por natureza constituem o mesmo: lutar contra a excluso dos mesmos
em nossa tida democracia, ou ainda, almejar um espao poltico na formao social atual
para discusses mediadas pelos prprios afetados. Coletivo como parte do que so
movimentos sociais na atualidade algo posto como um espao para o plural e para a
criticidade com efeitos de segregao.
Pensamos que a noo de ideologia torna-se central para tais discusses. Isto se
justifica pois a partir da ideologia que podemos compreender sujeito inscrevendo-se na
histria, significando. Quando observamos que a ideologia se materializa na linguagem
(ORLANDI, 2010, p. 96), percebemos que esta noo basilar na constituio do discurso e
do sujeito. Falando, o sujeito toma partido, posiciona-se, interpelado inconscientemente,
atravs de um assujeitamento. assim que pensamos a relao do lingustico com o
discursivo, seja a partir da designao de coletivos ou ainda a partir de um olhar para o
Pgina
175
dicionarstico. Isso coloca o leitor frente relao da linguagem que jamais ser inocente,
ser sempre construda ideologicamente.
notrio tambm o enfoque na produo de sentidos como sendo pilar central neste
processo de apagamento do poltico, de busca pelo consensual e pela fuga dos sentidos. Por
fim, o institucionalizado do dicionrio ainda atravessado trazendo a coletividade, o grupo
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
de iguais. Neste momento, o consensual toma foras, apagando o poltico tambm no
espao de realizao do poltico. Seriam os coletivos, ento, no apenas um espao do
poltico e sim uma forma de fazer poltica, assim como define Rancire?
5. REFERNCIAS:
AUROUX, Sylvain. A revoluo tecnolgica da gramatizao. Traduo: Eni Puccinelli
Orlandi. 2 Ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009.
GUIMARES, Eduardo. Semntica do acontecimento: um estudo enunciativo da designao.
2. ed. Campinas, SP: Pontes, 2005.
ORLANDI, Eni Pucineli. Anlise de discurso: princpios e procedimentos. 9. ed. Campinas, SP:
Pontes Editores, 2010.
_______. Formas de individualizao do sujeito feminino e sociedade contempornea: O
caso da delinquncia. In: Discurso e Polticas Pblicas Urbanas: A fabricao do consenso.
Eni P. Orlandi (org): Campinas, Editora RG, 2010a.
_______. Lngua e conhecimento lingustico: para uma histria das ideias no Brasil. So
Paulo: Cortez, 2002.
PETRI, Verli Ftima. Um outro olhar sobre o dicionrio : a produo de sentidos / Verli Petri,
com a participao de Daiane Siveris, Daiane da Silva Delevati, Nina Rosa Licht
Rodrigues. - 1. ed. Santa Maria : UFSM, PPGL-Editores, 2010. 120 p.
RANCIRE, Jacques. O desentendimento poltica e filosofia. So Paulo: Ed. 34, 1996.
Disponvel
em:
<http://minhateca.com.br/hudson_kadosh/Ranciere-Jacques-O
desentendimento,12166712.pdf>. Acesso em: 17 set. 2014.
Sites utilizados:
QUEM SOMOS! Coletivo Voe! Disponvel em: coletivovoe.blogspot.com. Acesso em: 09 ago.
2014.
Sobre mim. Coletivo AFRONTA. Disponvel em: afrontacoletivo.blogspot.com.br. Acesso em:
09 ag. 2014.
Coletivo
Verde
Santa
Maria.
Disponvel
em:
<https://www.facebook.com/coletivoverde.santamaria>. Acesso em: 06 ago. 2014.
Pgina
176
Dicionrios consultados:
HOUIAISS, Antnio; VILLAR, Mauro Salles. Dicionrio Houaiss da lngua portuguesa. Rio de
Janeiro: objetiva, 2009.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Aurlio Sculo XXI: o dicionrio da lngua
portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE NA ESCOLA:
compromisso e efetivao das Leis n 10.639 e n 11.645 na educao bsica
Alessandra Lopes de Oliveira Castelini1
Jefferson Olivatto da Silva2
1. INTRODUO
A insero dos elementos referentes ao cumprimento das Leis Federais n 10.639/03
e n] 11.645/08 que tornam obrigatrio o ensino de Histria e Cultura Afro-Brasileira e
Indgena, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes
tnico-Raciais e para o Ensino da Histria e Cultura Africana e Afro-Brasileira (2004), tm
sido um desafio para os educadores da educao bsica, que apresentam grande dificuldade
em desenvolver prticas educativas, desmistificando o tema e tornando positiva e real a
participao dos alunos na histria nacional, bem como promover a educao para as
relaes tnico-raciais.
Diante da intencionalidade do processo de ensino em formar alunos crticos e
autnomos, disposta da legislao e dos Parmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a
instituio escolar necessita da atuao de profissionais conhecedores da prtica educativa e
comprometidos na formao dos alunos Para tanto apresentamos uma discusso sobre as
referidas leis e sua implementao por meio de um projeto em torno da comunidade escolar
de uma escola municipal de Ensino Fundamental, no municpio de Guarapuava- PR. Como
base metodolgica, utilizamos a Antropologia Educacional, embasados em Fredrik Barth.
Colocando o aspecto cultural no epicentro das atividades propostas comunidade,
Pgina
177
Mestranda em Educao pela Universidade do Centro- Oeste do Paran, Especialista em Gesto Escolar,
Graduada em Pedagogia e Acadmica do curso de Cincias Sociais. Docente das sries iniciais do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Integrante do Ncleo de Estudos Amerndios e Africanos
NEAA/UNICENTRO. E-mail: lopes.alessandra@ig.com.br
Doutor em Cincias Sociais. Graduado em Filosofia e Psicologia, Mestrado em Educao e Ps-Doutor em
Histria. Docente no Programa de Ps-Graduao em Educao da UNICENTRO e do curso de
Pedagogia/Guarapuava da referida instituio. Desenvolve pesquisas sobre Estudos Africanos e Amerndios,
Coordenador do NEAA/UNICENTRO. E-mail: jeffcassiel@yahoo.com
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
observamos ocorrer certa implicao de alunos, professores e pais na realizao de prticas
pedaggicas por meio de histrias infantis e oficinas, como dramatizao, musicalidade,
artesanato e palestras informativas. Pudemos constatar no final desse primeiro projeto que
o argumento da falta de materiais pedaggicos ou da formao deficiente sobre essa
temtica refora o desdobramento de oficinas pedaggicas com os educadores para
desenvolver materiais simultaneamente a sua capacitao, igualmente, o envolvimento de
alunos e familiares demonstrou que a comunidade do entorno encontrou nas atividades
novas formas de aprendizagem, que, de certa maneira, os instrumentalizaria em seu
cotidiano.
2. REFLETINDO COM A LEGISLAO
A educao no Brasil, seja por fora das leis ou de reivindicaes civis dos mais
diversos segmentos tnico-culturais, explicita a impossibilidade de pensar a educao sem a
abordagem da diversidade. evidente que desde os primrdios das relaes educacionais
no pas, a cultura brasileira foi explicada como resultado do encontro de brancos, negros e
ndios, entretanto o vis pedaggico utilizado sempre foi o da valorizao do elemento
branco e da identificao simplista do negro com a escravido e do indgena com a
ingenuidade. Essa distoro resulta em complexos de inferioridade na criana negra
minando o desenvolvimento e o desempenho da sua personalidade criativa e capacidade de
reflexo, contribuindo assim para as altas taxas de evaso e repetncia escolar.
As consequncias do preconceito racial e do eurocentrismo no ensino no atingem
apenas a criana afro-brasileira em nosso pas, afetam a populao infantil como um todo;
pois a experincia histrica da maioria brasileira de origem africana constitui um dos
alicerces da civilizao brasileira e da identidade nacional.
Para uma introduo aos temas afro-brasileiros e africanos no ensino, percebemos a
importncia de apresentar um material didtico condizente aos alunos, a fim de
implementar essa proposta, visto que o livro didtico um importante instrumento
Pgina
178
formalizado de saber.
Ao considerarmos como um recorte especifico os pressupostos da Lei n. 10.639, de 9
de janeiro de 2003, observamos a necessidade de se adotarem uma srie de medidas de
ordem terica e prtica que ...no s justifiquem, mas tambm explicitem a insero de
determinados contedos no processo de ensino-aprendizagem. (PEREIRA, 2007, p.19)
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A implementao da Lei 10.639 e, mais recentemente, na Lei 11.645/2008 a qual
restabelecem um dilogo e rompem com a linha de ensino fundamentada em apenas uma
civilizao. Muitos passos foram dados para a atual incorporao do estudo das civilizaes
indgenas e africanas na escola brasileira, mas apenas em 2008 a legislao foi mais severa a
ponto de exigir o ensino das duas culturas em escolas brasileiras.
preciso avanar na tarefa de sensibilizao das pessoas para que se interessem
pelo assunto para a fase de comprometimento dos profissionais da educao com o
cumprimento dos artigos 26-A e 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da educao (LDB), o que
envolve profundas mudanas nas estruturas organizacionais, administrativas e pedaggicas
das escolas, que vo dos projetos Poltico-Pedaggicos, currculos e planos didticopedaggicos gesto de pessoas, com base em princpios e valores que regulam a educao
das relaes humanas e os estudos de histria e cultura afro-brasileiras e africanas,
permeando todas as reas do conhecimento escolar.
Pensar a educao numa perspectiva da diversidade, realmente no tarefa fcil,
seria importante que os pressupostos da referida lei fossem colocados ao alcance dos
educadores, dos familiares, dos discentes, enfim, dos agentes relacionados definio das
polticas pblicas na rea da educao.
Para Barth (2000, p. 30), [...] a identidade tnica semelhante ao sexo e posio
social, pois ocasiona restries em todas as reas de atividade e no apenas em
determinadas situaes sociais.
Essa identidade no esttica e podemos dizer que se transforma a partir das
relaes dependendo do interesse ou do contexto. A interao entre sujeitos e grupos,
permitem transformaes contnuas que modelam a identidade, em processo de excluso
ou incluso, determinando quem est inserido no grupo ou no. A abordagem desses
assuntos no contexto escolar, [...] implicam numa real valorizao da cultura negra e
indgena, calcada numa tica de responsabilidade que est em constante tenso com a
efemeridade e velocidade dos processos sociais, culturais, polticos e econmicos. (SILVA,
Pgina
179
2007 p. 51).
A escola com suas contradies e limites uma instituio que trabalha com a
socializao do conhecimento, formao de hbitos, valores e atitudes. O professor deve se
observar o entorno dos grupos de aprendizagem em que o aluno participa e dar novo
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
significado s suas prticas pedaggicas. Prtica pedaggica que respeite o aluno como
produtor de conhecimento e a escola como espao sistemtico de exerccio da cidadania.
Em virtude dessas razes, a escola tem grande potencial para se tornar um espao
no qual seus membros efetivos, alunos e alunas, professores, administrao e familiares
vejam suas questes acolhidas e trabalhadas de forma a ampliar o campo no qual constroem
suas identidades e seus projetos. nesse universo que se constituem as comunidades de
aprendizagem, dessa forma, o processo pedaggico extrapola a sala de aula como nica
matriz para legitimar os eventos sociais em sua efetividade de novas aprendizagens (POZO,
2002). Nesse sentido a aplicao que fazemos a de comunidade escolar que congrega
aes pedaggicos e dos moradores do bairro em seu entorno; por isso, quando nos
referimos comunidade escolar por meio dessa amplitude que estamos nos referindo.
Gomes (2002) observa que a escola espao privilegiado como instituio social, no
qual possvel o encontro das diferentes presenas. Tambm o espao sociocultural
marcado por smbolos, rituais, crenas, culturas e valores diversos. Sendo assim, a questo
da diversidade cultural na escola deveria ser considerada no que de mais fascinante ela
proporciona s relaes humanas: o encontro das diferenas.
A insero de elementos referentes s culturas indgenas e afrodescendentes, por
exemplo, nos currculos escolares brasileiros tem um sentido poltico relevante, j que
oferece aos docentes e discentes a oportunidade de pensar a realidade social brasileira a
partir da diversidade cultural, ou mesmo prxima a seu cotidiano, e aprender elementos de
criticidade dos contedos de ensino.
Pereira (2007, p. 54), afirma:
[...] Se a escola e os currculos, por um lado, tm sido simultaneamente palco e cartilha
ideolgica que geram situaes nas quais os afrodescendentes so constrangidos em
funo de sua procedncia sociocultural, por outro lado, a escola e os currculos
apresentam instncias propcias aos debates e s aes que podero levar superao
das referidas situaes de discriminao.
Podemos notar que, a insero de valores que do forma e sentido s culturas
Pgina
180
afrodescendentes contribui para gerar prticas pedaggicas que atendam no s aos
interesses dos afrodescendentes, mas dos diferentes atores envolvidos no processo ensinoaprendizagem.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A Lei n 10.639/03 e n 11.645/08, que torna obrigatrio nos estabelecimentos de
ensino fundamental e de ensino mdio, pblicos e privados, o estudo da histria e cultura
afro-brasileira e indgena, tem em seus pressupostos que nenhuma pessoa seja educada a
partir da alienao racial, onde garante que as crianas possam ter o direito de se
reconhecerem como belos e de valorizar seus heris, sendo sensibilizados numa perspectiva
antirracista.
Os profissionais da Educao, comprometidos com a transformao social, devem
buscar continuamente estratgias que ressaltassem o cotidiano dos alunos para, a partir da
realidade constatada, construir os saberes escolares que so necessrios para a formao do
homem, do cidado e do trabalhador. Perceber atentamente que os livros didticos
reproduzem, mesmo que indiretamente, fabulaes que discriminam a frica, seus povos e
suas culturas, exaltando um padro eurocntrico que perpassa pelo currculo escolar e as
estratgias que tornam invisvel a contribuio da frica e dos afrodescendentes.
A escola a instituio de referncia no tocante ao desenvolvimento da educao
formal, cabendo desenvolver uma ao educativa que contribua para que o ser humano
aprenda conhecimentos que amparem suas aes no meio social e na possibilidade de
agregar novos saberes relevantes para seu desenvolvimento na esfera educativa, pessoal e
social.
Ao contemplar a diversidade, compreendemos que a realidade de todas as pessoas
composta de construes culturais, uma vez que as culturas e as identidades culturais so
vivas e se modificam.
Barth, (2000, p. 25) afirma que,
Pgina
181
Uma vez que a cultura nada mais do que uma maneira de descrever o comportamento
humano, segue-se disso que h grupos delimitados de pessoas, ou seja, unidades tnicas
que correspondem a cada cultura. Muita ateno tem sido dedicada s diferenas entre
culturas, bem como s suas fronteiras e s conexes histricas entre elas; mas o processo
de constituio dos grupos tnicos e a natureza das fronteiras entre estes no tm sido
investigados na mesma medida. Os antroplogos sociais tm evitado esses problemas
usando um conceito extremamente abstrato de sociedade para representar o sistema
social abrangente dentro do quais grupos e unidades menores e concreto podem ser
analisados.
nesse contexto que Barth refora o carter cultural construdo pelas populaes,
segundo o qual podemos compreender o mundo habitado por seres humanos. Por isso, em
vez de focar a anlise no interior de universos fechados e de culturas distintivas, preciso
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
explorar a variedade de fontes dos padres culturais j estabelecidos, nesse caso, o contexto
escolar, que podem ser resultado de processos sociais especficos. Esses temas mencionados
criam uma demanda ao sistema educacional brasileiro que transforma a convivncia com a
diversidade cultural em uma das chaves de sua prpria articulao e funcionamento.
Segundo Pereira (2007, p. 62),
[...] a diversidade, que s revelada em datas especiais ou comemorativas (a exemplo do
Dia do ndio, Dia da Conscincia Negra, Dia da Mulher, etc.), tende a deixar de ser a
exceo para ser um fato reconhecido pela sua insero na dinmica de nossa histria e
de nossa realidade social.
Alm do comprometimento com o ensino, a equipe pedaggica, os docentes e toda a
comunidade escolar, podem ainda romper fronteiras entre disciplinas e tradies de
conhecimento. E a importncia de contemplar a questo da etnicidade como problema
social a ser enfrentado na atualidade.
A educao, decorrente das interpretaes da teoria de Vygotsky (1987), d
importncia ao grupo social e mediao entre a cultura e o indivduo, pois uma
interveno deliberada desses membros da cultura, nessa perspectiva, essencial no
processo de desenvolvimento de uma aprendizagem cada vez mais significativa, permitindo
assim, que o educando, efetivamente, participe do processo de apropriao do
conhecimento tornando-a um espao privilegiado de discusses acerca das desigualdades,
contribuindo desse modo, para a cidadania ativa, o que, infelizmente, nem sempre
acontece.
A investigao em relao a esse tema relevante pelo fato de a educao brasileira
encontrar-se em um momento de reconfigurao, aspecto acentuado pela insero da
diversidade e relaes tnico-raciais na escola e na inteno de formar um aluno capacitado
para exercer sua cidadania.
Diante dessa realidade, alguns desafios enfrentados nessa instituio escolar, sendo
analisados os considerados como os mais relevantes nesse cenrio educacional: a
articulao entre processos educativos escolares, polticas pblicas, movimentos sociais,
Pgina
182
visto que as mudanas ticas, culturais, pedaggicas e polticas nas relaes tnico-raciais
no se limitam somente escola, importncia da abordagem do conceito de etnocentrismo
junto comunidade escolar, a insero de elementos referentes s culturas
afrodescendentes nos currculos escolares elaborando aes pedaggicas no sentido da
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
valorizao ou combate aos preconceitos exercidos no mbito escolar, bem como a unio
entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino superior, centros de pesquisa e
grupos de estudos afro-brasileiros e movimentos sociais, visando formao de professores
e sua instrumentalizao nos processos de adaptao das disciplinas, adaptao do material
didtico, debates e discusses que privilegiem a relao entre cultura e educao, numa
perspectiva antropolgica.
Na perspectiva de Barth (2000, p. 13),
[...] necessrio analisar as atitudes e o comportamento das pessoas em seu cotidiano
num raio de ao maior que o grupo ou a comunidade inicialmente estudada;
necessrio aceitar a diversidade cultural, no se devendo retirar da realidade suas
imperfeies ou seus enigmas.
A perspectiva antropolgica nos ajuda a compreender que a cultura, seja na
educao ou nas cincias sociais, mais do que um conceito acadmico e permite
compreender um momento do processo de construo de um tecido sociocultural em que a
interdependncia dos elementos presentes se torna visvel.
A efetivao da Lei n 10.639/03 na escola uma obrigao dos professores e
gestores de ensino. Uma obrigao carregada de obstculos, mas no uma misso
impossvel. Sabemos que muitos professores no tiveram formao para possibilitar-lhes
trabalhar com a Cultura Africana e Afro-Brasileira. Ento, para que esta lei no se restrinja a
mera prescrio, se faz necessrio investir em formao inicial e continuada dos professores,
bem como material pedaggico para apoio no intuito de dar-lhes condies de melhorar
suas prticas em sala de aula no que tange as questes raciais.
Segundo Costa, Assumpo e Conceio (2007, p. 27) urgente e inesquecvel a
necessidade de formao do professor, para que possa cumprir a Lei n 10.639/03. A
aplicabilidade deste dispositivo legal est na relao direta com a proficincia do docente
em tratar a temtica estabelecida. Tratar a temtica do negro no currculo escolar, no mais
estar na dependncia do professor ser negro, de querer ou no, de saber ou no. de
carter obrigatrio para todo o magistrio e tem funo estratgica para todo cidado
Pgina
183
brasileiro.
Alm da possibilidade de resistncia por parte do professor, tambm podemos ter
outros obstculos. Existem lacunas na remisso dos contedos escolares para se tratar das
questes raciais. A citao abaixo de Filho (2008) evidencia este fato:
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Os contedos curriculares e programticos oficiais no comportam os contedos da
cultura histrica e social africana, tampouco os cursos de formao de professores, quer
em nvel mdio, quer universitrio, contm matrias desses assuntos. Este
desconhecimento dos profissionais de ensino refora o silncio dos livros didticos e dos
currculos, intensifica o iderio de democracia racial e do branqueamento da populao,
e ao mesmo tempo, mantm os esteretipos negativos presentes no cotidiano do
aluno/aluna negro/negra tirando-lhe a autoestima e roubando-lhe a identidade tnica e
ancestral. (SILVA, 2006, p. 129).
A partir dessas consideraes, apresentar estratgias para articulao de aes que
forneam referncias para novas orientaes para educao requer investimento na
formao de professores e materiais didticos para instrumentalizar a prtica pedaggica
desses. Mesmo porque a maioria dos professores no teve em sua formao orientaes de
como trabalhar com as questes raciais, por isso aes de implementao da referida lei
precisa se implicar diretamente na poltica escolar local.
3. AES NA COMUNIDADE ESCOLAR
Se o currculo capaz de imprimir identidade escola e aos que dela participam, a
partir de intervenes na dinmica do fazer educativo, foi possvel com o desenvolvimento
das aes propostas a essa escola, traar diferentes contedos para compartilhar
conhecimentos sobre as desigualdades raciais e, sobretudo sobre a valorizao da Cultura
Africana e Afro-Brasileira no mbito do espao escolar.
Dessa forma, podemos contextualizar essa situao a partir da comunidade escolar
em que mantemos nosso enfoque exploratrio sobre a implementao das Leis n
10.639/03 e n 11.645/08, na cidade de Guarapuava, Paran. Essa instituio escolar de
ensino fundamental, mantido pela prefeitura, em um bairro da periferia. A maioria das
famlias de baixa e com pouca qualificao, poucos com empregos fixos e carteira
assinada, dados esses que convergem para a retirada de seus filhos durante o perodo letivo,
deixando-o sem estudar e retornando muito tempo depois, quando no a reprovao
certa. A escola encontra-se num bairro carente que necessita de melhorias como: rede de
esgoto, canalizao de pequenos crregos, melhorar a iluminao pblica e saneamento
Pgina
184
bsico e melhor sinalizao das ruas prximas escola. Considerado um bairro violento
pelos servios de atendimento populacional, como Conselho Tutelar e Centro Especial de
Referncia de Assistncia Social, as crianas convivem com o uso do lcool, drogas,
preconceito, violncia domstica e constantes intervenes de policiais militares e federais
em suas casas ou na de vizinhos.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Detecta-se ainda, que as famlias que residem na comunidade do entorno escolar
encontram-se desprovidas de direitos sociais, o que gera barreiras constantes ao aumento
da alfabetizao e a profissionalizao regional. Verifica-se tambm que as famlias
depositam na escola uma possibilidade de ascenso social. Porm em seu cotidiano, isto ,
as condies socioeconmicas no lhes favorecem colaborar com a aprendizagem escolar de
seus filhos na ajuda extraclasse. A escola tem se tornado mediadora de conflitos sociais,
porque as famlias conseguiram um espao onde alguns de seus apelos so atendidos, como
campanhas de solidariedade local.
Conforme HOFFMAN, (1991, p. 44-47):
A realidade que enfrentamos sem dvida no a mesma das escolas particulares, porque
as maiorias das crianas ingressantes no frequentam a pr-escola, so oriundas de
famlias pobres, muitas com a vivncia da rua e da mendicncia, sem experincia anterior
do material de leitura e escrita que a escola apresenta e com a experincia de sobreviver
misria e violncia. Qual a expectativa dessa escola sobre essas crianas? A questo
agora trabalhar com um grupo heterogneo de alunos, oriundos de uma realidade
social muitas vezes desconhecida para os professores, com o compromisso de os
educadores adapt-los a exigncias e normas escolares muito distantes e diferentes de
suas experincias anteriores. preciso ensin-los, mas antes disso entender seus
diferentes jeitos de ser e existir. Os altos ndices de reprovao as primeiras sries no
representam o fracasso das crianas, mas o fracasso da escola pblica, por no estar
preparados para as crianas que recebem dos Ciclos, grupos no seriados, promoo
automtica pode surgir como medidas paliativas..., como tambm pode representar
propostas importantes para enfrentar a realidade educacional brasileira. A excluso da
criana da escola, a repetncia e a evaso so crimes sociais. Permanecer na escola um
direito da criana e um compromisso da escola e de toda a sociedade em trabalhar nesse
sentido. E essa permanncia deve garantir a todas as crianas muito mais do que
assistencialismo, deve lhes garantir a cultura, o conhecimento e a competncia
necessria para ascender a outra srie e graus. E isso s poder acontecer se a escola se
responsabilizar por processos pedaggicos exigentes e emancipatrios.
Refletindo esses fatores que condicionam a realidade escolar que se deve buscar
uma maior transformao na qualidade de ensino administrada na escola de forma que se
realize a incluso social, entendendo assim a educao como prtica social transformadora e
democrtica, trabalhando com os alunos na direo da ampliao do conhecimento,
articulando contedo de ensino realidade, selecionando metodologias, contedos
Pgina
185
contemplando os temas transversais e propiciando o estudo da diversidade de modo que
assegurem a aprendizagem efetiva.
Devido possibilidade dada no Projeto Poltico Pedaggico para a escola optar por
integrar outros projetos plausveis de serem trabalhados para atender s demandas da
clientela escolar/comunidade escolar, para o ano de 2013, dentre outros um projeto do
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
resgate da cultura local, foi escolhido para trabalhar. O projeto intitulado Brasil de todas as
Cores, foi realizado durante o ms de novembro, e como um projeto pioneiro na escola, foi
amplamente discutido e trabalhado com os alunos e a comunidade escolar onde foi possvel
focar nas questes de estudos, assuntos pertinentes Histria e Cultura Afro-Brasileira com
veemncia.
O projeto foi trabalhado com turmas de 2 ano do Ensino fundamental, com alunos
compreendendo a faixa etria de 6 a 8 anos de idade, onde foram realizadas diversas
atividades envolvendo a temtica de valorizao de culturas e influncias da cultura Africana
e Afro-brasileira.
A partir da contao das histrias, foram reunidas as turmas de 2. Anos no auditrio
da escola para socializao dessas histrias trabalhadas em sala de aula e ainda assistir
vdeos de histrias africanas.
Cada turma confeccionou materiais a partir da sua histria como os panos (tipos de
tecidos pintados), bonequinhos de tecido, bandeira do Brasil e da frica, colcha de retalhos
sobre a diversidade, atividades de recorte e colagem, cartazes sobre a Beleza Negra,
confeco de bonecas de pano, colares feitos com macarro e miangas, artesanato com
argila, modelagem com massinha de modelar, produo de textos, acrsticos e poemas
exaltando as contribuies e valorizao da cultura africana etc.
As professoras dramatizaram uma histria que tambm foi contada aos alunos no
auditrio da escola Pretinho, meu boneco querido, de Maria Cristina Furtado.
Foi propiciado momento de apresentao de um grupo de Capoeira da comunidade
local e oficina de Hip Hop com apresentao de danas e msicas de razes africanas.
Em outro momento foi convidado um grupo de cursistas de cabeleireiros do SENAC
para fazer tranas nas meninas com ajuda de algumas mes convidadas. Enquanto isso, os
meninos passaram pela oficina de construo de jogos com material sucata e alternativos.
Foi proposto ainda um corredor temtico com exposio de atividades
confeccionadas pelos alunos e professores em sala de aula, mural com a proposta do
Pgina
186
projeto, que pretende uma educao que vise promoo da igualdade tnico-racial no
ambiente escolar.
Durante toda essa programao, que no se restringiu apenas na data de 20 de
novembro, foi possvel alcanar a realidade do aluno, junto com elementos que facilitaram
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
a comunicao entre ambos, com o ldico embasado a uma teoria unida a oralidade, em
parceria com outras turmas, grupos de apresentaes e apoio da comunidade com a
participao da famlia na escola, se entende como possvel a gerao de um conflito de
ideias sadio, onde o aluno e comunidade escolar passem a entender o outro de forma
coletiva, com superao de preconceitos e construindo assim uma cultura de identidade,
com ampla divulgao e estudo da participao dos africanos e de seus descendentes em
episdios da histria do Brasil, na construo econmica, social e cultural da nao,
destacando a atuao dos negros em diferentes reas do conhecimento, de atuao
profissional, de criao tecnolgica, artstica e de luta social.
Desta forma, ao trazer para o cotidiano escolar, prticas pedaggicas que
contribuam para a afirmao positiva da identidade dos afrodescendentes e valorizao de
sua cultura, foi aproveitado a temtica em decorrncia de estar em uma comunidade onde
muitas famlias tem algum vnculo afrodescendente. Por outro lado, esse trao cultural no
havia sido posto em um destaque positivo. Deve-se destacar que por ser uma regio onde o
destaque socioeconmico de descendentes eslavos (alemes, ucranianos e poloneses), a
autoafirmao da identidade negra ou afrodescendente no ocorre de fato e nem tem sido
legitimado estatisticamente pela Secretria municipal.
Para aumentar a nossa compreenso quanto importncia da articulao da
educao escolar e relaes raciais, destacamos as palavras de Moura (2008, p. 72,73):
Uma educao, profundamente vinculada as matrizes culturais diversificadas que fazem
parte da formao da nossa identidade nacional, deve permitir aos alunos respeitar os
valores positivos que emergem do confronto dessas diferenas, possibilitando ao mesmo
tempo desativar a carga negativa e eivada de preconceitos que marca a viso
discriminatria de grupos sociais, com base em sua origem tnica, suas crenas religiosas
ou suas prticas culturais. S assim a escola poder, levando em considerao as
diferenas tnicas de seus alunos, reconhecer de forma integral os valores culturais que
carregam consigo para integr-los sua educao formal. Isso essencial no caso de
grupos que, por fora da inrcia da herana histrica ou pela pura fora do preconceito,
so quase sempre considerados inferiores ou naturalmente subalternos.
Inferimos da citao que papel da escola levar em considerao as diferenas
Pgina
187
tnicas de seus alunos e afora isso, possibilitar aos mesmos o entendimento de que a
identidade nacional formada por matrizes culturais diversificadas. Portanto, nas interaes
sociais, as diferenas no podem se consolidar como objeto de hierarquizao de um grupo
em detrimento do outro.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A implementao da Lei n 10.639/03 denota uma tentativa crucial na construo de
uma poltica de formao cidad que prima pela igualdade nas oportunidades educacionais.
Na ntegra, enfatiza em seu texto uma obrigatoriedade para a aplicao na educao, mas,
paralelamente, a sua obrigatoriedade, temos que perceb-la como uma colaborao
estratgica para com os objetivos demandados pela educao nos dias atuais.
Nesses parmetros, Pereira (2008) nos traz os seguintes esclarecimentos quanto
prtica da referida lei:
Transform-la em prtica real nas instituies escolares, e, mais, fazer com que a incluso
desses contedos no reproduzam os esteretipos de inferioridade e submisso que
durante os ltimos quinhentos anos estiveram associados ao continente africano e sua
herana, um procedimento que exige a desconstruo de saberes, valores e prticas
que do interior da escola e da academia reproduziram e legitimara a desigualdade racial.
(PEREIRA, 2008, p. 82).
Nesse sentido, interessante que o docente desprenda-se de seus conceitos e
focalize as relaes que ocorrem no espao escolar envolvendo alunos, professores e
funcionrios, bem como processos de ensino/aprendizagem, contedos, percepes,
representaes e aes dos que participam do cotidiano da escola. As palestras, oficinas e
atividades oferecidas pelo projeto em questo, direcionados para a diversidade,
contriburam para os membros da comunidade refletirem para a formao da identidade
positiva em relao africanidade, em busca da minimizando dos esteretipos cotidianos.
Porm, existem aspectos que dificultam a prtica da lei e dificulta o alcance das
Pgina
188
metas pretendidas como exemplificados nas palavras de Pereira (2008):
O fato que todos ns professores e educadores em geral, fomos formados pelas
mesmas instituies que estamos hoje querendo transformar. E, nessas instituies se
produziu/reproduziu um lugar para a frica e um lugar para os negros. A frica aquela
conquistada pelos europeus no sculo XVI, bero gerador de homens e mulheres que
foram transformados em escravos e que, aps os movimentos de Abolio e
Independncia (de escravos e de colnias respectivamente), conheceram a pobreza. (...)
bastante freqente que se assista em nossas escolas, a insero dos contedos de
frica e negritude no Brasil, pautados na reiterao da escravido e nas mazelas africanas
contemporneas (fome, lutas tribais, expanso da Aids entre outras). (...) priorizamos a
incluso dos temas de Histria da frica e Brasil Africano, em geral, nas disciplinas de
Histria e Geografia, quer pelo vis da escravido/abolio, contedo clssico, quer pelo
da frica no sculo XX, configurando o continente abandonado. Tal perspectiva,
quando desprovida da crtica s condies que deram origem a ela e ainda hoje
sustentam esse lugar subordinado, correm o risco de reafirmar a desigualdade, ao
invs de contribuir para super-la. (PEREIRA, 2008, p. 83, 84).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pudemos observar que inserir os estudos de Histria e Cultura Afro-Brasileira e
Africana no currculo demanda certa criticidade para no reproduzirmos uma histria de
negao dos africanos e afrodescendentes que denunciada como um reforo para a
manuteno da desigualdade e discriminao comunitria.
4. REFERNCIAS
Pgina
189
BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variaes antropolgicas (organizao de
Tomke Lask). Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000.
BRASIL. Lei n 10.639 de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educao nacional. Braslia: [s.n.], 2003.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes tnico-Raciais e
para o Ensino de Histria e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Braslia: [s.n.], 2004.
BRASIL. Plano Nacional de implementao das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educao das Relaes tnico-Raciais e para o Ensino de Histria e Cultura AfroBrasileira e Africana. Braslia: [s.n.], 2009.
FURTADO, Maria Cristina. Pretinho, meu boneco querido. 2. ed. Braslia: Editora do Brasil,
2008.
GOMES, N. L. Corpo e cabelo como cones de construo da beleza e da identidade negra
nos sales tnicos de Belo Horizonte. 2002. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia,
Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo. Disponvel em:
<http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/641-of1-st1.pdf> Acesso em: 13 set. 2013.
HOFFMANN, Jussara. Avaliao na pr-escola: um olhar sensvel e reflexivo sobre a criana.
Porto Alegre: Mediao, 1996.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
cientfica. So Paulo: Atlas, 1991.
MOURA, Glria. O respeito diferena. In: MUNANGA, Kabengele (org). Superando o
racismo na escola. 2.ed. SECAD, 2008.
PEREIRA, Edmilson de Almeida. Malungos na escola: questes sobre culturas
afrodescendentes. So Paulo: Paulinas, 2007.
POZO, Juan Igncio. Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre:
Artes mdicas, 2002.
SILVA, Mozart Linhares da. Educao, etnicidade e preconceito no Brasil. Santa Cruz do Sul:
EDUNISC, 2007.
SILVA FILHO, Jos Barbosa da. Histria do negro no Brasil. In: OLIVEIRA, Iolanda e SISS, Ahias
(orgs). Populao Negra e educao escolar. Programa de educao sobre o negro na
Sociedade Brasileira. PENESB 7. Niteri, EDUFF, 2006.
VYGOTSKY, L.S. Historia del desarrollo de ls funciones psquicas superiores. Ciudad de Las
Habana/Cuba: Editorial Cientfico Tcnico, 1987.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
PENETRAES BIOPOLTICAS NO CORPO:
sexualidade e psiquiatrizao no discurso pedaggico contemporneo
Juslaine de Ftima Abreu Nogueira1
Amanda da Silva2
1. O SERTO-ESCOLA
Sabe o senhor: serto onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do
lugar: viver muito perigoso (GUIMARES ROSA, 1982, p. 22)
O serto est em toda parte (GUIMARES ROSA, 1982, p. 9). O serto, em Grande
Serto: Veredas, a metfora do lugar universal e a metfora da travessia de todos ns. O
serto-escola essa conquista universal dos Estados Modernos e, assim, cada vez mais a
travessia de todo corpo-indivduo e de todo corpo-populao. A escola esse lugar
atravessado de corpos que, quanto mais compreendidos na condio de sujeitos-de-direito,
mais entram em sua travessia. A escola. Esse lugar cada vez mais de todos e para todos: esse
espao-tempo da vida que atravessa todos os corpos. O serto est em toda a parte,
inclusive na escola, desde que a est um lugar em que os corpos so atravessados por
violncia e perseguio, mas, por isso mesmo, tambm um lugar em que os corpos praticam
resistncia e, do inescapvel da escolarizao, escapam em muitas veredas.
Pois bem, este trabalho se pe a pensar o que tem sido a travessia dos corpos no
serto-escola em nossa contemporaneidade. E eis que a encontra um discurso repetido,
como uma ladainha, invocando a instituio escolar numa nova configurao do governo das
crianas no contexto das sociedades neoliberais. Assim, da construo da narrativa
contempornea da infncia inscrita, descrita e produzida em patologias psiquitricas que
Pgina
190
este trabalho, primeiramente, ocupa-se. Potencialmente, a partir dos anos 1990, temos
1
Doutoranda em Educao na Universidade Federal do Paran (Curitiba, PR, Brasil) e Professora na
Universidade Estadual do Paran Campus Curitba II Faculdade de Artes do Paran. E-mail:
<letrasjus@yahoo.com.br>.
Graduanda do curso de Bacharelado e Licenciatura em Dana da Universidade Estadual do Paran Campus
Curitiba II Faculdade de Artes do Paran. E-mail: <amanda.bsv@hotmail.com>.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
presenciado uma incorporao do vocabulrio nosolgico advindo da psiquiatria nas vozes
da Educao e, a partir das categorias diagnsticas validadas pelas ltimas edies do
Manual de Diagnstico e Estatstica de Transtornos Mentais (DSM-IV e V), publicados pela
Associao Americana de Psiquiatria, bem como a partir do captulo V do Cdigo
Internacional de Doenas - CID-10, que trata da classificao de Transtornos Mentais e
Comportamentais, produzido pela Organizao Mundial de Sade, temos visto crianas e
jovens amplamente narrados em patologias como Transtorno de Conduta (CD), Transtorno
do Dficit de Ateno e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Oposio e Desafio (TOD),
Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Espectro do Autismo, Dislexia, Transtorno
Bipolar, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), dentre muitas outras classificaes.
No serto-escola transborda-nos essa discurseira acerca da sobra dos infantis, desse
tipo especfico de monturo da infncia inscrita e descrita no arqutipo da criana patolgica
na qual localizamos uma dada passagem da tecnologia disciplinar-normalizadora que
inventou o aluno a partir do sculo XIX (RAMOS do , 2009) tecnologia ps-disciplinar que
tem feito surgir o aluno-paciente.
Suspeitamos que essa operao venha-se permitindo por esse esgaramento, muito
fresco e novidadeiro, na ideia das anormalidades infantis que no mais se circunscreve
apenas ao campo das deficincias, ou seja, que no mais se resume ao dficit intelectual,
por exemplo, a partir do qual primeiramente se desenrolou a linhagem histrica da criana
anormal3. Ao que parece, uma descontinuidade vem introduzindo-se em nossos dias, na
forma de acontecimentos que projetam uma ruptura no que diz respeito discursivizao da
infncia anormal, assinalando-nos que tal noo passa a mirar-se tambm em um dficit da
ordem do comportamento, que pode colar-se ou no deficincia, haja visto que, por
exemplo, os discursos inclusivos vo definir os novos-anormais na roupagem de sujeitos com
necessidades educacionais especiais e, neste espectro, cabem alunos com deficincia,
alunos
com
transtornos
globais
de
desenvolvimento,
alunos
com
altas
habilidades/superdotao, alunos com transtornos funcionais especficos.
Pgina
191
Em outras palavras, o fato de a figurar a noo de transtornos indica a
preocupao com uma espcie de dficit psquico, o que, por sua vez, est na base do
indivduo em desordem de conduta (o qual demasiadamente a escola contempornea vem
3
Como nos argumenta Foucault (2006), foi com a orquestrao da criana idiota e no da criana louca que se
deu, primeiramente, o alargamento do poder psiquitrico e a emergncia histrica da anormalidade infantil.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
relatando e fato que a tem feito retoricizar, inclusive, sua agonia). Para ns, esta
preocupao com a conduta sinalizadora da insubmisso (e todo o seu potencial de risco)
que desemboca, agora, no abarcamento das crianas at ento nominadas como normais,
fazendo aparecer a personagem criana-transtornada e colocando os corpos infantis como
um problema tambm do campo da doena mental. Alm disso, tal deslocamento que
reposiciona a verborragia sobre a criana anormal, ao transform-la numa populao
observvel, esquadrinhvel e passvel de alguma medida de correo/ ajustamento/
adequao, tem promovido prticas de governamento4 que acirram a aliana do saberpoder pedaggico com o saber-poder psi e biomdico, por meio das quais se promove
inmeros exerccios de poder que tm impulsionado, sobretudo, muitas das biopolticas de
nosso tempo. Dizendo por outra via, h uma gesto que imprime esforos no somente
sobre o corpo-indivduo de cada criana inscrita na anomalia, mas, sobremaneira, h uma
gesto que incide sobre a populao infantil anormalizada e na regulao poltica de seus
corpos, compactuando as instituies e os discursos escolares, jurdicos e mdicos para que,
em nome da melhoria da vida dessa populao e seu inalienvel direito de viver, seus corpos
se viabilizem.
Trazemos, enfim, a esta pesquisa, a desconfiana de que, agora, aquilo que
transborda nevrlgico educao, ao lado (ou talvez at com maior supremacia) da
interrogao acerca do sujeito que no-aprende, seja a persona daquele que no se
comporta. Supomos que a, na existncia dos transtornados (nomeados em suas distintas
insubmisses comportamentais), resida a sensao do maior fracasso do projeto educativo
moderno e a grande fome que alimenta os discursos e prticas educativas, das mais
variadas, em nossa poca, uma vez que,
Pgina
192
O termo governamento, na acepo foucaultiana, indica um deslocamento na questo do exerccio poltico,
isto , do exerccio do poder no interior da nossa Modernidade que passa a presenciar uma gesto no mais
priorizada no corpo individualizado (poder disciplinar), mas uma gesto pensada sobre o corpo populacional e
sua relao com a ideia de segurana (biopoder). Para tanto, o governo no consistir em aes assumidas ou
executadas por um staff que ocupa uma posio central no Estado, mas so aes distribudas
microscopicamente pelo tecido social (VEIGANETO, 2002, p.21). Diz Foucault (2002, p. 280): os governantes,
as pessoas que governam, a prtica de governo so, por um lado, prticas mltiplas, na medida em que muita
gente pode governar: o pai de famlia, o superior do convento, o pedagogo e o professor em relao criana e
ao discpulo. Existem, portanto, muitos governos, em relao aos quais o do prncipe governando seu Estado
apenas uma modalidade. Por outro lado, todos esses governos esto dentro do Estado ou da sociedade. Nesse
sentido, esta pesquisa quer interrogar as prticas discursivas e institucionais que tm governado o corpo da
infncia anormalizada, ou seja, quer problematizar os pactos entre Pedagogia e Medicina, entre escola e
clnica; entre professor, neurologista, psiquiatra, psiclogo, juiz; entre secretaria de educao, secretaria de
sade, secretaria de assistncia social, rgos da justia.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
em um horizonte biopoltico perpassado pela busca contnua de uma segurana poltica e
econmica jamais alcanveis, multiplicam-se as instncias nas quais a no conformidade
s demandas do mercado e s aes governamentais administrativas demarcam
indivduos e populaes recalcitrantes como focos perigosos a ser combatidos (DUARTE,
2010, p. 272).
Esta investigao, ainda, alimenta-se do trabalho da crtica que pretende-se herdeira
da sinalizao foucaultiana, este aceno que nos indica que a tarefa primordial da crtica no
ser avaliar se seus objetos condies sociais, prticas, formas de saber, poder e discurso
so bons ou maus, louvveis ou insignificantes (BUTLER, 2013, p. 3), seno que [...]
atravs uma rasgadura no tecido de nossa rede epistemolgica que a prtica da crtica surge,
com a conscincia de que [...] nossos discursos reinantes tm produzido um impasse (idem,
p. 3).
Na escola contempornea, h, pois, um gesto que tem nos ficado demasiadamente
fcil: marcar feito-gado, nos corpos infantis, o discurso reinante da psiquiatria5. Reinante
porque posto, soberanamente, como o cientfico. Um soberano que, em nosso tempo, no
tiraniza para fazer morrer, mas reina em nome da vida, reina em nome do direito a
pertencer a um molde vida, ainda que tal projeto tente carnificinizar a possibilidade outra de
um modo de vida. Reina tambm porque ele prprio um discurso manhoso, birrento: no
aceita opositores e bate o p dizendo sempre, no importa a argumentao, de que ele
quem manda, ele quem fala em nome da Verdade e da Vida. E assim, na sua manh,
traduz-se como a explicao e a reparao (medicalizante) aos males, inquietudes,
devaneios, birras, vcios, teimosias e oposies das crianas, pois tais condutas, afinal, no
pertenceriam s relaes educativas, mas seriam sinais de um crebro em desordem. Nessa
estratgia, o discurso da psiquiatria (aquela dobrada s explicaes organicistas,
neurologia e farmacologia) vive e reina pelo nosso sculo, amm. E faz reinar entre ns, na
Educao, as classificaes mdicas psiquitricas que tm nos permitido nomear as condutas
Pgina
193
Opta-se pelo termo reinante, utilizado por Butler, tanto para qualificar discurso, quanto para adjetivar uma
dada corrente da psiquiatria que, paulatinamente, a partir dos anos 1980, especialmente com a publicao do
DSM III (Manual Diagnstico e Estatstico de Transtornos Mentais), tem se colocado como reinante em nossa
poca. Trata-se de uma corrente psiquitrica biolgica, voltada a descrever um dado funcionamento
orgnico/neurolgico como condicionante dos fenmenos humanos. Desse modo, esta psiquiatria vai tomar
todos os sofrimentos psquicos como quadros neuropsicopatolgicos e estes como transtornos mentais. Esta
vertente psiquitrica, importante frisar, constitui-se porque filia-se fortemente neurologia e farmacologia
e, assim, consolida como verdade nossa poca uma determinada forma de entender e tratar os fenmenos
psquicos em sofrimento como desordem orgnica, desconsiderando-se relaes intersubjetivas, sociais e
histricas, forma esta que tem resultado numa estreitada aliana, para l de produtiva, com a indstria e o
mercado farmacuticos.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
infantis como transtornos mentais e, em nosso tambm reinante discurso de proteo
infncia para torn-la cidad-includa, remediamo-la.
Tornar difcil este gesto que tem ficado to simples, corriqueiro, banalizado e fcil
demais que discursivizar as condutas das crianas, a partir de sua escolarizao, como um
caso neuropsiquitrico o que requer esta pesquisa e seu empreendimento crtico. Esta
pesquisa se faz na inspirao e transpirao de que
uma crtica no consiste em dizer que as coisas no so bem como so. Ela consiste em
ver em que tipo de evidncias, de familiaridades, de modos de pensamento adquiridos e
no refletidos repousam as prticas que aceitamos. [...] A crtica consiste em expulsar o
pensamento e tentar mud-lo; mostrar que as coisas no so to evidentes como
cremos, fazer de sorte que o que aceitamos como indo de ns no tenha mais de ns.
Fazer a crtica tornar difcil os gestos mais simples. Nessas condies, a crtica (e a
crtica radical) absolutamente indispensvel para toda transformao, pois uma
transformao que ficasse no mesmo modo de pensamento, uma transformao que
fosse uma certa maneira de melhor ajustar o mesmo pensamento realidade das coisas
no passaria de uma transformao superficial (FOUCAULT, 2010, p. 356-357) grifo
nosso.
Desse modo, esta investigao faz coro com aquelas-es que tm se inquietado menos
com a inquietude das crianas, mas com os seguros modos de pensamento e de
conhecimento (de uma certa mentalidade) que plantam-se entre ns como discursivizaes
autorizadas, suficientes e necessrias (verdadeiras, enfim) sobre os infantis. Este trabalho
alia-se aos que tomam esses discursos reinantes como um impasse e no como a resposta
tranquilizadora e, at mesmo, desresponsabilizadora Educao. Nesse sentido, trata-se de
uma pesquisa que menos preocupa-se se h psicopatologias verdadeiras ou falsas, seno
que pretende perseguir quais so as combinaes de poder e saber que tm tornado
possvel inscrevermos os nossos desafios educativos como uma questo do campo da
doena mental.
Como objeto em anlise neste trabalho estavam, a princpio, os discursos de
psiquiatrizao que interpelam o campo da educao escolarizada, constituindo o governo
da infncia contempornea. Para tanto, a investigao debruou-se sobre pronturios de
crianas - encaminhadas pela escola por queixas de conduta/comportamento, ainda que sob
Pgina
194
uma primeira roupagem de problemas de aprendizagem, a centros de atendimento
especializado/avaliao psicopedaggica que alastram-se, no Brasil, notadamente a partir da
segunda metade dos anos 1990. Tais espaos esto, quase sempre, vinculados s secretarias
municipais de educao e ramificados nos departamentos de Educao Especial, embora,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
em grande parte, destinem-se ao atendimento da populao infantil das escolas regulares,
como parte das demandas das polticas educacionais inclusivas que delineiam-se neste
momento histrico. O fato nodal que mobiliza esta investigao que as crianas que a
escola passa a encaminhar a estes centros de avaliao e apoio no so as crianas com
deficincia, mas aquelas que pertenceriam populao da infncia normal e que, por
algumas combinaes, passam a ser suspeitadas como caso de incluso (cuja via-crucis de
laudagem de seus corpos inicia-se quando entram na escola).
Nestes pronturios, uma vastssima e refinada narrativa sobre as crianas tem sido
produzida, de modo mais especfico, em fichas de encaminhamento e relatrios escritos
pelos especialistas da escola (os diagnsticos dados pelas/os professoras/es, diretoras/es e
equipe pedaggica), bem como o cruzamento disto com laudos/pareceres mdicos e psi e,
ainda, com documentos do campo jurdico. Todavia, muitos pronturios foram dando-nos
pistas de que a psiquiatrizao dos corpos infantis, em muitos casos, estava alianada com o
dispositivo da sexualidade e este entrecruzamento que torna-se, ento, o foco de nossas
problematizaes neste texto.
2. O ENCONTRO COM DIADORIM: PSIQUIATRIZAO E DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE
NA ESCOLA
[...] mas Diadorim minha neblina... (GUIMARES ROSA, 1982, p.22)
O movimento de investigao nos pronturios/documentos que temos escavado em
um Centro de Atendimento Especializado em Transtorno Global do Desenvolvimento
CAEE-TGD, localizado numa cidade da regio metropolitana de Curitiba/PR, mostram-nos
aquilo que Foucault j nos alertou no primeiro volume de sua Histria da Sexualidade: toda a
rede discursiva da instituio escolar, desde seus investimentos e regulaes disciplinares,
Pgina
195
fala da maneira mais prolixa da sexualidade das crianas (2001, p.30). Foucault continua:
O que se poderia chamar de discurso interno da instituio o que ela profere para si
mesma e circula entre os que a fazem funcionar articula-se, em grande parte, sobre a
constatao de que esta sexualidade existe: precoce, ativa, permanente. Mas ainda h
mais: o sexo do colegial passa a ser, no decorrer do sculo XVIII e mais particularmente
do que o dos adolescentes em geral um problema pblico. Os mdicos se dirigem aos
diretores dos estabelecimentos e aos professores, tambm do conselhos s famlias; os
pedagogos fazem projetos e os submetem s autoridades; os professores se voltam para
os alunos, fazem-lhes recomendaes e para eles redigem livros de exortao, cheios de
conselhos mdicos e de exemplos edificantes. Toda uma literatura de preceitos,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
pareceres, observaes, advertncias mdicas, casos clnicos, esquemas de reforma e
planos de instituies ideais, prolifera em torno do colegial e de seu sexo. [...] Seria
inexato dizer que a instituio pedaggica imps um silncio geral ao sexo das crianas e
dos adolescentes. Pelo contrrio, desde o sculo XVIII ela concentrou as formas do
discurso neste tema; estabeleceu pontos de implantao diferentes; codificou os
contedos e qualificou os locutores. Falar do sexo das crianas, fazer com que falem dele
os educadores, os mdicos, os administradores, os pais. Ou ento, falar de sexo com as
crianas, fazer falarem elas mesmas, encerr-las numa teia de discurso que ora se
dirigem a elas, impondo-lhes conhecimentos cannicos ou formando, a partir delas, um
saber que lhes escapa tudo isso permite vincular a intensificao dos poderes
multiplicao do discurso. A partir do sculo XVIII, o sexo das crianas e dos adolescentes
passou a ser um importante foco em torno do qual se dispuseram inmeros dispositivos
institucionais e estratgias discursivas [...] [tudo] estreitamente articulado em torno de
um feixe de relaes de poder (FOUCAULT, 2001, p.30-32).
A pergunta, ento, : como o sexo das crianas, to amplamente em discurso desde o
sculo XVIII seja naquilo que explicitamente diz, seja naquilo do dizer que est como que
textualmente silenciado, mas discursivamente latejando - vem entretecendo-se, afinando-se
e mancomunando-se, em nossa poca, com toda a maquinaria da psiquiatrizao dos corpos
escolarizados? Parece haver nisto muita simbiose. Escancarar o desafio.
De tantos dossis dessas crianas infames da escola (somente nos arquivos deste centro de
avaliao e tratamento desta cidade da regio metropolitana de Curitiba, onde temos
realizado nossa pesquisa, so, desde 1997, mais de cinco mil pronturios), h o encontro
com Diadorim. Assim vamos chamar a menina-menino, este corpo indigesto, que congrega a
histria de tantas crianas. Citamos um fragmento de Grande Serto Veredas:
De todos, menos vi Diadorim: ele era o em silncios. Ao de que triste; e como eu ia poder
levar em altos aquela tristeza? A eu quis: feito a correnteza. Da, no quis, no, de
repentemente. [] assim eu via Diadorim de mim mais apartado. Quieto; muito quieto
que a gente chama o amor: como em quieto as coisas chamam a gente (GUIMARES
ROSA, 2001, p.662).
Como em quieto as coisas chamam a gente Nossa Diadorim poderia passar sem
que nunca a conhecssemos, mas ganha alguma fasca de claro entre ns, agora, porque
Diadorim pertencia sina diferente, porque seu corpo confrontou-se com os exerccios de
poder e com os modos de governamento de nossa poca. Como a Diadorim de Guimares
Pgina
196
Rosa, h tambm muito mais silncio em nossa Diadorim. No h sua voz. Todavia, muito se
fala dela, do seu corpo, de sua insuportabilidade. A partir do momento em que habitou a
escola, nossa Diadorim movimenta-se no seu silenciamento e na verborragia de tantos
saberes que veredictam sobre seu corpo: o da pedagogia, o da psicologia, o da medicina, o
das formas jurdicas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Diadorim nasceu em 28 de novembro de 1997. Encontramos-a, via seu dossi-decriana-transtornada, pela primeira vez, em 2004. Tem 6 anos. na escola, na sua
alfabetizao, que seu corpo comea a ser patologizado. a escola quem a encaminha para
ser avaliada, diagnosticada, laudada, neurofarmalogizada e judicializada. Nos documentos
que compem o pronturio de Diadorim, salta o incmodo com suas condutas, a princpio
seu comportamento bagunceiro, violento, indcil. Nem a escola, nem todas as avaliaes
conseguem lhe atribuir convincentemente problemas de aprendizagem. Diadorim
inteligente e esperta. Os arquivos, a partir de seus nove anos, comeam, timidamente,
mas de modo reiterante, a assinalar o que at ento estivera impronuncivel: sua identidade
de gnero descabida. E isto sinalizaria questes com a sexualidade, ou melhor, com a
heteronormatividade. Parafraseando um dos enunciados que consta em um dos primeiros
relatrios escolares e apropriando-se do lapso de digitao cometido pela escola (abjeto
ao invs de objeto), Diadorim ameaa jogar seu corpo abjeto nos outros. A suspeita: aqui
em sua ameaa heteronorma que reside a psiquiatrizao de Diadorim. Seguem alguns
documentos:
Agosto de 2004 6 anos
Diadorim, no incio do ano, se encontrava com outra professora da 1.a srie. Nesta
ocasio apresentava muitos problemas em sala de aula, onde a professora no dava
conta de seu comportamento. Houve momentos em que fora da sala de aula se ouvia
(pela pedagoga e pela diretora) a aluna gritando e fingindo um choro bem alto, deixando
todos agitados. Tinha dias que no entrava em sala. A professora ia conversar com ela,
esta dizia que no ia e se a professora insistisse, esta mordia e batia na mesma. Depois
de muitas queixas por parte da professora (que estava grvida), a aluna foi remanejada
de turma, indo para a professora R. que conseguiu conter o comportamento da menina.
Mas, fora do alcance dos olhos da Professora R., ela sempre causa transtornos. R. nos
conta que Diadorim muito agressiva. Ao mesmo tempo em que est trabalhando, se
irrita e comea agredir a todos, correndo, gritando e estragando o material das outras
crianas. Cospe, joga-se no cho, maltrata os outros, morde. A professora tem que
segur-la com fora para ela parar. Ento bate-se e no ouve a professora falar com ela.
Demora a ouvi-la. A professora a tira da sala para conversar, mas sem agredi-la, porque
se a pessoa for agressiva com a menina, esta piora o seu comportamento.[...] Ameaa
jogar abjetos (sic!) nos outros, quando est irritada. [...]
Pgina
197
Setembro de 2004 6 anos
FICHA DE OBSERVAO E INTERVENO ESCOLAR
[..] no respeita ningum. No tem limites. Faz o que quer. Tem ocasies que surta: bate
nos colegas, esperneia, rasga o material dos outros, quebra o lpis dos outros no joelho,
grita com todos (at professoras, pedagoga, diretora). Quer que os outros lhe obedeam.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Diz palavres horrveis. Traz o cachorro para a escola e quer t-lo na sala. Se enfrent-la
ou tentar reprimi-la, fica pior. Extremamente indisciplinada.
Julho de 2005 7 anos
RELATRIO SEMESTRAL ESCOLAR
uma criana super esperta inteligente mas usa tudo isso de forma desorganizada
atravs da agitao, provocao verbal e corporal; palavres, brigas constantes; gritos;
manhas; invade o espao dos colegas, inclusive o das professoras. [...] Todos os dias h
reclamao de comportamento desafiador e agressivo que Diadorim apresenta na escola.
Foram realizados vrios registros dos fatos ocorridos, como por exemplo quando
quebrou o vidro do corredor, mordeu fortemente um colega, bateu em algum jogou
materiais escolares pela sala, saiu correndo e gritando pela escola; respondeu a
professora, etc. (sic) [...]
Passou a tomar medicao CARBAMAZEPINA desde o incio do ano, acalmando-se um
pouco mas como o comportamento permaneceu instvel e as reclamaes
continuaram, a Psiquiatra prescreveu mais uma medicao: RISPERIDONA.
[...]
Novembro de 2006 8 anos
RELATRIO DA ESCOLA 2 SEMESTRE
[...] Em sala de aula, amedrontou os colegas, professoras e diretora com suas atitudes
negativas e inesperadas: rasgou prova, estragou materiais dos colegas, cuspiu, fez
choradeira, xingou, bateu, brigou... por ltimo ameaou os colegas e a professora com
tesoura nas mos. O Conselho Tutelar foi acionado. [...] A Psiquiatra mudou o
medicamento de Diadorim h dois meses [...]
2 Semestre de 2007 9 anos
[...] de repente passou a faltar na escola (Ensino Regular) e ficar mais agressiva. Foi
conversado com a me para conferir a medicao mas esta disse que Diadorim toma
sozinha. A me a deixou cortar o cabelo bem curto (parecendo um menino). [...] uma
criana que est em risco social total e precisa da ajuda do Conselho Tutelar e /ou da
Promotoria. Apesar de tantas confuses foi aprovada para a 3 srie por apresentar
condies de aprendizagem.
2008 10 anos
RELATRIO ESCOLAR
Pgina
198
A aluna Diadorim est no atendimento da SRCT desde o ano de 2004 e muitas questes
sociais continuam pendentes devido falta de estrutura familiar adequada s suas reais
necessidades.[...] Suas roupas e o corte de cabelo so todos masculinos [...]
2009 11 anos
[...] Nas ltimas semanas a aluna tem se mostrado bastante agressiva na sala do ensino
regular. [...] Tem boa percepo visual, raciocnio lgico e compreenso. Demonstra
preocupao com seu futuro e a famlia, tem sonhos e esperanas como todo mundo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Conversa sobre diversos assuntos, porm no gosta de ser questionada sobre sua
sexualidade.
Ela ainda precisa ser bastante trabalhada na questo de gnero, a qual est
aguardando atendimento com a psicloga do postinho de sade do Boqueiro.
2010 12 anos
Diadorim tem 12 anos, est matriculada na 5 srie do ensino regular. [...] Em mediao
com a pedagoga Denise est com seu comportamento estabilizado, no tem
demonstrado agresso com colegas e professores, os conflitos dos quais se envolve
esto no padro de normalidade de outro adolescente. Apresenta comportamento
relacionado a gnero, no vestir, nas brincadeiras.
Realiza todas as atividades
propostas e no apresenta dificuldades de aprendizagem. [...] Faz uso de medicao.
(Rispiridona 0,5 a noite, Carbamazepina xarope 10 ml a noite)
2011 13 anos
Observando o desenvolvimento da aluna Diadorim, foi constatado que neste semestre
iniciou aparentemente bem quanto ao seu comportamento, no se envolvendo em
intrigas e discusses. uma menina que aceita sugestes da professora e dos colegas e
no apresenta dificuldades acadmicas acentuadas.
[...] Seu modo de vestir-se continua a ser com roupas masculinas. [...]
As reflexes ps-feministas, a Teoria Queer e os Estudos Foucaultianos, ao
ampararem as investigaes que problematizam os desdobramentos do sistema corpo-sexognero e suas implicaes para com a produo da abjeo de corpos e sujeitos, sero aqui
tambm tomados como ponto de sustentao terica a fim de pensar a interseccionalidade
entre a sexualidade e a produo do corpo psiquiatrizado no espao escolar no interior das
biopolticas contemporneas.
3. AINDA O SEXO EM DISCURSO
Michel Foucault, ao longo do Volume I (2001) da histria da sexualidade, chama
ateno para uma insistncia em pensar o sexo a partir de uma ideia de represso.
Questionando esta hiptese repressiva, demonstra que o sexo no foi reprimido, mas sim
incitado: posto, exaustivamente, em discurso. Deste modo, [...] a ideia de uma represso
Pgina
199
unilateral, que se exerceria por parte de um dominador sobre dominados, precisava ser
revista e redirecionada para a dimenso das relaes difusas do poder. (SIERRA, 2013,
p.135). Ou seja, uma das formas fundamentais de exerccio do poder no apenas sobre os
corpos individuais, mas tambm sobre toda a populao seria a colocao do sexo em
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
discurso. Assim, por meio de um dispositivo nomeado sexualidade, o sexo gritava a verdade
sobre os sujeitos. Dizer, ento, que o sexo reprimido faz parte da prpria constituio do
dispositivo da sexualidade. Para Foucault (2004, p.244), dispositivo designaria: [...] um
conjunto decididamente heterogneo que engloba discursos, instituies, organizaes
arquitetnicas, decises regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
cientficos, proposies filosficas, morais, filantrpicas. Em suma: o dito e o no dito [...]
Desta maneira, dispositivo qualquer elemento que faa com que a disciplina e o biopoder
entrem em ao. No caminho de disciplinar e normalizar corpos e populaes, a confisso
prtica do cristianismo que foi laicizada na modernidade se constituiu como uma
estratgia de mapeamento e hierarquizao das prticas sexuais. Em um processo de
observao, escuta e estmulo, o consultrio mdico tornou-se o espao de confisso de si e
de descrio das prticas corporais e sexuais, possibilitando, assim, a criao de saberes
organizados pelas cincias mdico jurdicas. Como bem demonstra Spargo (2006, p. 14):
Da confisso crist, passando pelas prticas mdicas, judiciais, pedaggicas e familiares
at a cincia contempornea da psicanlise, podemos traar uma histria de homens e
mulheres, meninos e meninas escrutinando seus desejos, emoes e pensamentos,
passados e presentes, e relatando-os para algum. Contando ao padre os seus pecados,
descrevendo ao mdico os seus sintomas, sendo curados pela fala: confessando pecados,
confessando doenas, confessando crimes, confessando a verdade. E a verdade era
sexual.
Nesse momento, as prticas sexuais passam a ocupar um gradiente normativo que,
atravs do dispositivo da sexualidade, vo demarcar as fronteiras entra normalidade e
anormalidade. A ideia de um sexo bem educado, isto , consolidado pelo casamento, pelas
prticas heterossexuais, monogmicas e com foco na reproduo, s ser possvel atravs
das descries das prticas no normativas, ou seja, as sexualidades perifricas vo produzir
o outro da normalidade, definindo, assim, aquilo que normal. Essas chamadas prticas
perifricas ou insubmissas so a parte de sustentao de um discurso central: o discurso da
normalidade dos corpos, das prticas e dos prazeres. Nesse sentido, quanto mais se
conhecesse sobre os comportamentos sexuais, maior seria a produo de mecanismos de
Pgina
200
estmulo e controle dos que desviassem a norma. Assim, o dispositivo da sexualidade vai
produzir uma ideia de sexualidade totalmente ligada natureza, como algo que faz parte de
um instinto, de uma biologia. Em contraponto, os (des)viados sero tomados como parte de
uma natureza perversa e, consequentemente, suas prticas sero atreladas loucura e a
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
doena. Foucault assinala que atravs dos saberes mdico psiquitricos e das descries das
prticas perversas, sujeitos especficos sero criados: a criana onanista, o casal
malthusiano, a mulher histrica e o homossexual. O sculo XIX e XX v, assim, a ao de
gerenciamento e captura de toda a multiplicidade sexual. Alm de presentificar o saber
mdico retificando o instinto natural perdido dessas prticas outras, esses sculos veem o
surgimento da homossexualidade como uma categoria mdico psiquitrica, bem como as
primeiras curas para as patologias sexuais. (SIERRA, 2013).
Para Foucault o personagem homossexual uma inveno do sculo XIX, uma
categoria construda. Isso no quer dizer que antes da era vitoriana as prticas sexuais entre
pessoas do mesmo sexo no existiam, mas que enquanto quem confessasse a prtica da
sodomia no sculo XVI seria alertado sobre os pecados cometidos, um homem do sculo XIX
que praticasse os mesmos atos seria visto como homossexual, confessando para si mesmo
os prprios desejos. A diferena consiste, pois, em tornar o homossexual uma espcie
definida por uma sexualidade perversa. Como diz o prprio autor:
O homossexual do sculo XIX torna-se uma personagem: um passado, uma histria, uma
infncia, um carter, uma forma de vida; tambm morfologia, com uma anatomia
indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. Nada daquilo que ele , no fim das contas,
escapa sua sexualidade. Ela est presente nele todo: subjacente a todas as suas
condutas, j que ela o princpio insidioso e infinitamente ativo das mesmas, inscrita
sem pudor na sua face e no seu corpo j que um segredo que se trai sempre. [...] A
homossexualidade apareceu como uma das formas de sexualidade quando foi transposta
da prtica de sodomia para um tipo de androginia interior, um hermafroditismo da alma.
O sodomita tinha sido uma aberrao temporria; o homossexual era agora uma espcie
(FOUCAULT, 2001, p. 43-44).
Deste modo, o homossexual foi concebido como uma perverso, um ser passvel de
cura, foi patologizado, resumidamente: constituiu-se como um desvio da norma
heterossexual. justamente nessa afirmao de que a homossexualidade moderna uma
inveno recente que Spargo (2006) vai considerar um catalisador para o desenvolvimento
da teoria queer. Ainda nesse contexto, o dispositivo da sexualidade passa a operar de outro
ngulo, tirando o alvo do casal monogmico reprodutor e o reapontando para as
Pgina
201
sexualidades perifricas, em um jogo entre poder e prazer o dispositivo da sexualidade se
junta a uma srie de novas tecnologias de regulao do sexo, capturando o corpo e a
sexualidade e instaurando um controle sobre as populaes. Assim, a relao entre poder,
saber e desejo constituir o lugar de referncia da normalidade, que ser um dos pontos de
partida para as primeiras teorizaes queer.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
4. INCLUSO E NORMALIZAO DOS CORPOS: VIVER MUITO PERIGOSO...
Neste percurso de pesquisa, a aposta que a psiquiatrizao, no encontro com o
dispositivo da sexualidade, reassenta o regime da normalizao na escola e funciona como
uma estratgia a servio das tecnologias de governamento da infncia na racionalidade
neoliberal, uma vez que a psiquiatrizao dos corpos engendra um tipo de regulao das
condutas infantis que possibilita melhor abarcar a populao das crianas numa poltica
identitria de sujeito de direito. nesta condio como sujeito de direito que os corpos
infantis podero participar, inclusive, dos processos de neurofarmacologizao e, assim,
normalizarem-se para fazer funcionar a Incluso. O dispositivo pedaggico psiquiatrizante,
paradoxalmente, ao anormalizar, o que permite garantir a ao das biopolticas inclusivas,
pois atua na captura da diferena, orquestrando o reajuste dos corpos e os reinserindo em
novas normalidades. Em outras palavras, o dispositivo pedaggico psiquiatrizante o que
contribui e garante, via escola, na lgica das biopolticas neoliberais, uma boa parte dos
processos de incluso, uma vez que permite abocanhar as subjetividades que habitam as
franjas da incluso, especialmente aquelas que tm escapado do j estabilizado, decifrvel e
bem montado script das classificaes e da heteronorma.
Pgina
202
5. REFERNCIAS
BUTLER, Judith. Qu es la critica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault. Traduccin de
Marcelo
Expsito,
revisada
por
Joaqun
Barriendos.
Disponvel
em
<http://eipcp.net/transversal/0806/butler/es/print>. Acesso em: 16 out. 2013.
DUARTE, Andr. Vidas em Risco: crtica do presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 2010.
FOUCAULT, Michel. Histria da Sexualidade: a vontade de saber. 14 ed. Rio de Janeiro:
Graal, 2001. v. 1.
______. Microfsica do poder. 19. ed. So Paulo: Graal, 2004.
______. Histria da Sexualidade: o uso dos prazeres. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2010. v.
2.
______. O Poder psiquitrico. So Paulo: Martins Fontes, 2006.
______. importante pensar? In: ______. Ditos & Escritos. Repensar a Poltica. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 2010. v. 6.
GUIMARES ROSA, Joo. Grande Serto: Veredas. 15. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio,
1982.
______. Grande Serto: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
203
RAMOS do , Jorge. O governo do aluno na modernidade. Revista Educao: Especial
Biblioteca do Professor 3 Foucault pensa a Educao. So Paulo: Editora Segmento,
2009, p.36-45.
SIERRA, Jamil Cabral. Marcos da vida vivel, marcas da vida vivvel. O governamento da
identidade sexual e o desafio de uma tica/esttica ps-identitria para a teorizao
poltico-educacional LGBT.Tese de doutorado. Universidade Federal do Paran.
Doutorado em Educao. 2013.
SPARGO, Tamsim. Foucault e a teoria queer. Rio de Janeiro: Pazulim; Juiz de Fora: Ed. UFJF,
2006.
VEIGA-NETO, Alfredo. Coisas do governo. In: ______; RAGO, Margareth; ORLANDI, Luiz B.
Lacerda (Orgs.). Imagens de Foucault e Deleuze: ressonncias nietzschianas. Rio de
Janeiro: DP&A, 2002, p. 13-34.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
RAA/ETNIA E FORMAO: Foco nos Multiletramentos
Susana Aparecida Ferreira 1
Aparecida de Jesus Ferreira 2
1. INTRODUO
A insero de discusses a respeito de raa /etnia na sala de aula ainda tema de
muitas discusses bem como, motivo de insegurana para muitos professores (BRASIL, 2004;
FERREIRA 2009; FERREIRA, 2011; GOMES, 2012). fato que estas discusses so
extremamente necessrias e que o professor pode aprimorar sua prtica de modo a sentirse apto a proferir estas reflexes em sala, sem medo de suscitar discusses ou mesmo a
indisciplina em sua sala.
Para levantar discusses a respeito de como a prtica pedaggica poderia ser
aprimorada, por meio de uma reviso bibliogrfica, lanamos mo de reflexes a respeito
tanto de raa /etnia, como dos multiletramentos3. Entendemos que a teoria dos
multiletramentos acompanham as novas prticas e podem ser teis para o professor. Alm
da promoo da igualdade racial por meio das polticas pblicas, por exemplo, importante
o discernimento de que: a luta contempornea dos negros pelos direitos sociais inerentes
democracia brasileira passou a ter como mote a luta por cidadania e respeito aos direitos
humanos (GUIMARES, 2004, p. 31). importante que o professor, no entenda as polticas
de promoo da igualdade racial, que de uma forma ou de outra tem um impacto em sala
de aula atravs das polticas educacionais e lingusticas, apenas como uma obrigao
Pgina
204
Doutoranda do programa de ps graduao Stricto Sensu em Letras Unioeste Cascavel. Bolsista
Capes/fundao Araucria). E-mail: s.aferreira@hotmail.com.
2
PhD e Ps-Doutorado pela University of London. Professora Associada/Associate Professor Unioeste- UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa. E-mail: aparecidadejesusferreira@gmail.com. Site:
www.aparecidadejesusferreira.com.
3
Algumas reflexes contidas nesse trabalho que se referem a respeito de letramento e multiletramentos,
fazem parte de uma tese de doutorado que ainda est em andamento. Algumas reflexes a respeito de
raa/etnia, foram publicadas nas revistas RevLet, -Revista Virtual de Letras, 2011 e Revista Horizontes de
Lingustica Aplicada em 2013.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
conteudista mas, que entenda o motivo que as fazem existir e utilize-as para aprimorar sua
prtica pedaggica, no folclorizando as reflexes sobre raa/etnia (FERREIRA, 2011),
reduzindo-as a datas do calendrio escolar, mas trazendo estas reflexes para a sala de aula
no cotidiano, em todas as disciplinas, pensando exatamente no respeito e na equidade social
(BRASIL, 2004).
Pensando em um ensino crtico e reflexivo (HOOKS, 1994; STREET, 2003;
MAGALHES, 2012), intentamos colocar em pauta reflexes que possam suscitar discusses
a respeito da importncia da insero de prticas pedaggicas, pensadas e focadas no
enfrentamento do racismo na escola, tomando como suporte a teoria dos multiletramentos
pois, entendemos que o racismo ainda faz parte do contexto escolar. Henriques (2002)
pontua que a desigualdade racial mascarada pelo silncio, pois que ela existe de forma
velada na sociedade, impedindo a ascenso social da populao negra. A educao tem
papel importantssimo para reverter esse quadro: [...] a educao aparece, portanto, como
uma varivel crucial para transformar significativamente a situao desigual em que se
encontram os indivduos de diferentes raas (HENRIQUES, 2002, p. 15).
Para dar conta de nossa proposta de refletir a respeito das questes acima
mencionadas, intentando tambm responder a seguinte questo: Qual a importncia de se
refletir a respeito de raa /etnia e a teoria dos multiletramentos concomitantemente com a
prtica docente? Assim, dividimos este trabalho nas seguintes sees: raa /etnia no
contexto escolar, multiletramentos, a prtica pedaggica e as novas teorias e a concluso.
2. RAA /ETNIA NO CONTEXTO ESCOLAR
Primeiramente ressaltamos alguns conceitos que permeiam este trabalho,
esclarecendo assim qual a nossa posio a respeito dos mesmo, para que tambm, ao
longo do texto possa ficar mais clara nossa proposta de reflexo.
Raa: Gomes pontua que [...] podemos compreender que as raas so, na realidade,
construes sociais, polticas e culturais nas relaes sociais e de poder ao longo do processo
Pgina
205
histrico. No significam, de forma alguma, um dado da natureza. no contexto da cultura
que ns aprendemos a enxergar as raas (GOMES, 2005, p. 49). Raa deve ser entendida no
sentido construdo socialmente e historicamente na nossa sociedade (FERREIRA, 2006, p.
29). Ou ainda podemos dizer que:
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Nas concepes contemporneas no h raa fora do domnio, da biologia ou de
qualquer outra parte do mundo; h somente raa como um modo de entender e
interpretar as diversidades por meio de marcadores inteligveis. Problematizar o
conceito desse modo possibilita desestabilizar as bases intelectuais sobre as quais ele
repousou por muito tempo (CASHMORE, 2000, p. 452).
Assim, apesar de raa remeter a traos biolgicos (FERREIRA, 2006), ns a
entendemos como um conceito que social, historicamente construdo, por meio dos
discursos, nas interaes sociais.
Etnia: Entendemos que [...] uma etnia um conjunto de indivduos que, histrica ou
mitologicamente, tem um ancestral comum; tem uma lngua em comum, uma mesma
religio ou cosmoviso; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo
territrio (MUNANGA, 2003, p. 12). Ou ainda:
Em sua forma contempornea, tnico ainda mantm o seu significado bsico no
sentido em que escreve um grupo possuidor de algum de algum grau de coerncia e
solidariedade, composto por pessoas conscientes, ao menos de forma latente, de terem
origens e interesses comuns. Um grupo tnico no mero agrupamento de pessoas ou
de um setor da populao, mas uma agregao consciente de pessoas unidas ou
proximamente relacionadas por experincias compartilhadas (CASHMORE, 2000, p. 460461).
Racismo: Gomes aponta que [...] o racismo , por um lado, um comportamento,
uma ao resultante da averso, por vezes, do dio, em relao s pessoas que possuem um
pertencimento racial observvel por meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo,
etc. Por outro lado, conjunto de ideias e imagens referentes aos grupos humanos que
acreditam na existncia de raas superiores e inferiores (GOMES, 2005, p. 52). Apesar de,
com o passar dos tempos este conceito ter sido utilizado de diversas maneira, entendemos
que:
Aquilo que define o racismo como uma ideologia o fato de atribuir uma relao
determinista entre um grupo e suas supostas caractersticas. Tal definio de racismo
amplia a sua aplicao, mas somente at o ponto em que geralmente cede sua falta de
sentido analtico. O processo ideolgico de atribuio determinista de caractersticas a
determinados grupos disseminado, e muitos tipos diferentes de grupos so seus
objetos (CASHMORE, 2000, p. 460-461).
Pgina
206
Para entender um pouco sobre esta identificao (ou no identificao) com o outro,
ou esta possvel averso ao diferente podemos refletir a respeito das identidades sociais,
elas podem ser muitas, dependendo do contexto social que estamos inseridos, segundo Hall
(1987) so nomes que damos aos diferentes modos com os quais nos posicionamos dentro
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
de nossos contextos sociais. Assim, as identidades sociais, alm de serem construdas,
reconstrudas e mantidas por meio das interaes, tambm podem ser geridas por questes
de interesse, bem como as questes ideolgicas que perpassam a vida em sociedade. So
determinadas em um processo que ocorre em todos os contextos, situaes, instituies, e
na instituio escolar tambm tornam-se uma questo especial pois a escola a agncia de
letramento (STREET, 2003; JUNG, 2003) na qual passamos uma parte significativa de nossas
vidas. Para Hall (2002) ela reconhecida atravs da diferena, no momento de interao
social, de identificao ou no identificao, de alteridade. Sendo que, segundo Silva (2007)
essas identidades so construdas, apreendidas e transmitidas a outrem, durante as
interaes, expressando os valores, tanto tnico-raciais, quanto pessoais.
Este jogo de identidades, negociadas por meio dos discursos, que possibilita que o
sujeito se reconhea e entenda o seu papel tanto na escola quanto na sociedade na qual
atua, e tambm como eles se percebem a respeito de quais so os seus papis na
construo e na manuteno ou na transformao das identidades sociais (FERREIRA,
FERREIRA, 2013, p. 7). Por isso to importante, entender como elas se (re)constroem no
contexto escolar, e qual a responsabilidade e o papel do professor diante desses jogos
indenitrios, pois ele pode estar auxiliando para a afirmao de uma identidade positiva ou
no, ou simplesmente silenciando seu aluno. Entendemos que as reflexes sobre as novas
teorias de letramento podem auxiliar na reformulao da prtica docente, passemos a elas.
3. MULTILETRAMENTOS
Ao passo que o tempo caminha e a modernidade chega, a revoluo tecnolgica e de
informao numa velocidade que assusta, pensamos como fica ento o ensino neste
contexto. Assim como as coisas evoluem, os conceitos tambm. No caso da alfabetizao,
ela passou a ter um novo significado a partir que se comeou a falar em letramento, ou seja
considerar a habilidade escrita e oral, adquirida na alfabetizao dentro dos contextos
sociais, prezando pela funcionalidade nas prticas sociais. claro que, devemos a Paulo
Pgina
207
Freire todo o conceito crtico que as novas teorias trazem, pois ele influenciou tericos pelo
mundo a fora, que trouxeram novos conceitos para o Brasil, baseado nos ensinamentos de
Freire.
Assim, surgiu o conceito de letramento que surgiu na rea da educao, foi
ressignificado e disseminado na rea de letras. Kleiman (2005) atribui a ressignificao deste
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
conceito Mary Kato em seu livro de 1986 No Mundo da Escrita: uma perspectiva
psicolingustica no qual a mesma utilizou o termo letramento pela primeira vez no Brasil.
Para esclarecer este conceito recorreremos Kleiman (2005, p.6), onde a autora define que
letramento um conceito criado para referir-se aos usos da lngua escrita no somente na
escola, mas em todo lugar. Porque a escrita est por todos os lados fazendo parte da
paisagem cotidiana [...] (KLEIMAN, 2005, p.6). Apesar do foco do trabalho de Kleiman ser a
leitura, ela explicita de maneira de maneira clara o conceito de letramento: A complexidade
da sociedade moderna exige conceitos tambm complexos para descrever e entender seus
aspectos relevantes. E o conceito de letramento, surge como uma forma de explicar o
impacto da escrita em todas as esferas de atividades escolares (KLEIMAN, 2005, p.6).
Magalhes (2012) refere-se ao letramento como prtica social da lngua escrita, onde os
processos sociais da leitura e escrita esto inseridos.
Street (1984) j fala em letramentos, no plural, trazendo os conceitos de letramento
autnomo e ideolgico (STREET, 2003), sendo que a partir da nova mudana de paradigmas,
a leitura e a escrita, passaram a ser consideradas dentro das prticas sociais. Segundo Street
(2012), os Novos Estudos do Letramento propem invalidar a ideia de que pessoas que
obtm desempenho abaixo do esperado em testes de letramento, tenham limitaes de
cunho cognitivo e/ou social, dividindo o letramento e a oralidade. Street ainda coloca que
as prticas de letramento variam com o contexto cultural, no h um letramento
autnomo, monoltico, nico, cujas consequncias para indivduos e sociedades possam ser
inferidas como resultados de suas caractersticas intrnsecas (STREET, 2012, p. 82).
Focando nos letramentos inseridos nas prticas sociais, Brian Street (1984), surge
como seu maior expoente, a partir da obra Literacy Theory and Practice. Aps alguns anos
de surgimento da concepo dos Novos Estudos do Letramento, os estudos sobre as Novas
Teorias do Letramento efervesceram na dcada de 1990 segundo Cope e Kalantzis (2008), a
partir de reunies de pesquisadores intrigados com a maneira de que as novas tecnologias
deveriam ser inseridas na prtica pedaggica, sendo que j no h como fugir delas, bem
Pgina
208
como a diversidade lingustica e cultural e o papel da educao neste contexto, Cope e
Kalantzis (2008), explicam ao leitor por meio de uma abordagem histrica, as origens das
discusses destas teorias e a origem do termo multiletramentos. No ano de 1994, o Centro
de trabalho Comunicao e Cultura da Universidade de James Cook, reuniu um grupo de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
pesquisadores para refletir sobre o futuro do letramento, considerando a rpida mudana
pela qual passa o mundo, isso foi feito em uma semana na pequena cidade de New
Hempshire nos Estados Unidos. Os pesquisadores que participaram destas primeiras
discusses foram: Courtney Cazden (1988,2001) dos Estados Unidos, pesquisador na rea do
ensino de lnguas em contextos multilngues, e a pedagogia dos novos letramentos (1983),
Bill Cope da Austrlia abordando a diversidade cultural nas escolas e tambm pesquisando
as teorias dos novos letramentos (Kalantzis and Cope, 1989), Norman Faircough (1989,1992)
terico interessado na lingustica e as mudanas discursivas como parte de uma mudana
social e cultural, James Gee (1992,1996) tambm um pesquisador e terico na rea da
linguagem, Mary Kalantzis, da Austrlia envolvida em pesquisas sobre educao social e
estava particularmente interessada em educao multicultural e cidad (Cope and Kalantzis,
1999; Cope, Kalantzis, Nobel, and Poynting, 1991; Cope Kalantzis, and Slade, 1989), Gunter
Kress (1990) da rea da aprendizagem e semitica e literaturas multimodais, Allan Luke
(1991,1992,1993) com o Letramento Crtico, Carmen Luke (1992b,1994) com a pedagogia
feminista, Sarah Michaels, dos Estados unidos, pesquisando programas de ensino de classe
em setores urbanos (Michaels, 1986, Michaels, OConner, and Richards, 1993). Martin
Nakata, um australiano com pesquisas enfatizando o letramento em comunidades indgenas
(Nakata, 1993).
Este encontro resultou em um manifesto programtico que, segundo Bevilqua
(2013) era um documento que teve a funo de refletir e questionar principalmente, a
crescente diversidade lingustica e cultural presente nesses pases (fruto de uma economia
globalizada) e a multiplicidade de canais e meios (modos semiticos) de comunicao
(resultado das novas tecnologias) (BEVILAQUA, 2013, p. 102), o que culminou no prefixo
multi, de multiletramentos. Segundo Cope e Kalantzis (2008), o objetivo do referido
encontro foi reunir os questionamentos que conferem Pedagogia dos Novos Letramentos
status de base das diferentes experincias nacionais e culturais. Focando um mundo em
efervescente mudana, mudana esta que perpassa nossa vida em sociedade. Surgiu ento o
Pgina
209
termo Multiletramentos no intuito de englobar todas essas discusses referentes s novas
pedagogias do letramento. Os autores (2008) trazem dois importantes pontos que foram
colocados como prioritrios pelo grupo: O primeiro o crescimento cultural da diversidade
lingustica, com a cultura de massa que nos bombardeia diariamente, nesta negociao
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
com as diferenas que enfrentamos em nossos contextos sociais tambm de maneira diria.
O segundo ponto a influncia direta das novas tecnologias no conceito de
multiletramento. O crescimento desse conceito culminou no surgimento do termo
letramento multimodal, ou seja, em que a escrita e o modo de significao acontecem
pelo visual, udio e outros padres espaciais de significao: internet, legendas de vdeos,
multimdia, etc.
Cope e Kalantzis (2008) esclarecem ainda, que o grupo de pesquisadores em questo,
do qual eles faziam parte, decidiu ser chamado, New London Group, que mais tarde veio a
publicar A pedagogy of multiliteracies no ano de 1996, como obra inaugural desta
concepo. E concordaram que a mudana social no mundo do trabalho, cidadania e
identidades, requerem uma nova responsabilidade educacional (COPE, KALANTZIS, 2008, p.
198). Este um dos princpios dos multiletramentos. O sistema antigo de educao similar
ao estilo capitalista das fbricas, onde o estado determina o contedo a ser estudado e os
livros simplesmente acatam. Segundo os autores (2008) o bsico do ensino antigo pode ser
resumido em trs palavras: leitura, escrita e matemtica. Um processo baseado em
decorar respostas certas, sem reflexo. Ensino que certamente proporcionava
conhecimento s pessoas, mas no ensinava a refletir e aplicar esses conhecimentos na vida
prtica. Os autores (2008) pontuam que, trabalhar com a cultura necessariamente,
trabalhar com a diversidade, sendo que esta perpassa todas as instncias da organizao
social. Ainda, a respeito dos multiletramentos, os pesquisadores do New London Group,
lanaram mo de uma proposta acerca de um enquadramento terico, que esteja imerso
em uma pedagogia da contemporaneidade.
E pensemos, a respeito do que tudo isso tem a ver com as reflexes a respeito de
raa /etnia e a prtica pedaggica do professor. Ora, se os conceitos mudam, o mundo
evolui, necessrio que encontremos uma maneira de discutir esta temtica em sala de
aula, ou seja, melhorando, reformulando a prtica pedaggica a partir dos novos conceitos.
Pgina
210
4. A PRTICA PEDAGGICA E AS NOVAS TEORIAS
Em novos tempos de ensino, tempos de novas teorias, de dificuldade de relacionar
teoria e prtica, bem como discutir temas como raa /etnia na sala de aula, torna-se
importante refletir tambm sobre qual seria o papel do professor no que se refere
valorizao do negro como cidado, Ferreira (2009) sobre este assunto, refora que os
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
cursos de formao podem contribuir para um melhor esclarecimento das questes de
raa/etnia, proporcionando um meio para aprender a lidar com essa temtica em sua sala de
aula de Lngua Inglesa (LI), sempre pensando no que e como ensinar, qual o objetivo de
determinado contedo para cada contexto de sala de aula.
A maneira como o professor de Lngua Inglesa (LI) aborda (ou no) as questes que
tratam sobre raa/etnia na sala de aula pode fazer a diferena entre a afirmao e o
silenciamento do aluno (SILVA, 2007), para colaborar com estas reflexes que tambm
dizem respeito prtica pedaggica do professor, pretendo investigar como o professor de
LI trabalha o assunto raa/etnia em suas aulas e como os recursos dos multiletramentos
podem contribuir para tal objetivo, refletindo sobre como essas mltiplas maneiras de
ensinar podem contribuir para o trabalho com as questes tnico/raciais em sala de aula,
afirmando , valorizando e dando voz ao aluno silenciado.
Entendemos que a responsabilidade delegada ao professor pesada, a partir do
momento que ele tem a misso de educar alunos para o respeito diversidade e para uma
sociedade mais justa igualitria, seu papel docente se especial e importante. Essas reflexes
vo ao encontro ao que aponta Bell Hooks (1994), em seu trabalho que fala a respeito da
importncia de uma prtica pedaggica crtica, a qual capaz de a partir da (re)criao e
inovao de estratgias pedaggicas, voltadas a peculiaridades e diferenas de cada sala
capaz de empoderar os alunos, preparando-os para a vida em sociedade.
Assim, defendemos a importncia de um ensino crtico (PENNICOOK, 2010) e
reflexivo, colocando o professor em posio de extrema importncia ao passo que ele pode
ser pea chave nas prticas escolares, mediando os processos discursivos, possibilitando que
seus alunos sejam capazes de se posicionar frente a questes como raa e etnia por
exemplo. Os professores precisam engajar seus alunos em atividades que favoream uma
ao social que transforme a realidade que temos, atravs de uma reflexo crtica, para que
todos possam sentir-se integrados na sociedade e haja uma promoo de igualdade racial e
tnica e justia social (FERREIRA, 2006, p.54). Quanto a necessidade de ser ou se tornar um
Pgina
211
professor reflexivo, Libneo (2006, p. 70), aponta que para atingir tal objetivo o docente
precisa trabalhar trs questes primordiais: a) Apropriao terico-crticas da realidade em
questo, ou seja, considerar o contexto social no qual est inserido a sala de aula. b)
apropriao de metodologias de ao, maneiras de agir, de fazer em sala de aula. c)
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
considerar os contextos no s sociais, mas polticos, institucionais no ambiente escolar. O
que Libneo (2006), destaca nas reflexes acima a importncia e a necessidade da reflexo
sobre a prtica docente, partindo da internalizao de teorias como aprimoramento das
prticas de ensino.
Segundo Orlando e Ferreira (2014), no se pode negar a urgncia em levar as
reflexes a respeito da temtica raa /etnia, tanto para os professores em formao, quanto
na formao continuada. Pois o entendimento acerca da temtica ainda recai sobre o senso
comum. E assim primeiro entendendo a teoria, refletindo sobre ela e sobre sua prpria
prtica que o professor ser capaz de mediar as mesmas reflexes com seus alunos. Assim,
concordamos que precisamos centralizar os esforos polticos educacionais na teoria e na
prtica docente, pois na realidade de sala que esto os conceitos de verdade e as noes
de mundo que o docente ir disseminar aos alunos (CAMARGO; FERREIRA, 2014, p.198).
Com estes apontamentos que visam a defesa de um professor que seja autor e avaliador de
sua prpria prtica, passamos para as concluses deste trabalho.
5. CONCLUSO
Para responder a pergunta proposta no incio deste trabalho, a respeito de qual a
importncia de o professor refletir a respeito de raa/etnia e multiletramentos juntamente
com sua prtica docente, entendemos que, as reflexes a respeito de raa/etnia (FERREIRA,
2009, 2012, 2013, 2014) e multiletramentos (MONTE MR, 2007; COPE, KALANTZIS, 2008)
tanto em pr-servio, quanto a partir de formaes continuadas durante a poca de
exerccio da docncia, aliadas as reflexes a respeito das identidades sociais, (HALL, 2002;
2014), podem auxiliar na reelaborao das prticas pedaggicas. Sendo que um problema
em questo a dificuldade na transposio das reflexes a respeito de raa/etnia para a
prtica pedaggica (FERREIRA, 2011). A teoria dos multiletramentos (COPE, KALANTZIS,
2008) pode colaborar para um aprimoramento da prtica pedaggica, ao passo que auxilia
no modo como levar o conhecimento aos alunos de diversos modos, em diferentes formas
Pgina
212
de interao, assim, Cope, Kalantzis e Harvey (2003), entendem que, a teoria dos
multiletramentos priorizam tambm, as discusses que abarcam diversidade e mudana.
Neste sentido, estas reflexes a respeito de como tratar sobre a relao tnico/racial na
escola, ainda necessita de reflexo e preparao por parte dos professores. Pois sabemos
que
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Num pas onde os preconceitos e a discriminao racial no foram zerados, ou seja, onde
os alunos brancos pobres e negros pobres ainda no so iguais, pois uns so
discriminados uma vez pela condio socioeconmica e os outros so discriminados duas
vezes pela condio racial e pela condio socioeconmica (MUNANGA, 2001, p. 33).
certo que no estamos delegando a responsabilidade apenas ao professor, mas
entendemos a importncia do papel do professor e da escola para a constituio da
identidade social/racial do aluno.
Por meio destas reflexes percebemos a importncia de unir o discurso prtica,
mas como sabemos estes ainda no esto unidos para muito professores (FERREIRA, 2011).
Assim, possvel entender que o ensino evolui em direo a uma criticidade mais
contundente, por meio das pesquisas j realizadas, bem como as pesquisas que ainda
continuam, tambm o fato de que muitos docentes j percebem a importncia destas
reflexes em sala de aula, apesar de se confessarem despreparados para tal.
Neste artigo refletimos ento, acerca da importncia da continuidade das reflexes
sobre raa /etnia na sala de aula, com a formao do professor a partir de novas teorias
como a insero da reflexo sobre os multiletramentos na prtica pedaggica, para
possibilitar as um trabalho mais efetivo, engajado, primando pela equidade social e racial.
Concordamos com Monte Mr (2007, p. 31) que os estudos a respeito das novas teorias
refletem as percepes a respeito das mudanas na maneira de como o conhecimento est
sendo construdo. Desta maneira reiteramos a necessidade da reflexo a respeito tanto de
novas teorias, quanto de novas prtica para que os professor sejam capazes de dar conta em
sala de temas, que normalmente so deixados de lado por falta de conhecimento para
refletir com os alunos.
Pgina
213
6. REFERNCIAS
BEVILAQUA, Raquel. Novos Estudos do Letramento e multiletramentos: divergncias e
confluncias. RevLet- Revista Virtual de Letras, v. 05, n. 01, jan. /jul. 2013.
BRASIL. Parecer n CNE/CP3/2004. Diretrizes curriculares nacionais para a Educao das
relaes tnico-raciais e para o ensino de histria e cultura afro-brasileira e africana.
Braslia: Ministrio da Educao; Conselho Nacional de Educao. 17 p. 2004
FERREIRA, Aparecida de Jesus; CAMARGO, Mbia. Racismo Cordial no Livro didtico de
Lngua Inglesa aprovado pelo PNLD. Revista ABPN, v. 6, n. 12. p. 177-202, 2014
CASHMORE, E. Dicionrio de Relaes tnicas e Raciais. So Paulo: Selo Negro, 2000.
COPE, Bill. Language; KALANTZIS, Mary. Education and Multiliteracies. May and N. H.
Hornberger (eds), Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, v. 1: Language
Policy and Political Issues in Education, p. 195/211.2008.
Pgina
214
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
KALANTZIS, M.; COPE, B; HARVEY A. (2003). Assessing multiliteracy and new basics.
Assessment in Education, 10 (1), 15-26.
FERREIRA, Aparecida de Jesus. Formao de professores raa/etnia: reflexes e sugestes
de materiais de ensino em portugus e ingls. Cascavel, PR: Coluna do Saber, 2009.
_________. Formao de Professores Raa /etnia: reflexes e sugestes de materiais de
ensino em portugus e ingls. Cascavel, PR: Coluna do Saber, 2006.
FERREIRA, Susana A. FERREIRA, Aparecida de J. Vozes de Alunos e Alunas acerca de
Identidades sociais de gnero na escola. Impresses sobre materiais didticos de lngua
inglesa. Revista Lnguas e Letras, Cascavel, n. 26, v. 14, 2013.
FERREIRA, Susana Aparecida. Percepes das identidades sociais de raa /etnia e gnero na
escola: vozes de professoras e alunos /as. Dissertao. UNIOESTE, 2011.
FREIRE, PAULO. Pedagogia da Autonomia: saberes necessrios prtica educativa. So
Paulo: Paz e Terra, 1996. Apes. Disponvel em: <http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/>.
Acesso em: 10 dez. 2014.
GUIMARES, Antonio Srgio Alfredo. Preconceito de cor e racismo no Brasil. Revista de
Antropologia. So Paulo, n. 1, v. 47, p. 9-43, 2004.
GOMES, Nilma Lino. Relaes tnico-raciais, educao e descolonizao dos currculos.
Currculo sem Fronteiras, v. 12, n. 1, 2012, p. 98-109.
GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre Relaes Raciais
no Brasil: uma breve discusso. In: BRASLIA, Ministrio da Educao, Secretaria de
Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade (Org). Educao anti-racista :
caminhos abertos pela Lei Federal n 10.639/03. Secretaria de Educao Continuada,
Alfabetizao e Diversidade. Braslia, 2005.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Traduo: Tomas Tadeu da Silva e
Guacira Lopes Louro. 7. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
_________. Cultural identity and diaspora. In: RUTHERFOR, J. (Org.). Identidy. Londres:
Institute for Contemporary Arts, 1987.
HENRIQUES, Ricardo. Raa e gnero no sistema de ensino: os limites das polticas
universalistas na educao. UNESCO, 2002.
Hooks, B. Teaching to transgress: education as the practice of freedom. London: Routledge,
1994.
JUNG, Neiva Maria. Identidades sociais na escola: gnero, etnicidade, lngua e as prticas de
letramento em uma comunidade rural multilngue. Tese de doutorado. UFRGS, 2003.
KLEIMAN, Angela B. Preciso ensinar o letramento? No basta ensinar a ler e a escrever?
Ministrio da Educao. Cefiel/IEL/Unicamp, 2005-2010. Impresso em Setembro de 2005
LIBNEO, Jos C. Reflexividade e formao de professores: outra oscilao de pensamento
pedaggico brasileiro? In :PIMENTA,Selma G. GHEDIN, Evandro (orgs). Professor
Reflexivo no Brasil. So Paulo: Cortez Editora, 2006.
MAGALHES, Izabel. Letramento, intertextualidade e prtica social crtica. In Discurso e
prtica de letramento: pesquisa entogrfica e formao de professores. Izabel
Magalhes (org). Campinas, SP: Mercado de Letras, 2012
MONTE MR, Walkyria. Linguagem digital e interpretao: perspectivas epistemolgicas.
Trab. Ling. Aplic., Campinas, 46 (1): 31-44, Jan./Jun.2007.
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noes de raa, racismo,
identidade e etnia. Palestra proferida no 3 Seminrio Nacional Relaes Raciais e
Educao-PENESB-RJ, em 5 nov. 2003.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
215
________. Polticas de Ao Afirmativa em benefcio da populao Negra no Brasil. Um
ponto de vista em defesa das cotas. Sociedade e Cultura, n.2, v.4, p.31-43, 2001.
ORLANDO, Andria F. FERREIRA, Aparecida de Jesus. A sensibilizao sobre a diversidade
tnico /racial na formao inicial de professores de lnguas. Acta Scientiarium. Language
and Culture. Maring, n.2, p.207-216, 2014.
PENNYCOOK, Alastair. Critical and alternative directions in applied linguistics. Australian
Review of applied lingustics: Monash University Press, v.33, n.2, 2010.
SILVA, Petronilha. Aprender, ensinar e relaes tnico-raciais no Brasil. Educao, Porto
Alegre/RS, n. 3 p. 489-506, 2007
STREET, Brian. Eventos de letramento e prticas de letramento. Teoria e prtica nos novos
estudos do letramento. In: Discurso e prtica de letramento: pesquisa etnogrfica e
formao de professores. Izabel Magalhes (org). Campinas, SP: Mercado de Letras,
2012.
_______. Whats new in new literacy studies? Critical approaches to literacy in theory
and practice. Current issue in comparative education, teachers college. Columbia
University. May, 12, p. 77/91, 2003.
_______. Literacy in theory and practice. New York: Cambridge University Press, 1984.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
RESSIGNIFICAO DA IDENTIDADE FEMININA NA LITERATURA DE CORDEL
Emanoela Luisiana Pereira 1
Solange Aparecida Medeiros2
Valdeci Batista de Melo Oliveira3
1. INTRODUO
Quando se fala em literatura brasileira, automaticamente pensamos nos clebres e
consagrados nomes da nossa literatura, pois comum elitizarmos a literatura e
considerarmos culto somente aquilo que aceito pelos renomados crticos, que por eles
canonizado. Dessa forma, a literatura de cordel torna-se uma literatura marginalizada, pois
um trabalho genuinamente popular.
O presente estudo no se prope a discutir o que venha ser literatura ou no, pois
seria uma discusso ampla que no caberia em um nico artigo. Consideremos, neste
trabalho, como literatura simplesmente toda forma de expresso escrita ou oral, de autores
consagrados ou no.
A literatura de cordel tem essa denominao por se tratar de um tipo de literatura
popular escrita em versos e que para ser comercializada, seus folhetos eram expostos em
cordis. Na Frana era denominada littrature de colportage, na Inglaterra, chapbook, na
Espanha, pliego suelto e em Portugal, folhas volantes ou literatura de cordel. Sua temtica,
independente do lugar, consiste basicamente em dois tipos: histrias antigas conservadas na
memria e oralidade que depois foram reproduzidas e adaptadas na escrita, bem como
temas circunstanciais que tiveram repercusso nacional como enchentes e questes
Pgina
216
polticas.
Aluna do curso de Ps-graduao Strictu Sensu da Unioeste Mestrado Profissional - PROFLETRAS;
professora da rede estadual de ensino. E-mail: emanuela.pereira@hotmail.
Aluna do curso de Ps-graduao Strictu Sensu da Unioeste Mestrado Profissional PROFLETRAS;
professora da rede estadual de ensino. E-mail: solangemedeiros_21@hotmail.com.
Professora doutora do curso de Ps-graduao Strictu Sensu da Unioeste- Mestrado Profissional
PROFLETRAS. E-mail: valzinha.mello@hotmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Essa literatura, que teve origem provvel no sculo XVII, iniciou-se no Brasil com
Silviano Pirau de Lima e Leandro Gomes de Barros, sendo que o segundo foi o nome mais
importante para o cordel no pas, pois foi o responsvel pela impresso e expanso do
cordel brasileiro. Conforme Meyer (1980), o cordel adquiriu caractersticas prprias no
Nordeste do Brasil e por intermdio de revendedores e editores, os folhetos foram
acompanhando as migraes dos seus autores e expandindo-se em vrias regies brasileiras.
Atualmente essa atividade est ameaada pela propagao dos meios de
comunicao e por questes econmicas que dificultam a publicao e venda dos folhetos.
Autores como Ariano Suassuna contribuem com a divulgao e valorizao do cordel por
meio da televiso como ocorreu com Auto da Compadecida que composto de vrias
narrativas de cordel e contm personagens como Joo Grilo e Chic, que protagonizam
vrias narrativas populares como, por exemplo, As proezas de Joo Grilo, de Joo Ferreira
de Lima, texto anterior ao Auto da Compadecida.
2. O ESPAO DA MULHER NA LITERATURA DE CORDEL
Por se tratar de uma literatura popular, natural encontrarmos em textos de cordel
uma enorme carga de preconceitos e esteretipos, pois estes preconceitos e esteretipos
so formados em nossa cultura e, quando no questionados, so propagados como
verdades. Dessa forma, o personagem feminino que aparece nessas narrativas em versos
comumente agregado a preconceitos caractersticos de uma sociedade tipicamente
patriarcal e moralista, sociedade esta que, segundo Simone de Beauvoir desde o incio
permitiu que o homem fosse soberano, uma vez que o mundo sempre pertenceu aos
machos (p.81)
Sendo assim, este estudo analisa a presena da mulher, constantemente citada nas
narrativas que, ora tematizada como ser imaculado, e em outros momentos, difamada,
Pgina
217
porm seja na imagem positiva ou negativa, o poder do homem que sempre sobressai.
As narrativas que exploram o tema casamento, por exemplo, apresentam
comumente, a mulher como uma espcie de carga, fardo a ser carregado pelo marido,
como no poema intitulado As consequncias do casamento de Leandro Gomes de Barros
(p.77):
No h loucura maior
Do que o homem se casar!
O peso de uma mulher
duro de se aguentar,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
S um guindaste suspende,
S burro pode puxar.
Por forte que seja o homem
Casando perde a faanha,
Mulher como bilhar,
Tudo perde e ele ganha,
Porque a mo da mulher,
Em vez de alisar arranha.
H no poema toda uma carga de valores machistas, vigentes na sociedade patriarcal.
Aps o casamento, caberia ao homem responsabilizar-se pela mulher, assim ela se torna um
peso duro de aguentar e, neste sentido, o homem que pensar em casamento s poder
ser um burro para querer carregar to pesado fardo. Esta concepo negativa em relao ao
casamento est presente em muitos outros poemas, entre eles Costumes e usos antigos,
de Antnio Batista Guedes (p.17):
[...]De primeiro uma senhora
Fazia um bom vestido
Com nove covados de chita
E dizia ao marido:
No deu seu dinheiro toa
Porque a fazenda boa
De um pano largo e fornido
Hoje qualquer mulherzinha
Compra quinze e dezesseis
Covados de chita bem larga
E inda acha escassez
No pano e diz ao marido:
No saiu o meu vestido
Como o que fulana fez
Pgina
218
Antigamente os casacos
Nas saias eram pregados
Tudo muito simplesmente
Sem rodaps nem babados
Eram uso inocente
Que faziam igualmente
Os pobres e os ilustrados
Hoje as senhoras fazem
O casaco decotado
A saia com bico e renda
E s vezes mais de um babado
Camiseta e saiote
Gola, ponta e decote
E o mais que achar de agrado.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
No poema, alm da concepo negativa do casamento, temos evidenciado o
esteretipo da mulher ftil, que gasta todo o dinheiro do marido com inutilidades, uma
viso completamente inserida no modelo patriarcal, sob o qual mulher se restringe o
espao da casa, espao no qual, segundo os cordelistas, ela se ocupa de futilidades para
passar o tempo. A contestao do eu-lrico neste poema uma espcie de indignao por
perceber que h uma tendncia emancipao da mulher que deixaria de ser submissa ao
marido, fato este, inadmissvel para uma sociedade, cujo padro duplo de moralidade,
caracterstico do sistema patriarcal, d tambm ao homem todas as oportunidades de
iniciativa, de ao social (...) limitando as oportunidades da mulher ao servio e s artes
domsticas. (FREYRE, 2004, p.208).
H ainda nos poemas de cordel uma outra imagem da mulher que corresponderia a
uma mulher que sedutora e retratada como objeto sexual, sendo fonte de explorao de
acordo com os interesses masculinos. Embora ela tambm minta e trapaceie, assim como os
homens, ainda est s margens dele e inserida no padro patriarcal, como o caso do cordel
Histria do boi leito ou o vaqueiro que no mentia de Francisco Firmino de Paula em que
o pai usa a filha que bela e esperta para trapacear o vaqueiro. Vejamos:
[...] v ricamente vestida
com lindos trajes vermelhos
no prximo rio da fazenda
preste ateno meus conselhos
v passear e levante
a roupa at os joelhos.
Pgina
219
[...] amanh voc levante
t as coxas o vestido
sele chamar voc diga
vou se fizer meu pedido
de matar o Boi Leito
pra comermos um cozido.
[...] o pai lhe disse: amanh
termine a sua aventura
v passear e levante
a roupa at a cintura
e mande-o matar o Boi
que ele no se segura.
Os verbos no imperativo v, levante e termine, indicam o autoritarismo do homem
sobre a mulher. ele quem dita as ordens, e a mulher deve obedecer s ordens sem
contestar. Percebe-se tambm uma espcie de gradao em relao ao ato de seduo da
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
mulher sobre o vaqueiro, desencadeada pelas rimas de cada estrofe. Na primeira estrofe fica
evidenciada pelos termos vermelhos, conselhos, joelhos, na segunda estrofe por vestido,
pedido, cozido e na terceira estrofe por aventura, cintura e no se segura.
O ritmo marcado por uma cadncia de seis versos, dando uma ideia de repetio,
insistncia que far com que a ao se concretize. Assim, temos um modelo de mulher
ligado aos padres de beleza associado seduo, a mulher enquanto carne, conforme cita
Freyre (2004, p.212):
...ora idealizada em extremo, ora exaltada pelas sugestes de seu corpo especializado
para o amor fsico. De seus pezinhos mimosos. De suas mos delicadas. De sua cintura
estreita. De seus seios salientes e redondos. De tudo que exprimisse e acentuasse sua
diferena fsica do homem; sua especializao em boneca de carne para ser amolegada
pelo homem. Pela imaginao do poeta e pelas mos do macho.
No Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, esta mulher est expressa na
personagem que mulher do padeiro, uma mulher esperta, vaidosa, fogosa e que trai o
marido constantemente, porm, ela no tem nome, simplesmente denominada mulher
do padeiro, uma propriedade do marido.
Um outro modelo feminino recorrente na literatura de cordel a mulher enquanto
ser imaculado, muitas vezes concretizada na imagem de Nossa Senhora, como A chegada
de Lampio no cu, de Rodolfo Coelho Cavalcante.
[...]Formou-se logo o jri
Ferrabrs o acusador
L no Santo Tribunal
Fez papel de promotor
Jesus fazendo o jurado
Foi a Virgem o advogado
Pelo seu divino amor
Pgina
220
Levantou-se o promotor
E acusou demonstrando
Os crimes de Lampio
O ru somente escutando
Ouvindo nada dizia
A Santa Virgem Maria
Comeou advogando
Lampio de fato foi
Brbaro, cruel, assassino
Mas os crimes praticados
Por seu corao ferino
Escrito no seu caderno
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Doze anos de inferno
Chegou hoje o seu destino
[...]Disse Jesus: Minha me
Vou lhe dar a permisso
Pode expulsar Ferrabrs
Porm tem que Lampio
Arrepender-se notrio
Ir at o purgatrio
Alcanar a salvao.
A mulher, nesses casos, sempre libertadora, compadecida, a que perdoa, no
deixando de ser um modelo patriarcalista no qual a mulher na perspectiva crist sempre
boa, sabe perdoar, ceder. A narrativa, embora muito parecida com O Auto da
Compadecida, de Ariano Suassuna, foi publicada anteriormente, mas em ambas, a funo
da mulher a mesma, libertar, salvar e perdoar (e no ser liberta, salva, embora Maria tenha
autoridade sobre Jesus, Ele est na condio de Filho e no de esposo). A mulher idolatrada
no cordel, aquela que me, ao contrrio da sogra, esta motivo de escracho em vrios
cordis, sendo em vrias ocasies, igualada a animais, como mulas, cobras, bestas, drages,
etc. Segundo Leandro Gomes de Barros:
A sogra do noivo no
No preciso selar
A sogra, a cobra, o Iacrau
Esto isentos de pagar
Graas ao veneno desses
Sempre podem escapar.
trgica a posio da mulher que no corresponde aos padres de beleza, pois esta
um amargo motivo de escracho, como no texto de Jos Bernardo da Silva:
[...]
Geraldino disse ao conde:
- vou mandar ver sua jia
Quando a feia apareceu
Disse o conde: eitapinia!
Vejo- me agora forado
Aguentar esta bia.
Pgina
221
Neste poema, a mulher por ser feia, est margem da sociedade, merc dos
homens e deve se casar com o primeiro que lhe quiser para no correr o risco de ficar
solteira, ela indigna do homem, tem menor valor e, ficando solteira, reafirma sua
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
indignidade, justifica o desprezo da sociedade, pois no foi digna de nenhum homem, foi
descartada.
Mas essa dura realidade da mulher ganha outra dimenso quando adentramos nos
anos 30 e, pela primeira vez, temos o registro de um cordel escrito por uma mulher. Maria
Batista Pimentel publicou seu primeiro cordel em 1938 e sob o pseudnimo masculino de
Altino Alagoano, tornou-se a primeira cordelista feminina no Brasil. A cordelista Salete
Maria da Silva cordelista contempornea- reafirma esse fato histrico no folheto Lugar de
Mulher:
Pseudnimo usou
Para a obra ser aceita
O marido orientou:
Assim tudo se ajeita
Tava pronto pra vender
Quem poderia dizer
Ser o autor a sujeita?
Fica evidenciado no poema que para uma sociedade tipicamente machista, a poesia
representava o livre expressar do poeta e este era benefcio exclusivamente masculino, por
este motivo justifica-se o fato de Maria Batista Pimentel utilizar pseudnimo para tornar-se
aceita. De acordo com Silvio Romero a estratgia utilizada por Maria no foi nica, muitas
mulheres autoras utilizaram dessa estratgia para que suas obras entrassem em circulao.
Assim, luz dos conceitos modernos de libertao e conquista do espao feminino,
cansada da submisso e da viso estereotipada a seu respeito, a mulher ansiou pela
liberdade; o que a levou a ocupar uma nova posio diante da vida, e impondo, de certa
forma, outro olhar masculino. Vivencia Macedo Maia conquista o espao feminino no cordel
em 1970 com a publicao de seu primeiro cordel assinado com seu nome original, sem a
necessidade de pseudnimo.
Percebemos ento uma mulher que luta por seu espao na Literatura e no se
intimida ao defender seu papel na sociedade buscando manter-se em p de igualdade ao
Pgina
222
homem; o que percebemos no cordel de Salete Maria da Silva (2008):
O folheto de cordel
Que o povo tanto aprecia
Do singelo menestrel
mais nobre academia
Do macho foi monoplio
Do europeu foi esplio
Do nordestino alforria
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
[...]
S agora a gente v
Mulher costurando rima
necessrio dizer
Que de limo se faz lima
Hoje o que limonada
Foi guas podre, parada
Salobra com lama em cima
[...]
De sua cria cuidando
Cosendo cala e camisa
Para o homem cozinhando
Como vir ser poetisa?
Isto era coisa para macho
At hoje ainda acho
Gente que assim profetiza.
At porque o folheto
Era vendido na feira
E era um grande defeito
Mulher sem eira nem beira
Era preciso viagens
Contatos e hospedagens
Pra fazer venda ligeira
Pgina
223
E durante muitos anos
Assim a coisa se deu
Em muitos cordis tiranos
A mulher emudeceu
O homem falava dela
Mas no falava com ela
Nem ela lhe respondeu
[...]
Versos de todos os matizes
De toda forma e cor
Algumas so infelizes
Reproduzindo o horror
Do machismo autoritrio
Consumismo perdulrio
Que tanto as dominou
[...]
Aqui encerro meu verso
Cumprindo o meu papel
Se ele foi controverso
Deselegante ou pinel
S quis dizer para o povo
O que pra algum novo:
Mulher tambm faz cordel!
A autora evidencia no histrico do cordel a constituio de uma sociedade
tipicamente patriarcalista na qual ao homem tudo era permitido e mulher reservava-se o
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
espao da casa, da submisso, obedincia e resignao, por outro lado, atualmente a mulher
modifica este cenrio de uma cultura engessada e mostra que tambm faz cordel e,
portanto, tambm tem as mesmas condies de fala que o homem, a mulher agora no
assujeitada e sim, sujeito de seu discurso e protagonista de sua histria.
O protagonismo feminino na Literatura de cordel alcanou dimenses inimaginveis a
ponto de levar um homem a promover um discurso totalmente feminino, desconstruindo
todo o iderio machista vigente na sociedade ao longo dos anos. o que podemos perceber
no cordel do paraibano Janduhi Dantas Nbrega (2007, p 1-3)
Hoje em dia, meus amigos
os direitos so iguais
tudo o que faz o marmanjo
hoje a mulher tambm faz
se o homem se abestalhar
a mulher bota pra trs.
[...]
Hoje o trabalho de casa
meio a meio dividido
para ajudar a mulher
homem no faz alarido
quando a mulher lava a loua
quem enxuga o marido!
[...]
Tambm tem cabra safado
que no muda o pensamento
que no respeita a mulher
que no honra o casamento
que a vida de pleibi
no esquece um s momento.
Pgina
224
Era assim que Damio
(o ex-marido de Cca)
queria viver: na cana
sem tirar copo da boca
enquanto sua mulher
em casa feito uma louca...
... cuidando de trs meninos
lavando roupa e varrendo
feito uma negra-de-ferro
de fome o corpo tremendo
e o marido cachaceiro
pelos botequins bebendo.
Mas diz o velho ditado
que todo mal tem seu fim
e o fim do mal de Cca
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
um dia chegou enfim
foi quando Cca de estalo
pegou a pensar assim:
"Nessa vida que eu levo
eu no t vendo futuro
eu me sinto navegando
em mar revolto e escuro
vou remar no meu barquinho
atrs de porto seguro."
"Na prxima raiva que eu tenha
desse meu marido ruim
qualquer mal que me fizer
tomarei como estopim
e a triste casamento
eu vou decidir dar fim."
O propsito do autor promover um discurso de libertao da mulher, embora esta,
inicialmente no poema segue os mesmos padres da mulher da casa bem aos moldes da
sociedade patriarcal: a mulher que cuida da casa, do marido e dos filhos a cuidadora a
mulher do lar, a Amlia. O que diferencia e transgride no discurso de Dantas so as
expectativas de mudana, a insubmisso e a certeza de uma reao toda opresso sofrida.
O poeta ento apresenta uma stira do chefe da famlia, do mantenedor, o homem
da casa, que perde seu status de soberania a passa a se tornar mera mercadoria:
Estava Cca pensando
na vida quando chegou
Damio morto de bbado
(nem boa-noite falou
passava da meia-noite)
e na cama se atirou!
Pgina
225
Dona Cca foi dormir
muito trise e revoltada
contudo tinha na mente
a sua ao planejada
pra dar novo rumo vida
j estava preparada.
De manh Cca acordou
com a braguilha pra trs
deu cinco murros na mesa
e gritou: " Satans
eu vou te vender na feira
vou j fazer um cartaz!
Pegou uma cartolina
que ela havia escondido
escreveu nervosamente
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
com a raiva do bandido:
"Por um e noventa e nove
estou vendendo o marido".
[...]
Ficou na feira de Patos
no mais horrendo lugar
(na conhecida U.T.I.)
e comeou a gritar:
"T vendendo o meu marido
quem de vocs quer comprar?"
Umas bbadas que estavam
estiradas pelo cho
despertaram com os gritos
e uma do cabelo
perguntou a Dona Cca:
"Qual o preo do gato?"
" um e noventa e nove
no est vendo o cartaz?"
Dona Cca respondeu
e a bbada disse: "O rapaz
tem uma cara simptica
acho at que vale mais".
Damio estava "quieto"
e de ressaca passado
com cordas nos ps e braos
numa cadeira amarrado
tambm tinha um esparadrapo
em sua boca colado.
A UTI dos Patos sugere um lugar reservado para os doentes fsica e moralmente,
portanto o lugar perfeito para expor o marido satirizado como feio e derrotado. O fato de
estar amarrado e amordaado tambm revela que agora a vez da mulher ela quem
assume a liderana e resolve o destino do marido, numa total condio de soberania.
Pgina
226
Comeou a chegar gente
se formou a multido
em volta de Dona Cca
e o marido Damio
quando deu f, logo, logo
encostou o camburo.
Nisso um cabo da polcia
do camburo foi descendo
e perguntando abusado:
"Que que t acontecendo?"
Algum disse: "Esta mulher
o marido est vendendo".
Do meio do povo disse
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
um velho em tom de chacota:
"Esse caneiro j tem
uma cara de meiota
no tem mulher que d nele
de dois reais uma nota".
E, de fato, cabra feio
desalinhado e barbudo
fedendo a cana e a cigarro
com um jeito carrancudo
banguelo, um pouco careca
pra completar barrigudo.
Nisso chegou uma velha
que vinha com todo o gs
e disse para si mesma
depois de ler o cartaz
"Hoje eu tiro o prejuzo
com esse lindo rapaz!".
Disse a velha: "Francamente!
Eu estou achando pouco!
Por 1 e 99?!
Tome dois, nem quero o troco!
Deixe-me levar pra casa
esse meu Chico Cuoco!".
Saiu a velha enxerida
de braos com Damio
a polcia prontamente
dispersou a multido
e Cca tirou por fim
um peso do corao.
Retormou Cca feliz
pra casa entoando hinos
a partir daquele dia
teria novos destinos...
Com os dois reias da venda
comprou de po pros meninos!
A mulher ao rifar o marido coloca-o na condio de objeto, situao na qual a
mulher comumente enquadrada e, ao vend-lo, passa a assumir o papel de chefe da
famlia, a mantenedora que d sustento aos filhos. Para que isso ocorra, ela precisou
primeiro expulsar o marido. Em outras palavras, o cordelista permite a transgresso da
Pgina
227
mulher, porm no deixa de considerar que ela s protagonizar o papel de chefe da famlia
se assumir uma posio semelhante do homem, de uma certa forma masculinizando-a.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
3. CONSIDERAES FINAIS
Para finalizar nossa reflexo sobre a mulher, seja na literatura consagrada, ou na
popular, a imagem que se cria da mulher no foge dos esteretipos impostos por uma
sociedade imensamente marcada por uma cultura patriarcalista, na qual ao homem tudo
permitido e mulher constantemente so impostas regras e padres a serem seguidos,
sejam eles padres relacionados beleza ou comportamento.
Segundo Simone de Beauvoir(1980, p.450) a estrutura social no foi profundamente
modificada pela evoluo da condio feminina; este mundo, que sempre pertenceu aos
homens, conserva ainda a forma que eles lhe imprimiram. Acreditamos que a literatura de
cordel pode abrir espaos nos quais seja possvel a reconstruo e ressignificao da imagem
da mulher. Que seja palco de testemunho presente do que sentem e como vem a prpria
imagem e de como assimilam a cultura masculina ou a rejeitam, traando novos caminhos
em que sua voz possa ser ouvida, rompendo com a tradio cultural que destinou mulher
um lugar marcado de silncio e esteretipos.
4. REFERNCIAS
Pgina
228
BATISTA, Sebastio Nunes. Antologia da literatura de cordel. So Paulo: fundao Jos
Augusto, 1977.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
DAUS, Ronald. O ciclo pico dos cangaceiros na poesia popular do Nordeste. Trad. Rachel
Teixeira Valena. Rio de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 1982.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadncia do patriarcado rural no Brasil. So
Paulo: Global, 2004.
______ Casa grande & senzala: formao da famlia brasileira sob regime de economia
patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2003.
MEYER, Marlyse. Autores de Cordel. So Paulo: Abril Educao, 1980.
SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. Rio de Janeiro: Agir, 1978.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
RELIGIES DE MATRIZES AFRICANAS: cultura e interdisciplinaridade na escola
Ivanete Vanzella Filippi Chiella1
Kellys Regina Rodio Saucedo2
Vilmar Malacarne3
1. INTRODUO
Os enfrentamentos para aplicabilidade da Lei n. 10.639/2003, que trata do ensino da
histria do negro4 na frica e no Brasil, e que no ano passado completou dez anos de
existncia, no se limitam a insuficincia de materiais didticos sobre o tema ou nos
impasses formativos dos professores quanto diversidade cultural brasileira. As dificuldades
residem, sobretudo, no preconceito ou na prpria negao do preconceito. Em suas
pesquisas Munanga (2013) verificou que [...] alguns dirigentes de escola e professores
recusaram-se a cumprir a lei, justamente porque no existem preconceitos raciais em suas
instituies (p. 8).
O preconceito aparece preponderantemente quando nas propostas curriculares
despontam expresses como Candombl, Umbanda ou outras que tem relao com s
religiosidades de matrizes africanas e h maior resistncia em ser abordado pelo professor
de Ensino Religioso. Muitos professores tendem a posicionarem-se contrrios ao estudo de
outras culturas e religies na escola, nesse ponto reside o equvoco e a desinformao sobre
o tema.
Pgina
229
Especialista em Didtica e Metodologia do ensino de Geografia e Histria. Aluna do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE/Paran). E-mail: ivanetevanzella@yahoo.com.br.
2
Mestre em Educao. Aluna do Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Educao para Cincia e
Matemtica. Bolsista CAPES/DS. E-mail: gildone@hotmail.it.
3
Doutor em Educao. Professor do Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu em Educao/UNIOESTE. Email: vilmar.malacarne@unioeste.br.
4
A Lei n. 10639/2003 que altera o artigo 26 da Lei n. 9394/1996 determina para o Ensino Fundamental e Mdio
a incluso do [...] estudo da Histria da frica e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formao da sociedade nacional, resgatando a contribuio do povo negro nas reas
social, econmica e poltica pertinentes Histria do Brasil (BRASIL, 2003, 1).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Quando as religies brasileiras de matrizes africanas entram no espao escolar como
contedo disciplinar esse ponto no deveria ser entendido como uma prtica educativa, que
envolva o ensino das liturgias, dos rituais e dos dogmas religiosos. Na realidade, a insero
da cultura afro na escola uma resposta para os milhes de africanos, homens e mulheres,
que foram transladados do seu pas de origem como escravos para o exerccio de trabalhos
forados na Amrica. Essa condio escrava o que os distingue de outros processos
imigratrios, e em se tratando de resistncia no possvel abord-la sem falar de lugar em
que essa luta se registrou, ou seja, na resistncia religiosa.
De fato, as formas de resistncia dos povos africanos tiveram seu incio nos espaos
de culto, nesse meio [...]a resistncia cultural vai se estruturar e se organizar
clandestinamente em todos os sentidos: a resistncia artstica na msica, dana, artes
plsticas, organizao social nos valores de solidariedade africana e do sistema de
parentesco extenso (MUNANGA, 2013, p. 11). Em publicaes como as de Munanga e
Gomes (2004); Gomes (2008); Santos (2010a); Santos (2010b); Freitas (2011); Gomes e
Ferreira (2013) existem uma srie de argumentos sobre a importncia de que os estudos
sobre a histria da cultura africana sejam trabalhados na escola como recomenda a lei,
anteriormente citada.
Nesse contexto de ensino se insere a pesquisa em questo, que tem por objetivo
apresentar alguns elementos constitutivos da cultura e religio afro presente na literatura
especializada sobre o tema. Nesta socializamos tambm os procedimentos e resultados
obtidos, por meio de prticas educativas, realizadas com uma turma de 7 ano do Ensino
Fundamental. Alunos estes matriculados em uma escola estadual, na cidade de So Miguel
do Iguau, no extremo Oeste paranaense.
2. BREVE CONTEXTO DA RELIGIO E DA CULTURA AFRO
O ncleo orientador das religies de matriz africana o culto a ancestralidade. O
respeito e a crena na existncia de foras espirituais evocadas pela tradio oral no culto
Pgina
230
aos antepassados regram a sacralidade do presente e apontam aes para o futuro.
Conforme Oliveira (2003) os rituais e os elementos que compem a viso de mundo na
cultura afro tem sua origem no culto ancestral, ou seja,
Essa cosmoviso de mundo se refere na concepo de universo de tempo, na noo
africana de pessoa, na fundamental importncia da palavra e na oralidade como modo de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
transmisso de conhecimento na categoria primordial da fora vital na concepo de
poder e de produo na estruturao da famlia, nos ritos de iniciao e socializao dos
africanos e, claro tudo isso assentado na principal categoria da cosmoviso africana que
a ancestralidade (p. 71).
Outra caracterstica predominante nos cultos africanos a incorporao de outras
prticas religiosas, denominadas sincretismo religioso, muito embora, existem muitas
discusses sobre esse conceito, ele frequentemente usado por estudiosos das religies.
Adinolfi
(2013) atribui
a essa
multiplicidade
de
modalidades
rituais
institucionalizao e consolidao da cultura e religio afro na sociedade brasileira (entre
1850 e 1970). Essas relaes de aproximao, unificao e diversificao tem haver, em
geral, com os rituais do catolicismo, sendo dinmicas religiosas que [...] comportam
alianas, mas tambm a rivalidade entre elas (ibidem, p. 50). Nas dcadas de 1980 e 1990
estudos indicavam que tais dinmicas estavam mais distantes do campo competitivo e mais
voltadas pluralizao do campo afro-religioso brasileiro (REIS, 1997; PARS, 2006;
ADINOLFI, 2013).
Ainda, sobre o culto religioso africano destaca-se o predomnio da figura feminina,
uma vez que [...] a mulher tem um papel de destaque na vida social, cultural, poltica e
muitas vezes econmica com voz e poder em sua comunidade (SANTOS, 2010b, p. 7). A
explicao para a organizao da comunidade em bases matriarcais tem sua origem no
continente africano e na viso de que as mulheres estabelecem relaes com os mistrios da
criao, por elas serem geradoras da vida terrena (OLIVEIRA, 2003). No entanto, no Brasil a
pluralidade de modos e rituais tem aportes culturais muito especficos, que justificam a
investigao desse campo. Na nao brasileira o panteo religioso no se reduz ao tronco
jeje-nag. De acordo com Gomes e Ferreira (2013) existem no pas:
[...] os terreiros de Candombls das naes Keto, Jeje, Angola, Ijex, Efon e Xamb, o
Batuque do Rio Grande do Sul, o Omoloc, o Terec e algumas vertentes da Umbanda,
em nveis diferenciados, constituem a base significativa das religies de matrizes
africanas no Brasil. Em cada um desses segmentos religiosos, h cdigos socioculturais
que reinstauram linguagens e smbolos de religiosidade africana [...]. (p. 15).
Pgina
231
O reconhecimento da variedade de cultos e origens s pode ser compreendido a
partir do estudo da histria do negro no Brasil. Conforme Lei n. 10.639/2003 a escola tem o
compromisso de explorar esses tpicos em todas as disciplinas que compem a matriz
curricular. Munanga (2013, p. 11) refora o termo legislativo com o seguinte argumento: A
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
religio cultura e a lei recomenda que a histria dessa cultura seja ensinada na escola
pblica sem confuso com as liturgias e os dogmas.
No se trata, destacada a fala de Munanga, de ensinar ou doutrinar as crianas para
uma religio diversa da sua, mas inser-las em um contexto histrico que expresse o
encontro da frica com as Amricas, para compreenso dos processos de escravizao,
dominao e resistncia dos povos africanos e de seus descendentes brasileiros. E,
especificamente, em relao aos africanos refletir sobre a importncia da religio, que
representa o principal ncleo de resistncia e frente estratgica, pois por meio dos
terreiros, que a resistncia vai se estruturar e se organizar5 (ainda que clandestinamente em
algumas pocas) para praticar o culto aos seus deuses e deusas no Brasil.
3. PRTICAS EDUCATIVAS ACERCA DA CULTURA E DA RELIGIO AFRO EM SALA DE
AULA
A insero da histria e da cultura afro-brasileira na educao brasileira pode ser
encaminhada por diferentes aes e mtodos de ensino, a ttulo de exemplo, destaca-se a
literatura, a arte, a msica, a dana, os jogos, a etnomatemtica, a culinria, entre outras
formas. Todas essas manifestaes da diversidade cultural afro, se compartilhadas com as
crianas, tem potencial para aguar sua curiosidade por conhecer mais sobre a histria da
populao africana no Brasil.
No campo literrio as obras como as de Joel Rufino dos Santos, A botija de ouro
(1938); Alade Lisboa de Oliveira, A bonequinha preta (1984) e Ana Maria Machado, Menina
bonita do lao de fita (1986) so bons livros para uma abordagem positiva da cultura e da
imagem do negro no pas, conforme Lima (2005)
Se a pessoa acumula na sua memria as referncias positivas do seu povo, natural que
venha tona o sentimento de pertencimento como reforo sua identidade racial. O
contrrio fcil de acontecer, quando se alimenta uma memria pouco construtiva para
sua humanidade (p. 120).
A seleo criteriosa das obras literrias importante para evitar que percepes
Pgina
232
negativas ou estereotipadas do negro ou da cultura afro entrem em sala de aula sem a
devida problematizao dos elementos formadores de vises preconceituosas sobre o tema.
Resistncia que ocorre em todos os sentidos: na msica, dana, artes plsticas, na organizao social em
torno de valores sociais de solidariedade, etc.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A questo da arte abordada por Silva (2005) e registra o legado da cultura africana nas
obras de arte moderna ou abstrata, praticada pelos povos africanos em acessrios e
utenslios do dia-a-dia. Da arte africana, ainda, possvel mencionar o teatro, as artes
visuais, a msica e a dana. De acordo com a autora acima mencionada, o teatro existia
muito antes da fama alcanada pelos gregos. Segundo Freitas (2011, p. 23) O Irin Ajo, por
exemplo, uma tradio Ioruba, um jogo teatral que tem a funo de proporcionar diverso
e divertimento ao pblico.
No caso da dana, esta faz parte do cotidiano de vida das comunidades afro, pois se
insere no trabalho, nas tarefas domsticas, no ato de caminhar, nas expresses faciais e nos
rituais de passagem que vo do nascimento para a adolescncia e da vida adulta, para o
casamento e a morte dos indivduos. Freitas (2011) fala da simplicidade que envolve a
confeco de instrumentos musicais que podem ser produzidos em sala de aula para que os
alunos conheam sua origem e funo. Para essa autora [...] com simples instrumentos, as
crianas tem a capacidade de tocar com pouca tcnica, canes educativas, cativando cada
vez mais a curiosidade por outros instrumentos e msicas (ibidem, p. 25).
Os estudos de Prandi (2000), Cascudo (2004), Ferretti (2007) e Ribeiro (2009) contribuem
para compreenso das relaes e do papel da cultura alimentar para cultura religiosa
africana. De acordo com Cascudo (2004) os elementos vegetais de origem africana que mais
rapidamente se adaptaram ao solo brasileiro foram: o inhame, a banana e a palma, da qual
se extra o azeite de dend e a pimenta, aframum malagueta. O uso da pimenta no cotidiano
alimentar africano influenciaria o uso das pimentas nativas, a princpio pouco valorizadas no
preparo dos alimentos locais. Em geral, a pimenta, est presente nas comidas oferecidas ao
orix6 Ex nos cerimoniais ritualsticos.
pertinente observar que havia muita resistncia por parte dos negros escravizados
para insero dos alimentos nativos em sua dieta alimentar, muitos preferiam os inhames e
as bananas s frutas da terra. Esse aspecto pode justificar porque so pouco encontradas
nos pejis altares do Candombl (RIBEIRO, 2009, p. 2). Poucos, entretanto, conseguiram
Pgina
233
fugir do consumo da farinha de mandioca, pois esta fazia parte dos alimentos de consumo
obrigatrio dos trabalhadores das senzalas.
Entidade espiritual superior. Os orixs representam diferentes divindades e so cultuados pelos seguidores de
diferentes cultos de matrizes africanas no Brasil.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
pertinente destacar que a ausncia de muitos alimentos de origem africana
tambm atingiu a alimentao votiva, na qual foram inseridas vrias adaptaes, com a
incluso, por exemplo: [...] do milho nas comidas de Oxossi, Iemanj, Omul ou Xapan que
tambm gosta de pipocas, o feijo para Oxum, o fumo no culto de Iroc, e farinha de
mandioca no amal de Ians (CASCUDO, 2004, p. 163). Entretanto, as caractersticas dos
rituais alimentares variam de acordo com as tradies de Candombl presentes no territrio
brasileiro. Segundo Ribeiro (2009, p. 4): Cada nao carrega e difunde as tradies que
remetem s regies de origem de cultos. Essas diferenas [tambm] far-se-o presentes em
diversos aspectos de nao para nao, inclusive no tipo e preparo de alimentos a serem
devotados aos orixs. Outro aspecto destacado pelo autor o fato de que muitos dos
alimentos oferecidos aos orixs nos cultos de Candombl, e aos santos sincrticos na
Umbanda, fazerem atualmente parte das mesas laicas do cotidiano brasileiro. Nesse caso, a
culinria afro, tambm, pode ser inserida por meio do cardpio escolar na rotina dos alunos.
Para Santos (2010b, p. 9) vivenciamos um momento nico na histria contempornea que
nos permite [...] clamar pela liberdade e diversidade e conhecimento como ferramenta
importante para educao das relaes tnico raciais em respeito populao
afrodescendente.
Por entender esse como um posicionamento plausvel que uma ideia foi
desenvolvida por professores e alunos do 7 ano do Ensino Fundamental, na cidade de So
Miguel do Iguau-PR, a partir da pesquisa e da exposio de ingredientes da culinria de
origem africana. Estes ingredientes alm de trazer informaes sobre sua origem e utilizao
pelos negros escravizados no Brasil foram, posteriormente, aproveitados para degustao de
um prato preparado na prpria escola.
4. PROCEDIMENTOS E RESULTADOS
Durante o ms de novembro ocorrem as comemoraes em memria ao dia da
Conscincia Negra. Atualmente, a cidade de So Miguel do Iguau-PR conta com sete escolas
Pgina
234
estaduais de Ensino Fundamental e Mdio. O municpio teve o incio de sua colonizao por
volta de 1930, sobretudo, com a chegada de imigrantes oriundos de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, a maioria deles italianos e alemes das primeiras frentes de colonizao
sulinas. Essa caracterstica formativa do municpio reflete no predomnio religioso do
catolicismo e do protestantismo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A existncia de uma comunidade quilombola nas delimitaes do municpio que
traz singularidades para vida espiritual dos moradores de So Miguel do Iguau. Questo
que tem repercusses no interior das escolas, local em que estudam os filhos dos moradores
do Quilombo. Entendendo que a escola e os professores compartilham responsabilidades
quanto ao desenvolvimento de prticas que incentivem a convivncia respeitosa entre
alunos de diferentes origens os professores de Ensino Religioso, Geografia e Histria se
reuniram em torno de um projeto nico: o desenvolvimento de prticas educativas, durante
a semana da Conscincia Negra, organizada por uma das escolas estaduais mencionadas,
que agregassem conhecimentos da histria, geografia, de prticas religiosas e da cultura
alimentar e votiva afrodescendente.
H alguns anos, na semana que antecede o dia 20 de novembro, so realizadas aes
diversificadas sobre os costumes e a cultura afro. No ano de 2013 a nfase das atividades
esteve sobre a vida e a religiosidade, enquanto forma de resistncia, dos negros
escravizados nas senzalas e nas lavouras de cana de acar.
Das turmas participantes destacou-se iniciativa prpria dos alunos de um 7 ano do
Ensino Fundamental, que por meio de pesquisas realizadas na internet e em livros da
biblioteca escolar localizaram aspectos da culinria, identificando um grupo de alimentos de
origem africana, que foram integrados a culinria brasileira, entre eles: quiabo [todos os
tipos], os hibiscos, o inhame [todas as variaes], o gengibre amarelo, a galinha dAngola7,
etc. Do resultado dessa atividade professores e alunos em ao colaborativa juntaram
ingredientes para elaborao de um prato que levasse em seus ingredientes alimentos de
origem africana e, ao mesmo tempo, relembrassem as adaptaes alimentares a foram
sujeitados os negros nas terras brasileiras. A opo foi pela produo de cocadas de
mandioca (receita em ANEXO), agregando um dos alimentos de consumo dirio dos escravos
africanos, no caso a farinha de mandioca, a um alimento de origem africana, o doce de
cocada8. A produo foi partilhada com os demais alunos do colgio que antes da
degustao participavam da exposio dos dados coletados pelos alunos do 7 ano e faziam
Pgina
235
perguntas sobre a histria, religio e a cultura afro. Essa atividade no apenas dinamizou o
processo de aprendizagem dos alunos, mas aumentou o interesse destes pelo assunto,
7
Denominada tambm como conqum ou et, essa ave essencial na maioria dos cerimoniais religiosos afro
por ser portadora de grande fora vital. No h registro do seu uso para fins culinrios nas senzalas.
8
Nos cerimoniais a cocada e a bala de coco so as principais oferendas s divindades que representam as
crianas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
levando-os a transmitir o conhecimento adquirido em suas pesquisas com os demais
colegas, assim como o preparo e degustao de comidas tpicas. A investigao da cultura
alimentar afro se constituiu como uma porta para o dilogo com a histria, a geogrfica e a
religiosidade desses povos, rompendo com uma significativa parcela de preconceitos
enraizados na sociedade so-miguelense.
5. CONSIDERAES FINAIS
Na escola pessoas de diferentes origens e culturas se encontram, nela circulam os
mais variados fentipos. Muitos por suas caractersticas ou origem tnica so vtimas do
preconceito ou sofrem algum tipo de descriminao. Sentimentos que podem comprometer
o desenvolvimento e as relaes sociais que a criana estabelece, vindo a prejudicar at
mesmo os processos de ensino e de aprendizagem. Por essas questes latente a formao
que atente para princpios de alteridade, ou seja, de compreenso de si mesmo e do outro,
conforme Delors (2003):
A educao deve, pois procurar tornar o indivduo mais consciente de suas razes, a fim
de dispor de referncias que lhe permitam situar-se no mundo, e deve ensinar-lhe o
respeito pelas outras culturas (...). O conhecimento das outras culturas torna-nos, pois,
conscientes da singularidade da nossa prpria cultura mas tambm da existncia de um
patrimnio comum ao conjunto da humanidade (p. 48).
Prticas educativas frequentes e simples como as que foram empreendidas por
alunos e professores do 7 ano do Ensino Fundamental, na cidade de So Miguel do Iguau,
representam passos para uma iniciativa de respeito e dilogo com elementos da cultura
afro. Isso permite que as crianas compreendam que [...] tanto a cultura que norteia a vida
da famlia dela quanto as que os outros vivenciam tem o seu valor, sua beleza [seu sabor] e
tem de ser respeitadas (FREITAS, 2011, p. 26). A inteno tambm foi a de que os alunos
conseguissem perceber a existncia de diferentes naes de Candombl, difundidas no
Brasil, e que essas apresentam particularidades em se tratando do tipo e do preparo de
alimentos votivos, mas que tambm fazem parte da cultura culinria do cotidiano das
Pgina
236
naes afro, integradas na mesa brasileira (RIBEIRO, 2009).
Ao apresentar com maior frequncia aos nossos alunos, temticas que evocam as
diferentes culturas encontradas no Brasil, propiciamos a estes a percepo de que vivemos
em um pas caracterizado pela multiplicidade de crenas e culturas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
237
6. REFERNCIAS
ADINOLFI, M. P. F. A pluralizao do campo afro-religioso no Brasil e a emergncia dos
candombls congo-angola. In: FIGUEIREDO, J. (org.). Nkisi na Dispora: razes religiosas
Bantu no Brasil. So Paulo: Acubalin, 2013, p. 49-64.
BRASIL. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educao nacional, para incluir no currculo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temtica "Histria e Cultura AfroBrasileira", e d outras providncias. Dirio Oficial da Unio, 10 jan. 2003. Braslia:
Congresso Nacional, 2003.
CASCUDO, L. C. Histria da alimentao no Brasil. 2. ed. So Paulo: Global, 2004.
DELORS, J. et. al. Educao um tesouro a descobrir. Relatrio para UNESCO da Comisso
Internacional sobre Educao para o sculo XXI. 8. ed. So Paulo: Cortez; Braslia, DF:
MEC: UNESCO, 2003.
FERRETTI, S. F. Festas religiosas populares em terreiros de culto afro. In: BRAGA, S. I. G.
Cultura Popular, Patrimnio Imaterial e Cidades. Manaus, EDUA/ FAPEAM, 2007, p. 7799.
FREITAS, D. F. A insero da histria e da cultura afro-brasileira na Educao Infantil. TCC
(Graduao em Pedagogia). 45f. Universidade do Estado da Bahia. Salvador, 2011.
GOMES, N. L. Diversidade e currculo. In: BEAUCHAMP, J.; PAGEL, S. D.; NASCIMENTO, A. do
(orgs.). Indagaes sobre o currculo. Braslia: MEC/SEB, 2008, p. 17-48.
GOMES, N. L.; FERREIRA, A. C. Educao e diversidade: a ignorncia religiosa no caminho do
preconceito. In: FIGUEIREDO, J. (org.). Nkisi na Dispora: razes religiosas Bantu no Brasil.
So Paulo: Acubalin, 2013, p. 12-29.
LIMA, H. P. Personagens negros: um breve perfil na literatura infanto-juvenil. In: MUNANGA,
K. (org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. rev. Braslia: MEC, Secretaria da Educao
Continuada: Alfabetizao e diversidade, 2005, p. 101-123.
MACHADO, A. M. Menina bonita do lao de fita. So Paulo: Melhoramentos, 1986.
MUNANGA, K.; GOMES, N. L. Para entender o negro no Brasil de hoje: histria, realidades,
problemas e caminhos. So Paulo: Global: Ao Educativa, 2004. Coleo Viver, Aprender.
MUNANGA, K. Prefcio. Nkisi na Dispora. In: FIGUEIREDO, J. (org.). Nkisi na Dispora: razes
religiosas Bantu no Brasil. So Paulo: Acubalin, 2013, p. 8-11.
OLIVEIRA, A. L. de. A bonequinha preta. So Paulo: Editora L, 1938.
OLIVEIRA, E. D. de. Cosmoviso africana no Brasil: elementos para uma filosofia
afrodescendente. Fortaleza: LCR, 2003.
PARS, L. N. A formao do Candombl. Histria e ritual da nao jeje na Bahia. Campinas:
Editora Unicamp, 2006.
PRANDI, R. De africano afro-brasileiro: etnia, identidade e religio. REVISTA USP, So
Paulo,
n.
46,
p.
52-65,
junho/agosto
2000.
Disponvel
em:
<
http://www.usp.br/revistausp/46/04-reginaldo.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2014.
REIS, J. J. Identidade e diversidade tnicas nas irmandades negras no tempo da escravido.
Tempo, v. 2, n. 3, p. 7-33, 1997.
RIBEIRO, P. H. M. Comida e religiosidade: dos cultos afro-brasileiros para a histria da
alimentao brasileira. In: Semana de Humanidades, Natal, p. 1-6, 2009. Anais... Natal:
UFRN, 2009.
SANTOS, E. P. dos. Formao de professores e religies de matrizes africanas: um dilogo
necessrio. Belo Horizonte: Nandyala, 2010a.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
SANTOS, S. O. A religiosidade de matriz africana e o contexto escolar. In: COLQUIO
INTERNACIONAL: EDUCAO E CONTEMPORANEIDADE, IV, Laranjeiras, SE, p. 1-11, set.
2010. Anais... Laranjeiras, set. 2010b.
SANTOS, J. R. dos. A botija de ouro. So Paulo: Editora tica, 1984.
SILVA, M. J. L. da. As artes e a diversidade tnico-cultural na escola bsica. In: MUNANGA, K.
(org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. rev. Braslia: MEC, Secretaria da Educao
Continuada: Alfabetizao e diversidade, 2005, p. 124-139.
ANEXO
Receita Cocada de Mandioca
2 pratos de mandioca crua ralada.
1 prato de acar.
1 colher de margarina
Coco ralado a gosto.
Modo de preparo:
Numa panela coloque a margarina para derreter, em seguida coloque a mandioca
crua ralada, mexa bem. Adicione o acar e o coco ralado, mexendo sem parar. Quando
comear a desprender do fundo da panela, unte uma bandeja ou refratria com margarina,
Pgina
238
retire pequenas pores da panela, no formato de cocadas, e coloque para esfriar e secar.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
RESSIGNIFICANDO OS CONTOS DE FADAS: a subverso dos esteretipos femininos em A
moa tecel, de Marina Colasanti
Valdeci Batista de Melo Oliveira1
Renata Zucki2
Danielle Bin dos Reis3
1. INTRODUO
O conto de fadas , ainda hoje, um tema muito abordado e discutido, tanto no meio
acadmico, quanto no campo do entretenimento, haja vistas a grande quantidade de livros,
animaes e filmes que versam, de diferentes maneiras, sobre o assunto. Assim, o conto de
fadas, apesar dos variados enfoques, releituras e adaptaes, ainda faz parte da cultura
literria da maioria das sociedades, especialmente do universo infantil. E exatamente por
envolver a fantasia e a imaginao que esse gnero visto como um objeto de temas
inocentes capaz de promover a formao e instruo das crianas, devido a sua
capacidade de ajudar os pequenos a lidarem com os conflitos internos, prprios do processo
de crescimento.
Contudo, apesar de terem suas tramas baseadas nas aes de protagonistas que
enfrentam grandes obstculos antes de triunfarem contra o mal, os contos de fadas
possuem toda uma simbologia e construo de esteretipos que reforam a ideologia da
cultura patriarcalista. A partir desse panorama, nossa primeira inteno, nesse trabalho,
mostrar que este universo no to ingnuo assim, ou seja, que tais obras foram criadas e
moldadas conforme as influncias histricas, sociais e culturais nas quais se inseriam, e que,
portanto, apresentam uma funo social definida de acordo com sua poca. Sendo assim,
destacamos a necessidade de questionar essa ideologia sobre o feminino, que tem sido
Pgina
239
repassada durante muito tempo por meio dessas histrias, propondo uma desmistificao
1
Professora Doutora do Departamento de Letras, Unioeste Cascavel. valzinha.mello@hotmail.com
Mestranda do PROFLETRAS, Unioeste Cascavel. profrenatazt@gmail.com
3
Mestranda do PROFLETRAS, Unioeste Cascavel. daniellebin@hotmail.com
2
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
das mesmas, por considerarmos que elas no condizem mais com os perfis e papis
femininos encontrados na atualidade.
Para tanto, exploramos uma proposta de leitura dialgica e intertextual do conto A
Moa Tecel (1985), da autora Marina Colasanti. Em sua riqueza e polissemia, o conto d
nfase importncia de se repensar o conceito de casamento e do papel da mulher, tanto
no relacionamento conjugal quanto consigo mesma, aspectos que ancoramos nas reflexes
de Coelho (1993).
Fundamentados nos conceitos de dialogismo e intertextualidade de Bakhtin (2003) e
Kristeva (2005), traamos uma anlise crtica desse conto, demonstrando que possvel
estabelecer uma interpretao diferenciada do papel exercido pelas mulheres, na
contemporaneidade, em uma sociedade regida, majoritariamente, por homens. Assim, o
objetivo principal deste trabalho o de contribuir para a formao leitora dos alunos das
sries iniciais do Ensino Fundamental por meio de uma leitura consciente das opes
estticas da autora Marina Colasanti, as quais demonstram que o universo do gnero conto
de fadas foi usado como resistncia e questionamento tradio patriarcal.
Alm disso, a constituio de um leitor crtico consequncia, tambm, de uma
pedagogia inclusiva, que promova a formao social do aluno a partir da compreenso e
valorizao das diferenas de gnero, de raa, de sexualidade, entre outras. Ao pensarmos a
leitura literria enquanto instrumento que possibilita a reflexo sobre a incluso social,
compreendemos que o aluno pode pensar seu espao social a partir das subjetividades do
texto literrio, da a necessidade de se trabalhar obras, j no incio do processo de
escolarizao, que desmascarem e questionem a realidade. Enfim, a leitura intertextual
possibilita ir alm da superfcie do texto, pois [...] as malhas do texto remetem tambm
para fora de si, pois provocao e convite leitura (ECO, 2003, p. 218). Possibilitar ao
leitor ir alm da tradio esttica reaviva a funo social da literatura, por isso, finalizamos
nosso trabalho aportando-nos nas reflexes de Cndido (1972), para quem a literatura
constitui-se em uma ferramenta humanizadora e emancipadora em potencial, assumindo,
Pgina
240
assim, papel fundamental nesse processo da incluso social.
2. UMA PROPOSTA DIALGICA E INTERTEXTUAL DE LEITURA DOS CONTOS DE FADAS:
A MOA TECEL.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Criados inicialmente para o pblico adulto, os contos de fadas s passaram a receber
este nome e a destinar-se ao pblico infantil no final do sculo XVII, quando Charles Perrault,
na corte do rei Lus XIV, iniciou a compilao de histrias e relatos orais guardados pela
memria do povo (narrativas maravilhosas de fontes orientais, fontes clticas e fontes
europeias), estabelecendo, assim, o primeiro ncleo da literatura infantil ocidental; embora,
no tenha sido essa sua primeira inteno, como nos aponta Nelly Novaes Coelho:
[...] a preocupao de Charles Perrault, nesse incio de recriao da literatura folclrica,
estava longe de ser com a infncia. S aps sua terceira adaptao, A pele de asno
(tambm um conflito feminino, ocasionado pelo desejo incestuoso de um pai por sua
jovem filha), que se manifesta sua inteno de produzir uma literatura para crianas
(COELHO, 1998, p. 67).
De acordo com Coelho (1998), a partir deste momento, Perraut dedica-se a
redescobrir a narrativa popular maravilhosa por dois motivos: o primeiro provar que as
histrias nacionais orais podiam ser to boas quanto os antigos clssicos da literatura, e o
segundo, divertir as crianas, principalmente as meninas, direcionando sua formao moral.
Observamos, assim, que os contos de fadas surgem a partir de uma inteno social, em um
movimento histrico cultural hbrido, no qual costumes, valores, conhecimentos e discursos
de diferentes sociedades dialogam entre si, sendo representados artisticamente. E
exatamente essa compreenso dos elementos intertextuais que compe o texto literrio,
que destacamos ser um importante caminho para se chegar formao crtica do leitor.
Neste ponto, cabe-nos aprofundar o que entendemos por elementos intertextuais ou
intertextualidade. Intertextualidade um termo cunhado por Julia Kristeva (2005), que ao
tecer consideraes a respeito da teoria dialgica de Mikhail Bakhtin, elaborou e firmou tal
conceito indicando que [...] todo texto se constri como mosaico de citaes, todo texto
absoro e transformao de um outro texto. (KRISTEVA, 2005, p. 68). De forma sucinta, o
conceito pode ser definido, ento, como dilogo entre textos, o que nos remete diretamente
ao dialogismo.
Bakhtin (1992) concebe o dialogismo como propriedade fundamental da linguagem
Pgina
241
(seja como lngua, seja como discurso), princpio que se estende sua concepo de mundo
e de sujeito. Para o autor, a palavra de um inevitavelmente atravessada pela palavra do
outro, de modo que nenhum enunciado , portanto, indito ou original, assim como
nenhum enunciado origina-se no sujeito em si. Tudo, enunciados e sujeitos interlocutores,
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
relacionam-se num processo interacional, de maneira que todo enunciado responde e
permeado por enunciados anteriores, e essa relao corresponde ao dialogismo.
Considerando que, assim como um texto, o ser humano tecido discursivo, portanto
dialgico e fundado nos processos sociais (princpios de alteridade e intersubjetividade), o
dialogismo reflete tambm a interao entre os sujeitos. O dialogismo pode, ento, ser
compreendido em duas dimenses: como dilogo entre discursos e como dilogo entre
sujeitos, os quais so constitudos no discurso.
Ao compreendermos, ento, que os discursos so perpassados por outros discursos,
a produo de sentido de um texto, demanda a ativao de conhecimentos adquiridos por
meio de outros textos; bem como a prtica de leitura e interpretao tambm requer a
considerao de uma srie de conhecimentos advindos da leitura de textos anteriores. Em
muitos textos, identificamos atravs de elementos lingusticos e no lingusticos, a presena
de outros textos neles, conduzindo o leitor/interlocutor a perceber a ligao intertextual por
meio de inferncias. A retomada de texto(s) em outro(s) texto(s) propicia a construo de
novos sentidos, uma vez que so inseridos em uma outra situao de comunicao, com
outras configuraes e objetivos (KOCH; ELIAS, 2011, p. 86).
Para uma leitura intertextual, o conhecimento de outros textos estticos e culturais
possibilita ao leitor o desenvolvimento da habilidade de contrastar, o que pode ser visto
como um exerccio de identificao da polifonia do texto analisado. Nessa perspectiva,
consideramos importante iniciarmos a anlise do conto A moa tecel, com um retorno s
origens das personagens tecels, ou seja, com a retomada de outros textos anteriores a ele e
com os quais mantm uma relao de intertextualidade.
Encontramos na mitologia grega, a lenda de Aracne, uma tecel que desafia uma
divindade para um concurso de tecelagem e que, por ser melhor que a deusa,
transformada em aranha. H, tambm, Ariadne, do mito do Minotauro, que orienta Teseu a
sair do labirinto, no qual o monstro se abrigava, seguindo o novelo de l que marcava o
caminho.
Pgina
242
Na literatura clssica, observamos na obra Odisseia, a esperta Penlope, que tecia de
dia e desmanchava noite, com o propsito de adiar a escolha do novo marido e esperar
por seu amado Ulisses. H ainda, nos contos tradicionais dos Irms Grimm a histria de As
Trs Parcas, que narra a trajetria de uma pobre moa que desejava se casar e recebeu
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
ajuda das senhoras fiandeiras. O conto Rumpelstiltskin, dos mesmos autores, aborda uma
personagem que transforma fios de linho em fios de ouro ao tecer; alm da velha que fiava
no alto da torre, cujo fuso feriu a jovem Bela Adormecida, entre outras. Como vimos, o ato
de tecer relaciona-se, principalmente, a uma atividade tradicionalmente feminina e est
ligada capacidade de criar e transformar. Segundo Coelho (1987), esta relao j advm
desde a Antiguidade, pois o ato de fiar (com fuso e roca) era atribudo mulher, ou seja,
vinculado ao feminino e ao seu poder de tecer novas vidas.
Assim, percebemos que a opo da autora Marina Colasanti por uma protagonista
tecel no gratuita. Viver x tecer e viver x escrever esto imbricados na composio desse
conto que, de acordo com Umberto Eco (2003), pode ser classificado como uma
metanarrativa. Sobre a metanarratividade, Eco afirma:
A metanarratividade, enquanto reflexo que o texto faz sobre si mesmo e sobre a prpria
natureza, ou intruso autorial que reflete sobre o que se est contando e talvez convide
o leitor a compartilhar de suas reflexes, bem mais antiga do que o ps-moderno. []
Admito que no romance moderno a estratgia metanarrativa se faz presente com maior
insistncia e aconteceu-me de, para exasperar a reflexo que o texto conduz em si
mesmo, recorrer quilo que chamarei de dialoguismo artificial, isto , colocar em cena
um manuscrito sobre o qual a voz narradora reflete, tenta decifrar e julgar no momento
mesmo em que narra (ECO, 2003, p. 199-200).
Na prtica textual, uma metanarrativa todo o discurso que se volta para si mesmo,
questionando a forma como a prpria narrativa produzida. Assim, na leitura deste conto,
observamos a habilidade de a autora tecer, por meio da subjetividade da personagem, a
transgresso do universo patriarcal, bem como da prpria estrutura do gnero conto de
fadas. Ou seja, a desconstruo proposta por Marina Colasanti pode ser identificada tanto
na estrutura composicional do gnero textual quanto na forma como os papis femininos de
submisso so questionados pela tecel.
No que se refere subverso da tradicional organizao lingustica e estrutural dos
contos de fadas, observamos que A Moa Tecel no contempla o famoso Era uma vez... em
seu incio. A habitual expresso que representa, no conto tradicional, a entrada no mundo
Pgina
243
maravilhoso substituda por um relato do cotidiano da moa ao tear, o qual s revelado
como mgico no decorrer do conto. Da mesma forma, temos o encerramento do conto
substituindo a clssica marca E foram felizes para sempre..., novamente, pelo relato sutil do
recomeo de um novo dia da moa que tece, demonstrando que a busca pela felicidade
um processo dirio e contnuo.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Alm disso, nos contos clssicos (como por exemplo A bela adormecida, Cinderela,
Branca de neve, entre outros) a felicidade da mulher, que ameaada por problemas
exteriores a ela, depende da interveno do prncipe, o qual constitui-se, assim, no heri da
histria. J no conto de Marina Colasanti, isso bem diferente, a protagonista vivia feliz,
entretanto ela mesma que sente a necessidade de buscar um companheiro: Mas tecendo
e tecendo, ela prpria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou
seria bom ter um marido ao lado (COLASANTI, 1985, p. 44). Mas, medida que a histria se
desenrola, notamos que o prncipe vai se tornando antagonista da moa, uma vez que
passa a exigir dela apenas trabalho e bens materiais. Assim, o prncipe o prprio vilo,
no por fazer grandes maldades, mas sim por seu egosmo. No h nenhuma bruxa para
separ-los ou faz-los infelizes, o prprio relacionamento leva tristeza e ao conflito.
Portanto, ao se opor reproduo dos enredos clssicos, A moa tecel nega, mais uma vez,
a repetio da prpria estrutura do gnero.
J no que diz respeito subverso dos esteretipos acerca da figura da mulher
presentes nos contos tradicionais, destacamos como a autora Marina Colasanti investiga e
problematiza a condio da mulher dentro do patriarcalismo, principalmente em relao ao
conceito de casamento, da autonomia e identidade feminina, fazendo da fantasia um
instrumento de desmistificao do real, em vez de camufl-lo; como veremos na seo a
seguir.
3. RESSIGNIFICANDO OS CONTOS DE FADAS
Alm da maestria lingustica com que Marina Colasanti tece A moa tecel, por meio
de uma linguagem marcada pela sua aguada sensibilidade no manejo com as palavras, a
autora constri, tambm, uma desnaturalizao da viso patriarcal acerca da mulher, que
se d tanto no papel de autora, quanto no de sua personagem.
Na tradio, o fazer literrio apropriado e comandado pelo homem, consolidando e
estratificando certa viso da mulher, de acordo com as convenes sociais e polticas de
Pgina
244
cada poca. Como aponta Coelho (1993), esta prtica e este discurso contriburam para que
as mulheres desenvolvessem a concepo que tinham (e ainda tem, em grande parte) de si
mesmas e que, ainda hoje, enfrenta dificuldades para ser modificada. Seu lugar, antes, era
marcado pelo silncio, espera, submisso, sofrimento, saudade, lgrimas, doena e morte.
Na fico, as personagens femininas eram como fantoches controlados pelo homem.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Somente a partir das dcadas de 70 e 80 do sculo XX que comea a se estabelecer a
busca da identidade feminina. Aos poucos, a mulher passa a buscar sua prpria voz. Sobre
esse cenrio e o sentimento que imperou na produo feminina que se iniciou junto
exploso do conto, Nelly Novaes Coelho (1993) reporta-se Lygia Fagundes Telles, atravs
da fala de uma de suas personagens do romance As meninas, de 1975: Sempre fomos o que
os homens disseram que ns ramos. Agora somos ns que vamos dizer o que somos
(COELHO, 1993, p. 12).
Nelly Coelho (1993) cita a prpria Marina Colasanti, a qual tambm define essa
mudana na viso feminina em seu livro Mulher daqui pra frente, publicado em 1981:
[...] somos mutantes, mulheres em transio. Como ns, no houve outras antes. E as
que vierem depois sero diferentes. Tivemos a coragem de comear um processo de
mudana. E porque ainda est em curso, estamos tendo a coragem de pagar por ele. [...]
Samos de um estado que embora insatisfatrio, embora esmagador, estava estruturado
sobre certezas. Isso foi ontem. At ento ningum duvidava do seu papel. Nem homens,
nem muito menos mulheres. [...] Mas essa certeza ns a quebramos para poder sair do
cercado. (COELHO, 1993, p. 13)
Assim, percebemos que a mulher desse perodo est em uma fase de busca,
questionamento, descoberta; ela est voltada para a reflexo, tanto em relao a seu papel
enquanto mulher, quanto em relao a seu meio social, o que leva suas obras a serem
permeadas por essas preocupaes; perfil este observado na tessitura de A moa tecel.
Apesar do maravilhoso dos contos de fadas poder ser considerado ultrapassado no
mundo contemporneo, haja vistas o acelerado desenvolvimento tecnolgico e as mudanas
nas formas de interao social, Colasanti demonstra interesse na retomada dessa temtica
por considera-la importante na a formao da criana. A autora, na apresentao de Uma
ideia toda azul (obra que encerra o conto A moa tecel), aponta que:
Muda a realidade externa. Mas a nossa realidade interior, feita de medos e fantasias, se
mantm inalterada. E com esta que dialogam as fadas interagindo simbolicamente, em
qualquer idade, e em todos os tempos. (COLASANTI, 1985, p. 4)
Marina Colasanti traz para os seus contos de fadas o esprito conflitivo que marca a
Pgina
245
existncia humana na sociedade contempornea. Misturando realidade e fico, o trgico e
a busca da felicidade, a autora constri narrativas que falam de sentimentos e sensaes
presentes no mundo moderno. Diferente dos contos clssicos, onde a histria mais
superficial e atemporal, os contos de Colasanti vo fundo nos pensamentos das
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
personagens, as quais apresentam um universo interior rico e mudam sua maneira de
pensar ao longo da narrativa (ao contrrio das princesas tradicionais, que so personagens
planas e seguem iguais do incio ao fim), alm de encerrarem uma reflexo pertinente ao
contexto social e histrico do momento em que foram produzidos.
Embora indicada para o pblico infantil, o conto A moa tecel concentra
importantes reflexes acerca do relacionamento conjugal. Nele, a mulher apresenta trs
momentos: o da liberdade de escolha, o da represso e submisso (determinado pelo
marido) e, por ltimo, o da liberdade solitria. Essas trs fases so significativas para uma
leitura intertextual do texto em relao aos contos de fada, pois esto associadas s lutas
das mulheres contemporneas.
De incio, apresenta uma situao em que a protagonista, embora sozinha, vive
harmoniosamente a vida que escolheu para si. Ela tem liberdade e poder para realizar seus
objetivos e fazer suas escolhas, direcionando os rumos de sua prpria vida; trata-se de uma
mulher livre: Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e
espantavam os pssaros, bastava a moa tecer com seus belos fios dourados, para que o sol
voltasse a acalmar a natureza (COLASANTI, 1994, p. 44). Percebemos, assim, que o tecer
trabalho e liberdade, remetendo-se independncia e criatividade da mulher.
Contudo, desejou ter algum ao seu lado, e ao realizar o sonho de ter um marido,
comea a sentir-se s, prisioneira de sua condio matrimonial. A princpio no dizia nada,
no tinha coragem suficiente para enfrentar a situao, submetendo-se a tudo que o marido
lhe impunha. Percebemos, nessa configurao da moa tecel, a representao de toda uma
classe feminina, que habitualmente se anula para viver sombra daquele que, atravs dos
tempos, sempre representou a superioridade, o homem. Ideologicamente, observamos que
o espao da mulher est sendo violado pela incorporao e manuteno do discurso
patriarcalista.
Mas, em vez dar nfase submisso da moa ao marido ou apresentar uma soluo
mgica para os problemas, o conto termina mostrando uma nova mulher, que, com
Pgina
246
coragem, segurana, ousadia, imaginao e criatividade, transforma sua vida, a partir do
momento em que se sente livre para tomar suas prprias decises.
[...]ela prpria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palcio. [...]
pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo, [...] Desta vez no
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lanadeira ao contrrio, e, jogando-a de um
lado para outro, comeou a desfazer seu tecido. (COLASANTI, 1985, p. 45)
Assim, a moa tecel vai em busca do seu eu: renuncia tudo aquilo que a reprimia,
fazendo o seu caminho ao contrrio, dando-se o direito de mudar de ideia e desfazer o que
havia feito. Juntamente dialtica do relacionamento, podemos ver, nesta passagem, a
prpria trajetria feminina na histria. Historicamente a mulher comea silenciosa,
domstica, submissa, vivendo em funo do marido e da famlia, quando ento (na
contemporaneidade) passa a questionar-se e a refletir sobre seu lugar no mundo e nas
relaes, ou seja, que tem o direito liberdade.
Como observamos, o conto traz, em suas entrelinhas, uma oposio ao universo
masculino e opresso feminina. Com isso, ao explorarmos uma leitura intertextual e
dialgica do texto, potencializamos o poder de humanizao e de formao da literatura
infanto-juvenil, pois samos da redoma estruturalista da narrativa para situar o texto literrio
como um construto histrico relevante na constituio social do leitor. E exatamente essa
possibilidade de o leitor ir alm da tradio esttica que reaviva a funo social da literatura
e contribui para o processo da incluso social; como demonstraremos na ltima seo de
nosso trabalho.
4. A LITERATURA E SUAS CONTRIBUIES NO PROCESSO DE INCLUSO SOCIAL
Antnio Candido (1972), em seus estudos sobre Literatura, aponta as vrias e
essncias qualidades humanas que podem ser potencializadas pela leitura literria, como o
exerccio da reflexo, a aquisio do saber, o refinamento das emoes, o senso de beleza, a
percepo da complexidade do mundo e das relaes humanas. Seja na forma de fico,
poesia ou ao dramtica, a literatura corresponderia necessidade de absorver,
transformar e modificar a realidade do leitor, transmitindo ideias e emoes.
De acordo com Antnio Candido (1972), a Literatura pode ser compreendida como
arte que transforma e humaniza o homem e a sociedade na qual ele vive. O autor atribui
Literatura trs funes: A funo psicolgica, que possibilita ao ser humano adentrar em um
Pgina
247
mundo de imaginao e fantasias, despertando momentos de reflexo e interiorizao. A
funo formadora, tendo em vista que a literatura atua como instrumento educativo
indireto, por possibilitar ao leitor experimentar (por meio do outro: o autor e seu texto) o
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
contato com diferentes realidades, vises de mundo e convenes sociais; pois, de acordo
com a viso do autor,
[...] a literatura pode formar; mas no segundo a pedagogia oficial. [...] Longe de ser um
apndice da instruo moral e cvica, [...], ela age com o impacto indiscriminado da
prpria vida e educa como ela. [...] Ela no corrompe nem edifica portanto; mas,
trazendo livremente em si o que chamamos o bem o que chamamos o mal, humaniza em
sentido profundo, porque faz viver. (CANDIDO, 1972, p. 805-806)
E, finalmente, a ltima funo da Literatura apontada por Candido (1972) a social;
que a prpria representao da sociedade e do homem; ou seja, a funo mpar que tem
a literatura de retratar, denunciar e desmascarar a condio humana em seus diversos
contextos e realidades ao longo do tempo.
Constituindo-se em um direito humano, o acesso literatura fundamental, pois
contempla uma possibilidade de conhecimento e reflexo aos sujeitos contra o poder
arbitrrio da classe dominante ou de segmentos sociais privilegiados (homens, brancos,
ricos, etc.). Assim, a leitura literria pode ser encarada como instrumento para o exerccio da
liberdade de expresso e de compreenso do outro; ou seja, a literatura pode ser um
caminho para ultrapassarmos o discurso da tolerncia rumo ao discurso da socializao e da
incluso.
Na perspectiva da humanizao e emancipao dos sujeitos, propiciados pela
literatura, a leitura intertextual, por ir alm da questo esttica do texto, proporciona novas
experincias que trazem uma dimenso mais ampla da humanidade, haja vistas abranger os
dilogos histricos, culturais e artsticos de diferentes pocas e lugares.
5. CONSIDERAES FINAIS
Neste trabalho, buscamos percorrer caminhos de ressignificaes dos contos de
fadas tradicionais por meio de uma leitura intertextual e dialgica do conto A moa tecel,
de Marina Colasanti. No pretendemos insinuar, com isso, que a leitura de tal gnero seja
abandonada ou substituda por contos contemporneos (a exemplo de A moa tecel), haja
Pgina
248
vistas os contos de fadas ainda serem muito presentes e significativos em nossa sociedade,
especialmente para as crianas. Pelo contrrio, ao propormos uma ressignificao, temos
em mente a importncia desses textos na formao infantil; mas, considerando o discurso
patriarcalista que trazem em sua essncia, acreditamos na necessidade de desconstruir os
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
paradigmas hierarquizados ali presentes, nos quais a posio da mulher foi relegada a um
plano inferior.
Acreditamos, como tecemos em nossas reflexes, que uma proposta de ensino da
literatura que leve em considerao os elementos intertextuais e dialgicos que uma obra
estabelece com outros textos, culturas e discursos pode formar um leitor mais crtico e
capaz de debater problemas atuais de sua sociedade. Portanto, o convite reflexo social
pode ser uma das sadas para associar leitura, prazer e formao da conscincia crtica do
leitor.
6. REFERNCIAS
Pgina
249
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 6.ed. So Paulo: Hucitec, 1992.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. Estudos de teoria e histria literria. 6. ed., So
Paulo,
Companhia Editora Nacional, 1980.
COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas. SP: tica,1998.
COELHO, Nelly Novaes. A Literatura Feminina no Brasil Contemporneo. So Paulo: Editora
Siciliano, 1993.
COLASANTI, Marina. A moa tecel. In Uma idia toda azul. Rio de Janeiro: Nrdica, 1985.
ECO, U. Ironia intertextual e nveis de leitura. In: ECO, U. (Ed.). Sobre literatura. 2. ed.
Traduo de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2003.
KRISTEVA, Julia. Introduo semanlise. 2 edio. Trad. Lcia Helena Frana Ferraz. So
Paulo: Perspectiva, 2005.
KOCH, I.; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto.3 ed. So Paulo:
Contexto, 2011.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
SEXO, GNERO E SEXUALIDADE: princpios para uma discusso inicial.
Jonathan Chasko da Silva1
Rodolfo Csar Mafra Previato2
Andra Cristina Martelli3
1. INTRODUO
Falar de sexo, gnero e sexualidade parece o mesmo que caminhar em crculos sobre
um mesmo terreno, como chamar de aipim, mandioca e macaxera o mesmo alimento, ainda
que mesmo neste alimento haja uma ou outra diferena. Mas, nem tudo o que parece de
fato o que parece ser. Falar de sexo, gnero e sexualidade, no falar da mesma coisa,
falar de apenas trs de mltiplos aspectos da condio humana, logo, falar de sexo, gnero e
sexualidade assumir essa multiplicidade de nossa construo como indivduos.
A necessidade de produo deste texto se deu pela dificuldade em encontrar textos
introdutrios que apontem para esta temtica tendo discusses iniciais como foco. O texto
foi produzido na vigncia do Programa de Extenso de Promoo e Defesa dos Direitos de
Lsbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis LGBT financiado pelo convnio entre o
Sistema de Seleo Unificada do Ministrio da Educao MEC/Sisu e a Universidade
Estadual do Oeste do Paran Unioeste.
Este texto se prope a tecer algumas reflexes acerca da sexualidade, acreditamos na
pertinncia de discorrer acerca de alguns pontos centrais que discutam o assunto,
abordando a sexualidade como construo partida de aspectos culturais, sociais, histricos e
identitrios (no sentido de que contribuem entre si mutuamente, uma vez que no h um
Pgina
250
discurso hegemnico sobre a temtica) como diferenciadores principais entre uma e outra
Graduando do curso de Letras Portugus-Espanhol e Bolsista do Programa de Extenso de Promoo e Defesa
dos Direitos LGBT financiando pelo convnio Unioeste-MEC/Sisu. E-mail: jonathanchasko@gmail.com.
2
Graduando do curso de Letras Portugus-Ingls e Voluntrio no Programa de Extenso de Promoo e Defesa
dos Direitos LGBT financiando pelo convnio Unioeste-MEC/Sisu. E-mail: rodolfopreviato@gmail.com
3
Professora Doutora em Educao. Coordenadora do Programa de Extenso de Promoo e Defesa dos
Direitos LGBT financiando pelo convnio Unioeste-MEC/Sisu. E-mail: andreamartelli72@hotmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
manifestao dessa ou daquela sexualidade, uma vez que essa distino pode auxiliar nas
anlises a serem feitas e na compreenso das mesmas.
2. SEXO, GNERO E SEXUALIDADE
Para organizar o que pretendemos abordar sobre a sexualidade, necessrio
compreender, mesmo que de forma breve, noes de sexo e a carga semntica que ele
carrega. Em seguida, importante que entendamos um pouco sobre as questes de gnero
e identidade, para, por fim, podermos compreender a sexualidade como aspecto fundador
das mulheres e homens e ressaltar a relevncia da sexualidade na vida das pessoas de forma
a apresentar que, se negligenciada, a sexualidade pode causar grandes desconfortos s
pessoas.
3. O SEXO
Comecemos pelas coisas primeiras, pois. Como sexo compreendemos duas coisas,
em primeira instncia, a dualidade entre o masculino e feminino, em seguida a todo que se
refere s prticas sexuais, a tudo que envolve o fazer sexo.
O sexo, o primeiro de que falamos logo acima, a concepo inicial que temos uns
dos outros, ns reconhecemos por pertencermos a determinados padres estabelecidos
sociais do que ser do sexo masculino (tanto do nvel fsico como possuir pnis, voz mais
grave, estrutura fsica mais forte quanto do nvel social como ser menos sensvel, menos
emotivo entre outros) ou do sexo feminino (como, no mesmo sentido, possuir seios, vagina,
poder gerar filhos, voz mais aguda, estrutura fsica mais delicada, ser mais delicada, sensvel,
amvel, o cu de ternura aconchego e calor4). Sendo assim, o que entendemos por sexo, e
aqui apontamos, deve passar a ser compreendido como Sexo Biolgico, isto , o que diz
respeito ao rgo genital com o qual nascemos, com os hormnios que produzimos, apenas
isso. Uma vez dito que apenas isso, assim deve ser entendido, o Sexo Biolgico no
determina o gnero nem a sexualidade, trata-se apenas do corpo no qual nascemos.
importante entender tambm que a sexualidade no envolve apenas o sexo, como
Pgina
251
ato de cpula com fins de reproduo e/ou satisfao, mas que o prprio ato sexual faz
parte da sexualidade. Assim com as relaes interpessoais e consigo mesmo, o conhecer-se
fisicamente e emocionalmente faz parte da prtica da sexualidade. Em sua reflexo acerca
4
ORAO PELA FAMLIA - Padre Zezinho.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
do sexo e sua importncia, Novaes (1996) aponta a dificuldade das pessoas em compreender
o sexo, em compreender-se com seres sexuais e conclui que na prtica autodidata que ns
compreendemos como esses seres sexuais fazendo referncia s negligncias das
instituies que formam nossa identidade, a saber algumas, a escola, a igreja e a prpria
famlia:
Ser o sexo muito importante e por isso nos assusta ou ser nossa ignorncia a respeito
que o torna grande demais? Fico, sem pestanejar, com a segunda hiptese: em matria
de Sexo somos uns autodidatas que aprendemos a manejar nossos rgos (e emoes) a
duras penas num quarto escuro. (NOVAES, 1996, p. 8)
Assim que nos dispomos a pisar no terreno da sexualidade, muitas so as minas que
comeam a explodir. Quando pensamos em sexualidade, a palavra que pode nos vir mente
automaticamente sexo. Se pensarmos na derivao morfolgica da palavra, inevitvel
que sexo venha diretamente ao nosso pensamento, mas, como j dito, a sexualidade mais
que o sexo e por isso se deve a negao: Sexualidade no s sexo, sexualidade o
conjunto de todos os aspectos de afetividades e formas de relacionamentos interpessoais na
busca do prazer e da satisfao pessoal.
sexualidade atribuda muitas outras caractersticas constituintes, como a
identidade de gnero, a expresso sexual, a orientao sexual, entre outras.
4. O GNERO
Para entender o gnero, se faz necessrio entender que o Sexo Biolgico, isto , o
corpo no qual nascemos (masculino ou feminino) no determina com preciso como ns nos
construmos na sociedade, quais papis assumiremos e, por fim, como nos reconheceremos
ou como nos identificaremos. Neste sentido, para entender o gnero, importante,
tambm, entender a identidade, formando o conceito de Identidade de Gnero, ou seja,
com qual gnero voc se identifica mais? Com o masculino ou feminino? Como voc se
sente? Como voc se reconhece? Qual o seu gnero?
Para responder todas essas perguntas e entender de fato qual nossa Identidade de
Pgina
252
Gnero, devemos nos desprender do Sexo Biolgico, entender que ns no somos seres
apenas biolgicos, somos, tambm, seres racionais que refletimos sobre nossa prpria
existncia, no somos seres guiados nica e exclusivamente pelo instinto, nossa
racionalidade nos d condies de nos identificar mais com determinadas prticas e no
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
tanto com outras, uma vez que todas as prticas esto socialmente ligadas a um
determinado gnero, com o tempo, ns vamos nos reconhecendo mais com este, aquele ou
nenhum dos gneros.
Em muitos casos acontece do Sexo Biolgico e a Identidade de Gnero convergirem,
entre outras palavras, determinado indivduo nascer com um corpo com vagina e no
decorrer de sua vida e de suas experincias se reconhecer com este corpo e com as prticas
sociais que se esperam deste corpo, dito de outra forma, reconhecer-se como mulher, ou
como do gnero feminino. A esta pessoa chamamos de CISGNERO5. Esse movimento no
nico, h aqueles indivduos que, ao contrrio, nascem em um determinado corpo, por
exemplo, com vagina, e no decorrer de suas vivncias acabam por se identificarem mais com
as prticas ditas socialmente masculinas e, se entenderem como um sujeito de Sexo
Biolgico feminino mas de Identidade de Gnero masculina, a essa pessoa chamamos de
TRANSGNERO6.
Seria simples dar por encerrada o assunto da Identidade de Gnero por aqui, mas
como a condio de ser humano nunca foi simples, h casos de indivduos que,
independente de seus Sexos Biolgicos, no se identificam nem com um, nem com o outro
gnero, e sim com os dois em dados momentos e com nenhum dos dois em outros muitos
momentos, a esse terceiro segmento de pessoas, chamamos de ANDRGENOS7.
importante que mantenhamos o foco sem limitarmos nosso entendimento. Muitas
outras Identidades de Gnero podem existir, necessrio que no ignoremos a legitimidade
de cada uma delas, cada indivduo, eu, voc, elas e eles, todos ns, devemos ter nossas
Identidades de Gnero respeitadas, e na via dupla que deve ser, respeitar a toda
manifestao de Identidade de Gnero, permitir que o indivduo se desenvolva, se encontre,
se construa como um sujeito ativo, primeiro com consigo mesmo, para depois na sociedade
lutando pelo cumprimento de seus direitos.
Pgina
253
CIS vem do latim e significa do (mesmo) lado, neste caso Cisgnero significa uma pessoa que tem sua
Identidade de Gnero concordante com seu Sexo Biolgico.
6
Entende-se por Transgneros os indivduos que transgridem de uma forma ou outra a sua condio de gnero
dada pelo Sexo Biolgico, isto , que se reconhecem, se identificam com um gnero que no o presente em
seus corpos, no caso, o pnis ou a vagina, e sim o oposto.
7
Andros vem do grego e significa homem, Gynos, tambm do grego, mulher. O termo Andrgeno aponta para
designar indivduos que no assumem nem a Identidade de Gnero masculina, nem a feminina, seno as duas
ao mesmo tempo ou nenhum das duas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
5. A SEXUALIDADE
Primeiramente, entendemos, conforme apresenta a Associao Brasileira de Gays,
Lsbicas, Bissexuais, Transexuais e Travestis (doravante ABGLT), a sexualidade como tudo
aquilo que se refere:
s elaboraes culturais sobre os prazeres e os intercmbios sociais e corporais que
compreendem desde o erotismo, o desejo e o afeto, at noes relativas sade,
reproduo, ao uso de tecnologias e ao exerccio do poder na sociedade. As definies
atuais da sexualidade abarcam, nas cincias sociais, significados, ideias, desejos,
sensaes, emoes, experincias, condutas, proibies, modelos e fantasias que so
configurados de modos diversos em diferentes contextos sociais e perodos histricos.
Trata-se, portanto, de um conceito dinmico que vai evolucionando e que est sujeito a
diversos usos, mltiplas e contraditrias interpretaes e que se encontra sujeito a
debates e a disputas polticas. (ABGLT, 2009, p. 09)
neste contexto de entendimento que inclumos e refletimos sobre as questes de
orientao sexual em oposio de sexo biolgico, uma vez que sexo biolgico se refere
apenas ao conjunto de informaes cromossmicas, rgos genitais, capacidades
reprodutivas e caractersticas fisiolgicas secundrias que distinguem machos e fmeas
(ABGLT, 2009, p. 09), ignorando as necessidades psicoemocionais dos sujeitos, excluindo a
afetividade, descaracterizando ento como sexualidade, inclusive as questes de orientao
sexual.
Opondo-se concepo de sexo biolgico, a orientao sexual entendida como a
capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atrao emocional, afetiva ou sexual por
indivduos de gnero diferente, do mesmo gnero ou de mais de um gnero, assim como ter
relaes ntimas e sexuais com essas pessoas (ABGLT, 2009, p. 10). Ainda no que tange
orientao sexual, compreendemos que esta se refere:
direo ou inclinao do desejo afetivo e ertico. De maneira simplificada, pode-se
afirmar que esse desejo, ao direcionar-se, pode ter como nico ou principal objeto
pessoas do sexo oposto (heterossexualidades), pessoas do mesmo sexo
(homossexualidades) ou de ambos os sexos (bissexualidades) [entre outros] (APP, 2011,
P.16).
Compreendidas as questes de orientao sexual e sexo biolgicos, faz-se necessrio
Pgina
254
entender a identidade de gnero. Como afirma ABGLT (2009), para entender o gnero,
necessrio entender que o sexo biolgico, isto , o corpo no qual se nasce (masculino ou
feminino) no determina com preciso como os indivduos se construiro na sociedade,
quais papis assumiro e, por fim, como se reconhecero ou como se identificaro. Neste
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
sentido, para entender o gnero, importante, tambm, entender a identidade, que, unida
concepo do que gnero, forma o conceito de identidade de gnero, ou seja, com qual
gnero os indivduos se identificam mais? Com o masculino ou feminino? Como se sentem?
Como se reconhecem?
Para responder a todas essas perguntas e entender de fato qual a identidade de
gnero, preciso se desprender do sexo biolgico, entender que os papis sexuais de
homem e mulher variam de cultura para cultura e de poca para poca (FRY;
MACRACE, 1991, p. 10). Como afirma a ABGLT (2009), as pessoas no so seres apenas
biolgicos, so, tambm, seres racionais que refletem sobre suas prprias existncias, no
so seres guiados nica e exclusivamente pelo instinto, sua racionalidade lhes d condies
de se identificar mais com determinadas prticas e no tanto com outras, uma vez que todas
as prticas esto socialmente ligadas a um determinado gnero. Com o tempo, as pessoas
vo se reconhecendo mais com este, aquele ou nenhum dos dois gneros.
No uma regra que o sexo biolgico e a identidade de gnero devem convergir,
uma vez que:
uma experincia interna e individual do gnero de cada pessoa, que pode ou no
corresponder ao sexo atribudo no nascimento [o que anteriormente chamamos de sexo
biolgico], incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha,
modificao da aparncia ou funo corporal por meios mdicos, cirrgicos e outros) e
outras expresses de gnero, inclusive vestimentas, modo de falar e maneirismos.
(ABGLT, 2009, p. 16)
Nesse processo de entendimento, tambm importante que se tenha a conscincia
de que uma pessoa pode ter uma identidade de gnero masculina, feminina, ambas ou
nenhuma -, apresentar caractersticas fisiolgicas do sexo oposto ao seu e, ainda assim, ser
htero, homo ou bissexual. (APP, 2011, p. 18). E essas caractersticas podem partir tanto
do campo da necessidade, como importncia de extrema relevncia ao seu ser, quanto do
Pgina
255
campo do querer, da escolha, do achar belo, pois:
ao contrrio do que comumente se tende a crer, pessoas transgneros (travestis ou
transexuais) no so necessariamente homossexuais, assim como homens homossexuais
no so forosamente femininos ou afeminados e tampouco mulheres lsbicas so
necessariamente masculinas ou masculinizadas. (APP, 2011, p. 18)
Dessa forma, o que se compreende por sexo biolgico, identidade de gnero e
orientao sexual, so trs de muitas outras colunas que mantm a sexualidade, so partes
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
formadoras e determinantes de uma ou de outras sexualidades. Enquanto o sexo biolgico
dicotmico (masculino, com pnis, e feminino, com vagina), a identidade de gnero
superior a este estabelecimento heteronormativo8 e precede o biolgico na ordem de
importncia. Embora que, como cita Louro (2008), o sexo biolgico seja primeiro na ordem
dos acontecimentos, ele no define nem determina a identidade das pessoas, isto , como
elas se reconhecero e com qual gnero elas tero mais afinidade:
A declarao uma menina! ou um menino! tambm comea uma espcie de
viagem, ou melhor, instala um processo que, supostamente, deve seguir um
determinado rumo ou direo. A afirmativa, mais do que uma descrio, pode ser
compreendida como uma definio ou deciso sobre um corpo. Judith Butler (1993)
argumenta que essa assero desencadeia todo um processo de fazer desse corpo
feminino ou masculino. Um processo que baseado em caractersticas fsicas que so
vistas como diferenas e s quais se atribui significados culturais. Afirma-se e reitera-se
uma seqncia de muitos modos j consagrada, a seqncia sexo-gnero-sexualidade. O
ato de nomear o corpo acontece no interior da lgica que supe o sexo como um dado
anterior cultura e lhe atribui um carter imutvel, a-histrico e binrio. Tal lgica
implica que esse dado sexo vai determinar o gnero e induzir a uma nica forma de
desejo. Supostamente, no h outra possibilidade seno seguir a ordem prevista. A
afirmao um menino ou uma menina inaugura um processo de masculinizao
ou de feminizao com o qual o sujeito se compromete. Para se qualificar como um
sujeito legtimo, como um corpo que importa, no dizer de Butler, o sujeito se ver
obrigado a obedecer s normas que regulam sua cultura. (LOURO, 2009, p. 15-16).
nesse sentido que concordamos com Louro (2009) ao retomar o pensamento de
Butler, que um sexo biolgico no interfere na identidade de gnero das pessoas, assim
como nenhum dos dois influenciam na orientao sexual. Uma pessoa que nasce com vagina
no necessariamente se reconhecer como mulher, nem obrigatoriamente sentir atrao
por outras pessoas que tenham nascido com pnis. Toda essa caminhada entre o sexo
biolgico, a identidade de gnero e a orientao sexual importante para entender que isso
sexualidade. So esses aspectos ora convergentes, ora divergentes que constituem os
indivduos e suas sexualidades.
6. REFERNCIAS
Pgina
256
ABGLT, Manual de Comunicao LGBT, Lsbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
Curitiba, Ajir Artes Grficas e Editora Ltda., 2009
Com este termo, entendemos todo o conjunto de regras e padres que tomam como norte que a
heterossexualidade a nica orientao sexual que deve existir. Que na ordem dos corpos, o biologicamente
masculino deve direcionar-se, somente, ao feminino e vice e versa.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
257
APP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAO PBLICA DO PARAN. GNERO E
DIVERSIDADE SEXUAL. Cadernos APP-Sindicato. World Laser. Curitiba. Caderno 02: Curso
de Extenso em Gnero, Diversidade Sexual e Igualdade Racial. 2011.
LOURO, G. L. Um Corpo Estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte:
Autntica, 2008.
NOVAES, C. E.; LOBO, C. Sexo para Iniciantes. So Paulo: Editora tica, 1996.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
SEXUALIDADE: infncia, famlia e a escola
Keli Andra Vargas Paterno1
Vernica Regina Mller2
1. INTRODUO
Nos constitumos sujeitos a partir da vivncia histrica que experenciamos. Nessa
construo histrica sofremos influncias que gradativamente tendem a incorporar no
cotidiano. Uma mudana perceptvel se d no mbito do pblico e do privado que provoca
uma (con)fuso na contemporaneidade.
A Modernidade tratou de instituir a casa como lugar para o mbito privado, porm a
contemporaneidade, sob grande influncia das tecnologias, tem misturado esses mundos e a
criana/sujeito pode confundir, pois muito do que pblico adentra a casa e diversos
contedos, que seriam prprios da vida privada, foram exteriorizados.
A exteriorizao da intimidade, do privado, daquilo que seria guardado para si, por
meio das diversas mdias provoca a cultura do consumo e acelera a infncia de muitas
crianas e provocam, assim uma adultizao precoce. A erotizao do mundo adulto adentra
o mundo infantil. H ento, uma banalizao do sexo, uma disciplinarizao ao consumo. Os
corpos se tornam objeto de desejo material. Apresentam valor de mercado neoliberal.
Ou seja, o que a mentalidade da poca Moderna reservou para a intimidade do
adulto, agora est sendo exposto publicamente para os sujeitos de diversas faixas etrias,
com um interesse superior do comrcio sobre o interesse da educao infantil.
Pgina
258
Graduada em Licenciatura Plena em Superviso Escolar e ps-graduao em Educao Infantil pela UNIPAR
Cascavel e Fundamentos Filosficos pela UNIOESTE Toledo. Mestre em Educao pela UEM. Atualmente
professora do Ensino Fundamental, Sries Iniciais, da rede municipal, da cidade de Cascavel Pr. E-mail:
kelipatt@yahoo.com.br.
2
Graduada em Licenciatura Plena: Educao Fsica pela Universidade Federal de Santa Maria (1982), mestrado
em Mtodos e Tcnicas de Ensino pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro (1986), doutorado
em Histria da Educao Social Contempornea - Universidad de Barcelona (1996) e ps-doutorado, na
mesma rea e Universidade (2000). Atualmente professora titular da Universidade Estadual de Maring.
E-mail: veremuller@gmail.com.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A sociedade atual aparenta reavivar uma alterao da cultura do ntimo/privado,
para ntimo/pblico, pois, quando circulamos em lugares comuns, onde os diversos sujeitos
trafegam, podemos encontrar imagens com teor ertico em vrios dispositivos miditicos e
de outros meios de divulgao que associam a sexualidade a um produto.
Agora invertia-se tambm a definio de pblico, transformado em territrio onde so
exibidos os assuntos particulares e bens pessoais e o fato de ningum poder
razoavelmente alegar que eles afetem seus interesses privados ou bem-estar individual
foi declarado irrelevante para a questo de tal exibio. Verdade, a exibio foi declarada
como de interesse pblico mas, alm disso, o significado de interesse tambm
passou por uma mudana essencial, sendo agora reduzido ao de curiosidade e
interesse em matar essa curiosidade. Tornar pblico o que quer que desperte ou possa
despertar curiosidade virou cerne da ideia de uma coisa ser do interesse pblico. E
cuidar de exibir de forma atraente o que se divulga de modo a despertar curiosidade
virou a principal medida do bom servio ao interesse pblico. (BAUMAN, 2000, p. 71
grifos do autor).
O que de interesse pblico deve ser decidido por uma posio tica: o que de
interesse pblico precisa ser educativo para todos os sujeitos. Educativo em que sentido? No
sentido mais profundo da evoluo civilizatria, isto , deve existir respeito em plenitude aos
sujeitos em relao com o mundo. Ter clareza da nossa responsabilidade em influenciar as
pessoas no tempo presente e as geraes futuras. Evitar a pedagogizao da educao no
sentido rude, arcaico, de castrao, pois a escola luta para se desfazer de velhos hbitos.
A edificao da escola muitas vezes ainda contribui como aparelho de vigia, uma vez
que fora construda funcionalmente para esse fim, e ainda tem produzido olhares
disciplinarizantes, pois,
[...] a disciplina, ao sancionar os atos com exatido, avalia os indivduos com verdade;
a penalidade que ela pe em execuo se integra no ciclo de conhecimento dos
indivduos.
Pgina
259
[...] exercer sobre eles uma presso constante, para que se submetam todos ao mesmo
modelo, para que sejam obrigados todos juntos subordinao, docilidade, ateno
nos estudos e nos exerccios, e exata prtica dos deveres e de todas as partes da
disciplina. Para que, todos, se paream. [...] a penalidade perptua que atravessa todos
os pontos e controla todos os instantes das instituies disciplinares compara, diferencia,
hierarquiza, homogeiniza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza (FOUCAULT, 36 ed.
2009, p. 175-176 grifos do autor).
No s a escola ou as instituies tendem a disciplinarizar os corpos infantis ou a
construir normalizaes, mas a famlia tambm contribui, quando recebe, apropria e
transmite as mensagens com tendncia doutrinadora. O cotidiano, em todas as suas
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
abrangentes manifestaes e composies, constri ideias, desejos e comportamentos
normalizadores, que so instaurados sutilmente devido sua constncia na vida da criana e
na dos demais sujeitos.
O acesso diversidade de informao e de conhecimento no entendido aqui,
como algo negativo. Ao contrrio. Muito se cresceu em conhecimento, tambm por meio da
globalizao, porm comeamos a presenciar alguns retrocessos quando os sujeitos so
esquecidos, entendidos como objetos, quando as crianas so erotizadas ou se tornam
invisveis perante a sociedade, conforme alerta Sarmento (2007, p. 37), quando estas so
privadas do exerccio de direitos polticos por serem ignoradas como atores sociais,
consideradas inaptas, incapazes. Muitas empresas no se importam em mostrar cenas que
incitem o ato sexual em vias pblicas ou em lev-las para dentro das casas dos sujeitos nos
mais variados horrios, pois para elas o importante produzir desejos nos corpos adultos e
infantis, sem a preocupao se adequado para a criana ser estimulada precocemente,
tanto ao consumo como s prticas sexuais.
2. DIFERENTES INFNCIAS E O CONTROLE DOS CORPOS
necessrio buscar o entendimento da dinmica dos conceitos que transitam da
Idade Mdia para a Modernidade, at a contemporaneidade de infncias relativas a
pocas diferentes, que buscam apresentar como a criana urbana se constitui na atualidade
e comentar sobre a instituio de um controle dos corpos em relao sexualidade adulta.
no tempo atual que ocorrem as confrontaes com a erotizao3 precoce. Plato,
em conformidade com a edio de 2004 (p. 69-70), relaciona o sexo ao amor e:
Pgina
260
[...] evidente que o amor desejo. Sabemos, porm que os que no amam tambm
desejam os objetos que so belos. [...] em cada um de ns h dois princpios que nos
governam e conduzem, e ns os seguimos para onde nos levam: um o desejo inato do
prazer, outro a opinio que pretende obter o que melhor. Essas duas tendncias que
existem dentro de ns concordam por vezes, em outras entram em conflito, por vezes
vence uma e por vezes a outra. Ora, quando a tendncia que se inspira na razo a que
vence, conduzindo-nos ao que melhor, 238 chama-se a isso de temperana; quando,
pelo contrrio, o desejo nos arrasta sem deliberao para os prazeres, e ele que
3
A palavra erotizao deriva da palavra ertico: adj. relativo ao amor, sensual, lascivo XVI. Do lat. Erticus,
deriv. Do gr. Ertiks / erotismo 1881. Do fr. rotisme / erotoFOB.IA XX / erotoMAN.IA / 1844, erotimania 1873
/ Cp. Gr. Ertomania / erotoMAn.ACO 1899 / erotMANO 1899(CUNHA. A. G. Dicionrio etimolgico Nova
Fronteira da lngua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997). Ertico (e.r.ti.co) adj. 1. Relativo a
erotismo. 2. Que desperta ou produz o desejo sexual: fantasia ertica (Dicionrio Escolar da Lngua Portuguesa
Academia Brasileira de Letras. 2. ed. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
predomina em ns, isso se chama intemperana. [...] Quando o desejo no dirigido pela
razo, esmaga em nossa alma o desejo do bem e s dirige exclusivamente para o prazer
que a beleza promete, e quando ele se lana, com toda a fora que os desejos
intemperantes possuem, o seu poder irresistvel. Esta fora todo-poderosa, irresistvel,
chama-se Eros ou Amor (grifos do autor).
Ento, a partir dessa citao, poderamos relacionar o erotismo com o amor, se no
houvesse na contemporaneidade a forte incidncia mercadolgica que afeta esses
conceitos, inclusive o de infncia.
A infncia um conceito criado pelo adulto (MLLER, 2007) e continua a influenciar a
vida das crianas, quando os mais velhos querem ditar, determinar muitas aes no mundo
infantil e praticamente deixar a criana prxima de ser uma personagem e no sujeito da sua
histria.
Os caminhos que os sujeitos percorrem para deixar a infncia so compostos por
determinantes culturais prprias, como: etnia, gnero, as posies sociais e de cultura que
cada criana integra, como escreve Sarmento (2002, p. 12) e, por ser uma construo
histrica e social, precisamos contribuir para que a criana tenha o direito de viver e de ter
uma infncia menos objetivada. Quando falamos em infncia, comum que relacionemos a
palavra com a criana, acrescida da imagem de inocncia, onde a imaginao e o brincar
podem ser considerados como caractersticas dessa categoria (MLLER, 2007).
Os estudos de Aris (1981) foram sobre a famlia e a criana da Frana. Apesar de sua
obra sofrer algumas crticas4 em virtude de ele ter realizado anlise pictrica, o conjunto da
obra trouxe outras possibilidades de entendimento da infncia, considerando mentalidades
de poca sobre a criana e a infncia.
No sculo XVII, como apresenta o autor (1981, p. 70), a chamada criana de boa
famlia (nobre ou burguesa) comea a ser diferenciada dos adultos e uma mudana
perceptvel se deu nas roupas dessa gerao. Ela no mais igualada, pois [...] agora ela
tinha um traje reservado sua idade, que a distinguia dos adultos. Essa diferenciao no
Pgina
261
chegava s meninas, que ainda mantinham as mesmas vestes, semelhantes s das adultas.
Se nos limitarmos ao testemunho fornecido pelo traje, concluiremos que a
particularizao da infncia durante muito tempo se restringiu aos meninos. O que
certo que isso aconteceu apenas nas famlias burguesas ou nobres. As crianas do povo,
4
Mller (2007, p. 25, grifos da autora), traz que, [...] para conhecer as crticas que se fazem a Philippe Aris
sobre a sua histria da infncia, ler a exaustiva e admirvel Dissertao de Mestrado de SANTOS, Benedito
Rodrigues dos. A emergncia da concepo moderna da infncia e adolescncia. So Paulo: PUC-SP, 1996.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
os filhos dos camponeses e dos artesos, as crianas que brincavam nas praas das
aldeias, nas ruas das cidades ou nas cozinhas das casas continuaram a usar o mesmo
traje dos adultos. (ARIS, 1981, p. 81).
Percebemos a importncia dada ao gnero masculino e nobre, pois foi o primeiro a
ser contemplado com o direito a essa infncia. Vestes diferenciadas, educao privilegiada,
que primava pelo desenvolvimento intelectual, enquanto que meninas e crianas em
desvantagem social permaneceram por mais algum tempo na condio de indiferena.
[...] se por um lado existem alguns indcios da dominao sexual masculina,
particularmente em um nvel simblico, por outro h tambm amplos sinais de que nas
primeiras sociedades as mulheres eram participantes ativas na sexualidade e detinham o
prprio poder de barganha. [...] Nas primeiras sociedades humanas, a sexualidade era
diferente do que viria a se tornar nos dias atuais; [...] A arte primitiva [...]
frequentemente retratava formas femininas. Arquelogos encontraram estatuetas de
Vnus, a deusa do amor, de grupos da Era do Gelo e imediatamente posteriores. Elas
tendem a ser bastante passivas e, em geral desprovidas de rosto - [...] So tambm
bastante gordas, e supe-se que essa obesidade era vista como atributo ertico, porque
significava boa sade e capacidade de ter filhos. As roupas femininas tambm
salientavam aspectos sexuais, exibindo seios ou decotes e s vezes com fendas deixavam
mostra os pelos pubianos. (STERNS, 2010, p. 21-23).
Se a sociedade primitiva de base agrcola desfrutava de certa liberdade sexual, a
civilizao mediterrnea clssica, precisamente na Grcia e em Roma, gera novos costumes
relativos sexualidade de controle ou liberao basicamente centrada no sexo da
mulher. Para as pocas subsequentes, o referido autor conta que a mulher, do perodo
agrcola, est envolta por um poder de seduo que precisa de conteno. Ento, a
sociedade Moderna, com diversas aspiraes, inclusive a de certa dominao por
dispositivos religiosos, decide conter os desejos sexuais femininos, pois Sterns (2010, p. 55)
conta que
[...] na cultura Grega, as mulheres ocupavam posio de considervel desrespeito e eram
vistas como criaturas libertinas e imorais por natureza, portanto, necessitando de
controle externo pois a mulher ideal deveria enfatizar a castidade e a devoo
maternidade. As mulheres respeitveis eram ostensivamente vestidas e cobertas [...]
O controle da sexualidade, do erotismo, tambm comea a se dar pelas roupas, pois,
Pgina
262
a partir da Modernidade, as vestes no serviram apenas para diferenciar as crianas dos
adultos, mas para cobrir o corpo e esconder as partes ntimas, ou seja, criam-se esteretipos
para designar, qualificar ou desqualificar condutas femininas no sentido de caracterizar sua
ndole.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A construo de uma imagem diferente do feminino comeava a ser delineada
contrria quela entendida como devassa ou irreverente e foi caracterizada, tambm,
conforme o uso das roupas. Uma mulher considerada sria e de famlia se destacava, alm
do comportamento recatado, pelos modelos e tecidos das roupas que usava. As mais
despojadas, com comportamento mais liberto e que insistiam em utilizar vestes com
decotes, fendas nas saias, etc., estavam sob o rtulo de prostitutas ou mulheres de pouco
respeito, como bem menciona Stearns (2010).
Boa parte desses comportamentos indica que, geralmente, as garotas so educadas
para a vida em famlia, para uma vida de privaes. O prazer feminino entendido como
inadequado para as meninas, porm os meninos, em geral, so desde cedo instigados a
procurar a satisfao sexual com elas. A pessoa do sexo feminino aprende precocemente a
restringir sua sexualidade e a viver uma vida de pudor e conteno, basicamente distante do
prazer, principalmente o sexual.
No sculo XVIII, na Europa, havia muita nfase s questes relativas ao pudor e foram
tomadas vrias medidas
[...] referentes ao vesturio e s roupas ntimas, ao comprimento das saias, das mangas e
das meias; a forma do busto, aos decotes, largura das coxas, dos quadris, textura dos
tecidos; em suma, cada tipo de roupa passou a ter seus pequenos tabus (e, ao mesmo
tempo, sua possibilidade de seduo). A roupa masculina tambm foi regulamentada,
embora em menor escala (USSEL, 1980, p. 83-84).
A preocupao, a partir da Modernidade, era de conter as expresses sexuais.
Foucault (1988) menciona que uma tcnica de poder utilizada foi a educao como forma de
pedagogizar o sexo, criando assim uma educao antissexual, segundo a qual cabia aos
sujeitos seguir as regras sem questionar, pois, nessa viso, se fazia necessrio implantar
aes para conter o erotismo e as prticas de seduo na busca por uma sociedade mais
regrada e voltada ao trabalho.
A forte incidncia das doenas sexualmente transmissveis contribuiu para uma
organizao diferente do pensamento e das aes sexuais, a ponto de micropoderes,
Pgina
263
unirem-se contra o onanismo e o ato sexual em si como busca pelo prazer, por o
considerarem um desperdcio de energia. Ento, acreditavam em uma educao puritana,
para disciplinarizar a criana com comportamentos de conteno do desejo sexual, do no
ao sexo, para dessa maneira haver um maior e melhor controle dos corpos. Controlar os
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
desejos sexuais mesmo que entendidos como algo natural do ser humano de crianas,
jovens e adultos, passa a ser um dos principais argumentos do clero e dessa sociedade do
controle.
A Modernidade traz relevantes mudanas que influenciaro nos conceitos de
infncia, da sua sexualidade e redirecionaro um lugar para a criana na sociedade liberal.
Passa a existir a ideia de infncia como um momento da vida que precisa de cuidados
e de um lugar onde as coisas prprias da infncia aconteam (ARIS, 1981). O local onde a
famlia estiver e cabe a ela a responsabilidade de zelar pelas crianas, porm a prpria
famlia, comumente, est sob superviso dos olhares da sociedade.
Atualmente as crianas participam de muitas atividades do mundo adulto, sendo boa
parte influenciadas pela sociedade de consumo e pelo fato dos pais ou responsveis
incentivarem essa prtica ao adquirirem os produtos que esto em evidncia no mercado.
As influncias mercadolgicas tendem a erotizar e a provocar comportamentos de
sensualidade e de virilidade nas crianas, pois elas tendem a usar roupas e produtos da
moda adulta. Algumas meninas usam maquiagem, pintam as unhas, procuram uma
aparncia mais velha, como das mulheres, e uma parte dos meninos, estimulados pelo
exemplo de masculinidade que lhes apresentado, ensaiam sua agressividade, por meio de
jogos e de atividades de lutas ou outras que promovem a diminuio da distncia existente
entre os dois mundos.
A cultura da infncia se desenvolve e se transforma, transcende conceitos quando as
influncias do mundo adulto e econmico focalizam no infantil seus objetivos ou ainda
quando o prprio mundo infantil se funde com outra cultura desse mundo das crianas. Um
exemplo est na brincadeira da criana, quando compartilha momentos ldicos,
independente de etnia (MLLER, 2007). So culturas diferentes que, partilhadas, podero
ser incorporadas pelos integrantes.
A autora nos brinda com uma passagem sobre a histria das crianas no Brasil: do
sculo XVI ao XIX, que demonstra que, para as crianas, o que importava era o brincar entre
Pgina
264
amigos, porm
[...] as vidas dos(as) sinhozinhos(as), dos(as) curumins e dos(as) moleques(cas) coincidem em
alguns momentos e se diferenciam bastante em outros. Os pequeninos podiam conviver
todos praticamente juntos, mas aos 7 anos os destinos concretamente se distanciavam. Os
brancos iam estudar e os negros, trabalhar. As crianas foram separadas de seus amigos em
funo de sua origem [...]. (MLLER, 2007, p. 110).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A infncia de algumas crianas, em meados do sculo XIX, com a mesma idade, sem a
separao por cor ou classe social, se apresentava diferente apesar de compartilharem o
mesmo lugar e de, muitas vezes, brincarem juntas. Podemos encontrar infncias desiguais
em um mesmo tempo ou aspectos iguais em pocas diferentes (MLLER; MORELLI, 2001).
Por exemplo, em um bairro pobre, da atualidade, a criana pode ser pressionada por
adultos traficantes a comercializar droga sob ameaa de morte. Se ela no o fizer, coisas
ruins acontecero sua famlia. A coao exercida sobre a criana nos remete Idade
Mdia, pr-modernidade, quando castigar o corpo e a mente se justifica para atingir
determinado objetivo.
Ento temos a mesma infncia, de crianas compelidas a fazerem algo contra a
vontade em virtude de ameaas nada sutis, exercidas em tempos diferentes. Apesar de toda
construo histrica e cultural que objetive garantir direitos criana cidad5, vivenciamos
atos impelidos por novos brbaros, pessoas que utilizam a brutalidade intelectual ou fsica
, se desprendem, de certa maneira, da humanidade e oprimem seus iguais quando ditam
modelos no intuito de moldar comportamentos em uma sociedade vida pelo desejo de
satisfao, de felicidade, de liberdade, preferencialmente descompromissada com o
coletivo.
A busca pela integralidade da liberdade chega a ser utpica, pois o que dispomos so
nveis de liberdade, que deveriam ser praticadas por sujeitos comprometidos com a
coletividade social. Bauman (2000) traz tona questes pertinentes a se usufruir de uma
liberdade com responsabilidade social, em que os sujeitos precisam agir pelo bem comum,
pela coletividade, uma vez que so agentes provocadores de padres sociais.
Um dos modelos atuais tem a erotizao dos corpos e o sujeito (adulto ou infantil),
como produto. Os mais velhos esto imersos em estruturas onde o ser humano, coisificado,
pode produzir e reproduzir valores, conceitos, que, por sua vez, tendem a influenciar o
mundo infantil.
O adulto pode provocar condutas na vida das crianas, quando cita que no Brasil, em
Pgina
265
meados do sculo XIX, logo que a criana deixa o bero (menino branco, sinhozinho)
(FREYRE, 2004, p. 419, grifos do autor),
Criana cidad: partimos do conceito de que um sujeito em desenvolvimento e de direitos, isso de acordo
com o Estatuto da Criana e do Adolescente (Lei Federal n 8.069/1990).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
[...] do-lhe um escravo do seu sexo e de sua idade, pouco mais ou menos, por camarada,
ou antes, para seus brinquedos. Crescem juntos e o escravo torna-se um objeto sobre o
qual o menino exerce seus caprichos; [...] No havia casa onde no existisse um ou mais
moleques, um ou mais curumins, vtimas consagradas aos caprichos de nhonh, escreve
Jos Verssimo, recordando os tempos da escravido. Eram-lhe o cavalo, o levapancadas, os amigos, os companheiros, os criados. Lembra-nos Jlio Belo o melhor
brinquedo dos meninos de engenho de outrora: montar a cavalo em carneiros; mas na
falta de carneiros, moleques.
As crianas citadas aprendiam seus lugares e aquela nascida em uma famlia de
posses incorporava a liderana. Os outros sujeitos, menos favorecidos, como os escravos,
eram educados obedincia, servido, submisso. Insere-se uma mentalidade na qual o
poder maior se localiza onde as posses se manifestam.
As crianas, imersas em outras culturas (negra, indgena, japonesa...), certamente
apresentam caractersticas especficas que se diferenciam entre si. Por isso no h como
considerar apenas um conceito de infncia (MLLER, 2007; DORNELLES, 2008). Ela no est
engessada, formatada a um nico entendimento conceitual. H a necessidade de se
considerar a diversidade cultural, pois se uma criana reside no centro da cidade e outra em
um bairro mais afastado, certamente as infncias no sero as mesmas, dado que a
convivncia com o meio no qual esto imersas apresenta diferenas que influenciam suas
vidas.
Dornelles (2008, p. 82) caracteriza uma outra infncia, a cyber-infncia, aquela
criana que faz uso de vrias tecnologias. de
[...] domnio dos cyber-infantes, o acesso pela Internet da msicas que so transformadas
em arquivos sonoros de MP3. Os cyber instalam em seus computadores um programa de
compartilhamento de arquivos como o Kazaa, arquivos que podem ser compartilhados
entre os internautas que esto conectados entre si. [...] Tambm a Internet disponibiliza
aos cyber-infantes vrios sites que oferecem para download obras inteiras em verso
PDF, a exemplo dos livros de Harry Potter. [...] As crianas-cyber [...] podem entrar num
chat ou salas de conversas com os amigos que esto a quilmetros de distncia. [...]
Desse modo, fazendo uso destas possibilidades vistuais interativas que os cyberinfantes encontram novos modos de se socializar e se produzir como sujeitos infantis
hoje. (Idem, 2008, p. 84-86 grifos da autora).
Reconhecer a pluralidade cultural permitir uma linguagem mais aproximada da
Pgina
266
categoria infantil. No se trata de ordenar uma nova infncia, mas permitir sua expresso
sem as modificaes e unificaes impostas pelos adultos (TOMS, 2006).
Compartilhamos da ideia de Toms (2004, p. 5) sobre o universo das crianas, bem
como da necessidade de reconhecer o cosmopolitismo infantil, que, segundo ela, so todas
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
as formas de intensificao de aces (solidariedade global), contra a opresso, a
explorao, contra as situaes de poder desigual , que vise reduzir as distncias
geogrficas e conceituais.
Entenda-se aqui que as diferenas s quais fazemos oposio so as desigualdades
econmicas e sociais, geradas pela sociedade neoliberal e capitalista, pois, paradoxalmente,
reivindicamos uma unidade que respeite o sujeito enquanto ser humano, no entendimento
de questes bsicas que so prprias da infncia de qualquer lugar, a saber: que a criana
seja sempre entendida como um sujeito da educao (MLLER, 2007, p. 137).
Atualmente boa parte dos contedos (cursos de informtica, ingls, natao, futebol,
hora de brincar, etc.), dos espaos (casa, escola, lugares para diverso, etc.) e dos tempos
escolhidos para as crianas so permeados pelas escolhas dos adultos e no h garantias de
que essas escolhas sejam as melhores para a vida da criana.
A interao, dos sujeitos infantis, com a diversidade de contedos adultos pode
interferir e acelerar o abandono da categoria geracional denominada por infncia, quando a
criana comea a se identificar mais com as coisas dos adultos do que com os seus iguais e
gradativamente assume pertencer a outro grupo de indivduos.
As relaes com as roupas da mulher ou do homem so relevantes para compor o
pensamento sobre a erotizao precoce da atualidade, pois muitas crianas j assumem
trejeitos adultos, bem como uma relao com o sexo e uma sexualidade-objeto para cuja
administrao elas ainda no esto, nem fsica nem cognitivamente, preparadas.
3. A
SOCIEDADE
CONTEMPORNEA:
EDUCAO
FAMILIAR
CRIANA
CONSUMIDORA
Os empresrios sabem que os pais ou responsveis tendem, em momentos, a ceder
aos pedidos das crianas e apostam nessa nova gerao de consumidores, de consumidores
mirins, se assim se pode denomin-los.
A inaptido infantil no sentido monetrio no impede que a criana utilize de suas
Pgina
267
habilidades para a obteno da realizao do desejo criado a est um dos focos da
indstria do prazer , pois a criana instiga e barganha com os adultos para que esses
satisfaam suas vontades ou os caprichos implantados pelos dispositivos neoliberais, em
uma sociedade voltada comercializao e explorao dos corpos.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
As figuras femininas, sedutoras, com corpos desnudos ou quase, esto postas para
atrair a ateno da sociedade do consumo. O homem, com seus msculos suntuosos e
insinuantes, apresenta o ser msculo como smbolo de poder. A semitica envolvida
desperta desejos e necessidades, dos quais nem as crianas esto isentas principalmente
quando se identificam com a modelo, o ator, o grupo musical.
As mdias que divulgam os nichos comerciais, aliadas a propagandas que aguam os
sentidos de adultos e de crianas, visam um fim, o produto comercializvel, vendvel,
independente do pblico adulto, infantil, feminino, masculino, alternativos a que se
destina. Provavelmente o objetivo seja para aqueles que consigam pagar o preo cobrado.
Pelas trilhas do consumo, povoam o campo da subjetividade que cria desejos, necessidades
at ento inexistentes e encaminham as crianas para o consumismo e impulsionam uma
teologia de consumo que promete a satisfao por meio desse ato (STEINBERG;
KINCHELOE, 2004).
Christo (Frei Betto) (2001, p. 1) escreve um artigo intitulado Religio do consumo,
onde tece uma concisa crtica ao consumismo desenfreado que assola nossa sociedade.
Argumenta que o poder est na aparncia, nas marcas como uma nova religio e cita um
exemplo
[...] se chego casa de um amigo de nibus, meu valor inferior ao de quem chega de
BMW. Isso vale para a camisa que visto ou para o relgio que trago no pulso. No sou eu,
pessoa humana, que fao uso do objeto. o produto, revestido de fetiche, que me
imprime valor, aumentando a minha cotao no mercado das relaes sociais.
Na atualidade, o universo infantil foi invadido pelas diversas mdias por produtos
inspirados, principalmente, em programas e em filmes infantis ou adultos. A diversidade de
artigos chega a impressionar. So roupas, brinquedos, materiais escolares, livros e outros.
Para exemplificar como as crianas so influenciadas pelo mercado dos desejos,
relatamos a observao feita a partir dos usos dos materiais escolares das mesmas:
aproximadamente 90% das meninas apresentavam algum material cor de rosa e com
motivos da moda com imagens de adolescentes ou de mulheres sensuais, ou motivos
Pgina
268
relacionados paixo, ao amor, ao namoro. Os meninos, por sua vez, portavam cadernos
com figuras relacionadas aventura, virilidade.
Em conversa informal com um profissional de uma livraria sobre os materiais
escolares que as crianas mais procuram, soubemos que a diferena de escolhas est no
gnero.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Embora biologicamente fundamentado, o gnero uma categoria relacional que aponta
papis e relaes socialmente construdas entre homens e mulheres. Nas palavras de
Simone de Beauvoir, no se nasce mulher, torna-se mulher. Tornar-se mulher, mas
tornar-se homem tambm, so processos de aprendizado nascidos de padres sociais
estabelecidos, que so reforados atravs de normas, mas tambm atravs da coero e
so modificados no tempo, refletindo as mudanas na estrutura normativa e de poder
dos sistemas sociais. Assim, neste relatrio, gnero refere-se aos aspectos da vida social
que so vivenciados diferentemente porque homens e mulheres tm papis diferentes
que lhes so designados. Estes resultam em: homens e mulheres manifestam
preferncias, interesses e prioridades diferentemente; desigualdades e diferenas
baseiam-se em ser masculino ou feminino; homens e mulheres enfrentam
oportunidades, obstculos e desafios diferentes; homens e mulheres so afetados
diferentemente por e contribuem de modos diferente para o desenvolvimento social e
econmico. (PENA; PITANGUY, 2003, p. 37).
A educao formal (colgios, escolas, instituies de ensino superior e outras) da
contemporaneidade ainda enfatiza as questes de gnero principalmente quando se trata
das meninas. Moreira (2006) realizou um estudo sobre as questes de gnero e de
sexualidade, relacionadas com a sala de aula, com a prtica docente e ficam explcitas as
diferenas de comportamento dos/as professores/as em relao s meninas e aos meninos.
A relao da sexualidade para com os meninos tida, quase como inerente, ou seja, normal,
porm, quando se trata de meninas, o tratamento difere, pois ainda h um imaginrio
ertico associado ao sexo feminino e entendem que esse comportamento, ou essa
precocidade sexual, em adolescentes, precisa de redirecionamento.
O gnero, portanto, continua a ser a principal referncia para as formas de restrio
impostas orientao da vida sexual, pois estas formas de preocupao no se revelam
quando se trata de casos que envolvem os homens. Sobre essa prtica, continua
imperando um imaginrio em que, por um lado, existiria uma sexualidade ativa, inscrita,
por natureza, no corpo dos homens, e, por outro lado, a suposio de que os corpos
femininos trazem inscritos tanto a passividade sexual, como tambm, um fogo sexual e
ertico latente que pode explodir com qualquer descuido. (idem, p. 4).
Ento, a construo da identidade sexual se d desde muito cedo, inclusive pela
diversidade de determinados estmulos (cores, roupas, brinquedos, jogos, grupos tnicos,
etc.), como o caso das representaes dos materiais escolares.
A atendente da papelaria disse que as meninas se encantam com as cores vivas e
Pgina
269
brilhantes, sem realizar distino de valor econmico. Os meninos so mais decididos,
querem cadernos que, por exemplo, tenham conotao de aventura, que expressem
determinao e mostrem virilidade. As marcas mais procuradas pelos garotos so: Red Nose
e Dog Patrol, marcas com valores monetrios expressivos. As garotas selecionam as marcas
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Capricho, Coca-Cola, Planet Girls, Menininhas e outras que tenham, preferencialmente,
muitas cores, brilho ou cor rosa. Assim, o gnero vai se constituindo, gradativamente
incorpora aspectos que definem o que aconselhvel para cada sexo e o que pode ser
partilhado por ambos os sexos, sem causar estranheza.
Meyer (2008) argumenta que no nascemos homens ou mulheres, mas que nos
tornamos mulheres e homens conforme os processos culturais acontecem e escreve que
[...] o conceito de gnero prope, [...] um afastamento de anlises que repousam sobre
uma ideia reduzida de papis/funes de mulher e de homem, para aproximar-nos de
uma abordagem muito mais ampla que considera que as instituies sociais, os smbolos,
as normas, os conhecimentos, as leis, as doutrinas e as polticas de uma sociedade so
constitudas e atravessadas por representaes e pressupostos de feminino e de
masculino ao mesmo tempo em que esto certamente implicadas com sua produo,
manuteno ou ressignificao. (Idem, p. 18).
Pressupomos, ento, que o gnero deve ultrapassar as limitaes atuais que servem
para classificar, categorizar os sexos, o que ainda no acontece. O material escolar analisado
evidencia determinados conceitos subliminares, geralmente caracterizados pelo gnero, pois
as meninas recebem estmulos de modelos que refletem docilidade, sensualidade, seduo
e, tambm, submisso, um caminho de constantes aceitaes e de poucos enfrentamentos,
caractersticas consideradas predominantemente femininas. Os meninos adquirem um
preparo para o comando, o determinante, o detentor de poderes.
Entre meio est instituio denominada famlia que encontra rduas batalhas para
educar seus filhos. Por vezes so acometidos pelo sentimento da dvida, da incerteza.
Sentem-se perdidos por no saberem se aquela atitude a mais coerente. A dificuldade
aumenta quando o assunto sexualidade.
Os adultos, ainda, encontram resistncia e constrangimento para falar de sexo com
os sujeitos em formao, principalmente se for filho/a. A situao amenizada se a conversa
for de carter heterossexual, porm quando a criana manifesta sua orientao sexual
diferente daquela esperada por seus responsveis, surgem muitos conflitos. So poucas as
famlias que conseguem lidar naturalmente com a homossexualidade e uma maneira para
Pgina
270
atenuar os enfrentamentos estabelecer discusses acerca dos assuntos que permeiam a
sexualidade dos sujeitos.
4. O ENCONTRO: ESCOLA E FAMLIA
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Nas discusses realizadas no mbito escolar, percebemos o quanto a sexualidade
instiga a curiosidade e o interesse humano. Foram proporcionados encontros no decorrer de
um ano para tratar temas relacionados onde as pessoas expressaram suas dvidas e
angstias.
Percebe-se um temor, por parte dos adultos, em errar na educao das crianas. A
pergunta corriqueira foi: o que e como fazer? No existem frmulas perfeitas e comuns aos
sujeitos. O que se tem so possibilidades que funcionam ou no, em respeito com a
experincia de cada sujeito.
Alertamos os responsveis para o fato das crianas terem acesso desassistido a vrias
questes pertinentes aos adultos. Exemplo disso so os programas de televiso em horrios
noturnos, onde a programao destinada a pessoas maiores.
As crianas aplicam ento, boa parte de seu tempo em frente televiso. Aos games,
ao computador (internet). Nos trajetos pblicos se deparam com vrios dispositivos
erotizantes como outdoors, panfletos, capas de revistas e outros que colaboram com a
formao para o consumo.
Esse contato tende a influenciar nos hbitos cotidianos evidenciados nas vestes, na
diversidade de aparelhos eletrnicos que os/as pequenos/as possuem, no material escolar,
nas msicas que ouvem, na maneira como se portam.
Podemos dizer que a linha tnue que separava a vida privada da pblica est
rompida, pois quando recebemos informaes do mundo exterior dentro de nossas casas,
seja pela televiso ou pela internet, compartilhamos at intimidades com quem ali estiver,
adultos ou no.
Os responsveis que participaram das discusses saram instigados, incomodados
com a naturalizao dos comportamentos erotizantes e propcios ao consumo.
Demonstraram preocupao e que a partir dessa troca de experincia, mudariam alguns
hbitos.
Um assunto, ainda, no bem compreendido e aceito por alguns adultos so as
Pgina
271
questes que envolvem a orientao sexual. Esse demandar mais estudos e mais
parcimnia de todos os envolvidos.
O mbito da educao deve empenhar-se no ensino de contedos e de formas de
consolidar a formao das pessoas para um mundo justo, solidrio e que mantenha a utopia
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
de sempre existir a possibilidade de se chegar, com a participao de todos, a um lugar
melhor, ou seja, a graus maiores dessas conquistas.
Fica claro a necessidade de criarmos redes de contraposio erotizao precoce
como hegemnica e da disciplinarizao ao consumo que promove uma possvel coisificao
do ser humano e evitar a normalizao do individualismo. preciso respeitar a
individualidade na coletividade sem ferir o direito de cada um ser como .
Pgina
272
5. REFERNCIAS
ARIS, P. Histria social da criana e da famlia. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
BAUMAN, Z. Em busca da poltica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.
CHRISTO, C. A. L. (Frei Betto). Religio do consumo. Artigo publicado no Jornal de Cincia e
F em abril de 2001, ano 2, n 29. Disponvel em: <http://www.cien
ciaefe.org.br/jornal/arquivo/betto/relig.htm>.
DORNELLES, L. V. Infncias que nos escapam: da criana na rua criana cyber. 2. ed.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2008.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 36. ed. Petrpolis, RJ: Vozes, 2009.
_______. Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Edies Graal, 1979.
_______. Nascimento da biopoltica. Curso dado no Collge de France (1978-1979).
Traduo Eduardo Brando. So Paulo: Martins Fontes, 2008.
_______. Histria da sexualidade II: o uso dos prazeres. Traduo Maria Tereza da Costa
Albuquerque. Reviso tcnica Jos Augusto Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edies
Graal, 1984.
FREYRE, G. Casa-grande & senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 49. ed. So Paulo: Global, 2004.
MOREIRA. M. F. S. Tenses e diferenas na sala de aula: prticas docentes, gnero e
sexualidade. In: Seminrio internacional Fazendo Gnero 7 eixo temtico: ST07 A Gnero e sexualidade nas prticas escolares, Florianpolis, SC, 2006. Disponvel em:
<http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/M/Maria_
de_Fatima_Salum_Moreira_07_A.pdf>.
MLLER, V. R. Histria de crianas e infncias registros, narrativas e vida privada.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2007.
__________. MORELLI. J. A. (Org.). Criana e adolescente: a arte de sobreviver. Maring:
Eduem, 2001.
PENA. M. V. J.; PITANGUY. J. A questo de gnero no Brasil. Rio de Janeiro: Grfica Imprinta,
2003.
PLATO. Fedro. So Paulo: Martin Claret, 2004.
SARMENTO, M. J. Visibilidade social e estudo da infncia. In: VASCONCELLOS, V. M. R.;
SARMENTO. M. J. (Org.). Infncia (in)visvel. Araraquara, SP: Junqueira&Marin, 2007.
_______. Crianas: educao, culturas e cidadania activa. Refletindo em torno de uma
proposta de trabalho. PERSPECTIVA, Florianpolis, v. 23, n. 01, p. 17-40, jan./jul., 2005.
Disponvel em: <http://www.ced.ufsc.br/nucleos/nup/perspectiva. html>.
STEARNS, P. N. Histria da sexualidade. Traduo Tenato Marques. So Paulo: Contexto,
2010.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
273
STEINBERG. R., KINCHELOE. J. L. (Org). Cultura infantil: a construo corporativa da infncia.
Traduo George Eduardo Japiass Bricio. 2 Ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
2004.
TOMS, C. A. H muitos mundos no mundo direitos da crianas, cosmopolitismo infantil e
movimentos sociais de crianas dilogos entre crianas de Portugal e Brasil. 2006. 416f.
Tese (Doutorado em Sociologia da Infncia) Universidade do Minho Instituto de
Estudos da Criana, 2006.
USSEL, V. Represso sexual. Traduo [de] Sonia Alberti; reviso tcnica [de] Jane Russo;
prefcio [de] Jurandir Freire Costa. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
TODOS SO IGUAIS PERANTE A LEI? Anlise de Discursos sobre o gnero feminino
Ana Maria de Fatima Leme Tarini1
Eliana Cristina Pereira Santos2
1. INTRODUO
A Constituio da Repblica Federativa do Brasil, de 1988, um marco histrico para
todos os brasileiros. Consta em seu artigo 5: Todos so iguais perante a lei, sem distino
de qualquer natureza [...], uma inteno de tornar os sujeitos iguais, pelo menos na
legislao. A redao de uma Carta Magna sempre um grande acontecimento discursivo e,
neste caso, proporciona garantia de tratamento igualitrio vida de todo e qualquer
cidado e cidad brasileiros (as). Para que isso se efetuasse, a partir da promulgao dessa
lei maior, os cdigos penal e civil tambm foram revistos. Apesar dessa garantia legal - e de
todas as mudanas legislativas que nosso jovem pas tem passado - o Brasil no tem
conseguido esconder suas desigualdades com a dissimulao da igualdade. Embora haja
programas sociais, polticas afirmativas, criao de leis especficas e muita discusso das
desigualdades, objetivando reverter esse quadro, ainda estamos numa sociedade bastante
desigual. Um exemplo disso a necessidade do Estado-nao veicular na mdia o slogan
Brasil um pas de todos, que martela repetitivamente em nossos ouvidos e mentes.
Parece um discurso dissonante do real factual, pois o Brasil est em 7 lugar no
ranking mundial de feminicdios, numa pesquisa realizada em 84 pases, em 2014; diante
disso se questiona se esse um pas de todos? Se h tantas mulheres morrendo
tragicamente algo nos diz que no um pas para todos. Essa a temtica do nosso artigo: O
Brasil um pas de todos, mas no um pas para todos. Tanto que a questo do feminicdio
Pgina
274
tem sido bastante discutida nos ltimos anos no pas, devido relevncia do tema e as
crescentes estatsticas de ocorrncias de assassinatos de mulheres. Esse conceito, que
1
Graduada em Letras: Portugus-Ingls e mestre em Letras pela Unioeste. Doutoranda em Letras- Unioeste
Campus Cascavel-PR E-mail: anamarialeme@hotmail.com
Graduada em Pedagogia, pela Unesp, graduanda em Letras-Espanhol pela UFSC e Mestre em Letras
Unioeste- Campus Cascavel- PR. E-mail: eliana_cris@hotmail.com
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
parece novo, tem sido aplicado desde os anos 70 do sculo passado, quando em um
julgamento, nos Estados Unidos, Diana Russel (advogada) o utilizou pela primeira vez num
tribunal. A expresso feminicdio se refere aos casos em que as mulheres no so tratadas
como humanas, no tem direitos iguais aos dos homens e so assassinadas, essencialmente,
por serem mulheres. Agora em 2015, est em discusso no senado brasileiro o Projeto de Lei
(PL 8305/14) que qualifica o crime de feminicdio.
Ditas essas palavras introdutrias, esclarecemos que nos interessa, nesse artigo,
abordar os discursos referentes ao gnero feminino, presentes na legislao brasileira,
observando as aproximaes e distanciamentos com as matrias jornalsticas que trazem
casos de violncia, sendo essas as reverberaes da memria discursiva destoantes da
legislao, na qual ecoa a constituio do biopoder e da biopoltica sobre as prticas de
controle do corpo feminino. Com nosso escopo terico, buscamos - nos estudos de Foucault,
a respeito do corpo e da sexualidade - compreender a biopoltica agindo na construo dos
sentidos, e, essencialmente, em textos de Pcheux e Orlandi, da anlise de discurso (AD)
francesa, orientao para a anlise dos ditos em suas materialidades, tanto no que tange s
condies de produo dos discursos e memria discursiva presente nos acontecimentos
quanto posio-sujeito dos/nos discursos.
Para trabalhar nessa perspectiva, organizamos nosso corpus em cinco sequncias
discursivas (SDs) a serem analisadas. So SD1: o artigo 5 da Constituio Brasileira; SD 2: o
artigo 213 e 214 do Cdigo Penal; SD3: o artigo 2 da Lei Maria da Penha; alm da SD4: uma
matria publicada no site da Secretaria de Segurana Pblica do Rio Grande do Sul e SD5:
uma entrevista publicada na Carta Capital, ambas em 2013. Como se pode notar, os recortes
que formam o corpus da pesquisa esto pautados em dois campos discursivos: documentos
legais e matrias jornalsticas.
2. O CORPUS: CONCEPES TERICAS E ANLISES
Considerando nossa legislao brasileira que apresenta discursos em defesa de todos
Pgina
275
indistintamente, ao nos depararmos com as matrias jornalsticas, os discursos jurdicos nos
soam contraditrios, entretanto, se analisarmos os discursos enquanto eventos
enunciativos-discursivos, podemos nos defrontar com as mesmas formaes discursivas em
diferentes condies de produo, diferentes construes frsticas gerando os mesmos
efeitos metafricos, que numa leitura aligeirada, podem no ser percebidas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Posto o problema, passaremos ao desenvolvimento de nossas leituras e anlises. Ao
longo de nossas buscas observamos que em nossa legislao h uma srie de discursos que
nos parecem contraditrios, mas ser que o so? Ao nos depararmos com o artigo 5 da
Constituio Federal, recortado e citado como SD1, resgatamos no somente o discurso,
mas tambm as condies de produo da criao dessa legislao. Vejamos essa primeira
SD:
SD1- Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza [...]
(Constituio, 1988).
Em 1988, foi redigida nossa constituio, promulgada em 1989, isso aps 20 anos de
ditadura militar. Naquele momento, era necessrio resgatar alguns direitos individuais e
estabelecer dispositivos jurdicos que preservassem a vida, a liberdade de expresso, acesso
educao, sade, moradia digna a todos os brasileiros, essencialmente, depois de anos
de represso e suspenso dos direitos mnimos. Essas eram as condies histricas de
produo daquele momento discursivo, em que se faziam necessrios direitos que
abrangessem a coletividade, ao mesmo tempo, importante lembrar que foi nossa primeira
constituio promulgada, isto quer dizer que em todas as anteriores no houve participao
(representao) popular, mas sim outorgao da lei.
importante que ressaltemos, com as palavras de Pcheux (2010), que as condies
de produo podem ser compreendidas como o entremeio do processo de produo de um
discurso com as circunstncias de sua produo, perspectiva representada na teoria
lingustica atual pelo papel dado ao contexto ou situao, como pano de fundo especfico
dos discursos, que torna possvel sua formulao e sua compreenso [...] (PCHEUX, 2010,
p.75).
Vale lembrar que, em se tratando de AD, o conceito de condies de produo
exclui definitivamente um carter psicossociolgico, mesmo na situao concreta (...) os
contextos imediatos somente interessam na medida em que, mesmo neles, funcionam
Pgina
276
condies histricas de produo (POSSENTI, 2004, p.369). Assim, as condies que nos
interessam, nesse trabalho, so as condies histricas de produo desse artigo
constitucional e dos demais artigos destacados na sequncia. Desta forma, a generalizao
da lei com o termo todos, na SD1, que se aplica a todo e qualquer indivduo, foi
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
fundamental para que os cidados passassem a se sentir seguros e protegidos pelo/diante
do Estado.
No que tange ao poder do Estado, os estudos foucaultianos em Histria da
Sexualidade, volume 1, mostram que a biopoltica lida com a populao como um problema
poltico, como um problema a um s tempo cientfico e poltico, como problema biolgico e
como problema de poder (FOUCAULT, 2000, p. 293). Considerando que nosso pas no
mais regido por um rei, que tem poder soberano sobre seus sditos, mas sim por um Estado,
responsvel por reger a vida e controlar as aes dos indivduos, torna-se necessrio regular
os corpos dos sujeitos. Legislar para controlar os fenmenos prprios da vida humana.
Dizendo de outra forma, Deveramos falar de biopoltica para designar o que faz com que
a vida e seus mecanismos entrem no domnio dos clculos explcitos, e faz do poder-saber
um agente de transformao da vida humana (FOUCAULT, 1988, p.134). Esses clculos
explcitos (estatsticas, controle de natalidade, sexualidade, violncia, etc.) do respaldo
tanto criao de legislao quanto aos estudos cientficos que legitimam aes sobre os
sujeitos. Para o autor, reflete no poltico fatores biolgicos, o viver e o morrer passam a
fazer parte da organizao social sob o controle e interveno do Estado.
Quanto ao biopoder que se exerce sobre os corpos, Foucault (2000) afirma ser uma
nova modalidade de exerccio do poder soberano que agora ser um poder de fazer viver
e deixar morrer (FOUCAULT, 2000, p.287). O Estado tem o poder de fazer viver ou de
deixar morrer, pois contempla o direito vida (direito individual nascido na Revoluo
Francesa) e o assegura (a vida de uns em detrimento da vida de outros). Percebamos,
nesse discurso, que o que se assegura o direito vida, no necessariamente a vida. Nesse
sentido, as delimitaes das leis cumprem o papel de controle da prpria espcie. E de
determinao de quem e como pode e deve viver, por isso a SD2 parece construir uma
Pgina
277
garantia do como as mulheres devem ser vistas na sociedade.
SD2- Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raa, etnia, orientao sexual,
renda, cultura, nvel educacional, idade e religio, goza dos direitos fundamentais inerentes
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem
violncia, preservar sua sade fsica e mental e seu aperfeioamento moral, intelectual e
social. (Lei 11.340/06)
A SD2 uma lei especfica que trata da vida das mulheres que gozam dos direitos
fundamentais inerentes pessoa humana, bem como os homens, e reafirma um
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
compromisso do Estado em assegurar a Toda mulher oportunidades e facilidades para
viver sem violncia. Embora, a lei seja generalizante (inclui direitos a todas as mulheres), em
seguida, ela aborda de forma especfica qual (is) mulher (es) se incluem nesse processo.
Prometendo ainda preservar a sade fsica e mental das mesmas. Mas por que a lei traz em
detalhes o que estava dito em geral? E que oportunidades e facilidades so essas?
Nesse mbito, acreditamos que o uso do termo feminicdio ou femicdio vem
responder essas questes. Conforme Russel e Caputti (1992), entendemos por feminicdio
uma vasta gama de abusos verbais e fsicos, tais como: estupro, tortura, escravizao sexual,
a prostituio, abuso sexual infantil incestuoso e extrafamiliar, o espancamento fsico e
emocional, assdio sexual (em qualquer local), alm disso, a mutilao genital
(cliterodectomia, exciso, infibulaes), as operaes ginecolgicas desnecessrias,
heterossexualidade forada, esterilizao forada, maternidade forada (ao criminalizar a
contracepo e o aborto), psicocirurgia, privao de comida para mulheres em algumas
culturas, cirurgias cosmticas e outras mutilaes em nome do embelezamento; enfim,
todas as formas de terrorismo, ou uso de poder, que resultem em mortes das mulheres.
Se h uma justificativa existncia de uma lei para proteger as mulheres, o
crescente nmero de feminicdio, ou seja, de violncia contra as mulheres, das quais,
inclusive, algumas resultam em morte. Violncia que no se restringi ao espao pblico (ou
cometida por pessoas desconhecidas), mas, principalmente nos mbitos domsticos e
familiares, enquanto questo histrica e cultural.
As condies de produo da Lei nos posicionam em meio s prticas de violncia
domstica. uma resposta aos questionamentos de grupos feministas. A lei elaborada
possibilita ao Estado agir coercitivamente em um espao pblico ou privado, a fim de inibir a
ocorrncia de violncia, ou seja, o poder do Estado intervindo e assegurando as
oportunidades e facilidades para viver.
Veremos na terceira SD um recorte do Cdigo Penal brasileiro que mostra as aes
Pgina
278
do Estado:
SD3 - Art. 213. Constranger algum, mediante violncia ou grave ameaa, a ter conjuno
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. (Cdigo Penal
Brasileiro)
(O artigo 214 atentado violento ao pudor foi revogado em 07 de agosto de 2009).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A SD3 traz os artigos 213 e 214 constitudos objetivando punir os crimes sexuais (com
penas de 06 a 10 anos). Esses artigos pertencem ao Cdigo Penal, esto dispostos no trecho
que trata dos crimes contra a dignidade sexual, mas anteriormente a 2009, esse mesmo
tpico era intitulado Crimes contra os costumes para constituir os artigos especficos de
punio aos crimes sexuais, o que demonstra uma tentativa de sintonia com o princpio
constitucional de preservao da dignidade da pessoa humana e no da preservao dos
costumes.
Vemos, ainda, a partir de 2009, uma mudana no trecho constranger mulher a
conjuno carnal, mediante violncia ou grave ameaa em que o termo mulher foi
substitudo por algum. Essa mudana lexical (des) posiciona a mulher como sujeito
passivo no crime de estupro, pois mulheres tambm estupram, bem como, ao inserir o
artigo indefinido algum, incluem no no-dito da lei, o sujeito masculino homossexual ou
heterossexual e a criana. Alm disso, retira do seu texto a expresso mulheres honestas,
ou seja, o enunciado mudou para alinhar-se aos discursos de igualdade do direito individual
e ao politicamente correto da sociedade capitalista que compreende a importncia das
mulheres para o Mercado.
Quanto punio, considerada no nvel simblico, pois muito se parece com um
processo compensatrio para as mulheres, uma vez que, punem com 6 a 10 anos de
recluso os infratores/agressores envolvidos em casos de estupro. A condenao do ru traz
uma sensao de compensao s vtimas e sinaliza a mensagem de que a lei foi cumprida,
ou se no foi cumprida, pelo menos ela existe e isso produz uma sensao de proteo, algo
a que se apegar.
possvel perceber na SD1 e SD2 um atrelamento ao discurso com a SD3, que
contempla a punio ao descumpridor das leis. H uma tentativa de discurso de proteo
legitimada pelo Estado para que todas as mulheres brasileiras se sintam mais seguras e
que no sejam obrigadas, nem mesmo com seus companheiros a ter conjuno carnal ou a
praticar ou permitir que com ele se pratique sexo ou outro ato libidinoso, passvel de
Pgina
279
punio realizada pelo poder do Estado. Entretanto, a Justia produz uma sensao de
ineficincia no que se refere garantia de segurana, o que temos uma promessa de
preservao da vida assegurada, mas, conforme veremos na SD4, h falhas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
SD4 - O que vem acontecendo com as mulheres brasileiras nos ltimos anos uma
barbrie. Os crimes no fazem distino de lugar, de cultura, de raa, de idade, religio ou
classe social. O feminicdio prospera porque as instituies pblicas, no garantem a
segurana das mulheres, dentro ou fora de seus lares. O Brasil o 7 no ranking mundial em
violncia contra as mulheres (Secretaria de Segurana Pblica do RS, 2013).
Na SD4, o prprio Estado - na pessoa do secretrio de segurana pblica do Rio
Grande do Sul - talvez por certo deslize discursivo, afirma no estar cumprindo seu papel
firmado nos ditos da SD1 e SD2. O Estado que deveria assegurar uma vida sem violncia para
mulheres, agora, traz tona sua incompetncia, pois os crimes no fazem distino de
lugar, de cultura, de raa, de idade, religio ou classe social. Esta uma forma de
(re)significar esse j-dito na lei, formando uma nova memria discursiva: a de que o Brasil
tem tratado do assunto de forma igualitria, mas no tem sido o suficiente. Isso pode,
inclusive, justificar aes mais contundentes. a biopoltica em exerccio, fazendo-nos crer
que somente punies mais severas podem diminuir a violncia causada pelos indivduos
homens, sujeitos de direito.
A divulgao do ranking mundial de feminicdios (assassinato de mulheres
simplesmente por serem mulheres), cometidos dentro ou fora dos lares, insinuam que as
instituies pblicas no conseguem garantir a segurana das mulheres. Embora reconhea
as falhas das instituies pblicas quanto ao feminicdio, esse discurso que a Secretaria
assume visa demonstrar que os rgos responsveis esto empenhados na soluo deste
problema.
Por um lado, se no discurso veiculado pela Secretaria de Segurana Pblica parece
haver uma contradio - uma vez que trata de um discurso proferido por um representante
estatal, que acaba por questionar o papel do Estado acerca do no cumprimento do seu
dever - por outro lado, esse discurso dissimula a compreenso do que dever de todo
cidado: cumprir as normas vigentes, mas esses cidados (indivduos) no esto cumprindo
seu papel. Isso mostra que no quesito legislao, o pas est bem amparado, conforme os
ditos da SD1 e SD2. H, nesse discurso, um pr-construdo de que no um problema do
Pgina
280
Estado-nao, que prev punio (penalidade da SD3), mas sim dos inmeros sujeitos que
descumprem a lei, atrapalhando o funcionamento do pas.
Nessa perspectiva do j-dito, presente em uma memria discursiva, Orlandi (2005)
afirma que os pr-construdos sustentam a possibilidade de todo dizer, o que essencial
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
para se compreender o funcionamento do discurso na relao sujeito e ideologia, ou seja,
aquilo que denominamos memria discursiva o saber discursivo que torna possvel todo
dizer e que retorna sob a forma do pr-construdo, o j-dito que est na base do dizvel,
sustentando cada tomada da palavra (ORLANDI, 2005, p.31). Os pr-construdos emergem
na constituio da sentena, sugerindo como problema a autonomia que os crimes parecem
ter, visto que Os crimes no fazem distino..., mas se fizessem seria mais fcil coibi-los?
Se os crimes, personificados em seres agentes dessa construo sinttica, distinguissem
cor ou nvel social, ouviramos o discurso: isso um problema social, repetido
exaustivamente. Trabalho que a maioria dos estudos das cincias humanas objetiva:
descobrir qual o problema, onde e quando acontece. A questo o depois.
Ao publicar no site da prpria secretaria que O que vem acontecendo com as
mulheres brasileiras nos ltimos anos uma barbrie [...] reconhece, pela construo
intradiscursiva, uma urgente necessidade de mudana de prticas em defesa das mulheres.
De maneira que, ao se condescender com as condies de vida das mulheres, deixa ver no
lingustico-discurso o reconhecimento de que os ndices so alarmantes.
Diante do exposto, buscamos saber, em outros textos, como a violncia contra a
mulher tem sido compreendida e encontramos uma tese em que a autora sugere a (co)
participao e a (co) responsabilidade da sociedade em relao violncia praticada contra
toda e qualquer de suas mulheres. A tese de Oliveira (2011) trata dos discursos e das
prticas de violncia contra as mulheres. Ela afirma que, os casos de violncia contra a
mulher, como o estupro o incesto, a pornografia, etc, no deveriam ser iniciados com as
mulheres-vtimas posicionadas simplesmente como acusadoras (autoras) (OLIVEIRA, 2011,
p. 175), justamente porque considera a sociedade vtima, ento deveriam ser (co) acusadora
dos males que sofre.
Essa pesquisadora, tambm, acredita que, o tratamento dado ao assunto ao se
buscar desculpas para os comportamentos criminosos dos homens, contribui para a
subordinao do feminino e, a falsa promessa de que a punio jurdica resolver o
Pgina
281
conflito, desvia a ateno da sociedade dos movimentos progressistas que se preocupam
com a justia criminal (OLIVEIRA, 2011, p. 175), mas que a veem com outros olhos, o de
uma justia restaurativa e transformativa da sociedade.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Com esse discurso, o secretrio se posiciona frente s crticas, pois para o pas uma
situao vexatria estar nesta posio quando 84 pases foram analisados. Os nmeros do
ranking, inclusive, sugerem que o Brasil o pior lugar para as mulheres viverem. Haja vista
que, na Amrica Latina, Mxico, Argentina e Chile j incorporaram o crime de feminicdio em
suas legislaes penais.
SD5- "A Polcia Militar disse ao G1 que o nmero de ocorrncias envolvendo estupros na
cidade aumentou nos ltimos meses e por isso, orienta para que as mulheres busquem
utilizar ruas e vias iluminadas e com movimentao de pessoas e evitem circular
desacompanhada em horrios com menos movimento, como noite e incio da manh. Se a
pessoa mora sozinha, uma dica tambm evitar chegar sempre no mesmo horrio do
trabalho. Alm disso, tentar andar acompanhada. A presena de duas mulheres j inibe mais
a ao. Se percorre o trajeto a p, se possvel, buscar caminhos diferentes, por que a
oportunidade que gera a ao", explica a Segundo a Sargento Cristina Moreira, da Central de
Emergncia da Polcia Militar". (Carta Capital, 2013)
Com o discurso da SD5, possvel perceber que a tentativa de preservao da vida e
da dignidade das mulheres, ditas nos artigos de lei, tanto no que refere sade fsica,
quanto mental so de responsabilidade do Estado. O jogo discursivo da autopreservao
nos manipula a acreditar que o indivduo (mulher) que precisa fazer a sua parte agora. A
policial feminina afirma que o nmero de ocorrncias aumentou e que as mulheres devem
mudar algumas de suas prticas para se preservar, desta forma, joga para o sujeito mulher a
responsabilidade de preservar sua prpria vida, por isso sugere prticas comportamentais
que podem contribuir para diminuio da violncia. Um discurso atravessado por outros
discursos, exterior ao que se fala, j que so pertencentes legislao, mas uma condio
(constitutiva, para que se fale) do discurso de um sujeito falante que no fonte-primeira
desse discurso (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 69).
As sugestes da policial deixa ver que h uma memria discursiva com valores
sexistas em nossa sociedade. Uma sociedade que acredita ser possvel a mulher trabalhar
em horrios alternativos, usar vias diferentes para chegar ao mesmo lugar e andar
acompanhada todo o tempo. Sugere ao no dizer (pela escolha do que foi dito), um sempre-
Pgina
282
j-dito, o de que as mulheres devem permanecer reclusas aos seus lares e evitar o contato
com o sexo masculino. Apaga, nessa tessitura discursiva, a emancipao feminina e
desconsidera os espaos ocupados no mercado de trabalho e a liberdade das mulheres.
Impe prticas de vida (comportamento) s mulheres. Ressaltamos que sob estas prticas as
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
mulheres, mais uma vez so revitimizadas, pois alm de vtimas de atos de violncia
tambm so as vtimas do sistema (OLIVEIRA, 2011, p. 176).
3. APONTAMENTOS (IN)CONCLUSIVOS
Na AD, consideramos o discurso como palavra em curso, movimento, percurso, assim
esto nossas reflexes. Mostram o movimento dos discursos nas SDs, que ao mesmo tempo
em que agitam o j-dito e cristalizado, os retomam de tempos em tempos, em novos
eventos discursivos gerando os mesmos efeitos de sentido.
Os ditos no site da Secretaria de segurana e os da policial parecem se distanciar dos
da legislao, revelando o ideolgico contido nas leis que, normalmente so inacessveis
para todos, ao mesmo tempo em que traz superfcie o machismo to combatido pelo
feminismo na sociedade brasileira.
Na contramo dessa asseverao est a biopoltica que tenta nos fazer crer que as
mulheres esto conquistando espao e se empoderando. Empoderamento a palavra da
vez, bastante presente nos discursos da ONU mulher. um conceito derivado do discurso de
desenvolvimento, de apropriao do poder, cujo aspecto chave o Poder. Refere-se ao
processo de mobilizaes e prticas para promover e impulsionar as mulheres para a
melhoria das condies de vida. Em outras palavras, o discurso legalizado e legitimado
ecoando sentidos de autonomia, de liberdade, igualdade, ambos j garantidos pela
Constituio. No entanto, a prtica discursiva nos pe diante do deslizamento dos sentidos,
ou seja, autonomia, liberdade e igualdade, que na prtica no se efetivam amplamente pois
so discursos inerentes ideologia do(s) sujeito(s) que retomam uma memria discursiva
sempre-j-a, de um pas de todos, mas no para todos.
Pgina
283
4. REFERNCIAS
AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva: elementos
para uma abordagem do outro no discurso. In: Entre a transparncia e a opacidade: um
estudo enunciativo do sentido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
CARTA CAPITAL. Feminismo pra qu? Disponvel em:
http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-que/porque-as-mulheres-saoestupradas-segundo-a-policia-4780.html. Acesso: 16 de mai de 2014.
FOUCAULT, M. Histria da Sexualidade I: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
______. Em defesa da sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
OLIVEIRA, M. F. C. B. Discurso e Prticas: Mil e uma noites da (inter) faces feministas e
jurdicas. Tese de doutorado, USP, So Paulo: 2011.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Pgina
284
PCHEUX, M. Anlise automtica do discurso (AAD-69), in: F. GADET e T. HAK (orgs.), Por
uma anlise automtica do discurso: uma introduo obra de Michel Pcheux.
Campinas: Editora da UNICAMP. 2010.
______. Semntica e discurso: uma crtica afirmao do bvio. Campinas: Editora da
Unicamp.1975.
POSSENTI, S. Teoria do discurso: um caso de mltiplas rupturas, in: F. MUSSALIM e A.
BENTES (org.), Introduo lingustica: fundamentos epistemolgicos, volume 3. So
Paulo: Cortez, pp. 353- 393. 2004.
RUSSEL and CAPUTTI. Femicide: The Politics of Women Killing. New York, Twayne Publisher,
1992.
SECRETARIA DE SEGURANA PBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Feminicdio:
uma
barbrie
contra
as
mulheres.
Disponvel
em:
http://www.ssp.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=91&id=19914. Acesso em: 28 de jul.
de 2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
VIOLNCIA SEXUAL EM ANGOLA NO SCULO XVII: Relaes assimtricas entre brancos,
mestios e escravas (o romance de Pepetela)
Denise Rocha1
1. INTRODUO
Comerciante de escravos, o holands Baltazar Van Dum, protagonista do romance A
Gloriosa Famlia: O tempo dos Flamengos, do angolano Pepetela, que era genitor de uma
famlia mestia em Luanda, no sculo XVII, constatou que seus filhos passavam as
mulheres entre si, sem que ele soubesse, e ponderou: as escravas andavam ali pelo
quintal mesmo para serem engravidadas [...]. (PEPETELA, 1999, p. 165).
A naturalidade com que cativas, que tinham, inesperadamente, perdido a liberdade,
vtimas do degradante e cruel trfico negreiro para o Brasil, eram reduzidas a objeto sexual
pelo senhor e filhos, choca a compreenso de leitores/as do sculo XXI que esto
acostumados/a com a essncia da Declarao dos Direitos Humanos (1947). 2
A violao sistemtica da dignidade humana na poca da escravido africana o
leitmotiv do romance A Gloriosa Famlia, publicado em 1997, no qual o escritor Pepetela, 3
pseudnimo de Arthur Carlos Maurcio Pestana dos Santos, evoca os sete anos da
colonizao holandesa de Angola (1641-1648). Nessa poca da explorao europeia crist e
branca na frica, pessoas de cor negra foram enredadas na infame engrenagem da
Pgina
285
Licenciatura em Letras e Bacharelado em Histria. Estgio Ps-Doutoral, sob superviso do Prof. Dr. Srgio
Paulo Adolfo, na Linha de pesquisa Dilogos Culturais do Programa de Ps-Graduao em Letras-Estudos
Literrios, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina, PR. E-mail: denise@unilab.edu.br.
2
A Declarao Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Organizao das Naes Unidas em 10 de
dezembro de 1948 (A/RES/217), tem trinta artigos. A seguir alguns artigos que jamais permitiriam a
indignidade da escravido nos dias de hoje. Artigo 1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. Dotados de razo e de conscincia, devem agir uns para com os outros em esprito de
fraternidade. Artigo 2: Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na
presente Declarao, sem distino alguma, nomeadamente de raa, de cor, de sexo, de lngua, de religio, de
opinio poltica ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra
situao. Alm disso, no ser feita nenhuma distino fundada no estatuto poltico, jurdico ou internacional
do pas ou do territrio da naturalidade da pessoa, seja esse pas ou territrio independente, sob tutela,
autnomo ou sujeito a alguma limitao de soberania. Artigo 3: Todo indivduo tem direito vida, liberdade
e segurana pessoal. Artigo 4: Ningum ser mantido em escravatura ou em servido; a escravatura e o trato
dos escravos, sob todas as formas, so proibidos. Artigo 5: Ningum ser submetido a tortura nem a penas ou
tratamentos cruis, desumanos ou degradantes. [...]. (DECLARAO, s.d., on-line).
3
Pepetela significa pestana em umbundo, um dos idiomas nativos de Angola.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
comercializao de seres humanos para o continente americano e, principalmente, para as
lavouras brasileiras de cana-de-acar. No estudo da relao centro-periferia do imprio
lusitano e do principado flamengo com suas colnias preciso enfatizar a existncia de um
intenso comrcio bilateral de escravos e mercadorias entre Angola e o Brasil Luso e Angola e
o Brasil Holands, no sculo XVII.
Pepetela apresenta, na obra caracterizada como metafico histrica,4 um
narrador que conta, segundo a tradio de um griot,5 suas crticas interpretaes sobre os
fatos ocorridos na poca da colonizao holandesa, com destaque para a vida do cl
mestio, constitudo por Baltazar e Inocncia e os filhos legtimos - Gertrudes, Rodrigo,
Ambrsio, Matilde, Hermenegildo, Benvindo, Rosrio e Ana - e os bastardos - Nicolau,
Catarina e Diogo:
Soube ento que o faria, apesar de mudo e de analfabeto. Usando poderes
desconhecidos, dos que se ocultam no p branco da pemba ou nos riscos traados nos
ares das encruzilhadas pelos espritos inquietos. Fosse de que maneira fosse, tive a
certeza de o meu relato chegar a algum, colocado em impreciso ponto do tempo e do
espao, o qual seria capaz de gravar tudo tal como testemunhei. (PEPETELA, 1999, p. 393
e 394).
Os temas abordados no romance angolano, vinculados geopoltica escravista Luanda, Salvador e Recife -, que demarcam a vil triangulao do Atlntico pelo trato dos
cativos, delineiam momentos da Histria do Brasil, na primeira metade do sculo XVII, que
podem ser estudados no ensino mdio:6 A competio pela mo de obra africana por
representantes da colonizao europeia, de um lado, os portugueses catlicos, servidores da
coroa e, de outro, os holandeses, funcionrios administrativos e militares da Companhia das
ndias Ocidentais.
Pgina
286
Durante a dcada de 1980, apareceu um tipo de literatura denominada como novo romance histrico, o
qual, com faceta metadiscursiva, refletia uma tentativa crtica de reescrita da historiografia oficial que
apresentava somente a verso do colonizador. Os escritores de narrativas de fundo histrico, por meio da
ironia, da pardia e da intertextualidade, enfatizam o discurso do oprimido, do ex-cntrico, que enfrenta os
mecanismos do poder (metafico historiogrfica). (HUTCHEON, 1991, p. 13-14; 250). O narrador de A
Gloriosa Famlia um escravo.
5
Griot um termo francs que designa o tradicional contador africano de estrias/histrias, uma tradio oral
ancestral.
6
O amplo tema dos vnculos tnico-raciais -relaes entre homens e mulheres, entre brancos e negros e entre
senhores e escravas-, que eram caracterizados por todo tipo de violncia, podem ser evocados no contexto da
aplicabilidade da Lei 10.639/03 e as alteraes incorporadas pela Lei 11.645/08, que determinam a incluso da
temtica Histria e Cultura Afrodescendente e Indgena no currculo oficial desde a educao bsica at a
superior, bem como o estabelecimento do 20. de novembro como o Dia da Conscincia Negra.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A proposta de estudo incide na questo de gneros, agravada pela condio feminina
da escravido, sob a perspectiva dos direitos humanos, com destaque para situao da
violncia fsica, verbal, sexual e simblica, as quais abalaram a vida das cativas -Dolores,
Lemba e Chicomba- e outras annimas na sanzala (propriedade rural) de Baltazar Van Dum,
personagem histrica.
2. O PATRIARCALISMO E A ESCRAVIDO.
Acompanhante fiel de Baltazar, o narrador-escravo annimo, que foi presenteado ao
holands pela rainha Jinga (personagens histricos), destaca a figura do dono dos cativos e
seus filhos na tradicional cultura machista, que atribua ao homem o poder de abordar
sexualmente a mulher e, principalmente, a escrava. Nesse entrelaamento do sistema
patriarcal e do escravocrata cristaliza-se o poder do varo.
Na obra O poder da identidade, o autor Manuel Castells explica que o domnio
masculino permeia as relaes entre o homem e a mulher at a atualidade:
O patriarcalismo uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades
contemporneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, do homem
sobre a mulher e os filhos no mbito familiar. Para que essa autoridade possa ser
exercida, necessrio que o patriarcalismo permeie toda a organizao da sociedade, da
produo e do consumo poltica, legislao e cultura. Aos relacionamentos
interpessoais e, consequentemente, a personalidade, tambm so marcados pela
dominao e violncia que tm suas origens na cultura e instituies do patriarcalismo.
(CASTELLS, 2008, p. 169).
Com preponderncia, coao e fora, a sociedade permeada pela autoridade do
homem, em todas as pocas, religies, raas e etnias, reduzia a mulher de todas as classes
sociais a desempenhar um papel submisso na famlia, na igreja e na comunidade. No
entanto, na coletividade escravista, o servilismo da cativa era duplo: social e sexual.
No estudo Antropologia da escravido: O ventre de ferro e dinheiro, Claude
Meillassoux esclarece que:
O estado dos escravos era o resultado de uma sucesso de transformaes que
Pgina
287
contribuam para fazer deles indivduos sem laos nem parentesco, afinidade ou
vizinhana, e por conseguinte aptos explorao. Pela captura, eles eram arrancados
sua sociedade de origem e dessocializados; por seu modo de insero na sociedade
recebedora, e pela ligao unvoca que mantinham com o senhor, eram descivilizados, e
eventualmente despersonalizados. Por esses processos, definia-se o seu estado. Esse
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
estado era original, e logo permanente, definitivamente ligado ao cativo. Era em razo
desse estigma inicial e indelvel que os escravos [...] podiam ser destinados a qualquer
tarefa, qualquer que fosse o seu sexo ou idade, e sem que a sua condio, definida por
essa destinao, lhes conferisse um status. Os escravos podiam realizar tarefas
masculinas ou femininas, qualquer que fosse o seu sexo. Tambm podiam exercer
funes sociais ou polticas, sem que essa promoo em sua condio os livrasse do
estigma original. Estado e condio do escravo eram distintos e no se comunicavam.
(MEILLASSOUX, 1995, p. 79).
De pessoas livres, que foram capturadas e reduzidas mercadoria, os escravos
africanos foram dessocializados, descivilizados e despersonalizados (MEILASSSOUX,
1995, p. 79), no entanto, muitos deles puderam conservar a dignidade. Vrias cativas,
porm, foram expostas total dominao e s diferentes formas de violncia da sociedade
escravista, que foram minuciosamente mencionadas na narrativa de Pepetela.
3. PORTUGUESES E HOLANDESES EM ANGOLA (1641-1648)
Nos anos 1641 a 1648, Luanda, entorno e o serto ao longo do rio Kwanza, foram
palco de confronto entre os lusos e os holandeses pelo comrcio humano para Recife e
Salvador.
Durante o reinado de D. Joo II, em 1482, os portugueses, sob o comando de Diogo
Co, chegaram a costa ocidental africana, no Zaire, que foi a regio inicial da conquista,
passando pelo Congo at chegar em Angola, que era constituda pelos reinos de Ndongo e
de Matamba, cujos soberanos recebiam o ttulo de Ngola (Senhor). Esse nome foi escolhido
pelos portugueses para a sua nova colnia: o Reino de Angola e Luanda como capital.
No dia 23 de outubro de 1574, Paulo Dias de Novais partiu de Lisboa com sua armada
e aportou na ilha de Luanda, de jurisdio congolesa, em 11 de fevereiro de 1575. No ano
seguinte, eles se instalaram em terra firme e Novais fundou a vila de So Paulo de Luanda
cuja economia se baseava no comrcio da escravaria. (CARDOSO, 1954, p. 10 e 11).
A hegemonia portuguesa no trfico transatlntico de peas de Angola foi
Pgina
288
interrompida em 1641, com a chegada dos holandeses, oriundos de Recife.
Durante 23 anos (1631-1654), os holandeses ocuparam extensas reas do nordeste
brasileiro, envolvidos na produo e comercializao do acar. Desde o final do sculo XVI,
eles j atuavam como financiadores, transportadores, refinadores e distribuidores do acar
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
brasileiro no mercado europeu. No ano de 1631, financiados pela Companhia das ndias
Ocidentais, eles invadiram Salvador, depois outras provncias nordestinas (Pernambuco,
Cear, Paraba e Maranho), e escolheram Recife como capital. Durante a administrao de
Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604-1679), nos anos 1637-1644, houve um macio
incentivo produo dos engenhos de cana. No ms de maio de 1641, com o objetivo de
participar diretamente do trfico negreiro, a fim de suprir a crescente necessidade de mo
de obra africana para a cultura aucareira, Nassau decidiu enviar uma expedio para ocupar
Luanda, principal porto de escravos da frica Ocidental para o Brasil e, depois, conquistar
Benguela, So Tom e Axim, na costa da Guin. (MENEZES; SANTOS, 2008, p. 1-5). 7
Os portugueses, que tinham se retirado para o interior, para a vila de Massangano,
impediam um melhor desenvolvimento do trfico negreiro e, por causa disso, a Companhia
das ndias Ocidentais no tinha mais interesse em financiar suas atividades comerciais em
Luanda e diminuiu o contingente militar. Tal motivo facilitou a tranquila reconquista da
capital pela grande armada proveniente do Rio de Janeiro, sob a autoridade de Salvador
Correia de S (1648). A entrada do comandante, oficiais e soldados em terra firme, aparece
na cena final do romance A Gloriosa Famlia: Uma missa de Ao de Graas, celebrada
Pgina
289
Em 30 de maio de 1641, em Recife, Nassau havia ordenado a partida do Almirante Jol com 21 navios e cerca
de 3000 homens rumo a So Paulo de Luanda que foi conquistada, e o governador Pedro Csar de Meneses,
depois da rendio no dia de 1641, seguiu com grande parte dos moradores para a vila de Massangano,
localizada perto do rio Kwanza e de seu afluente, o rio Lucala.
No ano de 1642, no qual eclodiram as revoltas do Maranho e de So Tom, os holandeses permitiram aos
portugueses o estabelecimento do arraial do Bengo, prximo Luanda, bem como autorizaram o comrcio
entre as duas partes. Meses depois no incio de 1643, como retaliao revolta do Maranho, os holandeses
atacaram o Bengo e aprisionaram mais de duas centenas de portugueses - mulheres, crianas, velhos e jovens que foram enviados para Salvador (ALENCASTRO, 2000, p. 222).
No ano de 1645, duas frotas seguiram para a reconquista de Angola: Uma, com partida da Bahia, fundeou na
enseada de Quicongo, no norte de Benguela, ao sul de Luanda, com o objetivo de alcanar Massangano, vila no
interior de Angola, em poder dos portugueses. Uma das colunas, sob liderana de Domingos Siqueira, foi
atacada pelos jagas e totalmente destruda. A outra frota, financiada por negreiros fluminenses, partiu do Rio
de Janeiro, sob o comando do governador do Rio de Janeiro Francisco de Souto Maior. Apesar de parte
significativa dos soldados ter sido mortos pelos jagas, aliados dos holandeses, logrou retornar com cerca de
2000 escravos para o Rio de Janeiro. Sottomayor foi o sucessor de Pedro Csar de Meneses, nos anos 1646 a
1648, no cargo de governador e Capito-General, e depois de seu falecimento, Massangano esteve sob a
direo de uma junta governativa (1642 a 1648). (ALENCASTRO, 2000, p. 228).
No ano de 1648, Pernambuco, ocupado pelos holandeses, foi reconquistado por tropas luso-brasileiras, e o rei
de Portugal, D. Joo IV, autorizou a retomada de Angola, mas no enviou tropas. Uma esquadra proveniente do
Brasil, financiada por comerciantes brasileiros e portugueses, sob o comando de Salvador Correia de S,
chegou em Luanda e conseguiu retomar Angola aos holandeses e reassumir o controle do trfico escravo. O
comandante, que rebatizou Luanda com o nome de So Paulo da Assuno, foi governador por trs anos.
Desde essa poca, por cerca de um sculo, os altos cargos do governo - o de governador-geral, o de bispo e o
de comandante militar- foram ocupados por pessoas vindas do Brasil.
Tais fatos histricos, mesclados com o cotidiano dos membros da famlia Van Dum, so mencionados no
romance A Gloriosa Famlia.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
debaixo de uma mangueira na sanzala Van Dum, com a participao dos familiares do
holands, dos forros e dos/as escravos/as e os militares.
4. ABUSO SEXUAL NA SANZALA VAN DUM.
Agraciado com o Prmio Cames 1997, o romance A Gloriosa Famlia: O Tempo dos
Flamengos, de Pepetela,8 apresenta uma fase da Histria angolana: os anos 1641 a 1648, um
perodo de disputas entre Salvador e Recife pelo trabalho escravo africano que se refletiu
em conflitos sangrentos na paisagem perifrica e transatlntica.
A obra, dividida em doze captulos numerados, tem um glossrio com palavras em
lnguas nativas angolanas (kimbundo, umbundu e kikongu) e apresenta o cotidiano da vida
da famlia de Baltazar Van Dum, holands catlico que residia em Angola, desde 1617, como
comerciante de escravos. No momento da conquista holandesa, Baltazar, que j vivia 25
anos nas cercanias de Luanda, fugiu com familiares e escravos, juntamente com o
governador Menezes e moradores da capital, para a quinta dos jesutas no rio Bengo. Depois
retornou com o seu cl para sua sanzala, enquanto que os portugueses recuaram para
Massangano, vila erguida nas imediaes da fortaleza e presdio homnimos, localizados na
confluncia dos rios Kuanza e Lucala. A administrao colonial holandesa termina em 1648,
com a reconquista de Luanda pelo exrcito de Salvador Correia de S e Benevides, vindo do
Brasil.
No romance, o patriarca e seus filhos legtimos - Rodrigo, Ambrsio, Hermenegildo e
Benvindo- e ilegtimos Nicolau e Diogo- abusavam sexualmente de escravas que ficavam
expostas virilidade desenfreada destes homens egocntricos e cruis.
4.1.
ESCRAVAS CONSIDERADAS OBJETOS SEXUAIS.
Na obra O efeito do sexo: polticas de raa, gnero e miscigenao (2004), Osmundo
Pinho analisa as relaes de violncia sexual, estabelecidas pelo colonizador:
Pgina
290
O socilogo Arthur Carlos Maurcio Pestana dos Santos (1941- ) foi guerrilheiro nas lutas de independncia de
Angola. No romance A Gerao da Utopia (1991), que contm elementos biogrficos do autor, so
apresentados: a vida de estudantes angolanos em Lisboa, seu engajamento na luta armada pelo trmino da
colonizao portuguesa e a sua desiluso pela preferncia atual dos polticos pela globalizao e pelo
neoliberalismo. A reflexo de Pepetela sobre o conhecimento do passado de seu pas, a fim de ter uma melhor
compreenso do presente, o levou a pesquisar as razes da Histria de Angola e a escrever, de maneira crtica,
os romances: A revolta da casa dos dolos (1980), Yaka (1984), Luej: O nascimento dum imprio (1989) e A
Gloriosa Famlia: O Tempo dos Flamengos (1997).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
O portugus, segundo [Gilberto] Freyre, seria um intoxicado sexual. No ambiente da
escravido e da subordinao fsica e brutal de outros seres humanos, encontrou cenrio
perfeito para expresso dessa sua caracterstica peculiar. A sexualidade exercida e
representada em contextos de desigualdade e assimetria parece ser assim o operador da
miscigenao predatria e o elo de ligao entre os diferentes extratos sociais que se
reproduzem como diferentes atravs do exerccio direto do desejo e do controle branco
sobre o corpo do Outro e sua simbolizao. No seria, nesse sentido, extraordinria a
hiptese de que a escravido, ela mesma, teria um componente voluptuoso, alm
daquele propriamente econmico ou cultural, e essa parece ser a mensagem mais ou
menos implcita em Freyre. Ter um escravo ou escrava, como um objeto perfeito, pleno e
legalmente caracterizado, um objeto, bem verdade, muito especial, na medida em que
um ser humano, pareceria o paroxismo da objetivao carnal.
No parece casual a conjuno de instncias diversas de articulao e produo do poder
com privilgios sexuais e intercursos raciais biolgicos. Teramos, parafraseando
[Marshall] Sahlins, uma economia poltica da sexualidade? (PINHO, 2004, p. 14)
Fato que a base da compreenso do vil sistema escravista, que legitimava a posse
de um ser humano, de sua fora de trabalho e de sua vontade, era estendida na
compreenso dos donos das peas para o domnio do corpo da cativa que se tornava
objeto de prazer sexual alheio, sem seu consentimento.
O mecanismo de explorao sexual na poca escravocrata abordado no romance A
Gloriosa Famlia, com destaque para as crueldades cometidas contra cativas annimas e
contra Dolores, Lemba e Chicomba- na sanzala de Baltazar Van Dum.
4.1.1 Dolores e Hermenegildo.
Figura 1- Escrava com filho.
Hermenegildo Van Dum e Dolores, escrava aleijada do quintal, tiveram um nico
Pgina
291
envolvimento sexual, pois o rapaz se sentira atrado pelo estranho caminhar da domstica
da casa grande: Dolores era uma escrava que coxeava, por ter uma perna dez centmetros
mais curta que a outra, e ganhou esse nome porque, no tempo dos portugueses, habitava a
cidade uma espanhola que caminhava da mesma maneira e se chamava Dolores.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
(PEPETELA, 1999, p. 208).
Privada da liberdade, a jovem cativa perdeu tambm sua
identidade tnica, a partir do momento no qual ela foi renomeada com o nome de uma
europeia, deficiente como ela, em um caso de violncia identitria:
Dolores no tinha atributos fsicos apreciveis, alm do andar extravagante, pois se
mexia toda como uma cobra, num movimento ondulante desde os ps at a cabea.
Ajudava na limpeza da casa grande e numa necessidade premente Hermenegildo
derrubou-a na esteira da cubata dela e engravidou-a. (PEPETELA, 1999, p. 208).
Bruto como um animal, Hermenegildo se achava no direito de jogar ao cho uma moa
virgem e indefesa. Sozinha com o filho de seu amo, ela no teve como se defender do
estupro, j que sua condio de cativa a deixava sem reao natural de defesa diante de
uma agresso fsica masculina e, em consequncia disso, ela durante nove meses:
[...] transportava uma enorme barriga que danava em piruetas incrveis, pois quanto
mais grvida mais ela coxeava, parecia uma jibia ondulante que engolira um boi. Ou
talvez tivessem visto que estava grvida mas nem se importavam em saber qual o pai.
Afinal um escravo nunca tem uma estria interessante, uma mercadoria que vendida
quando deixa de servir. (PEPETELA, 1999, p. 233 e 234).
De uma grave e dolorosa violncia sexual fora gerada uma criana muito bela,
Gustavo, que se tornou o pomo da discrdia da av, D. Inocncia, que queria se apossar do
netinho: J dava para perceber que no era negro retinto. Mas no foi o tom de pele que
chamou a ateno do dono, mas sim os olhos azuis. Havia flamengo na costa. (PEPETELA,
1999, p. 237).
Ingnua e orgulhosa da beleza da criana mestia, a me que era considerada invisvel,
ou seja, no era levada a srio como pessoa individual na sanzala, no entendeu que a
maternidade era sua, mas o nen era escravo tambm e no lhe pertencia.
Na reunio de machos Van Dum, Hermenegildo, to delicado de carnes e modos,
declarou ser o pai de Gustavo e o orgulhoso av brindou a notcia com clices de cachaa e
convocou a me: Dolores tambm se sentia perdida no meio dos senhores, afogada pela
alegria do dono Baltazar, com o seu filho nos braos. Ia ficar com o filho dela e vend-la para
Pgina
292
o Brasil? Estrias antigas eram contadas no quintal... (PEPETELA, 1999, p. 239).
Dolores foi excluda da cerimnia de batismo, realizada na igreja da ilha de Luanda:
Baltazar achou intil que a escrava coxeasse uma to grande distncia. Matilde ainda
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
tentou argumentar, a Dolores tem o direito de assistir ao baptizado do filho. O meu dono
levantou a voz, uma escrava no tem direitos, acabou. (PEPETELA, 1999, p. 239).
Com planos de se apossar do neto de olhos azuis, Inocncia comeou um processo
para desmam-lo, quando tinha dois anos de idade, tentando aliment-lo com papas e
mingaus. O pequeno, entretanto, recusava as refeies aos gritos, e Dolores o pegava,
aumentando a raiva da av.
A escrava Chicomba orientava Dolores sobre os perigos de sua reao maternal:
- De tanto enfrentares a senhora, ainda vais pagar. Antes ela fazia vender as escravas que
tinham filhos do marido. Agora te vendi a ti por causa do Gustavo. o que se fala aqui no
terreiro e j ouviste.
- O meu dono nunca vai me vender, ele sabe que trabalho bem e nuca refilo.
- s muito burra se confias nele. E s muito burra se no desconfias da mulher dele. Deixa
l a criana brincar na casa grande e comer as porcarias deles. Assim ficas ao p do
Gustavo. (PEPETELA, 1999, p. 363).
Acreditando ter poder sobre o filho, Dolores enfrentava a patroa, a qual montou um
estratagema para culpabiliz-la do roubo de duas colheres de prata, embora a escrava
somente se alimentasse, conforme a tradio cultural, com o uso de uma das mos. Para
no contrariar a esposa, Baltazar pensou em uma punio fsica, mas recuou, pois, acreditou
ser um espetculo doloroso para a criana ver a me chicoteada ou mesmo se evitasse o
ltego, ficar amarrada ao tronco. (PEPETELA, 1999, p. 367) Ele deliberou que Dolores e o
filho deveriam ir para o arimo (fazenda), mas a cnjuge gritou: O meu neto no vai para o
Bengo, nem morto [...]. D. Inocncia tinha virado fera, a defender os seus direitos sobre o
neto, enquanto segurava Gustavo que gritava e esperneava, recusando o colo estranho e
mirrado (PEPETELA, 1999, p. 370). A cruel separao entre me e filho foi dilacerante,
segundo o narrador:
A coxa berrou e chorou quando se apercebeu que Gustavo no ia. Foi uma cena que eu
preferia no ter visto. O menino foi arrancado dos braos da me e levado para a casa
grande, onde gritava com toda a fora. E, no quintal, Dolores lutava, recusando partir.
Pgina
293
Dimuka lhe passou uma corda pelo pescoo, ele e Kalumbo puxavam, e ela se atirou para
o cho, s ia arrastada. (PEPETELA, 1999, p. 369 e 370).
Inocncia queria mais uso de violncia para humilhar a escrava e exigiu que ela fosse
amarrada. Quatro homens ataram as pernas de Dolores, que foi enrolada na rede de
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Baltazar e conduzida violentamente, como um animal, para fora da sanzala. Diante da cena
monstruosa, Gustavo gritava desesperado sem entender os fatos e:
Exigia a presena da me no seu kimbundu incipiente. E quando a av o soltou, fugiu
para o quintal. Ela gritou para a escravaria, no o deixem fugir, no o deixem fugir, mas
ele de facto no podia ultrapassar o porto macio do quintal. Foi apanhado e levado
para a casa grande. (PEPETELA, 1999, p. 370).
Nascida livre, Dolores, cujo nome tnico tinha desaparecido, se tornou escrava e
perdeu, por causa de sua condio e do desejo de posse de Inocncia, a possibilidade de
compartilhamento de sua vida com a do seu filho: amamentao, nutrio e afeto. rfo de
me viva, Gustavo ficou aos cuidados da amorosa Catarina, filha bastarda de Baltazar Van
Dum, at que sua me biolgica reapareceu.
Cerca de um ms mais tarde, apesar de ter dificuldades de locomoo, Dolores
conseguiu fugir da distante fazenda do Bengo e apareceu nas cercanias da sanzala, para
tentar sequestrar o prprio filho. O escravo-mor de Baltazar a observou e aguardou o
momento certo para peg-lo e entreg-lo sua me:
No ofereceu resistncia, adivinhando que eu nunca quereria o mal dele. [...] Chegados
entrada, levantei Gustavo e o sentei em cima do porto, para que ele e a me se vissem.
Dolores se aproximou, com lgrimas nos olhos. A criana reconheceu-a e estendeu os
bracitos, gritando. [...] A me o amarrou logo s costas com o pano e correu para o mato.
(PEPETELA, 1999, p. 371 e 372).
Determinada a recuperar seu filhinho, Dolores enfrentou vrios obstculos para
conseguir regressar e, ajudada pelo escravo amigo, cheio de compaixo, conseguiu receber
das mos dele o menino com o qual fugiu sem deixar vestgios:
O meu dono s lamentava. Acabei de perder uma boa escrava e um neto. Hermenegildo
no lamentava nada, encolhia os ombros. E D. Inocncia no falava, cheia de raiva,
pensando certamente que o neto corria nu e descalo pelo mato, sugando leite daquelas
tetas malditas, que um raio as seque. (PEPETELA, 1999, p. 372).
Pgina
294
4.1.2 CHICOMBA E NICOLAU
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Figura 2- Escrava com filho em um stio.
No ms de novembro de 1645, o mestio Nicolau Van Dum, que atuava como
pumbeiro (comprador de escravos), chegou na sanzala paterna com um grupo de cativos homens, mulheres e crianas-, adquiridos no serto, que eram acompanhados por guardas
portadores de arcabuzes. Os homens estavam amarrados em grupo de cinco, para impedir
fugas. Havia cerca de dezenove mulheres, e Baltazar, que inspecionava as peas, tratou de
escolher a moa que mais o apetecia: uma rapariga muito bonita e de cara amuada.
Senhor de vida e morte dos escravos: Ele apontou com o cabo do chicote de montar que
ainda tinha na mo./ -Separa aquela ali. (PEPETELA, 1999, p. 256).
A atitude machista do holands branco refletia sua concepo sobre aquele
ajuntamento de pessoas negras: Uma espcie de mercado de carne feminina que podia
degustar a bel-prazer, independentemente da opinio da escolhida sobre a aparncia do j
idoso e corpulento Baltazar.
A atraente jovem selecionada pelo velho para seu deleite sexual provocou um
malicioso comentrio do filho Nicolau, o qual, na base da violncia verbal e fsica, j havia
desfrutado da juventude e da beleza de Chicomba que falava kimbundu, idioma materno do
Pgina
295
jovem Van Dum:
Nicolau sorriu. Os olhos luziam, quando disse:-Sabia que o pai ia reparar nela. Bonita,
mas muito complicada. Tem mau feitio, at pensei em a pr nas cordas. Depois o Thor
disse no preciso, tomo conta dela. E de facto acalmou um pouco.
-Porqu a quiseste pr nas cordas?
O filho olhou para o meu dono, deixou de sorrir. Pelos vistos, no pensara ter de contar
as suas estrias ntimas. Era mal conhecer a curiosidade de Baltazar sobre tudo o que se
referia a fmeas. Suspirou, se resolveu a dizer a verdade.
-Era arredia... Lutava... ests a entender?
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
-Tu puseste em cima dela? E ela no queria?
-Acabou por aceitar. Mas das primeiras vezes foi difcil, tive de lhe dar umas boas
chapadas. Mas o Thor depois convenceu-a a ser mais dcil. (PEPETELA, 1999, p. 226).
Degradada a objeto sexual, a moa no aceitava o estupro e, por isso, foi agredida
com golpes. O colega Thor, que era um prncipe de Hako ou Wako e tinha sido capturado
pelos jagas e vendido a Nicolau, aconselhava a revoltada a se mostrar submissa para garantir
a sua integridade fsica e a sua prpria vida. Conforme o narrador, diante da constatao da
preferncia do filho por Chicomba, Baltazar desistiu de se aproveitar dela e a ofereceu a ele:
O meu dono andou para diante, se aproximando do fim do grupo de escravos, fazendo
sim, sim com a cabea. Adivinhei pela sua cara que perdera o interesse na rapariga. Foi
com o ar mais natural do mundo que perguntou:
-Queres ficar com ela?
-S se o pai no quiser... Sabe, para isso ela serve. Mas intil ensinar-lhe a cozinhar.
No quer aprender mesmo, diz que no trabalha para homem nenhum. No d para
tomar conta de uma casa, gentia como . Mas por uns tempos seve para aquecer uma
parte da noite... (PEPETELA, 1999, p. 226).
A oferta paterna de carne nova e fresca para prazer sexual agradou Nicolau, apesar
da resistncia da escrava, considerada uma gentia que, durante a penosa viagem do serto
para a sanzala Van Dum, mostrou que no ia assumir nenhum servio domstico, tampouco
trabalhar. Tal atitude resoluta refletia a no aceitao de condio de cativa, j que at
pouco tempo Chicomba tinha sido uma criatura livre.
A questo do tcito acordo entre o pai e os irmos Van Dum de experimentarem as
escravas, se fartarem da novidade e de as despacharem entre si, parecia ser absolutamente
normal na mentalidade escravista. Baltazar, entretanto, temia que tal prtica poderia gerar
conflitos (makas) e, por causa disso, ele aconselhou Nicolau a arrumar um domiclio fixo para
Chicomba:
Pgina
296
-Fica com ela, ento. Mas no a leve para tua casa, o Ambrsio ainda a apanha e no
quero problemas entre irmos. Sabes como o tipo rpido. E tinha eu esperana que
aquele diabo ia para padre... Arranja um cubata onde ela fique, melhor. [...] No seria a
primeira vez que o pai ficava com mulher que ele tinha inaugurado ou o contrrio.
Tambm entre irmos eram freqentes essas passagens de escravas. (PEPETELA, 1999, p.
226).
O narrador, entretanto, no se preocupava com as rivalidades entre eles: pelo
muitas vezes ofereciam uns aos outros os favores de alguma coisa se distinguisse. E tinham
uma espcie de pacto de silncio que protegia as suas ligaes de curiosidades externas.
(PEPETELA, 1999, p. 226 e 227).
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Instalada em uma cubata (casa) para estar disposio de Nicolau, Chicomba, que
amava Thor, ouvia os conselhos dele para sua sobrevivncia no cativeiro, apesar de no se
acostumar com o cheiro do Van Dum:
- Ele te levava no capim, mas mais nada. Agora sim, ele at arranjou uma cubata s para
ti, para ficar vontade contigo quando lhe pertencer. mesmo mulher dele. Se souberes
manter o interesse, podes ganhar muito, pelo menos uma vida sossegada. [...] At
querias recusar o branco Nicolau, porque s comigo te querias deitar. Viste como eu
tinha razo no caminho? Passaste a deitar com ele, no foste vendida. Aqui ests perto
da tua terra, um dia podes te safar ou mesmo ser libertada. No melhor?
- melhor, sim. Mas eu no queria mesmo, ele cheira mal.
- Todos os brancos cheiram. E os filhos deles tambm. Foi aqui na sanzala que aprendi
tambm isso.
- Ests a aprender muitas coisas de brancos, qualquer dia viras um deles. Deixa! Disseste
no fui vendida, mas agora no deito contigo, porque tens medo do branco. (PEPETELA,
1999, p. 235 e 236).
Projetos de fuga tinha Chicomba, que planejava o retorno para a ptria perdida,
mesmo se tivesse um filho. E caso D. Inocncia assim o quisesse, como fizera, inicialmente
com Gustavo, no faria objeo, conforme confidenciava Dolores:
- Tu vais deixar o teu filho ir para l quando a dona quiser?
- Claro que sim. E at esqueo, quando fugir daqui. Vou eu e ele fica. Assim o pai no vem
atrs de mim para recuperar o filho. No sou burra.
Afinal Chicomba ainda no tinha perdido a esperana de fugir. As conversas com o pobre
Thor eram a srio e ela as guardava na memria. S esperava uma oportunidade. Nicolau
muitas vezes ficava fora, como agora. Mas a ausncia de Nicolau no era a oportunidade
que esperava. Teria de atravessar territrios hostis e podia ser apanhada de novo. No
sei como conseguiria chegar ao seu pas natal sem arriscar passar por stios infestados de
jagas, mas ela aguardava pacientemente a sua vez. Entretanto tinha parido um filho de
Nicolau que estava disposta a deixar para trs. Chicomba sempre tinha tido um feitio
rebelde e decidido, a mansido actual era um estratagema para a deixarem tranqila a
arquitectar os seus loucos planos de fuga. (PEPETELA, 1999, p. 363).
4.1.3 LEMBA E DIOGO
Filho de uma escrava e de Baltazar van Dum, Diogo foi criado no quintal por outras
cativas e tinha mgoa do genitor que no reconhecera a paternidade. No entanto, aps o
casamento de seu meio-irmo Rodrigo, que fiscalizava a fazenda do rio Bengo, a tarefa lhe
Pgina
297
foi delegada e ele pode se sentar mesa da casa grande com os filhos legtimos do pai.
Solitrio na empreitada rural, o rapaz solicitou a posse de uma jovem escrava, Lemba, que j
tinha sido passada de mo em mo:
- Por isso lhe agradecia me dares a Lemba, l no Bengo no tem mulher, faz muita falta
para fazer companhia e comida.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
A Lemba era uma escrava ainda nova que Nicolau comprara uns anos atrs, para alm do
Golungo, e que Baltazar nunca vendeu, supondo ser a rapariga utilizada pelo filho mais
velho. Agora vinha o mais novo pedir a cedncia? Mais uma chatice. Escaldado com tudo
que passava na famlia, o meu dono cortou com mau humor.
- Sabes muito bem que a Lemba j est ocupada. Queres arranjar maka com o Nicolau?
- No est. Quer dizer, est. Por mim. Faz tempo.
- O Nicolau sabe?
- Foi ele que me deu.
Baltazar ficou a olhar para o filho, atnito. Os irmos se passavam mulheres e ele no
sabia? Bom, de facto tambm no tinha nada com isso. Diogo j tinha pelo menos vinte e
dois anos, era um homem, as escravas andavam ali pelo quintal mesmo para serem
engravidadas e Lemba at mostrava alguma graa. Mas devia ser estril, nunca
emprenhou. Sempre foi mau negcio manter uma mulher que no produzia filhos, j a
devia ter vendido. (PEPETELA, 1999, p. 165).
A questo da esterilidade de Lemba incomodava o comerciante de escravos, Baltazar,
que somente via as peas humanas como mercadorias com o objetivo de alcanar lucro,
seja monetrio ou sexual. O pai queria saber dos planos de Diogo:
-Mas queres casar com ela?
-Ento eu vou casar com uma escrava? S amigar. [...]
Seria baixar de condio se casasse com uma escrava, claro. Comeava a notar que os
Van Dum eram muito cientes da sua posio, mesmo os que tinham nascido no quintal.
- Se bem compreendi, ests a pedir para me deixar levar ela no Bengo. Mas se me d
ainda mais melhor. (PEPETELA, 1999, p. 165).
4.2.
ESCRAVAS MES DESPACHADAS PARA SALVADOR.
A esposa oficial, D. Inocncia, negra, filha de um soba, criada na misso catlica,
observa a sexualidade vivenciada pelo cl masculino e punia as escravas que engravidavam
de seu marido, exigindo que ele as vendesse para rumo ao Brasil: Elas tinham atravessado o
mar, exigncia da esposa oficial pela lei da igreja [...]. (PEPETELA, 999, p. 165).
Trs filhos naturais -Nicolau, Catarina, irmos de sangue, e Diogo- eram estimados por
Baltazar, mas, hostilizados por Inocncia. Os dois mais velhos eram rebentos de uma
escrava dos Dembos, com a qual Baltazar mantinha relaes na mesma poca, em que era
amigado com Inocncia que pariu Gertrudes e Rodrigo os quais tinham idades parecidas as
dos meio-irmos. Por exigncia da esposa intransigente, eles foram criados sem o afeto
Pgina
298
materno no quintal, junto com outros escravos, at cerca de doze anos de idade, quando o
pai os reconheceu como filhos legtimos. Nicolau se tornou comprador de escravos e,
Catarina, cozinheira da casa grande.
Diogo, filho de uma cativa e de Baltazar, foi criado no quintal: no conheceu a me,
pois esta o acabou de parir e foi negociada para o Brasil, por imposio de D. Inocncia. Mas
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
tendo sido reconhecido pelo pai, deixou de ser filho de escrava para ser filho de dono.
(PEPETELA, 1999, p. 165). A legitimidade ocorreu para que ele pudesse assumir a funo de
administrador do arimo (fazenda) do Bengo.
5. CONCLUSO
No romance A Gloriosa Famlia: O tempo dos Flamengos, o narrador do angolano
Pepetela denuncia as relaes de poder na sociedade machista que se caracteriza pela
autoridade, imposta institucionalmente, do homem sobre a mulher e os filhos no mbito
social. (CASTELLS, 2008, p. 169). Por causa da funesta tradio, Baltazar Van Dum
acreditava poder manter sua sexualidade desenfreada alm do matrimnio, fato que
provocava um zelo doentio na cnjuge, Dona Inocncia, que incorporava em si os mesmos
padres de dominao e violncia aos quais estava submetida face hierarquia masculina.
Na coletividade escravista, o poder do homem, do senhor, se intensificava e a
cativa era o elo mais fraco nas cadenas do infame processo econmico que reduzia seres
humanos
mercadoria
os
tornava
dessocializados,
descivilizados
despersonalizados (MEILLASSOUX, 1995, p. 79).
O narrador de Pepetela criticou o sistema de opresso presente nas brutas relaes
entre Baltazar Van Dum e seus filhos com as suas escravas, nas quais se destacavam
constrangimento, bestialidade e ferocidade em um sistema de cerceamento e violao dos
direitos humanos.
Elas - as annimas, Dolores, Chicomba e Lemba- sofriam trs tipos de violncia: a da
privao da liberdade, por viverem em cativeiro; a sexual, por causa das relaes foradas
com o dono da sanzala e filhos; a moral, devido condenao de Inocncia Van Dum que as
separava dos filhos recm-nascidos, concebidos pelo esposo holands, e as enviava em exlio
perptuo; ou seja, a da perda pessoal de sua identidade tnica e da maternidade. Alguns
rebentos ficavam em mos alheias, criados como filhos do quintal, muitos dos quais no
eram conhecidos pelos pais, apesar de terem a pele clara.
Na obra so demonstrados episdios de abuso sexual de escravas, com contato
Pgina
299
ntimo no consentido. Nesses estupros foram geradas crianas mestias sem nome
paterno, sem identidade prpria, que eram segregadas pela cor mais clara da pele, pois no
eram nem negras, nem brancas, mas carregavam o estigma de serem crianas do quintal e
bastardas.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
Vtima de violncia sexual e social, Dolores desenvolveu uma resilincia que a permitiu
planejar a fuga de seu degredo para recapturar o seu filho, que fora apossado pela av. A
escravido fsica, psicolgica e afetiva de me e filho tinha terminado, graas resistncia da
cativa, que apesar do estupro sofrido nas mos de Hermenegildo Van Dum, no recusara o
nen, concebido de forma violenta.
Com o passar do tempo, Chicomba se conformou que no iria conseguir fugir sozinha
e alcanar a to sonhada liberdade. Os jagas, que caavam pessoas, para vend-las aos
portugueses e aos holandeses, infestavam os caminhos do interior e ela podia ser
novamente capturada e ter um destino pior. A maternidade e a relativamente tranquila vida
ao lado de um Van Dum, que lhe proporcionava certos privilgios, acalmara seu esprito e
ela aceitou a vida de companheira e me.
Lemba no teve opo, no pde se recusar aos irmos Van Dum, no entanto, ao ser
escolhida por Diogo, para viver com ele no arimo, pode ter uma vida mais tranquila.
No romance A Gloriosa Famlia: O tempo dos Flamengos, o narrador do angolano
Pepetela acusa um perodo de desumanidade, o da escravido, no qual havia um total
desrespeito aos direitos humanos das escravas, que sofriam subordinao fsica e sexual,
envolvidas, na base da presso fsica masculina, em situaes desiguais e assimtricas com
Baltazar Van Dum e seus filhos, que acreditavam poder exercer controle sobre o corpo delas
em perversos atos de violao da dignidade feminina.
Vale refletir sobre dois aspectos abordados no romance: Primeiro, se as brutais
relaes entre homens e mulheres, em uma poca na qual no h mais o sistema legal da
escravido, se repetem? Segundo, a falta de uma Declarao dos Direitos Humanos no
sculo XVII que no teria permitido a prtica escravista entre Luanda, Recife e Salvador.
Pgina
300
6. REFERNCIAS
ALENCASTRO, Luiz Felipe. O Trato dos Viventes: Formao do Atlntico Sul. Sculos XVI e
XVII. So Paulo: Companhia das Letras, 2000.
CARDOSO, Manuel da Costa. Subsdios para a histria de Luanda. Edio do Museu de
Angola. Luanda: Imprensa Nacional de Angola, 1954.
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. A era da informao: Economia, sociedade e
cultura. Trad. de Klauss B. Gerhard. So Paulo: Paz e Terra, 2008.
DECLARAO
UNIVERSAL
DOS
DIREITOS
HUMANOS.
Disponvel
em:<
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Acesso em: 12 mai.
2014.
A INSCRIO DO GNERO, RAA/ETNIA EM PRTICAS
DISCURSIVAS E FORMAO DOCENTE
HUTCHEON, Linda. Potica do Ps-Modernismo: histria, teoria, fico. Traduo de Ricardo
Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da escravido: O ventre de ferro e dinheiro. Trad. de
Lucy Magalhes. Reviso tcnica de Luiz Felipe de Alencastro. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.
MENEZES, Sezinando L.; SANTOS, Thiago C. dos. Os holandeses e o nordeste brasileiro:
1630-1654. Anais do XIX Encontro Regional de Histria: Poder, Violncia e Excluso. p. 19.ANPUH/SP-USP. So Paulo, 08 a 12 de setembro de 2008. Disponvel
em:<http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XIX/PDF/Paineis/Thiago%20Caval
cante%20dos%20Santos.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2014.
PINHO, Osmundo. O efeito do sexo: polticas de raa, gnero e miscigenao. Cadernos
Pagu. Campinas, Ncleo de Estudos de Gnero- Pagu, Unicamp, n. 23, p. 89-119, jun. dez.
2004. Disponvel em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010483332004000200004>. Acesso em: 12 mai. 2014.
7. CONOGRAFIA
Pgina
301
Figura
1Escrava
com
filho.
Disponvel
em:
<
http://www.comciencia.br/reportagens/2005/06/02.shtml>. Acesso em: 12 mai. 2014.
Figura
2Escrava
com
filho
em
um
stio.
Disponvel
em:
<http://3.bp.blogspot.com/_MNjvTyDyXgc/TTzq8HdCSzI/AAAAAAAABgU/OuchbLKP9AE/s
1600/mulhertrinidad1830.jpg>. Acesso em: 12 mai. 2014.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Diálogos Interseccionais Sobre Desigualdades e ResistênciasDokument324 SeitenDiálogos Interseccionais Sobre Desigualdades e ResistênciasVictor FelixNoch keine Bewertungen
- Pergunta 1Dokument4 SeitenPergunta 1Felipe Ikenaga100% (1)
- Educação, diversidade e direitos humanos: Trajetórias e desafiosVon EverandEducação, diversidade e direitos humanos: Trajetórias e desafiosNoch keine Bewertungen
- Cartomancia 2Dokument14 SeitenCartomancia 2Luciene CorreiaNoch keine Bewertungen
- TESSITURAS EDUCATIVAS NA ATUALIDADE: ENTRELAÇANDO OLHARESVon EverandTESSITURAS EDUCATIVAS NA ATUALIDADE: ENTRELAÇANDO OLHARESBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Manual CLÍNICA MÉDICADokument21 SeitenManual CLÍNICA MÉDICAAline NantesNoch keine Bewertungen
- Atividade Com Música 7º AnoDokument2 SeitenAtividade Com Música 7º AnoRita Muniz100% (1)
- AV2 - Corpo e MovimentoDokument4 SeitenAV2 - Corpo e MovimentoJaime RochaNoch keine Bewertungen
- Autorretrato: gênero, identidade e liberdadeVon EverandAutorretrato: gênero, identidade e liberdadeNoch keine Bewertungen
- Adriana - Dias - CapacitismoDokument14 SeitenAdriana - Dias - CapacitismoLuiz Gustavo P S CorreiaNoch keine Bewertungen
- Oficinas Pedagogicas - Discutindo Genero e Diversidade SexualDokument38 SeitenOficinas Pedagogicas - Discutindo Genero e Diversidade SexualDANIELA NUNES DO NASCIMENTONoch keine Bewertungen
- Ebook ConagesDokument313 SeitenEbook ConagesDanilo Fogaça de MacedoNoch keine Bewertungen
- Educação Antirracista - Imprimir Junho 2023Dokument6 SeitenEducação Antirracista - Imprimir Junho 2023Sonia Gonzales100% (1)
- FichaDokument9 SeitenFichaSusana Frade0% (1)
- Arcadismo LISTA DE EXERCICIOSDokument6 SeitenArcadismo LISTA DE EXERCICIOSEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Ana Lúcia Girello - Telma Ingrid Borges de Bellis Kühn - Fundamentos Da Imuno-Hematologia Eritrocitária (2016, Senac São Paulo) - Libgen - LiDokument172 SeitenAna Lúcia Girello - Telma Ingrid Borges de Bellis Kühn - Fundamentos Da Imuno-Hematologia Eritrocitária (2016, Senac São Paulo) - Libgen - LiYuli KiaNoch keine Bewertungen
- Corpo, IdentidadeDokument17 SeitenCorpo, Identidadepao31Noch keine Bewertungen
- Exercícios de Coesão GabaritoDokument8 SeitenExercícios de Coesão GabaritoEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Democracia em Tempos Difíceis: Inderdisciplinaridade, Política e SubjetividadesVon EverandDemocracia em Tempos Difíceis: Inderdisciplinaridade, Política e SubjetividadesNoch keine Bewertungen
- Completo Livro Etnia Completo 2015Dokument302 SeitenCompleto Livro Etnia Completo 2015kellys reginaNoch keine Bewertungen
- 13228-Texto Do Artigo-78107-1-10-20220518Dokument21 Seiten13228-Texto Do Artigo-78107-1-10-20220518Sérgio LimaNoch keine Bewertungen
- 2022 Arti BrunosantanaDokument15 Seiten2022 Arti BrunosantanaAnne AlencarNoch keine Bewertungen
- 1257-6483-1-PB 2Dokument11 Seiten1257-6483-1-PB 2Eli SantosNoch keine Bewertungen
- Captulo para A Elaborao Da ResenhaDokument23 SeitenCaptulo para A Elaborao Da ResenhaJúlia Duarte de AlcântaraNoch keine Bewertungen
- Manualgenero 98Dokument65 SeitenManualgenero 98ecos_sexualidadeNoch keine Bewertungen
- Cidadecorcaderno.2021.0ut - Fim 2021Dokument96 SeitenCidadecorcaderno.2021.0ut - Fim 2021adeirNoch keine Bewertungen
- Conceitos de Gênero, Etnia e Raça - Reflexões Sobre A Diversidade Cultural Na Educação EscolarDokument7 SeitenConceitos de Gênero, Etnia e Raça - Reflexões Sobre A Diversidade Cultural Na Educação EscolarCamila OliveiraNoch keine Bewertungen
- Pedagogia de MinoriasDokument8 SeitenPedagogia de MinoriasTadeu LimaNoch keine Bewertungen
- Cças Impossíveis Na EscolaDokument22 SeitenCças Impossíveis Na EscolaDina avilaNoch keine Bewertungen
- MONTAGNOLIDokument14 SeitenMONTAGNOLIDani Boneti (Dany)Noch keine Bewertungen
- Colaborar - Av2 - Educação e DiversidadeDokument6 SeitenColaborar - Av2 - Educação e DiversidadeÁurea Isabelly Ferreira SilvaNoch keine Bewertungen
- Cultura Negra e EducacaoDokument11 SeitenCultura Negra e EducacaoBruno ConstâncioNoch keine Bewertungen
- Atividade 2Dokument8 SeitenAtividade 2Pablo JacintoNoch keine Bewertungen
- Interseccionalidades e Identidades em Contextos de ProstituiçãoDokument15 SeitenInterseccionalidades e Identidades em Contextos de ProstituiçãoLetícia BarretoNoch keine Bewertungen
- BaixadosDokument12 SeitenBaixadosthaynara.201910072Noch keine Bewertungen
- Artigo - PantanalDokument28 SeitenArtigo - PantanalSônia SoaresNoch keine Bewertungen
- HonoraDokument17 SeitenHonoraCarla MachadoNoch keine Bewertungen
- Corpos Que EscapamDokument7 SeitenCorpos Que EscapamThais AguiarNoch keine Bewertungen
- Curso - Let Esp Lit - Inclusao Social CidadaniaDokument21 SeitenCurso - Let Esp Lit - Inclusao Social CidadaniaRonan Das FloresNoch keine Bewertungen
- O Saber Surge Da Prática: Por Um Serviço Social Com Perspectiva FeministaDokument22 SeitenO Saber Surge Da Prática: Por Um Serviço Social Com Perspectiva FeministaClarissa LouiseNoch keine Bewertungen
- SOARES, Alessandro - DIREITOS HUMANOS LUGARES MINORITÁRIOS - 2007Dokument9 SeitenSOARES, Alessandro - DIREITOS HUMANOS LUGARES MINORITÁRIOS - 2007Marcus MacielNoch keine Bewertungen
- Marques & Romualdo - Paulo Freire e A Educação InclusivaDokument5 SeitenMarques & Romualdo - Paulo Freire e A Educação InclusivaBreno CostaNoch keine Bewertungen
- Aprendendo Sobre Feminilidades Com Arya E Sansa Stark Da Série Game of ThronesDokument22 SeitenAprendendo Sobre Feminilidades Com Arya E Sansa Stark Da Série Game of ThronesLaraNoch keine Bewertungen
- Gênero e Sexo Onde Há DifféranceDokument14 SeitenGênero e Sexo Onde Há DifféranceAlexandre FernandesNoch keine Bewertungen
- Por Outra Epistemologia Na Educação de SurdosDokument17 SeitenPor Outra Epistemologia Na Educação de SurdosRadamir SousaNoch keine Bewertungen
- Educação PopularDokument15 SeitenEducação Popularizaque.fariaNoch keine Bewertungen
- Decolonialidade No Ensino de Ciencias - 171-208Dokument38 SeitenDecolonialidade No Ensino de Ciencias - 171-208Ana Paula SantosNoch keine Bewertungen
- cgomes,+FORUM V11 04Dokument14 Seitencgomes,+FORUM V11 04Ricardo NetoNoch keine Bewertungen
- A Transparentalidade Por Meio Da AdoçãoDokument16 SeitenA Transparentalidade Por Meio Da AdoçãoM S de BarrosNoch keine Bewertungen
- 12923-Texto Do Artigo-38734-1-10-20211215Dokument20 Seiten12923-Texto Do Artigo-38734-1-10-20211215Amanda DondaNoch keine Bewertungen
- Texto 2 - Pedagogia Das Possibilidades... WINDYZ B FERREIRADokument26 SeitenTexto 2 - Pedagogia Das Possibilidades... WINDYZ B FERREIRALetícia MacielNoch keine Bewertungen
- Apresentação Pré Projeto MestradoDokument3 SeitenApresentação Pré Projeto MestradoWillian NogueiraNoch keine Bewertungen
- HierarquiaDokument17 SeitenHierarquiaPedro VazNoch keine Bewertungen
- Questões de Gênero, Diversidade e Incluão PDFDokument8 SeitenQuestões de Gênero, Diversidade e Incluão PDFTatiana NunesNoch keine Bewertungen
- Construção Social Das Masculinidades e FeminilidadesDokument7 SeitenConstrução Social Das Masculinidades e FeminilidadesFernanda Britto P CerqueiraNoch keine Bewertungen
- 2 - IRSS Marcelo Martins SilvaDokument12 Seiten2 - IRSS Marcelo Martins SilvamarceloNoch keine Bewertungen
- CT01 RP Igor CoelhoDokument4 SeitenCT01 RP Igor CoelhoO2 Saúde Integrativa - Psi Igor CoelhoNoch keine Bewertungen
- Artigo Yuri - Geografias IndigenasDokument12 SeitenArtigo Yuri - Geografias IndigenasYuri AlémNoch keine Bewertungen
- Genero e ColonialidadeDokument27 SeitenGenero e ColonialidadeTamíres OliveiraNoch keine Bewertungen
- Alienação, Gênero e Raça Um Debate Necessário para A Formação em PsicologiaDokument4 SeitenAlienação, Gênero e Raça Um Debate Necessário para A Formação em Psicologiavitoria.aparecidaNoch keine Bewertungen
- Gênero e Publicidade: Questões de Análise Sobre A Imagem Da Identidade FemininaDokument11 SeitenGênero e Publicidade: Questões de Análise Sobre A Imagem Da Identidade FemininaCarina ClausNoch keine Bewertungen
- Aol1-Etnicos RaciaisDokument7 SeitenAol1-Etnicos Raciaiscláudia souzaNoch keine Bewertungen
- Faculdade de Educação São FranciscoDokument8 SeitenFaculdade de Educação São FranciscoRuan BarucNoch keine Bewertungen
- Gênero, Identidade de Gênero e Sexualidade ConceitosDokument6 SeitenGênero, Identidade de Gênero e Sexualidade Conceitosnivia ferreiraNoch keine Bewertungen
- (In) Visibilidades Da Diferença e Gêneros Na Escola - Problematizações (Im) PertinentesDokument10 Seiten(In) Visibilidades Da Diferença e Gêneros Na Escola - Problematizações (Im) PertinentesDionatan OliveiraNoch keine Bewertungen
- 503-Texto Do Artigo-630-1-10-20231113Dokument16 Seiten503-Texto Do Artigo-630-1-10-20231113AntonioNoch keine Bewertungen
- Cap Genero EducDokument51 SeitenCap Genero EducVanessa SalgadoNoch keine Bewertungen
- A Bicha Como Limite PDFDokument22 SeitenA Bicha Como Limite PDFEgberto OliveiraNoch keine Bewertungen
- Exemplos de ModalizaçãoDokument3 SeitenExemplos de ModalizaçãoMaribel DiazNoch keine Bewertungen
- Análise de ContosDokument1 SeiteAnálise de ContosAngélica GarciaNoch keine Bewertungen
- Atividade de Coesao TextualDokument4 SeitenAtividade de Coesao TextualEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Ortografia Simulado GabaritoDokument4 SeitenOrtografia Simulado GabaritoEliana Aparecida da Silva0% (1)
- Exercícios de CoesãoDokument5 SeitenExercícios de CoesãoEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Osimplcitostextuais 160731030853Dokument13 SeitenOsimplcitostextuais 160731030853Eliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- O Retrato OvalDokument3 SeitenO Retrato OvalEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Didática de EspanholDokument7 SeitenDidática de EspanholEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Emprego Dos PorquesDokument2 SeitenEmprego Dos PorquesEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- O Mistério Da Carta RoubadaDokument3 SeitenO Mistério Da Carta RoubadaEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- AvaliaDokument3 SeitenAvaliaEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Espanha e ChileDokument2 SeitenEspanha e ChileEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Indicacoes Contos de TerrorDokument2 SeitenIndicacoes Contos de TerrorEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Prova de Português GABARITODokument4 SeitenProva de Português GABARITOEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Ceebja Estudo RegenciaDokument5 SeitenCeebja Estudo RegenciaEliana Aparecida da SilvaNoch keine Bewertungen
- Rite of Memphis Misraim in Freemasonry ADokument11 SeitenRite of Memphis Misraim in Freemasonry AGabriel MendesNoch keine Bewertungen
- Filhos Da Luz (Hammed)Dokument12 SeitenFilhos Da Luz (Hammed)api-3715923Noch keine Bewertungen
- Lovisolo - A Arte Da MediaçãoDokument81 SeitenLovisolo - A Arte Da MediaçãoJullyanne CavalcantiNoch keine Bewertungen
- Sociedade, Cultura e Religião SlideDokument10 SeitenSociedade, Cultura e Religião SlideMarcio WrésNoch keine Bewertungen
- A Arvore Dos DefeitosDokument3 SeitenA Arvore Dos DefeitosJessica LeitãoNoch keine Bewertungen
- Recursos Expressivos 2o CicloDokument2 SeitenRecursos Expressivos 2o CicloPirâmide Dos Tecidos100% (1)
- Folder Assexualidades 19052023Dokument2 SeitenFolder Assexualidades 19052023diegopsicoterapeutaNoch keine Bewertungen
- Testes Sheridan 12 18Dokument4 SeitenTestes Sheridan 12 18Camila SampaioNoch keine Bewertungen
- Cine Recreio Proposta ParceriaDokument18 SeitenCine Recreio Proposta ParceriaMarcelo CorderoNoch keine Bewertungen
- Aulas PVM ISEG MCFFE v1Dokument30 SeitenAulas PVM ISEG MCFFE v1João Marques FernandesNoch keine Bewertungen
- FACIESDokument1 SeiteFACIESAlessandra Paz SilverioNoch keine Bewertungen
- Hinario Ogum 21-04-20Dokument10 SeitenHinario Ogum 21-04-20Rodrigo GomesNoch keine Bewertungen
- (Rayra Kalidan) Apostila RESTAURAÇÃO DIVINADokument12 Seiten(Rayra Kalidan) Apostila RESTAURAÇÃO DIVINAelaineormeniNoch keine Bewertungen
- Diretrizes Da Educação Do Campo - SEC-BADokument13 SeitenDiretrizes Da Educação Do Campo - SEC-BAAnaldino FilhoNoch keine Bewertungen
- Desobsessao 2Dokument25 SeitenDesobsessao 2Fernanda TempleNoch keine Bewertungen
- Revista Datavenia PLDokument47 SeitenRevista Datavenia PLCarlos Eduardo PereiraNoch keine Bewertungen
- Prova Ufsc - Matemaitca 2018Dokument6 SeitenProva Ufsc - Matemaitca 2018Icaro VenturaNoch keine Bewertungen
- Andamento Processos Abr 12Dokument21 SeitenAndamento Processos Abr 12ailtonaparecidobarboNoch keine Bewertungen
- PDFDokument277 SeitenPDFwashington783Noch keine Bewertungen
- Ata Gabriel X ViaDokument4 SeitenAta Gabriel X ViaPaula Carolline Barroso E SilvaNoch keine Bewertungen
- ET 31 300 00 - Transformador de PotênciaDokument77 SeitenET 31 300 00 - Transformador de PotênciaPaulo AbreuNoch keine Bewertungen
- Trabalho 1. Critérios Avaliação Trabalhos de GrupoDokument2 SeitenTrabalho 1. Critérios Avaliação Trabalhos de GrupoAndreia TeixeiraNoch keine Bewertungen
- Engenharia Dos Materiais URIDokument97 SeitenEngenharia Dos Materiais URIGustavoNoch keine Bewertungen