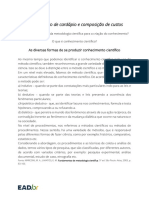Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Revista de Filosofia da UNESP
Hochgeladen von
eudumalOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Revista de Filosofia da UNESP
Hochgeladen von
eudumalCopyright:
Verfügbare Formate
TRANS/FORM/AO
Revista de Filosofia da UNESP
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
Reitor
Sandro Roberto Valentini
Vice-Reitora
Sergio Roberto Nobre
Pr-Reitora de Pesquisa
Carlos Frederico de Oliveira Graeff
FACULDADE DE FILOSOFIA E CINCIAS
Diretor
Marcelo Tavella Navega
Vice-Diretor
Pedro Geraldo Aparecido Novelli
Departamento de Filosofia
Chefe
Ricardo Monteagudo
Vice-Chefe
Marcos Antonio Alves
Programa de Ps-Graduao em Filosofia
Coordenador
Lcio Loureno Prado
Vice-Coordenadora
Mariana Cludia Broens
Conselho de Curso do Curso de Filosofia
Coordenador
Kleber Cecon
Vice-Coordenador
Paulo Cesar Rodrigues
Revista financiada com recursos Pr-Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual Paulista e
CNPq/CAPES
TRANS/FORM/AO
Revista de Filosofia da UNESP
ISSN 0101-3173
TFACDH
Trans/Form/Ao Marlia v. 40 n. 1 p. 1-292 Jan./Mar. 2017
Correspondncia e artigos para publicao devero ser encaminhados :
Correspondence and articles for publications should be addressed to:
TRANS/FORM/AO
http://www.unesp.br/prope/revcientifica/TransFormAcao/Historico.php
transformacao@marilia.unesp.br
Departamento de Filosofia/Programa de Ps-Graduao em Filosofia da FFC-Unesp
Av. Hygino Muzzi Filho, 737
17525-900 Marlia SP
Editor Responsvel
Paulo Csar Rodrigues; Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquista Filho; Marlia/SP, Brasil.
Comisso Editorial
Andrey Ivanov; Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquista Filho; Marlia/SP, Brasil.
Lcio Loureno Prado; Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquista Filho; Marlia/SP, Brasil.
Kleber Cecon, Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquista Filho; Marlia/SP, Brasil.
Mrcio Benchimol Barros; Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquista Filho; Marlia/SP, Brasil.
Reinaldo Sampaio Pereira; Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquista Filho; Marlia/SP, Brasil.
Ubirajara Rancan de Azevedo Marques; Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquista Filho; Marlia/SP, Brasil.
Conselho Consultivo
Alain Grosrichard; Universit de Genbra; Genebra, Sua.
Antnio Carlos dos Santos; Universidade Federal de Sergipe; So Cristvo/SE, Brasil.
Bertrand Binoche; Universit de Sorbonne-Paris I; Paris, Frana.
Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento; Unicamp; Campinas/SP, Brasil.
Catherine Larrce; Universit de Sorbonne-Paris I; Paris, Frana.
Gregorio Piaia, Universit di Padova, Pdua, Itlia.
Hugh Lacey; Swarthmore College; Swathmore, EUA.
Itala M. Loffredo DOttaviano; Unicamp; Campinas/SP, Brasil.
Marco Aurlio Werle; USP; So Paulo/SP, Brasil.
Marcos Barbosa de Oliveira; USP; So Paulo/SP, Brasil.
Maria das Graas de Souza; USP; So Paulo/SP, Brasil.
Marilena de Souza Chau; USP; So Paulo/SP, Brasil.
Michael Lwy; Centre National de Recherche Scientifique CNRS; Paris, Frana.
Oswaldo Giacia Junior; Unicamp; Campinas/SP, Brasil.
Oswaldo Porchat de A. Pereira da Silva; USP; So Paulo/SP, Brasil.
Paulo Eduardo Arantes; USP; So Paulo/SP, Brasil.
Willem F.G. Haselager; University of Nijimegen; Nijimegen, Holanda.
Wolfgang Leo Maar; UFSCar; So Carlos/SP, Brasil.
Publicao trimestral/Quarterly publication
Solicita-se permuta/Exchange desired
TRANS/FORM/AO : revista de filosofia / Faculdade de Filosofia,
Cincias e Letras de Assis. - Vol. 1 (1974) - Vol. 2 (1975) ; Vol. 3 (1980)- . -- Assis : Faculdade de Filosofia, Cincias e
Letras, 1974 - 1975 ; 1980 -
Quadrimestral : 2011 -
Semestral : 2003 - 2010
Anual : 1974 - 2002
Publicao suspensa : 1976 - 1979
Publicada por : Vol. 3 (1980) Biblioteca Central da Unesp (Marlia) ; Vol. 4 (1981) - Vol. 8 (1985) Centro de
Publicaes Culturais e Cientficas (So Paulo) ; Vol. 9/10 (1986) - Vol. 18 (1995) Fundao para o Desenvolvimento
da Unesp (So Paulo) ; Vol. 19 (1996) - Vol. 26 no. 1 (2006) Fundao Editora da Unesp ; Vol. 26 no. 2 (2003)-
Faculdade de Filosofia e Cincias (Marlia)
ISSN : 0101-3173
1. Filosofia - Peridicos. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Filosofia e Cincias - Campus de Marlia.
CDD 105
Os artigos publicados em TRANS/FORM/AO so indexados por:
The articles published in TRANS/FORM/AO are indexed by:
Bibliografia Teolgica Comentada; Bibliographie Latinoamericaine DArticles; Clase-Cich-Unam; Dare Databank; DIADORIM; ISI Web of
Science; MLA Internacional Bibliography, International Directory of Philosophy and Philosophers; The
Philosophers Index; International Philosophical Bibliography (Repertoire Bibliographique de la Philoso-phie);
Linguistic & Language Behavior Abstracts; Revista Interamericana de Bibliographia; Sociological
Abstracts; Worldwide Political Science Abstracts; Scientific Eletronic Library on-line (www.scielo.br).
Sumrio / Contents
Palavra do Editor................................................................................................... 7
Artigos / Articles
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam: Um Tributo
The many faces of Putnams internal realism: a tribute
Lo Peruzzo Jnior................................................................................................. 9
A Liberdade de Escolha em Bergson e Schopenhauer
Freedom of choice in Bergson and Schopenhauer
Helio Lopes da Silva............................................................................................... 25
O Ensaio em Lukcs: Estilo Tardio e a Forma da Juventude
The essay in Lukcs: the later style and the youthful form
Cesar Kiraly .......................................................................................................... 51
Do Gnio ao Jogo. O papel da Tcnica na Transformao dos Valores Estticos
em Walter Benjamin
From the genius to the game: the role of technology in the transformation of
aesthetic values in Walter Benjamin
Nlio Rodrigues Conceio....................................................................................... 87
Trs Faces de um Poema. Leitura do Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond
de Andrade
Three faces of a poem: a reading of the Poema de Sete Faces by Carlos Drummond
de Andrade
Cristiano Perius...................................................................................................... 109
La Emancipacin de Un Cuerpo Sin rganos Puesta a Prueba: 31 Bienal
de So Paulo
The emancipation of a body without organs put to the test: the 31st Sao Paulo
Biennial
Rosa Mara Droguett Abarca................................................................................... 127
Diferentes Diferencias
Different differences
Valentina Bulo Vargas; Rodolfo Merio Guzmn...................................................... 151
Zizek com lacan em: kant sem Sade. Liberdade como Reapropriao do Gozo
Zizek with Lacan in Kant without Sade: freedom as the reappropriation of pleasure
Fernando Fac de Assis Fonseca; Hildemar Luiz Rech............................................... 165
Donacin y Subjetividad en La Nueva Fenomenologa en Francia:
Marion, Romano y Barbaras
Donation and subjectivity in the new French phenomenology:
Marion, Romano and Barbaras
Patricio Mena Malet............................................................................................... 187
Sobre El Abuso de Lo Necesario A Posteriori
On the abuse of the necessary a posteriori
Rafael Miranda Rojas............................................................................................. 211
O Contrato de Glucon
Glaucons contract
Luiz Maurcio Bentim da Rocha Menezes................................................................ 235
Discursos Duplos (Dissoi Logoi), Traduo Anotada
Annotated translation of the Twofold Arguments (Dissoi Logoi)
Joseane Mara Prezotto............................................................................................. 253
Normas para apresentao dos originais................................................................. 289
Submission guidelines........................................................................................... 291
Palavra do Editor
Palavra do Editor
Temos a honra de apresentar o primeiro fascculo do volume 40 da
Revista TRANS/FORM/AO, correspondente aos meses de janeiro a maro
de 2017. Fundada em 1974 e com uma breve interrupo em sua regularidade
editorial, de 76 a 79, a Revista comemora, no corrente ano, o lanamento
de seu quadragsimo volume, destacando-se como uma das mais tradicionais
publicaes de Filosofia do Brasil.
Abrimos este fascculo com um artigo de Lo Peruzzo, homenageando
o filsofo Hilary Putnam, falecido em maro de 2016. A propsito, em
2015, Putnam concedeu, ao prprio Lo Peruzzo, uma entrevista que foi
possivelmente sua ltima manifestao pblica. Tal entrevista foi publicada
na Revista TRANS/FORM/AO, v. 38, n 2, de 2015. Ademais, o presente
nmero rene relevantes contribuies para a pesquisa em Filosofia, sobretudo
contempornea, uma vez que o fascculo tematiza, particularmente, as obras de
pensadores dos sculos XIX e XX, tais como Schopenhauer, Bergson, Lukcs,
Benjamin, Deleuze e Guattari, Lacan, a fenomenologia francesa mais recente
etc. O fascculo traz tambm uma interpretao filosfica de um poema de
Drummond, um estudo do Livro II da Repblica de Plato e um trabalho
mais analtico sobre o necessrio a posteriori. Vale destacar, igualmente, a
traduo anotada de um texto sofstico do sculo IV a. C., os Dissoi Logoi ou
Discursos Duplos.
Agradecemos todas as contribuies, bem como a nossa competente
equipe editorial. Desejamos ao pblico interessado uma excelente leitura.
Paulo Csar Rodrigues1
1
Docente do Departamento de Filosofia da UNESP Campus de Marlia SP Brasil paulo.
rodrigues@marilia.unesp.br
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 7-8, Jan./Mar., 2017 7
8 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 7-8, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary
Putnam: Um Tributo
Lo Peruzzo Jnior1
Resumo: Este artigo pretende analisar, a partir da obra de Hilary Putnam (1926-2016), algumas das
muitas faces de seu realismo interno. Embora seu pensamento seja marcado pelo funcionalismo (posio
parcialmente abandonada), so no externalismo e holismo semnticos que repousam suas afirmaes-
chave. Desse modo, inicialmente, reconstrumos como Putnam salvaguarda o realismo interno e sua
posio pragmatista a respeito de Wittgenstein. Em seguida, mostramos como o autor sugere que o
debate psicofsico entra em colapso, com base na aceitao do valor das propriedades semnticas para
a instanciao do contedo mental.
Palavras-Chave: Realismo interno. Externalismo semntico. Holismo semntico. Funcionalismo.
Hilary Putnam.
Introduo
A questo como que a linguagem se encaixa no mundo , no fundo,
uma repetio da antiga questo como que a percepo se encaixa no
mundo?(PUTNAM, 2002, p. 35).
A tipografia filosfica de Hilary Putnam (1926-2016), embora
marcada pelo antagonismo de suas posies, situa-se, por um lado, no limiar
epistemolgico do realismo interno e, por outro, no colapso metafsico da
distino entre fato e valor (PUTNAM, 1990, 2016). Nesse sentido, uma rpida
digresso histria em sua obra permite concluir que Putnam argumentar que
a possibilidade de objetividade absoluta , seguramente, fantasiosa e ingnua.
O excesso e a nsia metafsica, portanto, precisam ter suas arestas esculpidas,
para que o entendimento possa inferir juzos cognitivos acerca da relao entre
as nossas percepes e a realidade.
Ao argumentar a favor disso, Putnam rigoroso, sugerindo que
os significados no sejam objetos cientficos. Essa forte concluso, que
caracterizar toda sua trajetria intelectual, encontra sua razes no fato de que
1 Professor do Programa de Ps-Graduao - Mestrado e Doutorado em Filosofia da Pontifcia
Universidade Catlica do Paran PUCPR e professor do Departamento de Filosofia da FAE
Centro Universitrio. E-mail: leoperuzzo@hotmail.com
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 9
JNIOR, L. P.
fora aluno de Rudolf Carnap (1891-1970) e Hans Reichenbah (1891-1953),
antigos membros do Wiener Kreis.Talvez por essas razes, e por uma srie de
outras, Putnam retome a classificao que os positivistas lgicos introduziram
entre sentenas analticas (tautologias que independem de validao exterior),
sentenas sintticas (cuja verificao e falseamento dependem de comprovao
emprica) e sentenas sem valor cognitivo, ou tambm, contrassensos (PUTNAM,
1981, 2002), procurando introduzir o argumento segundo o qual as sentenas
normalmente no possuem condies de verdade independentes de seus contextos.
Nesse caso, Putnam sustenta que h fatos externos e que podemos dizer como
so, porm, o papel de instrumento organizador da experincia desempenhado
pelo elemento da natureza intrinsecamente social, que a linguagem, uma vez
que os fatos no so independentes de toda escolha conceitual.
Entre os primeiros crticos da concluso anterior esto John Searle, em
The Rediscovery of the Mind (1992), e Noam Chomsky, em New Horizons in
the Study of Language and Mind (2000). O primeiro acusa o funcionalismo
de Putnam de naturalizar o contedo intencional e revitalizar-se em teorias
causais externalistas de referncia:
A ideia por trs de tais concepes a de que o contedo semntico, isto ,
os significados, no podem estar inteiramente nas nossas cabeas porque o
que h em nossas cabeas insuficiente para determinar como a linguagem
se relaciona com a realidade. (SEARLE, 2006, p. 75).2
Searle tambm dedica o captulo 8 de Intentionality: an essay in the
philosophy of mind para mostrar, ao contrrio de Putnam, que os significados
esto na cabea e que estes no consistem em estar, por exemplo, em um estado
psicolgico (SEARLE, 2002, p. 275-320).3 J o gerativismo de Chomsky,
2 No artigo The analytic and the synthetic, Putnam rejeita a ideia de que definies estabelecem
referncias. Segundo ele, a referncia de um termo cientfico no dada por uma definio, mas
por uma combinao de teorias e experimentos. Como as teorias e os experimentos dependem do
ambiente externo, a referncia tambm depende do ambiente.
3 Putnam (2005, p. 292), numa entrevista concedida a Julian Baggini e Jeremy Stangroom, publicada
na obra What Philosophers Think, parece atacar, implicitamente, alguns argumentos do naturalismo de
Searle: Digo que para conhecer o significado de uma palavra voc tem de ver o contecto em que ela
usada, e no tanto o crebro ou as imagens mentais de quem fala. Esse um tipo de contextualidade. O
holismo de significado diz que quanto mais o contexto puder reagir, melhor ser a hiptese sobre o que
uma palavra significa. Portanto, eles esto interligados por sua conexo mtua com a contextualidade,
ao fato de que o significado de uma palava algo que ela possui, como diz Frege, no contexto de
uma sentena, ou, como diz Wittgenstein em dois lugares, na corrente da vida, que meu favorito
princpio do contexto. Eu o chamo de princpio do contexto de Wittgenstein.
10 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
munido por seus mecanismos especializados, diverge de Putnam (1998, p.
15), que afirmara, em Representation and Reality, que inconcebvel supor
que temos um estoque inato de noes. Nesse sentido, Chomsky claramente
enftico no curso de seu argumento antirrealista: Supor que, no curso da
evoluo, os seres humanos passaram a ter um estoque inato de noes,
incluindo carbureto e burocrata, no quer dizer que a evoluo foi capaz de
antecipar toda contingncia fsica e cultural apenas essas contingncias.
(CHOMSKY, 2005, p. 129).
As hipteses de Searle e Chomsky, se analisadas a partir da perspectiva
de Putnam, so triviais porque traadas paralelamente existncia de algumas
posies do externalismo semntico. De certo modo, o externalismo semntico
argumenta contra a dicotomia linguagem/mundo, mente/realidade, valor/fato,
uma vez que s se pode falar do segundo (mundo, realidade, fato) depois de ter
adotado um esquema conceitual indissocivel do primeiro (linguagem, mente,
valor) (PUTNAM, 1973). O colapso da verdade, portanto, adentrar contra
a iluso de que se pode chegar aos fundamentos objetivos do mundo. Alis,
essa afirmao j carregada de problemas, por enunciar a possibilidade de
definies sobre o mundo. A melhor definio de uma espcie como gua,
por exemplo, no muda a referncia do termo. O que muda o conhecimento
sobre a espcie, pois este e a definio de um termo so insuficientes por si ss
para fixar uma referncia. Segundo Putnam, o fundamental o carter social
da semntica dos termos que designam espcies naturais (PUTNAM, 2013).
Do Realismo Metafsico ao Realismo Interno: a natureza da verdade
Em outras palavras, o problema retratado por Putnam que se torna
impossvel realizar uma avaliao classificatria (entre sentenas analticas ou
sintticas) para todo tipo de sentena, independentemente do contexto em
que ela esteja inserida. Nesse caso, especificamente para o Positivismo Lgico,
a ausncia de sistematicidade na definio da sentena ou sua incongruncia
lgico/formal automaticamente ocasionava o nascimento de um contrassenso.
contra esse tipo de posio filosfica que Putnam centraliza sua rejeio
dicotomia fato/valor (PUTNAM, 1982).
De modo similar questo anterior, j no incio da obra The collapse
of the fact/value dichotomy and other essays, Putnam remete-se a uma pergunta
clssica: Isso um fato ou um juzo de valor? Substancialmente contrria
ao que defender Putnam, a resposta poderia ser que os fatos so constataes
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 11
JNIOR, L. P.
objetivas e que os valores podem ser tidos como impresses subjetivas.
Entretanto, os prprios positivistas do Weiner Kreis viram-se obrigados a
renunciar tese de que os fatos devessem ser apenas observveis diretamente
pelos sentidos, porque h enunciados cognitivamente importantes, embora
empiricamente no-analisveis (PUTNAM, 2002).
Em suma, Putnam est convicto de que a dicotomia entre fato e valor
entra em colapso por dois grandes motivos: o primeiro se deve ao abandono
realizado por Carnap (1934) da noo de enunciados factuais como aqueles
capazes de serem traduzidos pelos sentidos fsicos; o segundo, sustentado pela
crtica de Quine na demolio da ambivalncia entre enunciados analticos e
sintticos, isto , no seria possvel dividir a totalidade dos enunciados de uma
linguagem em verdadeiros ou falsos devido experincia (sintticos a posteriori)
ou em enunciados necessariamente verdadeiros (analticos a priori). Assim, de
acordo com Quine (2011), qualquer enunciado, inclusive os enunciados da
lgica, poderiam ser revisados pela experincia.
Em ambos os casos, Putnam, sob clara inspirao wittgensteiniana ps-
Tractatus, acredita que os positivistas lgicos erram ao reconstruir uma viso
de cincia pautada numa distinta separao entre termos valorativos e termos
descritivos (PUTNAM, 2008b). Combater esse pseudo-argumento tornou-se,
certamente, um dos elementos fulcrais da sua virada realista a questo de
como a linguagem se conecta com a realidade uma vez que Putnam esteve
comprometido com a viso de que a verdade uma questo de simplesmente
descobrir e afirmar o que o caso, num mundo que existe independentemente
da mente humana. Nesse sentido, Baghramian (2008, p.18) enfatiza,
referindo-se a Putnam, trs princpios de sua viso sobre o realismo cientfico
que mostrariam os (pseudo)problemas derivados da relao entre as teorias
cientficas (mente) e a realidade (mundo):
1) Princpio da Referncia: termos utilizados em teorias cientficas ma-
duras tipicamente referem;
2) Princpio da Verdade: teorias cientficas maduras so (aproximada-
mente) verdadeiras; e
3) Princpio da Convergncia: novas teorias no substituem aquelas
antigas, mas so construdas sobre elas.
Segundo Putnam, os princpios da referncia e da verdade tornam-se
12 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
subsumidos ao princpio da convergncia. O argumento para demonstrar essa
posio que, por um lado, as novas teorias descrevem (geralmente) melhor
os mesmos objetos que as teorias antigas, uma vez que as primeiras contm
mais enunciados verdadeiros que estas ltimas, e, por outro, porque os termos
tericos mantm sua referncia atravs das teorias explicando como poderia
haver convergncia na cincia (PUTNAM, 1978, p. 69).
O realismo cientfico, ou realismo natural4, deve ser visto como uma
explicativa teoria emprica da prtica cientfica, na qual o esprito deve [...]
transformar-se nos seus objetos, embora apenas potencialmente, ou o esprito
assumir a forma do objeto apreendido sem a sua matria. (PUTNAM,
2002, p. 56). Essa posio, se confrontada no limiar da epistemologia
tradicional, expressa, por um lado, o vazio de qualquer teoria da identidade
e, por outro, os equvocos derivados da dependncia do verificacionismo como
modelo explicativo para compreenso do funcionamento da cincia em geral.
Nesse sentido,
[a] concepo realista natural, que nos foi recomendada por Austin
e Wittgenstein, no , em ltima anlise, uma concepo metafsica
alternativa, embora, no caso de James, tivesse pretenses de o vir a ser. Para
o realismo natural, vencer ver a inutilidade e a initeligibilidade de uma
imagem que impem uma interface entre ns prprios e o mundo. uma
forma de completar a tarefa da filosofia, aquela que John Wisdom outrora
denominou uma viagem do familiar para o familiar. (PUTNAM, 2002,
p. 84).
O realismo de Putnam parece claramente negar que os instrumentos
e as formas de discursos cientficos sejam modos de expanso de nossas
capacidades perceptuais e conceituais, ou mesmo que esses modos sejam
extremamente interdependentes. Ao contrrio, a percepo ou a realidade
podem fundir-se numa nica prtica complexa, como ele mesmo procura
sustentar, em O Perfil da Cognio, terceira conferncia de The Threefold Cord.
O fato de uma conjectura no poder ser verificvel, por exemplo, nem sequer
em princpio, no significa que no corresponda a uma realidade. Nas pegadas
de Wittgenstein, Putnam acredita que a manipulao de objetos sintticos evita
uma concepo deflacionista, j que no necessrio identificar a compreenso
como a posse de aptides de verificao.
4 Que o sucesso da cincia em fazer muitas previses verdadeiras, a elaborao de melhores formas de
controlar a natureza, etc., um fato emprico indubitvel. Se o realismo uma explicao deste fato, o
realismo deve ser ele mesmo uma hiptese emprica abrangente. (PUTNAM, 1978, p. 19).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 13
JNIOR, L. P.
Na contramo de um cientificismo positivista, o realismo interno de
Putnam continua sendo uma posio metafsica que vincula epistemologia
a ausncia de uma distino ntida entre sujeito/mundo, isto , como no h
uma descrio correta da realidade, a verdade uma idealizao da justificao
ou, nos dizeres do autor, de aceitabilidade racional. Por um lado, o realismo
interno aceita a forte intuio realista do senso comum e, por outro, uma
convergncia entre o realismo metafsico, no qual a realidade independente
do sujeito e a verdade um tipo de correspondncia da linguagem com a
realidade, e o relativismo conceitual.
Conforme Putnam, um no-realista ou realista interno concebe os
enunciados condicionais, isto , aqueles que versam sobre crenas sob certas
condies, como enunciados que entendemos apreendendo suas condies de
justificao (PUTNAM, 1975a, 1975b). Entretanto, isso no significa que o
realismo interno abandone a distino entre verdade e justificao, mas que a
verdade pode ser apreendida como qualquer outro conceito, por meio de uma
compreenso dos fatores que fazem ser racionalmente aceitvel dizer que algo
verdadeiro (PUTNAM, 1981). Assim, situando-se fora do tema da dicotomia,
Putnam est interessado numa espcide de realismo natural segundo o qual,
na trilha de Wittgenstein, a linguagem ordinria seria suficientemente capaz de
capturar a realidade. Putnam assim se refere a essa questo:
Que a cincia busque construir uma imagem de mundo que seja verdadeira
em si mesmo um enunciado verdadeiro, um enunciado verdadeiro, formal
e quase vaazio; somente os critrios de aceitabilidade racional implcitos na
cincia dotam de contedo material a seus objetivos. Em resumo, estou
dizendo que a resposta a posio do oponente imaginrio, aquela que define
que o nico objetivo da cincia descobrir a verdade [] dizer que a
verdade no a questo de fundo: a verdade mesma obtm sua vida a partir
de nossos critrios de aceitabilidade racional e devemos examinar estes se
desejamos descobrir os valores que esto efetivamente implcitos na cincia.
(PUTNAM, 1981, p. 134).
O Wittgenstein de Putnam: uma questo aberta?
A postura realista de Putnam associvel ao pragmatismo americano
de Pierce e Dewey, uma vez que, entre seus valores, esto o falibilismo, o
pluralismo e uma postura naturalista de senso comum. E, sem dvida alguma,
nesse terreno do pragmatismo que Putnam v o desenvolvimento do
pensamento wittgensteiniano e o desvelar de que a linguagem no pode ser
14 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
reduzida simplesmente ao seguimento de regras.5 Conforme aponta Putnam
(2003, p.42), um dos pontos nodais das Investigaes Filosficas situam-se no
limiar entre aqueles que normalmente se encontram de acordo e, no menos
complexo, aqueles que efetivamente esto em desacordo. A assertiva para
clarear as premissas anteriores que a singularidade interna de cada jogo de
linguagem que permite a existncia de verdade, mas que no so todos que
esto na capacidade de ver e reconhec-la. Putnam quer provar que, assim
como o no cognitivista falha, ao excluir o valor da apreciao cientfica,
o relativismo, que Wittgenstein combate, infere a verdade a partir de uma
perspectiva local. Contudo, em que sentido, portanto, o realismo interno
estaria condicionado ao problema da normatividade da linguagem? A resposta
parece ser carregada do prprio valor da linguagem comum: os significados no
so objetos cientficos, isto , a ideia de termos de observao independentes de um
contexto no prova ser um meio muito sustentvel.
Quando escrevi para Hilary Putnam a primeira vez, em 13 de fevereiro
de 2014, o interesse era saber se ele ainda acreditava que Wittgenstein era
uma pragmatista moderado (PUTNAM, 2015). Essa dvida havia surgido,
preliminarmente, por duas razes: a primeira, porque estava defendendo a tese
de doutoramento, na qual sustentava que, a partir dos textos de Wittgenstein,
era possvel derivar o que intitulava de cognitivismo moral pragmtico;
a segunda razo, um pouco mais exegtica, que acabara de ler os livros
Pragmatism: An open question e The Collapse of the fact/value dichotomy and
the other essays. Especialmente neste ltimo, Putnam apresentava o realismo
moral de modo que no fosse associado com a ideia de que existe algum
conjunto final de verdades morais expressas em algum vocabulrio moral ou
legal fixo: [] novos conceitos trazem consigo a possibilidade de formular
novas verdades. Se a ideia de uma verdade final petrificada no faz sentido
na cincia, ainda mais o caso de que no faa sentido na tica e no direito.
(PUTNAM, 2008a, p. 146).
Putnam enviou-me, duas semanas depois de meu contato6, o captulo
28 de Philosophy in an Age of Science: Physics, Mathematics and Skepticism,
5 David Anderson (1992), em What is Realistic about Putnams Internal Realism, um excelente
ensaio que demonstra os antaganonismos do realismo de Putnam, afirma que o mesmo poderia ser
mais bem descrito como defensor de um realismo pragmtico, atribuindo a definio herana
conceitual recebida da tradio filosfica americana.
6 Putnam respondeu-me, para minha surpresa, da seguinte forma: Caro Senhor Peruzzo, obrigado
por sua mensagem. Estou enviando em anexo um artigo reconsiderando alguns aspectos de meu ponto
de vista sobre Wittgenstein (este apareceu num livro publicado em 2012 chamado Philosophy in an
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 15
JNIOR, L. P.
editado por Mario De Caro e David Macarthur, que tem como ttulo
Wittgenstein: a reappraisal.7 No referido captulo, Putnam considera ser
relevante a influncia de Wittgenstein sobre seu pensamento, mas confessa
que algumas sees da obra, especialmente os trabalhos sobre o ceticismo,
foram escritas num perodo em que ele era menos crtico de algumas vises
do filsofo vienense. As passagens que lhe so mais caras so aquelas nas quais
Wittgenstein chama a ateno para a pluralidade dos jogos de linguagem e a
pluralidade de formas de vida que se entrelaam com esses jogos.
Embora Putnam no tenha respondido explicitamente a minha
pergunta, se Wittgenstein era ou no um pragmatista, no ensaio afirma
concordar com Wittgenstein, ao rejeitar a ideia de que somente a linguagem
cientfica realmente uma linguagem de primeira classe para a descrio do
mundo. Alm disso, tambm aceitaria a ideia de que seguir uma regra no pode
ser um processo fisicalisticamente ou, ento, platonisticamente, uma vez que
no teramos trilhos mentais para nos assegurar claramente quando seguimos
seguramente a regra em questo.
A discordncia em relao a Wittgenstein residiria, segundo o prprio
Putnam, na ideia de que a metafsica como um todo, iniciando-se com
Scrates, sem valor. As interpretaes do Tractatus e das Investigaes so
colocadas com o mesmo pano de fundo, o que acarretaria, por sua vez, uma
srie de digresses conceituais (PUTNAM, 2003, p. 39-45). Na verdade, de
acordo com Wittgenstein, a gramtica metafsica uma espcie de doena
que, para ser curada, deveramos ser submetidos a um tipo misterioso de
terapia lingustica. contra esse tipo de concluso que Putnam se manifesta
absolutamente contrrio e considera ser um equvoco. Assim, a viso
pragmatista de Putnam claramente observa que, para Wittgenstein, a ideia
segundo a qual uma palavra tem um significado que a circunda, como uma
aura que acompanha todos os seus contextos de uso, determinando o modo
em que a usamos em todos os contextos, uma iluso (PUTNAM, 2003,
p.38).
Voltando-nos ao conceito de filosofia e abandonando suas motivaes
pragmatistas, na obra Reason, Truth and History, publicada em 1981, que o
autor enfrenta os problemas mais perseverantes da filosofia a natureza da
Age of Science, com outros sete captulos sobre Wittgenstein) que poderiam ser interessantes para voc.
Cordialmente, Hilary Putnam.
7Outros apontamentos sobre essa questo podem ser encontrados em Naturalism in Question (2004) e
Naturalism and Normativity (2010), organizados por Mario De Caro e David Macarthur.
16 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
verdade, do conhecimento e da racionalidade. Todavia, especialmente contra
certo nmero de dicotomias, tradicionalmente preservadas como cannes
pelos filsofos, que residem os limites do relativismo epistemolgico, o qual seu
realismo interno pretende enfrentar. Com isso, defende que h uma relao
estreita entre as noes de verdade e racionalidade, pois o nico critrio para
decidir o que constitui um fato aquilo que racional aceitar.
Uma das finalidades de seu estudo , portanto, mostrar que nossa noo
de racionalidade , no fundo, somente uma parte de nossa concepo do
desenvolvimento humano. Uma noo equivocada de racionalidade teria sido
instaurada por duas importantes tendncias: a primeira, o positivismo lgico,
para o qual o mtodo de justificao racional seria alcanado pela constncia
de uma escrita de descrio do prprio mtodo cientfico; a segunda tendncia,
no menos grosseira, seria derivada do anarquismo cientfico encontrado, por
exemplo, nos trabalhos de Thomas Kuhn (1922-1996) e Paul Feyerebend
(1924-1994). Segundo esses autores, a cincia no teria uma justificao
racional, porque segue os saltos gestlticos que as diferentes pocas produzem.
Essa viso relativista e antagnica seria responsvel pelo florescimento dos
diferentes paradigmas de racionalidade.
Assim, contra essa imagem de racionalidade, Putnam adverte que a
verdade depende de valores, visto que, embora no haja nenhum conjunto
de princpios morais, a-histricos, isso no significa aceitar que tudo seja
simplesmente cultural e relativo (PUTNAM, 1981). Isso significa, pois, que a
aceitabilidade racional, por exemplo, nas cincias exatas, depende de virtudes
cognitivas, como a coerncia e a simplicidade funcional, evidenciando que
ao menos alguns conceitos de valor representam propriedades das coisas a que
elas se aplicam. No pertencem, nesse caso, precisamente aos sentimentos da
pessoa que os usa. Tomando esses argumentos como verdadeiros, pois, a teoria
de Putnam sugere que o impacto da cincia na concepo de racionalidade nos
obriga a no aceitar que esta ltima deva ser definida como observao pura ou
inferncia neutra, a partir de premissas de valor neutro. As teorias cientficas so
verdadeiras e, portanto, no neutras, porque carregam uma percepo da realidade
da qual nossa mente no pode ser dissociada. Concordando parcialmente com
Rorty (1991), Putnam afirma que [...] no faz sentido comparar, por um
lado, os meus pensamentos e crenas e, por outro, as coisas tais como elas so
em si mesmas, mas discorda de que [...] essa ideia sejam uma pressuposio
necessria da concepo comumde que h objetos que no so partes do
pensamento ou da linguagem, ou da concepo igualmente comum de que o
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 17
JNIOR, L. P.
que dizemos sobre esses objetos algumas vezes capta bem os fatos. (PUTNAM,
2008, p. 135-136).
O Colapso do problema mente/corpo
Putnam dedicou grande parte de seus ensaios, livros e conferncias
dissoluo do problema mente/crebro. Argumentou que o computador digital
seria uma interessante analogia para explicar a relao mente/crebro: a mente
seria correspondente ao software e o crebro, ao hardware. Os estados mentais
seriam definidos em termos de seu papel funcional e teriam uma realidade
abstrata, seguindo a descrio atribuda a um software. difcil medir, sob o
ponto de vista epistemolgico, a extenso ou o abandono do funcionalismo,
em sua filosofia. Entretanto, seu astucioso exemplo do crebro numa cuba
tem despertado uma srie de posies que ainda podem suscitar um dilogo
inacabado, se considerarmos sua posio realista na cincia (LEVINE, 1993).
Assim Putnam (1981, p. 28-29) escreve:
Eis uma possibilidade de fico cientfica discutida pelos filsofos: imagi-
ne-se que um ser humano (pode imaginar que voc mesmo) foi sujeito a
uma operao por um cientista perverso. O crebro da pessoa (o seu crebro)
foi removido do corpo e colocado numa cuba de nutrientes que o mantm
vivo. Os terminais nervosos foram ligados a um supercomputador cientfico
que faz com que a pessoa de quem o crebro tenha a iluso de que tudo
est perfeitamente normal. Parece haver pessoas, objectos, o cu, etc.; mas
realmente tudo o que a pessoa, (voc) est experienciando o resultado de
impulsos electrnicos deslocando-se do computador para os terminais ner-
vosos. O computador to esperto que se a pessoa tenta levantar a mo, a
retroaco do computador far com que ela veja e sinta a mo sendo
levantada. Mais ainda, variando o programa, o cientista perverso pode fazer
com que a vtima experiencie (ou se alucine com) qualquer situao ou
ambiente que ele deseje. Ele pode tambm apagar a memria com que o
crebro opera, de modo que prpria vtima lhe parecer ter estado sempre
neste ambiente. Pode mesmo parecer vtima que ela est sentada e a ler
estas mesmas palavras sobre a divertida mas completamente absurda suposi-
o de que h um cientista perverso que remove os crebros das pessoas dos
seus corpos e os coloca numa cuba de nutrientes que os mantm vivos. Os
terminais nervosos suposto estarem ligados a um supercomputador cient-
fico que faz com que a pessoa de quem o crebro tenha a iluso de que
Quando este tipo de possibilidade mencionado numa conferncia sobre
teoria do conhecimento, o propsito, evidentemente, levantar de uma
maneira moderna o clssico problema do cepticismo relativamente ao
18 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
mundo exterior. ( Como que voc sabe que no est nesta difcil situao?)
Mas esta situao difcil tambm um dispositivo til para levantar questes
sobre a relao mente/mundo.
Em vez de ter apenas um crebro na cuba, podamos imaginar que todos
os seres humanos (talvez todos os seres sencientes) so crebros numa cuba
(ou sistemas nervosos numa cuba no caso de alguns seres apenas com um
sistema nervoso mnimo considerado j como senciente). Naturalmente,
o cientista perverso teria que estar de fora estaria? Talvez no haja nenhum
cientista perverso, talvez (embora isto seja absurdo) acontea simplesmente
que o universo consista num mecanismo automtico cuidando de uma cuba
cheia de crebros e sistemas nervosos.
Agora suponhamos que o mecanismo automtico est programado para nos
transmitir uma alucinao colectiva, em vez de uma quantidade de alucinaes
individuais no relacionadas. Assim, quando me parece estar a falar consigo,
a si parece-rque voc no tem ouvidos (reais), nem eu tenho uma boca e
lngua reais. Antes, quando eu produzo as minhas palavras, o que acontece
que os impulsos eferentes deslocam-se do meu crebro para o computador,
que ocasiona que eu oua a minha prpria voz pronunciando essas palavras
e sinta a minha lngua mover-se, etc., e que voc oua as minhas palavras,
me veja a falar, etc. Neste caso, estamos, num certo sentido, realmente em
comunicao. No estou enganado sobre a sua existncia real (apenas sobre
a existncia do seu corpo e do mundo externo fora dos crebros). De um
certo ponto de vista, nem sequer importa que o mundo inteiro seja uma
alucinao colectiva; porque, afinal, voc ouve realmente as minhas palavras
quando eu falo consigo, mesmo que o mecanismo no seja o que supomos
que ele . (Evidentemente, se fssemos dois amantes fazendo amor, em vez
de apenas duas pessoas levando a cabo uma conversa, ento a sugesto de
que se tratava apenas de dois crebros numa cuba podia ser perturbadora.)
Quero agora pr uma questo que parecer muito tola e bvia (pelo menos
para algumas pessoas, incluindo alguns filsofos muito sofisticados), mas
que nos levar a autnticas profundezas filosficas bastante rapidamente.
Suponha-se que toda esta histria era de facto verdadeira. Poderamos ns,
se fssemos assim crebros numa cuba, dizer ou pensar que o ramos?
O experimento mental do crebro numa cuba pretende mostrar que
no s o corpo desnecessrio para a experincia e a cognio, como tambm
ele pode ser substituindo por um software rodando adequadamente num
hardware. Contudo, que tipo de argumento poderia ser oferecido a tais pessoas
que, nesse mundo imaginrio descrito anteriormente, acreditam ser crebros
numa cuba? Putnam responde da seguinte forma: Mesmo que estas pessoas
possam pensar e dizer qualquer palavra que ns pensamos ou dizemos, no
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 19
JNIOR, L. P.
podem referir-se ao que ns nos referimos. Em particular, no podem dizer
ou pensar que so crebros numa cuba. (PUTNAM, 1981, p. 21).
Putnam tambm conhecido, especialmente na filosofia da mente,
pela formulao clssica do que se denominou Externalismo Semntico. Para
que isso fosse possvel, suas crticas dirigiram-se principalmente ao solipsismo
metodolgico, segundo o qual o conhecimento do significado de uma palavra
e o contedo de nossos estados mentais seriam determinados exclusivamente
por situaes cerebrais.8 Assim, o experimento do crebro numa cuba procura
atacar a verso de que os estados mentais corresponderiam a eventos mentais
sem nenhuma relao com os fatores ambientais ou sociais.
O externalismo semntico sustenta o argumento de que nosso
conhecimento do significado no determinado apenas pelos eventos neuronais.
Ao contrrio, os fatores externos seriam responsveis, necessariamente,
pela instanciao do contedo mental. E, para tal, os contedos mentais,
primeiramente, so identificados a partir de frases cuja natureza pblica e,
posteriormente, tornam-se propriedades semnticas. Dito de outra maneira,
as propriedades semnticas so transferidas ao contedo mental formando,
de acordo com Putnam, o que se chama popularmente de conscincia ou
mente. A percepo, portanto, no poderia ser ignorada, como escreve o
autor, em The Threefold Cord:
A questo como que a linguagem se encaixa no mundo? , no fundo,
uma repetio da antiga questo como que a percepo se encaixa no
mundo?. E ser de admirar se, depois de trinta anos em que se ignorou
virtualmente a tarefa iniciada por um punhado dos meus heris na rea de
filosofia a de desafiarem o ponto de vista da percepo que se tem adotado
desde o sculo XVII a prpria ideia de que o pensamento e a linguagem
se relacionam, de fato, com a realidade, tenha comeado a parecer cada vez
mais problemtica? Ser de admirar-se que no consiga ver como que o
pensamento e a linguagem se encaixam no mundo, se nunca se menciona a
percepo? (PUTNAM, 2002, p. 35).
As propriedades semnticas desses contedos, a que Putnam se refere,
no so obtidas de forma solipsista, mas por agentes cognitivos, uma vez que
a totalidade do debate corpo/mente desajustada, por insistir numa imagem
psicofsica. Desse modo, o que Putnam tem rejeitado [...] no a tese de
correlao psicofsica, mas a ideia de que a questo faa sentido. (PUTNAM,
8 Uma crtica posio de Putnam pode ser encontrada em McDowell, 1992.
20 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
2002, p. 222). As caractersticas psicolgicas so, portanto, individuadas de
formas sensveis ao contexto, envolvendo fatores externos, sociais e projees
que consideramos ser algo natural ou no faz-las. Putnam pretende, por fim,
salvaguardar o ponto de vista tradicional segundo o qual (mesmo que nossos
estados psicolgicos sejam individuados de forma externa) h outros estados
que so adequadamente internos como num teatro interior. O autor acredita
que, dessa forma, palavras, imagens mentais e outros signos no esto ligados
quilo que pretendem representar ou que intrinsencamente os representam,
porque a inteno condio necessria existncia de representao.
Consideraes Finais
Do externalismo semntico ao realismo interno, Putnam compreende
que a verdade, diferentemente do modo como foi tratada pela epistemologia
tradicional, est estreitamente ligada racionalidade e histria. Como
consequncia desse argumento se pode derivar que a racionalidade se associa
diretamente com as concepes e mtodos histricos que se desenvolvem ao
longo da histria. Nesse sentido, Putnam afirma que a [...] aceitabilidade e
a relevncia so interdependentes em qualquer contexto. O uso de qualquer
palavra seja esta bom, consciente, vermelho ou magntico supem
uma histria, uma tradio de observao, generalizao, prtica e teoria.
(PUTNAM, 1988, p. 200). dentro dos prprios limites da racionalidade
que se pode afirmar que os critrios racionais so opostos existncia de
normas imutveis e eternas.
Conforme Putnam, especialmente em Reason, Truth and History, h
sempre relaes subjacentes que devem ser consideradas, quando tratamos
a resposta para a pergunta O que a verdade? Com isso, ao formular um
ambiente filosfico que reconcilie aspectos da teoria da correspondncia
e do realismo metafsico, Putnam no pensa o mundo como a totalidade
permanente de objetos independentes da mente. Ao contrrio, o que existe
somente uma descrio completa do modo como o mundo , no qual o
conceito de verdade envolve uma relao no-dicotmica entre as palavras e
as coisas externas. nesse universo epistemolgico que Putnam sugere que se
deve aceitar como racional a possibilidade de existncia de diversas descries
de verdade, uma vez que a linguagem no permite apenas descrever o mundo,
mas question-lo e complet-lo com nossas percepes, concepes e opinies.
Fundamentalmente, o que Putnam procura mostrar que, do mesmo
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 21
JNIOR, L. P.
modo que o no-cognitivista falha, ao excluir o valor da apreciao cientfica,
o relativismo contemporneo infere a noo de verdade a partir de uma
perspectiva local. Em outras palavras, a obra de Putnam encontra-se a meio
caminho entre a metafsica e um tipo particular de relativismo pragmtico,
no qual as hipteses acerca da pergunta Ser a verdade objetiva possvel?
repousam sobre a arquitetura da concepo de justificao racional. Para tanto,
segundo Putnam, por um lado, a filosofia no uma coleo de problemas
que podem ser resolvidos, mas um grande empreendimento humanstico
e cientfico (PUTNAM, 2015); e, por outro, a justificao racional da
cincia (ou do conhecimento em geral) deve estar amparada [...] de forma
democrtica, cooperativa e falvel (PUTNAM, 2008a) e pelas prticas do
permanente dilogo, como afirma, no ltimo pargrafo de Reason, Truth and
History:
Tem este dilogo um fim ideal? H uma concepo verdadeira de
racionalidade, uma moralidade verdadeira mesmo quando tudo aquilo que
temos so nossas concepes destas? Neste ltimo ponto, as opinies dos
filsofos, como aquelas de todos os demais, se dividem. Richard Rorty,
em seu discurso presidencial na American Philosophical Association, optou
com firmeza pelo ponto de vista de que somente existe o dilogo; no pode
postular-se nenhum fim ideal, nem tampouco seria necessrio. Contudo, a
afirmao de que somente existe o dilogo difere em algo do relativismo
que se autorrefuta, discutido no captulo 5? O mesmo fato de que falemos
de nossas diferentes concepes como diferentes concepes de racionalidade
postula uma Grenz-begriff, um conceito limite de verdade ideal. (PUTNAM,
1988, p. 213).
JNIOR, Lo Peruzzo. The many faces of Putnams internal realism: a tribute. Tans/form/
ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017.
Abstract: This article analyzes the many faces of Hilary Putnams (1926-2016) internal realism.
Although his thinking is marked by functionalism (a position he partially abandoned), it is in
externalism and semantic holism that his key statements rest. Initially, we reconstruct how Putnams
thinking safeguards internal realism and a pragmatic position with respect to Wittgenstein. We then
show how the author suggests that the psychophysical debate collapses after the acceptance of the value
of semantic proprieties for the instantiation of mental content.
Keywords: Internal Realism; Semantic Externalism; Semantic Holism; Functionalism; Hilary Putnam.
22 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
As muitas Faces do Realismo Interno de Hilary Putnam Artigos / Articles
Referncias
ANDERSON, D. L. What is realistic about Putnams internal realism? Philosophical Topics,
v. 20, n. 1, p.49-83, Spring 1992.
BAGGINI, J.; STANGROOM, J. What philosophers think. London; New York:
Continuum, 2003.
BAGHRAMIAN, M. From realism back to realism: Putnams long journey. Philosophical
Topics, v. 36, n. 1, p. 17-35, 2008.
______. Hilary Putnam (1926-2016). Philosophy Now, n. 114, jun/jul.2016.
CARNAP, R. The unity of science. London: Kegan Paul; Hubner, 1934.
CHOMSKY, N. Novos horizontes no estudo da linguagem e da mente. So Paulo: Editora da
UNESP, 2005.
DE CARO, M.; MACARTHUR, D. Naturalism in question. Cambridge: Harvard
University Press, 2004.
______. Naturalism and normativity. New York: Columbia University Press, 2010.
LEVINE, J. Putnam, Davidson and the seventeenth-century picture of mind and world.
International Journal of Philosophy Studies, v.1, n. 2, p. 193-230, 1993.
McDOWELL, J. Putnam on mind and meaning. Philosophical Topics, v. 20, n. 1, p. 35-
48, 1992.
PUTNAM, H. Meaning and reference. The Journal of Philosophy, v. 70, n. 19, p. 699-711,
1973.
______. Mind, language, and reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1975a.
______. Mathematics, matter and method. Cambridge: Cambridge University Press, 1975b.
______. Beyond the fact-value dichotomy. Crtica: Revista Hispanoamericana de Filosofia,
v. 14, n. 41, p. 3-12, ago. 1982.
______. Razn, verdad e histria. Madrid: Tecnos, 1988.
______. Realism with a human face. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
______. A tripla corda: mente, corpo e mundo. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.
______. Il pragmatismo: una questione aperta. Roma: Laterza, 2003.
______. O Colapso da verdade e outros ensaios. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2008a.
______. Wittgenstein and realism. International Journal of Philosophy Studies, v. 16, n. 1,
p. 3-16, 2008b.
______. The development of externalist semantics. Theoria, v.79, n. 3, p. 192-203, 2013.
______. Mind, Body and World in the Philosophy of Hilary Putnam [Interview]. Trans/
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017 23
JNIOR, L. P.
Form/Ao, v. 38, n. 2, p. 211-216, 2015.
______. Realism. Philosophy & Social Criticism, v. 42, n. 2, p. 117-131, 2016.
QUINE, W. De um ponto de vista lgico. So Paulo: Editora da UNESP, 2011.
RORTY, R. Objectivity, relativism and truth: philosophical papers. Cambridge: Cambridge
University Press, 1991.
SEARLE, J. Intencionalidade. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
______. A redescoberta da mente. So Paulo: Martins Fontes, 2006.
Recebido em 10/11/2016
Aceito em 15/01/2017
24 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 9-24, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
A Liberdade de Escolha em Bergson e Schopenhauer
Helio Lopes da Silva1
Em memria de Bento Prado Jr.
Resumo: Eu mostro neste artigo que Schopenhauer e Bergson, mesmo abordando o problema da ao
livre a partir de pontos de vista filosficos opostos, concordam em caracterizar as aes humanas de um
modo que no nem determinista, nem compatvel com a tese do liberum arbitrium. Schopenhauer,
embora equivocadamente tente demonstrar a necessidade de tais aes, obrigado a reconhec-las
como grundlos e imprevisveis, enquanto Bergson, embora pretenda mostr-las como sendo livres, ao
final admite que elas no so objeto de uma escolha atravs da razo. Essa coincidncia inesperada entre
ambos os filsofos, a respeito do problema da liberdade da ao humana, ser explorada neste texto.
Palavras-Chave: Schopenhauer. Bergson. Liberdade. Determinismo. Escolha. Previso.
I Introduo
fcil constatar que Schopenhauer e Bergson2 abordam o problema
do livre-arbtrio a partir de perspectivas filosficas diferentes e mesmo opostas
para Schopenhauer, esse problema oferece uma oportunidade de mostrar
como a sua Vontade metafsica, a qual infundada, inexplicvel e atemporal,
tem todas as suas manifestaes fenomenais estritamente submetidas ao
e, portanto, tornadas necessrias pelo Princpio de Razo Suficiente. E,
particularmente em seu ensaio premiado Sobre a Liberdade da Vontade, ele,
executando esse programa, estar principalmente ocupado em rejeitar as
pretenses dos adeptos do livre-arbtrio, em demonstrar como cada ao
particular do homem o resultado necessrio da incidncia de um motivo
sobre um determinado carter. Para Bergson, ao contrrio, o problema do
livre-arbtrio oferece a oportunidade de evidenciar como a temporalidade ou
durao pura da vida da conscincia o lugar onde se pode encontrar uma
verdadeira criao, a criao de algo realmente novo, de algo que ultrapassa e
1 Hlio Lopes da Silva Doutor em Filosofia (USP/1998), Mestre em Lgica e Filosofia da Cincia
(UNICAMP/1991), Licenciado em Psicologia e Psiclogo (UNESP/1985), e Professor Associado da
Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP/MG, desde 1999, tendo recentemente (2013) concludo
o Estgio ps-Doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: heliolopsil@bol.
com.br
2 Para as referncias s obras de Schopenhauer, utilizaremos as seguintes abreviaes: WWV- Die Welt
als Wille und Vorstellung. WWR- The World as Will and Representation. LV On the Freedom of the Will.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 25
SILVA, H. L.
inapreensvel pelas aspiraes mecanicistas da cincia. Sobretudo em seu Ensaio
sobre os dados imediatos da conscincia, Bergson estar preocupado em rejeitar as
pretenses dos deterministas, pretenses aglutinadas principalmente na cincia
psicofisiolgica da poca, ao apontar que os conceitos mobilizados por tal
cincia so incapazes de apreender a temporalidade pura caracterstica da vida
consciente. Apesar dessa oposio entre as perspectivas e intenes filosficas
com que cada um, Schopenhauer e Bergson, abordam o problema do livre-
arbtrio, constatamos, quando consideramos alguns detalhes das explicaes
que oferecem das aes humanas, que elas coincidem em pontos importantes,
e que a concluso a que ambos, conjuntamente, chegaram no satisfaz nem aos
adeptos do livre-arbtrio, nem aos deterministas. O carter inesperado dessa
coincidncia, dada aquela oposio inicial entre as perspectivas filosficas mais
amplas de cada um desses filsofos, foi para ns um sinal de que estvamos
aqui s voltas com um dado filosfico relativamente independente daquelas
perspectivas, o qual importante para o debate contemporneo sobre o tema
da liberdade das aes humanas. isso o que nos propomos mostrar no que
segue.
II - Schopenhauer
Schopenhauer caracteriza sua prpria filosofia como um prolongamento
da teoria de Kant a respeito da coexistncia da liberdade com a necessidade,
tal como resultante da soluo da terceira das Antinomias kantianas da Razo
Pura. Kant teria, nessa teoria, mostrado como nossas valoraes morais das
aes humanas so feitas independentemente do fato de que essas mesmssimas
aes, enquanto fenmenos temporalmente particularizados, so inteiramente
explicadas como necessariamente resultantes de outras ocorrncias anteriores,
isto , ele teria, segundo Schopenhauer, tornado compreensvel como a
liberdade inteligvel, pressuposta por aquelas avaliaes, coexiste com a, mas
no afetada, diminuda ou anulada pela necessidade com que todas as aes
particulares resultam de condies antecedentes. E, assevera Schopenhauer, o
que a sua prpria filosofia teria procurado fazer estender esse resultado da
filosofia kantiana, estender aquilo que essa teoria diz a respeito dos fenmenos
humanos para todo tipo de fenmeno (WWV, I, 672; WWR, I, 501) Mas
no nos interessa discutir a Metafsica da Natureza que Schopenhauer
acredita ser possvel, atravs dessa extenso. Em outro lugar, cremos, poderia
ser mostrado que tal metafsica foi equivocadamente pensada pelo prprio
Schopenhauer como acalentando as mesmas pretenses das metafsicas
26 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
tradicionais, mas no podemos examinar esse ponto aqui. O que nos interessa
notar, de incio, que Schopenhauer pretende, a respeito das aes humanas,
estar aderindo completamente quela teoria kantiana da coexistncia da
liberdade com a necessidade e, embora tambm no nos interesse discutir
o quanto tal pretenso de Schopenhauer legtima, ao menos um aspecto
daquela teoria merece destaque: trata-se da diferenciao que Kant faz entre o
carter inteligvel e o carter emprico do homem (KANT, KrV, A-546s;
B-574s]) tal como todos os outros fenmenos, o homem tem, no que diz
respeito ao seu carter emprico, suas aes inteiramente explicadas, e tornadas
necessrias, por leis empricas que as mostram como resultantes de outros
fenmenos, ao passo que, quanto ao seu carter inteligvel, poder-se-ia, diante
do outro tipo de necessidade com que o dever moral se lhe impe, admitir
um outro tipo de causalidade, uma causalidade mediante liberdade atravs da
Razo. No vamos, claro, discutir os desenvolvimentos posteriores que Kant
d a esta ideia na Crtica da Razo Prtica, nem vamos, tambm, examinar a
radical rejeio por parte de Schopenhauer, tal como formulada em seu Sobre
o Fundamento da Moral, dessa fundamentao kantiana da moral. O que
queremos notar especialmente em conexo com a teoria kantiana a respeito
do carter emprico do homem que, segundo Kant, se pudssemos investigar
exaustivamente todas as manifestaes fenomenais da vontade do homem (alle
Erscheinungensiener Willkr), [...] no haveria ao humana alguma que no
pudesse ser predita com certeza, e reconhecida como resultante necessrio de
suas condies antecedentes. (KANT, KrV, A-550; B-578 [500]). Para Kant,
o rigor com que aqui afirmada a necessidade das manifestaes fenomenais
do carter apenas um meio de tornar mais saliente aquilo que, segundo
ele, escapa a essa necessidade, isto , a liberdade implicada na ideia do dever
moral; mas, conforme frisamos, no podemos aqui investigar at que ponto
a antropologia, ou psicologia, cientfica poderia, segundo Kant, avanar. O
que queremos notar que inspirado inicialmente nesse determinismo das
aes particulares do homem, tal como admitido pela teoria kantiana da
coexistncia da liberdade com a necessidade, a respeito da qual Schopenhauer
escreve seu Sobre a Liberdade da Vontade.
Segundo Schopenhauer, o conceito de liberdade um conceito
negativo, pois denota apenas a ausncia de obstculos (estes, sim, positivos)
ao, e originalmente diz respeito a uma liberdade meramente fsica, isto ,
denota a ausncia de obstculos materiais (correntes, prises, doenas) ao
de um ser dotado de vontade, o qual agiria, ento, apenas em conformidade
com sua prpria vontade. Contudo, salienta Schopenhauer, tal liberdade fsica,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 27
SILVA, H. L.
embora indiscutvel, pois a experincia constantemente a confirma, concerne
apenas capacidade ou faculdade para agir, relaciona-se apenas ao fato de
que, uma vez tendo a vontade desse ser chegado a querer fazer alguma coisa,
esse ser, na ausncia de obstculos materiais, far tal coisa. Tal ser, portanto,
poder corretamente dizer: Eu posso fazer o que eu quiser; se eu quiser fazer
isto, eu fao isto, e, caso houvesse eu querido fazer outra coisa, eu teria feito
essa outra coisa basta eu querer! Mas, adverte Schopenhauer, a liberdade
que interessa queles que defendem o livre-arbtrio no essa liberdade
meramente fsica, mas sim a chamada liberdade moral, a liberdade que
supe que, mesmo na ausncia de obstculos materiais, um homem poderia,
numa situao determinada, indiferentemente fazer isto ou aquilo, porque esse
homem poderia, tambm indiferentemente, querer fazer isto ou aquilo. Ora,
assinala Schopenhauer, essa ltima possibilidade, a liberdade ou indiferena do
querer, algo bem diferente e algo bem mais discutvel do que a liberdade ou
indiferena do agir, uma vez dada a resoluo da vontade. Conforme ressalta
Schopenhauer, na tese da liberdade moral, a liberdade do agir afirmada sob
a pressuposio da, discutvel, liberdade do querer: ela diz que a ao do corpo
se seguir resoluo da vontade, mas, sobre esta ltima, sobre o processo
atravs do qual a vontade chega a querer alguma coisa, nada est decidido.
Para que a tese do livre-arbtrio pudesse ser afirmada, seria preciso demonstrar
que, nesse processo de resoluo, a vontade mesma fosse livre, que ela, diante
de motivos diversos e at opostos, pudesse indiferentemente querer um ou
outro. Como Glock resumiu esse ponto, recomendando-o considerao dos
filsofos contemporneos que se dedicam tica: Que eu tenha feito o que
eu quis, isto s implicaria em que eu poderia ter agido diferentemente se eu
pudesse ter querido agir diferentemente da maneira em que, de fato, agi.
(GLOCK, 2009, p. 422). Os adeptos do livre-arbtrio equivocadamente tm,
ento, continua Schopenhauer, tomado a, indiscutvel, liberdade do agir,
uma vez dada a resoluo da vontade, como se ela estivesse estabelecendo
de maneira igualmente indiscutvel a liberdade do querer, coisa que ela
efetivamente no faz. Na verdade, sobre essa liberdade ou indiferena do
querer, sobre a possibilidade de que a vontade, diante de um motivo, pudesse
indiferentemente quer-lo ou no, ou, diante de motivos diferentes e opostos,
pudesse indiferentemente querer um ou outro, enfatiza Schopenhauer, nada
nos dado. Ao contrrio, sugere ele, seria bastante estranho algum dizer que,
embora presentemente queira uma coisa, poderia igual e indiferentemente
estar, nesse mesmo instante, querendo outra coisa. Ou seja, se consultarmos
nossa autoconscincia, conclui Schopenhauer, o mximo de informao que
28 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
obteremos a respeito a concluso de que, a cada momento, nossa vontade quer
apenas uma coisa, com excluso de outras, e, se insistirmos no interrogatrio,
esta autoconscincia chegar rapidamente a um momento em que ela nada
mais pode conceber claramente:
Em ltima anlise, isso ocorre porque a vontade o Eu real do ser humano,
o verdadeiro ncleo de seu ser [...] Pois ele mesmo da maneira em que
quer, e quer da maneira em que . Assim, perguntar-lhe se poderia querer
diferentemente do que quer, perguntar-lhe se poderia tambm ser uma pessoa
diferente da que : e isto ele no sabe. (LV, 50, grifo nosso).
Com efeito, dir Schopenhauer, ns s poderamos, como pretendem
os adeptos do livre-arbtrio, ter agido diferentemente do modo como de fato
agimos se houvssemos querido agir diferentemente, e ns s poderamos
ter querido agir diferentemente, se nossa vontade houvesse sido outra, se
nosso carter houvesse sido outro, se ns, enfim, fssemos outra pessoa. Mas
esta ltima possibilidade, alm de, como frisa Schopenhauer acima, estar
completamente fora daquilo que pode ser abarcado por nossa autoconscincia,
contraria tambm, acrescentamos, os prprios dados iniciais em que o problema
fora colocado, pois nele se trata da questo sobre se esta pessoa poderia... etc.
Todavia, Schopenhauer no se limita a apontar o equvoco cometido
pelos adeptos do livre-arbtrio ele aponta tambm para a fonte da iluso
em que esses adeptos esto envolvidos e que os leva a cometer tal equvoco.
O que leva tantas pessoas quela confuso entre a liberdade para agir e a
liberdade para querer, e crena de que a liberdade nas aes particulares
um fato indubitvel? Na origem dessa iluso da liberdade emprica,
salienta Schopenhauer, est uma compreenso equivocada do processo em
que, em ns, a vontade passa de um mero desejo ou veleidade a um querer
efetivo, a uma resoluo, e ao durante todo o tempo imediatamente
anterior ao instante em que se apresenta uma situao motivacional que exige
efetivamente uma resoluo de nossa vontade, nossa imaginao apresenta
os diversos e opostos motivos para que nossa vontade possa neles, por assim
dizer, se exercitar, se experimentar; porm, nessa apresentao, cada motivo
aparece isolado e separado dos outros, de modo que, quando da considerao
em separado de cada um desses motivos, a pessoa se acredita, a cada vez, como
podendo quer-lo; e, aps ter meramente imaginado ter querido igualmente a
todos, ela, aps a resoluo de sua vontade, imagina ou acredita erroneamente
que um outro querer, diferente do querer real manifesto nessa resoluo,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 29
SILVA, H. L.
houvera igualmente sido possvel. Trata-se, conforme Schopenhauer, de uma
confuso entre um mero desejo, ou entre um querer meramente imaginado
e um querer efetivo, real, confuso esta propiciada pela posio subalterna
ocupada pela autoconscincia, pelas faculdades intelectuais, conscientes e
racionais, relativamente vontade, pois
[...] apenas a ao que adverte a auto-conscincia de que um ato da vontade
surgiu. Pois, em todo o perodo de tempo em que vai se elaborando, este
(ato de incio) se chama desejo, e, quando completo, se chama deciso; mas
que ele tenha se completado (isto , que a vontade tenha chegado a querer
efetivamente alguma coisa), apenas a ao o demonstra auto-conscincia. E
aqui encontramos a fonte principal daquela iluso (de que), numa situao
determinada, atos opostos da vontade seriam possveis. (Tal iluso) confunde
o desejar com o querer. (A pessoa) pode desejar coisas opostas, mas s pode
querer uma delas: e qual delas ela quer, isto s se revelar para sua auto-
conscincia atravs da ao. (LV, 46-47, grifo nosso).
Tal como mostrado no divertido exemplo do sujeito que, aps concluir
seu dia de trabalho, se imagina como podendo querer dar um passeio, ou
querer visitar os amigos, ou querer ir a um clube noturno, ou querer subir
uma torre para ver o pr-do-sol, ou querer cair no mundo para no mais
voltar, mas que, finalmente, se d conta de seu querer real e efetivo de voltar
para casa e para a esposa (LV, 68), o que ocasiona essa iluso da liberdade
ou indiferena do querer o lugar subalterno ocupado pelas faculdades
intelectuais, conscientes e racionais, relativamente vontade, o que faz com
que essas faculdades fiquem por fora e no participem efetivamente da
deciso dessa vontade, e s possam ser informadas dessa deciso uma vez ela
j concluda, e passada ao. Diante de uma deciso a ser tomada, enfatiza
Schopenhauer, essas faculdades intelectuais nada mais podem fazer do que
apresentar vontade os diversos motivos, a fim de que a vontade, como
vimos, possa neles se exercitar, mas, sobre a deciso mesma, tais faculdades
intelectuais precisam aguardar a ao com a mesma curiosidade inquieta com
que aguardaria a deciso proveniente da vontade de uma pessoa estranha
(WWV, I, 400-1; WWR, I, 290-1).Tal como, por no controlar as condies
fsicas precisas em que, por exemplo, uma moeda lanada ao ar, ns dizemos
que tanto pode resultar cara como pode resultar coroa, assim tambm a
autoconscincia, as faculdades intelectuais e racionais, de uma pessoa, por no
controlar e no intervir efetivamente nas decises de sua vontade, confunde
uma mera veleidade com um querer efetivo, e acredita erroneamente que,
30 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
tendo querido realmente fazer uma coisa, poderia igual e indiferentemente ter
querido fazer outra coisa.
Essa concluso de Schopenhauer parece atingir realmente alguns
aspectos da tese defendida pelos adeptos do livre-arbtrio, pois j no faz
mais sentido dizer que uma pessoa, tendo querido fazer uma coisa, poderia
igual e indiferentemente ter querido ter feito outra coisa. Mas, ao contrrio
do que pensa Schopenhauer, ela no inteiramente conforme s expectativas
dos adeptos do determinismo. Que a vontade, a cada momento, no possa
querer diferentemente do que ela efetivamente quer, isso, essa espcie de
coero da vontade, que a faz s querer o que efetivamente quer, se por um
lado invalida algumas das pretenses dos adeptos do livre-arbtrio, invalida
tambm as pretenses dos deterministas, j que estes gostariam de ver esse querer
como determinado, ou tornado necessrio, por alguma condio que lhe fosse
antecedente. Ora, ao excluir as faculdades intelectuais da deciso da vontade,
Schopenhauer no se cansa de caracterizar essa vontade como absolutamente
sem-fundamento, como sem-razo (grundlos). Por exemplo, no livro II de O
Mundo como Vontade e Representao, Schopenhauer, procurando determinar
a essncia ntima (innersten Wesen) da vontade humana que est prestes a ser
estendida para a compreenso da essncia ntima de todos os outros corpos,
afirma:
Estes atos da vontade (Aktdes Willens) tm sempre um fundamento, fora
deles, em seus motivos. No entanto, estes motivos determinam sempre
apenas o que eu quero em tal momento, em tal lugar, em tal circunstncia;
mas no determinam que, em geral, eu queira, nem o que, em geral, eu
quero, isto , a mxima que caracteriza o todo de meu querer. Da que o
meu querer, segundo sua essncia integral, no pode ser explicado (erklren)
pelos motivos [...] pois apenas os fenmenos da Vontade esto submetidos
ao Princpio da Razo (Satz von Grund), mas no a Vontade mesma que,
deste modo, deve ser designada como sem-Razo (ou sem fundamento
grundlos). (WWV, I, 165-6; WWR, I, 106, grifo nosso).
, de certa forma, espantoso que Schopenhauer no tenha, sobre esse
ponto, se debruado de uma maneira mais demorada sobre sua descoberta: ao
longo de todo esse ensaio Sobre a liberdade da vontade, assim como na seo
55 do livro IV de sua obra-prima O Mundo como Vontade e Representao,
ele, adotando a distino kantiana, anteriormente mencionada, entre o
carter inteligvel e o carter emprico, carter emprico este que apenas
o desdobrar ou manifestar no tempo e na experincia do carter inteligvel
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 31
SILVA, H. L.
e atemporal, pretende, contra os adeptos do livre-arbtrio, afirmar que toda
ao o resultado necessrio da incidncia de um motivo sobre um carter
emprico determinado. At esse ponto, Schopenhauer pretende estar,
simplesmente, se adequando, e tornando mais precisa, a teoria kantiana da
coexistncia da liberdade com a necessidade. Contudo, quando se interroga
Schopenhauer a respeito da medida em que esse carter, mesmo o carter
emprico, determinado, muito de sua adeso ao determinismo cai por
terra. Como esse carter emprico o mero desdobrar, sempre parcial, no
tempo e na experincia a posteriori de um carter inteligvel atemporal, a
priori e imutvel, Schopenhauer teria que concluir, mas estranhamente no
conclui, que esse carter nunca determinado da maneira exigida pelos
deterministas porque o carter determinado da maneira desejada pelos
deterministas o carter inteligvel, que , assinala Schopenhauer, imutvel,
mas que tambm apenas parcialmente e, por assim dizer, pedao aps
pedao, exibido na experincia e no tempo pelo carter emprico. Ou seja,
esse carter inteligvel, que imutvel e determinado da maneira exigida pelo
determinismo, incognoscvel como tal! O carter emprico, por outro lado,
e enquanto tomado por si mesmo, nada tem de imutvel e determinado
e, no entanto, Schopenhauer constantemente transfere a imutabilidade,
completude e determinao do carter inteligvel para o carter emprico, e
insinua sempre, de maneira equivocada, que esse carter emprico tem seu
querer necessariamente determinado pelo motivo que se apresenta e por
aquilo que esse carter, supostamente, j seria de forma completa. No entanto,
esse carter emprico nunca , como Schopenhauer mesmo reconhece, uma
revelao completa do carter inteligvel. V-se, assim, como o determinismo
dos motivos de Schopenhauer depende de um confuso cometida por ele,
e de que ele mal se d conta. Aqui, a adeso de Schopenhauer s distines
kantianas parece encobrir, aos olhos do prprio Schopenhauer, aquela no-
fundamentabilidade (Grundlosigkeit) irredutvel da vontade, fazendo com
que ele, tal como se v na passagem acima (WWV, I, 165-6; WWR, I, 106),
atribua essa no-fundamentabilidade apenas ao carter inteligvel, ao querer
em geral do homem, e entenda o carter emprico como determinado em
cada um de seus atos de vontade particulares. Na verdade, porm, sua crtica
ao carter subalterno das faculdades intelectuais relativamente deciso da
vontade, que aponta para a no-fundamentabilidade (Grundlosigkeit) ltima
desta, diz respeito no apenas ao carter inteligvel, Vontade enquanto
coisa-em-si do homem, mas tambm ao carter emprico, concerne a cada
querer particular ou manifestao fenomenal dessa Vontade. por isso que,
32 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
abordando esse carter emprico, Schopenhauer o caracteriza de uma maneira
que dificilmente poderia ser utilizada na defesa da tese determinista:
O carter do ser humano emprico. Apenas atravs da experincia pode-
se ser informado a seu respeito, e isto, no apenas a respeito do carter
de outras pessoas, mas tambm a respeito de nosso prprio carter [...]
Portanto, diante de uma escolha difcil, nossa prpria resoluo, assim como
a de outras pessoas, permanece um mistrio para ns at que a escolha seja
feita [...] Assim, ningum pode, em ltima instncia, saber como outra pessoa
ou ela prpria agir numa determinada circunstncia, at que ela mesma se
encontre nesta circunstncia; apenas atravs do feito, ou da ao realizada,
ela pode estar segura a respeito das outras pessoas e, ento, e s ento, de si
mesma tambm. (LV, 74, grifo nosso).
Ora, se o carter emprico o desdobrar ou manifestar no tempo e no
fenmeno de um carter inteligvel atemporal, e se esse desdobrar ou manifestar
sempre parcial (o caso limite do momento final da morte da pessoa, momento
em que haveria uma coincidncia mxima entre o carter inteligvel e o carter
emprico, precisa ser excludo, j que, nesse caso, nenhuma escolha ou ao
mais de se esperar que ocorra), ento, nem ns, nem a prpria pessoa que o
possui, poderia qualificar esse carter como determinado seja de que maneira
for! Essa imprevisibilidade absoluta do querer, essa Grundlosigkeit da vontade
resultante do papel subalterno ocupado pelas faculdades intelectuais e racionais,
faculdades que se ocupam, justamente, em fornecer razes ou fundamentos
segundo o Princpio de Razo Suficiente (Satz von Grund), no seria um sinal
da liberdade ou indiferena do prprio querer da vontade, e, isso, no apenas da
vontade metafsica, ou do carter inteligvel, mas do prprio querer particular
e fenomenal da vontade e do carter emprico? E, no entanto, Schopenhauer
est, ao longo de todo esse Sobre a Liberdade da Vontade, empenhado em negar
essa liberdade ou indiferena do querer particular adotando a teoria kantiana
a respeito da necessidade das aes particulares, ele constantemente insinua
que os motivos presentes numa situao determinam o querer particular da
vontade, como se a vontade no pudesse, numa situao particular, resistir ao
motivo que se lhe apresenta. Mesmo o exemplo do sujeito que, como vimos
h pouco, ao sair do trabalho, imaginava-se como querendo fazer uma srie de
coisas diferentes, mobilizado em funo desse determinismo dos motivos;
caso aquele sujeito descobrisse que ele, Schopenhauer, estivera atrs dele,
anotando seus pensamentos, de modo a prever que o motivo mais forte, o de
voltar para a esposa, irresistivelmente venceria a disputa, esse sujeito poderia
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 33
SILVA, H. L.
revogar sua deciso anterior e escolher fazer, ao invs, algumas daquelas
outras coisas, mas mostra triunfante o determinismo de Schopenhauer, isso
apenas porque um outro motivo, o de contrariar o filsofo determinista,
entrou em cena e se mostrou mais forte e determinante da vontade (LV, 69).
Assim, na defesa desse pretenso determinismo dos motivos, Schopenhauer
salienta que, [...] entre o chamado de seu dono e a viso de uma cadela, o co
hesita por alguns instantes; o motivo mais forte determinar seu movimento;
mas ento este movimento seguir-se- de maneira to necessria quanto um
efeito mecnico. (LV, 66). E, no mesmo esprito, acrescenta que todas as
aes executadas por uma pessoa so produtos necessrios de seu carter e
dos motivos que se apresentaram, de modo que [...] toda ao poderia ser
prevista com certeza, poderia, de fato, ser calculada, no fosse o fato do carter
ser difcil de conhecer. (LV, 81, grifo do autor). Todavia, conforme vimos,
o carter no apenas difcil, como diz Schopenhauer aqui, de conhecer,
mas, sim, impossvel nem ns, nem a prpria pessoa que o possui, conhece
integralmente esse carter inteligvel, e aquilo que, desse carter, foi dado a
conhecer como manifesto no carter emprico pode, no mximo, indicar uma
tendncia, mas no uma previso segura e calculada, como a previso de, para
usar o exemplo de Kant do incio deste texto, um eclipse solar. E, alm disso,
claro que a fora dos motivos em disputa, no caso do co e do sujeito que
terminava seu dia de trabalho, s pode ser aferida aps a resoluo e deciso da
vontade apenas aps a deciso, uma deciso completamente infundada, ou
grundlos, da vontade daquele sujeito, que o determinismo de Schopenhauer
ir qualificar um ou outro motivo como tendo sido o mais forte. por
isso que, afinal, e como admitia o prprio Schopenhauer h pouco, nem ns,
nem mesmo a pessoa pode prever como agir numa determinada situao,
porque o nico conhecimento que permitiria tal tipo de previso seria o
conhecimento do carter inteligvel, isto , do carter integral da pessoa s
esse tipo de conhecimento possibilitaria o estabelecimento de um verdadeiro
determinismo dos motivos; mas justamente o carter inteligvel que, segundo
o prprio Schopenhauer, no pode ser conhecido, e isso no apenas por ns,
mas tambm pela prpria pessoa que o possui. Portanto, Schopenhauer no
poderia, em que pese todo seu empenho equivocado em contrrio, pretender
estar se adequando e estabelecendo a tese determinista.
Vimos Schopenhauer recusar a tese dos adeptos do livre-arbtrio
baseado na considerao de que, para que uma pessoa pudesse agir de uma
maneira diferente daquela com a qual, de fato, agiu, seria preciso que ela
houvesse querido agir diferentemente, isto , seria preciso que ela houvesse
34 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
possudo uma outra vontade, um outro carter, que ela, enfim, houvesse
sido outra pessoa. E, com efeito, Schopenhauer constantemente afirma que,
embora as aes de uma pessoa sejam o resultado necessrio da incidncia de
motivos sobre seu carter, esse carter mesmo bem poderia ser outro, isto
, no h razo ou fundamento algum para que a pessoa seja a pessoa que
, para que possua o carter ou a vontade que possui, ao invs de possuir
outro carter e vontade, ao invs de ser outra pessoa. por isso que, como
exemplifica magistralmente Schopenhauer, no remorso ou dor de conscincia
moral, o que se lamenta no a efetivao da ao como tal (pois o indivduo
sabe que, sendo quem ele , e estando naquela situao, aquilo que foi feito
precisava ser feito, ou no podia deixar de ser feito), mas sim o aspecto do
carter tornado manifesto por aquela ao o que a pessoa lamenta ser
quem , querer da maneira que quer, e a ao s condenada na medida em
que patenteia e torna manifesta essa maneira de ser e de querer. nessa no-
fundamentabilidade (Grundlosigkeit) da vontade ou do carter da pessoa que
Schopenhauer v o nico sentido aceitvel de liberdade, de uma liberdade
que, enquanto mera ausncia de razes necessitantes, est efetivamente na base
dos fenmenos morais. Contudo, imediatamente aps descobri-la, ele comete
a seu respeito dois equvocos primeiro, exagerando na separao kantiana
entre os domnios fenomnico e inteligvel, ele empurra tal liberdade para
o domnio metafsico da Vontade em si e do carter inteligvel, ao mesmo
tempo em que, insistindo na defesa da tese da necessidade das aes enquanto
fenmenos, ele no a reconhece no querer particular de sorte que os motivos
passam a ser vistos por ele como determinando de maneira irresistvel a
vontade, passam quase a figurar como causas, razes ou fundamentos do
querer particular da vontade. E, no entanto, ele mesmo quem reconhece
que nenhum motivo, nem mesmo aquele que costumeiramente considerado
como sendo o mais forte, a saber, o da preservao da vida prpria, tem
poder absoluto sobre a vontade, j que ele recusado nas experincias do
suicdio e do sacrifcio pelos outros (LV, 37). verdade que ele reconhece, nos
fenmenos morais em que a vontade se nega a si mesma, uma irrupo dessa
liberdade, ou no-fundamentabilidade, da vontade no prprio domnio dos
fenmenos (WWV, I, 397; WWR, I, 288), porm, isso faz dessa irrupo algo
especial e raro, e o faz deixar de notar que essa liberdade, essa Grundlosigkeit,
da vontade a acompanha em cada querer, por mais insignificante e particular
que seja porque, se no h razo pela qual uma pessoa seja quem , e se no
h razo ou fundamento pela qual ela possua a vontade que possui, ento
tambm no h razo ou fundamento, seja para aquilo que essa pessoa quer em
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 35
SILVA, H. L.
geral, seja para aquilo que ela quer em particular. Como pde Schopenhauer no
extrair essa consequncia, evidente, de sua teoria e, ao contrrio, ter insistido
na tese de que o carter de uma pessoa est, em cada situao, determinado
de uma maneira ou outra, ou determinado pelos motivos que se apresentam?
Um segundo equvoco acerca dessa liberdade se acrescenta a este:
vimos que essa liberdade e Grundlosigkeit da vontade eram imediatamente
afirmadas a partir da constatao do papel subalterno das faculdades
intelectuais, conscientes e racionais, relativamente deciso da vontade,
faculdades intelectuais que, com efeito, se dedicam tarefa de fornecer
razes ou fundamentos, em particular, razes e fundamentos para a escolha
e deciso sobre um curso de ao a ser seguido. Ora, aps constatar que essa
ponderao racional (vernnftige berlegung) no interfere nas decises da
vontade, Schopenhauer deixa de notar que o que essa ponderao racional
procura excluir justamente a liberdade de indiferena, o querer por
querer, o querer sem-razo ou sem-fundamento ele chega, ao contrrio, a
inexplicavelmente atrelar a afirmao da liberdade de indiferena concepo
intelectualista, a qual v na capacidade ou faculdade de fornecer razes a
essncia do homem:
A defesa da (tese) da liberdade emprica da vontade, do liberum arbitrium
indifferentiae, est estreitamente conectada concepo que coloca a essncia
do homem numa alma que originalmente um ser que conhece, de fato, um
ser que pensa abstratamente, e apenas em consequncia disto, um ser que
quer. (WWV, I, 403; WWR, I, 292).
Como pode Schopenhauer afirmar isso, quando se considera que a
ponderao racional procura, justamente, excluir a liberdade de indiferena?
Constatamos, assim, que Schopenhauer, aps ter, de maneira muito bem-
sucedida, descoberto a Grundlosigkeit da vontade, Grundlosigkeit que idntica
liberdade de indiferena, em consequncia de sua crtica revolucionria
sobre o papel subalterno das faculdades intelectuais relativamente deciso
da vontade, adota em relao a essa Grundlosigkeit procedimentos bastante
questionveis por um lado, ela empurrada para o domnio quase inacessvel
das coisas em si mesmas, deixando suas manifestaes particulares como quase
mecanicamente determinadas, e, por outro lado, seu vnculo evidente com a
liberdade de indiferena desconsiderado, liberdade esta que, estranhamente,
vinculada por Schopenhauer concepo intelectualista que foi, justamente,
desqualificada por sua crtica.
36 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
Enfim, se, contra os adeptos do livre-arbtrio, Schopenhauer tem razo
ao afirmar que a vontade, uma vez tendo chegado a querer fazer uma coisa, no
poderia ter querido fazer outra coisa, contra os adeptos do determinismo, ele
deveria ter reconhecido, claramente, que a vontade, quando quer uma coisa,
ou quando quer fazer uma coisa, ela o quer de uma maneira completamente
infundada, sem-razo, sem nenhuma condio antecedente em relao qual
esse querer poderia ser encarado como necessrio. E, isso, tanto no que diz
respeito Vontade metafsica, geral ou em-si, como tambm no que concerne
a cada manifestao particular e fenomnica dessa vontade. Schopenhauer, no
entanto, equivocadamente empurrou essa (evidente) liberdade de indiferena
ou Grundlosigkeit da vontade para o domnio inacessvel, porque nunca
inteiramente revelado pela experincia, do carter inteligvel, ao mesmo
tempo em que inadvertidamente atribuiu ao carter emprico a mesma
inalterabilidade e completude que so supostamente caractersticas do carter
inteligvel, aderindo, assim, tambm equivocadamente, a um determinismo
que sua descoberta original, na realidade, no suporta, mas contraria.
III Bergson
Embora Bergson esteja empenhado, em sua primeira obra filosfica
significativa, o Essai sur les donnes de la conscience, de 1888, em demonstrar que,
tanto deterministas como adeptos do livre-arbtrio compartilham uma mesma
pressuposio equivocada, a saber, a transposio ou traduo da temporalidade
da vida consciente, em termos espaciais, sua principal inteno nessa obra ,
no entanto, contrapor-se s tendncias deterministas prevalecentes, tais como
o determinismo dos motivos defendida h pouco por Schopenhauer, na
cincia, principalmente na psicofisiologia e na psicologia associacionista de sua
poca. Para isso, ele analisa, de forma bastante minuciosa e sofisticada, alguns
conceitos mobilizados por tais cincias, como os conceitos de quantidade
intensiva e de estados psicolgicos, com o objetivo de mostrar que tais
conceitos, ao invs de refletirem e captarem a temporalidade verdadeira da vida
da conscincia, na realidade, so construdos sobre a intuio de um espao
homogneo, de um espao no qual aquilo que caracterstico e essencial a essa
vida no pode se acomodar. A partir dessa anlise Bergson procurar chegar
a concluses inovadoras a respeito do problema da liberdade, concluses
que, como veremos, estaro muito prximas quelas que Schopenhauer teria
chegado, no fosse, como vimos, sua equivocada defesa de um determinismo
dos motivos. Para que possamos apreciar o valor dessas concluses de Bergson
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 37
SILVA, H. L.
a propsito da liberdade, precisamos, no entanto, examinar primeiro a sua
anlise daqueles conceitos atravs dos quais o determinismo que ele combate
pretendia se afirmar.
Comeando com o conceito de quantidade intensiva da psicofisiologia,
Bergson pergunta: o que queremos dizer, quando afirmamos que uma
sensao, por exemplo, maior, ou mais forte, que outra? Obviamente,
continua ele, o que pretendemos significar com isso no pode ser o mesmo
que significamos, quando dizemos que um nmero, ou uma parte do espao,
maior que o outro, pois aquilo que torna possvel esta ltima relao uma
relao prvia de um continente para com os seus contedos, relao esta
que no existe entre sensaes. As sensaes no podem ser justapostas ou
sobrepostas umas s outras. Uma verdadeira mensurao ou medida aqui
impossvel, porque, nesse domnio, a igualdade qualitativa implica identidade
uma sensao no pode ser dita igual a outra, a no ser que se trate da mesma
sensao (e, nesse caso, no se trataria de duas sensaes). Na construo de
um nmero, prossegue Bergson, precisamos supor elementos qualitativamente
iguais e, no entanto, ainda discernveis como no sendo os mesmos, como
diferindo ainda uns dos outros de algum modo. , portanto, assinala
Bergson, o nivelamento ou a abstrao do aspecto qualitativo e a intuio
do espao o que tornam possveis o nmero e a medida dois elementos,
qualitativamente iguais, s podem ser ditos no serem o mesmo elemento se
estiverem posicionados em duas regies diferentes do espao. Porm, constata
Bergson, no caso das sensaes, no existem tais relaes espaciais, e o aspecto
qualitativo, o qual deveria ter sido nivelado ou abstrado para que a prpria
atividade de mensurao fosse possvel, justamente aquilo que a psicologia
psicofisiolgica pretende medir. Trata-se, por conseguinte, conclui Bergson, de
uma tarefa impossvel. Evidentemente, na linguagem cotidiana, consideramos
um sentimento ou sensao como maior ou mais forte que outro, mas
bvio que, com tais expresses, no pretendemos significar nenhuma
mensurao efetiva. Assim, conclui Bergson, quando o psicofisiologista tenta
mensurar sensaes, ele est indevidamente pressupondo uma traduo ou
transposio da temporalidade consciente, em termos espaciais, e, na medida
em que nessa transposio aquela vida perde suas caractersticas essenciais, ele
no est mensurando efetivamente nada.
Tais caractersticas da temporalidade da vida consciente so mais
claramente percebidas a partir da anlise que Bergson promove do conceito
de estados psicolgicos, tal como admitido pela psicologia associacionista.
38 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
O que o psiclogo associacionista pretende dizer, quando alude a uma
multiplicidade de tais estados? Tratar-se-ia, continua a perguntar Bergson, de
uma multiplicidade numrica? Para que o adicionar e o contar sejam possveis,
preciso a intuio de um medium no qual, medida em que passamos de
um elemento a outro, o primeiro elemento, que agora j passado, seja ainda
preservado e retido, de modo a ser justaposto ao novo elemento que agora
est sendo considerado. E o medium no qual isso possvel , frisa Bergson,
o espao, porque um momento do tempo, por sua prpria natureza, no
pode permanecer, de sorte a ser acrescentado a outro momento. Contudo,
mais que isso: de maneira a que sejam possveis a adio e a contagem
necessrio, no s que os elementos passados sejam preservados, mas
tambm que sejam preservados como elementos distintos ou discernveis do
elemento presentemente sob considerao. Eis aqui o que Bergson chama de
exterioridade recproca, e que , segundo ele, uma caracterstica essencial
da nossa intuio de um espao homogneo e da nossa intuio dos estados
do mundo, material ou fsico, externo essa caracterstica consiste em que,
onde se encontra uma parte do espao, a outra parte no se encontra ou,
quando um estado do mundo aparece, o outro estado anterior j desapareceu
completamente. Essa caracterstica da exterioridade recproca, assim como
a caracterstica anterior, a qual poderamos chamar de discernibilidade no-
qualitativa, da nossa intuio de um espao homogneo o que torna possvel
tanto a mensurao, a adio e a contagem quanto, destaca Bergson, e isso
especialmente importante para a o problema da liberdade, a previsibilidade
pois so essas caractersticas da intuio do espao homogneo aquilo que,
ultimamente, torna possvel que um estado do mundo externo possa ocorrer
novamente da mesma maneira como ocorrera anteriormente. Na intuio
do mundo externo, conforme Bergson, temos apenas simultaneidades,
temos apenas o presente. No h a nem durao nem sucesso, j que estas
existem apenas para uma conscincia, na qual o passado pode coexistir com
o presente. No mundo externo mesmo, ocorrem mudanas, mas mudanas
que no redundam em sucesso, j que o novo estado exclui completamente,
reciprocamente exterior em relao ao estado anterior. Esses estados podem,
assim, ocorrer novamente, eles so reprodutveis, porque, tendo j em sua
primeira ocorrncia sido completamente distintos e indiferentes aos outros
estados coexistentes e anteriores, so suscetveis de acontecerem novamente
em meio a estados que so completamente diferentes dos estados anteriores.
Toda a previsibilidade, toda a capacidade preditiva da cincia, assinala Bergson,
repousa sobre aquelas caractersticas, a discernibilidade quantitativa e a
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 39
SILVA, H. L.
exterioridade recproca, da intuio do espao homogneo, que faz com que
um estado possa ser preservado, e preservado como quantitativamente distinto
de outros estados coexistentes e anteriores, e que possa aparecer, e reaparecer
tal qual, mesmo que circundado por outros estados muito diferentes dos
anteriores.
No entanto, continua Bergson, com o conceito de estado psicolgico,
o psiclogo associacionista pretende estar capturando os momentos da nossa
vida consciente e psicolgica, da mesma maneira como o conceito de estado
fsico ou material captura os estados do mundo externo, isto , ele concebe os
momentos daquela vida da conscincia como se estes fossem reciprocamente
exteriores uns aos outros esse psiclogo pretende dizer que, por exemplo,
quando algum alega ter a mesma dor que teve dias ou anos atrs, se
trataria da recorrncia de um mesmo estado em meio a circunstncias
psicolgicas circundantes completamente diferentes. Bergson reconhece que,
com propsitos prticos (por exemplo, quando se trata de comunicar nossos
sentimentos e, nesse caso em especial, quando se trata de pedir ajuda), estamos
autorizados a fazer abstrao das diferenas entre as circunstncias psicolgicas
circundantes, circunstncias que fazem com que a dor atual seja to diferente
da, e quase incomensurvel com, a dor anterior e com estes mesmos
propsitos prticos que ns simbolizamos esses sentimentos artificialmente
solidificados mediante uma nica palavra dor. As palavras de nossa
linguagem, para Bergson, com seus significados precisos, estveis, nitidamente
definidos, impem aos sentimentos e sensaes que, por razes prticas,
eles denotam a mesma exterioridade recproca que, de fato, no existe na
temporalidade pura da vida consciente:
Eu me levanto para abrir a janela mas, uma vez em p, eu me esqueo do
que pretendia fazer; permaneo em p, parado Isto fcil de explicar, diz
o psiclogo associacionista: voc associou duas idias; uma, a do objetivo a
atingir, a outra, a do movimento a executar; uma dessas idias desapareceu, e
restou apenas a idia do movimento Entretanto, eu no volto a me sentar.
Obscuramente sinto que tenho ainda uma coisa a fazer. A minha imobilidade
no uma imobilidade indiferenciada; na posio em que parei est, por
assim dizer, pr-figurado o que eu pretendia fazer; assim, tudo o que preciso
fazer manter esta posio [...], senti-la de modo atento, para encontrar nela
a idia que foi esquecida momentos atrs. (BERGSON, 1967, p. 140).
Na temporalidade pura da conscincia, ressalta Bergson, os momentos
que se sucedem penetram-se mutuamente, de maneira que, quando
40 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
o momento novo e presente surge, ele j era como que pr-figurado e
anunciado pelos momentos anteriores; e ns encontramos, nesse momento
novo e presente, vestgios dos momentos que acabaram de passar. Bergson
diria, antecipando algumas das consideraes que sero feitas por Husserl, a
propsito da conscincia ntima do tempo, nos cursos de Gtingen de 1905,
que um momento presente e atual da durao pura nunca apenas presente,
mas sobrecarregado com vestgios do recm-passado e anncios do futuro
prestes a surgir. E, continua ele, quando um novo momento dessa durao
surge, ele no meramente adicionado aos momentos anteriores, mas, ao
contrrio, ele se integra e se organiza com eles, constituindo um complexo
de elementos completamente novo. como, compara Bergson, a nota atual
de uma melodia, nota que, quando aparece, j era pr-figurada e anunciada
pelo complexo das notas anteriores, e que, ao surgir, rearranja ou reorganiza
esse complexo, constituindo com as outras notas um complexo novo, ao
mesmo tempo em que j anuncia ou pr-figura a nota que est prestes a surgir.
Nossa vida consciente ou psicolgica , de acordo com Bergson, como uma
melodia: cada momento dessa vida tem sua insero num complexo especfico
e irreprodutvel de circunstncias psicolgicas circundantes, e no pode dessas
circunstncias ser separado sem que, concomitantemente, perca sua prpria
identidade. Nenhum momento desse complexo orgnico continua a ser o
mesmo momento, quando dele artificialmente separado e artificialmente
inserido num outro complexo.
Tendo, assim, caracterizado a durao pura de nossa vida consciente,
Bergson pode agora, no exatamente resolver, mas sim dissolver o problema
em torno do qual se opem deterministas e adeptos do livre-arbtrio: esse
problema, enfatiza Bergson, tal como formulado por ambos os oponentes,
no pode ser resolvido, e deve ser considerado como sem-sentido no faz
sentido perguntar se, dadas as mesmas condies, uma pessoa pode (como
afirmam os adeptos do livre-arbtrio) ou no pode (como afirmam os
deterministas) fazer algo diferente do que anteriormente fez, porque ns no
podemos considerar a nossa vida psicolgica ou consciente como se, nela,
fosse possvel dar-se as mesmas condies. Como vimos, nessa vida est
excluda a possibilidade da repetio ou recorrncia de seus momentos, de
modo que ambos os oponentes, deterministas e adeptos do livre-arbtrio,
formulam sua oposio sob um pressuposto comum, sob um pressuposto que,
pura e simplesmente, falso. Por exemplo, quando se trata da questo sobre a
deciso deliberada, ambos os oponentes, aceitando de forma no-crtica as
solidificaes artificiais introduzidas na vida psicolgica pela linguagem de
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 41
SILVA, H. L.
utilidade prtica, concebem a pessoa que est deliberando como se ela estivesse
oscilando, como um pndulo, entre duas direes artificialmente solidificadas,
por exemplo, as direes (A) e (B). Contudo, frisa Bergson, o que realmente
ocorre que essa pessoa, aps considerar sucessivamente as direes (A) e (B),
ir, quando voltar a reconsiderar a direo (A), encontrar-se numa situao
diferente daquela em que se encontrava quando, pela primeira vez, considerou
a direo (A). J no se trata da mesma direo (A), pois, no entretempo, a
pessoa adquiriu a experincia da considerao da direo (B). Assim, conclui
Bergson, quando se levam em conta as caractersticas da temporalidade pura da
vida consciente, que exclui a possibilidade de uma exterioridade recproca e
de uma reprodutibilidade de seus momentos, a posio do determinista se v
reduzida afirmao, banal, de que o desenrolar dessa vida at esse momento
foi esse, de que o que foi feito at agora, foi feito, ao passo que a posio do
adepto do livre-arbtrio se v reduzida afirmao, igualmente banal, de que o
desenrolar dessa vida, que ainda no foi feito, no foi feito.
Essa concluso de Bergson parece atingir, efetivamente, algumas
das pretenses dos deterministas e, embora Bergson pretenda que ela seja
igualmente desfavorvel s pretenses dos adeptos do livre-arbtrio, todo o
seu empenho nesse Essai direcionado ao aprimoramento do argumento
desses ltimos, isto , defesa da tese da liberdade. E justamente nessa
defesa da tese da liberdade que encontraremos Bergson como se aproximando,
inesperadamente, do determinista Schopenhauer. Se, conforme vimos, a
defesa que Schopenhauer promove da tese do determinismo dos motivos
equivocada, a ponto de contrariar as pretenses deterministas, veremos que a
defesa da tese da liberdade que Bergson promove tampouco satisfaz aos adeptos
do livre-arbtrio. Ser nesse ponto, conforme anunciamos no incio deste texto
que encontraremos ambos os filsofos apreendendo as aes humanas de uma
maneira que no se adequa s concepes, nem deterministas, nem libertistas,
e que aponta para um ganho efetivo na soluo do problema da liberdade.
Continuemos acompanhando a anlise de Bergson.
Quanto previsibilidade das aes humanas, Bergson, como vimos,
nega que ela seja possvel. Ele chega mesmo a forjar a imagem, que lembra o
exemplo anterior dado por Schopenhauer, de um filsofo, chamado Paulo, que
est tentando predizer o resultado da deliberao que est em curso na cabea
de outra pessoa, chamada Pedro. Paulo, frisa Bergson, pode tentar basear sua
predio nas representaes simblicas que Pedro tem de seus prprios estados
psicolgicos prvios, mas, nesse caso, a intensidade peculiar a cada estado,
42 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
passvel de influenciar na deciso, s poderia ser avaliada aps a deciso ser
concluda, e a ao realizada visto que os termos utilizados por Pedro, no
relato das experincias pelas quais passou, denotariam sentimentos e sensaes
artificialmente solidificados e annimos, os quais no permitiriam apreciar sua
importncia no processo decisrio. Todavia, Paulo pode, continua Bergson,
tentar uma outra via: tal como um escritor, num romance ou num drama, pode,
mediante o delineamento preciso do carter dos personagens e das situaes
em que se encontram, chegar a representar sentimentos e pensamentos de
uma maneira mais concreta do que as representaes simblicas da linguagem
o fazem, levando o leitor a assumir, simpaticamente, os sentimentos e
pensamentos do personagem como se fossem seus prprios sentimentos
e pensamentos, assim tambm o filsofo Paulo poderia tentar coincidir
simpaticamente com a pessoa de Pedro de um modo tal, que toda experincia
ou vivncia de Pedro, por menos importante que fosse, fosse igualmente
experimentada ou vivida por ele. Mas, para que a previso pretendida por
Paulo fosse possvel, seria preciso que essa coincidncia simptica se estendesse
tanto a tudo aquilo que j foi vivido por Pedro quanto ao momento presente
em que Pedro est deliberando. Assim, assevera Bergson, nesse momento,
constatamos que tudo o que o filsofo Paulo poderia predizer a respeito da
deliberao de Pedro o que o prprio Pedro poderia predizer a respeito de
sua prpria deliberao. E, conclui Bergson de uma forma muito semelhante
quela como conclua Schopenhauer, h pouco, tudo o que o prprio Pedro
pode saber a respeito do processo de deliberao que est em curso, em sua
prpria mente, ele o sabe apenas quando essa deliberao est prestes a ser
concluda, e est em vias de se manifestar como uma ao efetiva:
Eis uma questo sem-sentido: a ao poderia ou no poderia ser prevista,
uma vez dada a totalidade de suas condies antecedentes? [...] Quando,
atravs de transies graduais, coincidimos com a pessoa (cuja ao estamos
tentando prever), quando passamos pela mesma srie de estados, e quando,
assim, nos aproximamos do exato instante no qual a ao est se realizando,
ento j no se trata de prev-la [...] Ns apenas vivenciamos esta durao
na medida em que ela se desenrola. Em resumo, no domnio dos fatos
psicolgicos profundos, no h diferena notvel entre prever, ver, e agir.
(BERGSON, 1967, p. 108).
Tal como constatava o determinista Schopenhauer, tudo o que ns
podemos saber, e tudo o que a prpria pessoa, cuja ao estamos tentando
prever, pode saber a respeito da deciso que est tomando, conhecido, afirma
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 43
SILVA, H. L.
tambm Bergson, apenas no momento em que essa deciso est sendo tomada,
ou j foi mesmo concluda. No caso de decises importantes, de decises
que representam, como se diz, encruzilhadas vitais, o nosso Eu profundo,
completa Bergson, pode irromper no, e romper os automatismos do, Eu
superficial j no se trata da, mais ou menos previsvel e automtica,
escolha de, por exemplo, uma ou outra marca de refrigerante, mas sim de uma
alternativa entre aes que mudaro todo o curso futuro da vida da pessoa.
Nesses casos importantes, assinala Bergson (1967, p. 111):
Quando escrupulosamente investigamos dentro de ns mesmos, vemos
que acontece de pesarmos razes, deliberarmos, ao mesmo tempo em que a
deciso parece j ter sido tomada [...] A interveno repentina da vontade
como um golpe de estado de que nossa conscincia tinha um pressentimento,
e que ela procura antecipadamente justificar atravs de uma legislao oficial.
verdade que podemos perguntar se a vontade, quando ela quer porque
quer, no estaria ainda obedecendo a alguma razo decisiva, ou se o querer
por querer realmente um querer livre.
Nessas passagens de tom inequivocamente schopenhaueriano, Bergson
est afirmando a mesma cognoscibilidade meramente emprica ou a posteriori
das decises da vontade por parte das faculdades conscientes e racionais que,
h pouco, era afirmada por Schopenhauer. At mesmo o carter subalterno
dessas faculdades, as quais se limitam a justificar post factum a deciso sem-
fundamento e sem-razo da vontade, admitido por ele. E a questo levantada
por ltimo, se o querer por querer, isto , o querer sem razo, realmente
um querer livre, ser, surpreendentemente, respondida afirmativamente por
Bergson (1967, p. 118-119):
Quando nossos amigos mais confiveis concordam em nos recomendar algo
sobre uma deciso importante, seus conselhos so depositados na superfcie
de nosso Eu [...] Acreditamos ter agido livremente, e apenas depois, quando
refletimos sobre o que ocorreu, que reconhecemos nosso erro. Mas, no
momento em que a ao est prestes a efetuar-se, no incomum ocorrer
de uma revolta irromper [...] nosso Eu profundo que vem superfcie
[...] Eis porque procuramos em vo explicar nossa repentina mudana na
deciso mediante apelo s circunstncias que aparentemente a precederam
[...] Queremos saber a razo pela qual decidimos, e constatamos que decidimos
sem nenhuma razo e, talvez, contra toda a razo. (Grifo nosso).
So nesses momentos importantes de nossa vida, nos quais nosso
44 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
Eu mais fundamental, nossa personalidade integral, irrompe em nosso
Eu superficial, rompendo-lhe os sentimentos e opinies artificialmente
solidificados, annimos e simblicos, frisa Bergson, que podemos nos
apreender como verdadeiramente livres. Mas, se assim , como no qualificar
essa liberdade como uma liberdade de indiferena? Como no identific-
la Grundlosigkeit da vontade, que, apesar da equivocada nfase num
suposto determinismo dos motivos, era destaque na anlise promovida
por Schopenhauer? Schopenhauer no fazia uma clara distino entre
decises importantes e triviais, e Bergson no distingue entre um carter
inteligvel e um carter emprico, entretanto, no fundo, ambas as anlises
coincidem na afirmao dessa liberdade da vontade como ausncia de razes
ou fundamentos necessitantes de cada uma das manifestaes de seu querer.
Mas, tal como antes constatamos que os resultados obtidos pela anlise de
Schopenhauer no se adequava inteiramente, ao contrrio do que ele prprio
pensava, s expectativas dos deterministas, agora vamos verificar que essa
anlise de Bergson, ao contrrio tambm do que ele prprio acredita, no
satisfaz s expectativas dos adeptos do livre-arbtrio.
Arnaud Franois, em seu La volont chez Bergson et Schopenhauer,
procurando apontar para uma convergncia entre as ontologias da vontade
de Bergson e de Schopenhauer, comea por ressaltar as divergncias de ambos
sobre outros pontos, incluindo uma suposta divergncia sobre o ponto que
nos ocupa aqui referindo-se especificamente ao Essai, Franois sustenta
que, a respeito da liberdade, Bergson ultrapassa Schopenhauer, na medida em
que ele no aceita a oposio, admitida por Schopenhauer, entre a liberdade
de indiferena e o determinismo (FRANOIS, 2004, p. 5). Mas, conforme
vimos, o determinismo de Schopenhauer mais aparente do que real, e
a liberdade que Bergson pretende afirmar , como acabamos de ver, muito
prxima da liberdade de indiferena. De qualquer forma, Franois, mesmo
pretendendo salientar uma suposta divergncia entre ambos os filsofos,
a respeito do tema da liberdade das aes humanas, pergunta-se sobre uma
inesperada convergncia entre ambos:
Agora, encontramos em Bergson e, mais particularmente, em seu Essai
sur les donnes immdiates de la conscience, que diz respeito ao problema
da liberdade, vestgios da concepo de um querer por querer, de uma
Vontade que, como acontece em Schopenhauer, pode manifestar-se na mais
completa ausncia de motivos (abstratos)? [...] De fato, imediatamente aps
a publicao do Essai de Bergson, foi levantada [...] a objeo de que Bergson
estaria afundando a Razo numa espcie de fluxo indistinto de conscincia,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 45
SILVA, H. L.
isto , numa mera espontaneidade que mal e mal consciente de si mesma
[...] (FRANOIS, 2004, p. 10).
Recusando essa objeo, Franois procurar mostrar que, em Matire
et Mmoire, Bergson desfaz essa impresso, e qualifica toda durao humana
como intrinsecamente razovel. Entretanto, no precisamos acompanhar
Bergson nesse aspecto, nem procuraremos contestar a opinio de Franois a
respeito. Em seu Essai, ao menos, Bergson entende a Razo, juntamente com
a linguagem e a inteligncia prtica, como pertinente ao Eu superficial, ao
Eu pblico que, por lidar com a espacialidade homognea do mundo externo,
adquire desse contato a exterioridade recproca caracterstica de seus estados.
As aes e decises triviais e comuns desse Eu superficial no so, assevera
Bergson, livres, mas sim determinadas e em grande parte previsveis, tal como
so previsveis e determinadas as suas contrapartidas do mundo externo. As
aes do Eu que realmente so livres, de acordo com Bergson, so aquelas
em que os sentimentos e pensamentos desse Eu superficial so rompidos pela
irrupo do Eu profundo, do Eu que, como acabamos de ver no relato de
Bergson, quer porque quer, isto , quer sem nenhuma razo ou fundamento.
Assim, podemos notar que, ao contrrio do que Franois pretende mostrar, ao
menos no Essai, Bergson entende a razo e o razovel como estando no Eu,
o qual, justamente, no livre.
Todavia, essa inesperada convergncia entre Schopenhauer e Bergson
nos d a oportunidade, enfim, de perguntar se, e em que medida, a concepo
bergsoniana de liberdade satisfaz s expectativas dos adeptos do livre-arbtrio.
Se, conforme vimos, a questo da previsibilidade era o calcanhar de Aquiles do
suposto determinismo de Schopenhauer, a questo da escolha parece ser o
calcanhar de Aquiles da liberdade bergsoniana. Com efeito, dir o adepto da
tese do livre-arbtrio, essencial ao conceito de ao livre que essa ao seja
uma ao escolhida. O conceito negativo de liberdade, como independncia
relativamente a toda necessidade, e o conceito de liberdade de indiferena,
como independncia em relao a qualquer razo ou fundamento, no podem
satisfazer s exigncias daquilo que pensado sob o conceito de liberdade, j
que este implica liberdade de escolha. Ns no podemos, continua esse adepto
do livre-arbtrio, conceber a liberdade a no ser como liberdade de escolha,
e no podemos tambm conceber uma escolha a no ser como resultante
de um processo de deliberao no qual se avaliam e se pesam ao menos dois
motivos ou alternativas diferentes. Mesmo admitindo, continua esse adepto, a
46 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
interpenetrao recproca dos momentos da conscincia, tal como estudados
por Bergson, preciso, para que uma escolha seja possvel, que haja entre essas
duas alternativas uma certa exterioridade recproca. Mas isso, exclama esse
adepto, justamente o que Bergson nega! Se, continua ele, na resoluo de um
conflito ocorre, tal como prope a anlise bergsoniana, uma espcie de mistura,
fuso e amlgama entre as alternativas conflitantes, como dizer que uma escolha
foi feita, pois escolher algo significa preterir ou abdicar de outro algo?
Mas Bergson, conclui esse adepto do livre-arbtrio, ao negar a possibilidade de
uma exterioridade recproca entre essas alternativas conflitantes, entre a coisa
escolhida e a coisa preterida, est negando, sem dar-se conta disso, tambm
a prpria possibilidade de uma escolha e, consequentemente, est negando a
prpria possibilidade da liberdade.
IV - Concluso
Vimos que Schopenhauer estava correto ao sustentar, contra as pretenses
dos adeptos do livre-arbtrio, que, tendo a vontade chegado a querer fazer
uma coisa, no faz sentido dizer que ela poderia ter igualmente querido fazer
outra coisa. Essa ao deve ser reconhecida como necessria, mas, isso, apenas
no sentido de que no poderia ter sido outra. Entretanto, Schopenhauer, por
entender que a necessidade inclui principalmente a caracterstica de seguir-se
a uma razo suficiente, acaba indevidamente atribuindo vontade emprica
a mesma determinao incognoscvel da vontade inteligvel, e passa a encarar
os motivos como razo ou fundamento de cada querer particular da vontade,
obscurecendo sua prpria descoberta a respeito do carter absolutamente sem-
razo (grundlos) e livre daquele processo atravs do qual a vontade chega a
querer fazer alguma coisa. E Bergson tem razo contra o determinista, quando
salienta o carter orgnico da temporalidade da vida da conscincia, de uma
organicidade que, no limite, inviabiliza a aplicao do prprio princpio de
causalidade aos momentos da conscincia pois causa e efeito precisam
ser definidos independentemente um do outro, isto , preciso que ambos
sejam reciprocamente exteriores um ao outro, algo que, como apontou Bergson,
impossvel na temporalidade da vida da conscincia. Da mesma maneira, sua
demonstrao a respeito do carter nico e irrepetvel de cada um dos momentos
dessa conscincia um duro golpe para as pretenses deterministas. Mas,
se, como pretende Bergson, cada momento da conscincia absolutamente
novo, como acomodar a ideia de uma liberdade de escolha? Se, como resulta
da anlise de Bergson, em cada um dos momentos da durao no se pode,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 47
SILVA, H. L.
a rigor, falar em dois motivos ou alternativas reciprocamente exteriores,
como falar em escolha? Deixando de lado a distino de Schopenhauer entre o
carter inteligvel e o carter emprico, assim como a distino bergsoniana
paralela entre o Eu profundo e o Eu superficial, a vontade, o querer e as
aes aparecem em ambos como um suceder de volies, as quais, se, por
um lado, no poderiam ter sido outras do que efetivamente foram, tambm
no so resultantes, nem so tornadas necessrias, pelo que quer que seja (so
imprevisveis) e, em particular, no so resultantes de uma escolha livre.
SILVA, Hlio Lopes da. Freedom of choice in Bergson and Schopenhauer. Tans/form/ao,
Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017.
Abstract: I show in this paper that Schopenhauer and Bergson, although approaching the problem
of free action from opposed philosophical standpoints, agree in characterizing human actions in a
way which is neither determinist nor compatible with the liberum arbitrium thesis. Schopenhauer,
although mistakenly trying to demonstrate the necessity of such actions, is obliged to recognize then
as grundlos and unpredictable. Bergson, although intending to show such actions as free, in the end
admits that they are not a matter of a reasonable choice. It is this unexpected agreement between both
philosophers on the problem of the freedom of human action that will be explored in this paper.
Keywords: Schopenhauer. Bergson. Freedom. Determinism. Choice. Prediction.
Referncias
BERGSON, H. Essai sur les donnes immdiates de la conscience. Paris: PUF, 1967.
FRANOIS, A. La volont chez Bergson et Schopenhauer. Methodos, 14 abr. 2004. DOI:
10.4000/methodos.135. Disponvel em: <http://methodos.revues.org/135. Acesso em: 14
dez. 2011.
GLOCK, H. J. Schopenhauer and Wittgenstein: language as representation and Will. In:
JANAWAY, C. (Ed). The Cambridge Companion to Schopenhauer. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009. p. 422-458.
HUSSERL, E. Vorlesungen zur phnomenologie des inneren zeitbewusstseins. Freiburg: Max
Niemeyer, 1928.
KANT, I. (KrV). Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt: Suhrkamp, 1974.
SCHOPENHAUER, A. (WWR) The world as Will and representation. Traduo de E. F.
J. Payne. New York: Dover, 1969.
______. (WWV) Die Welt als Wille und Vorstellung. Frankfurt: Insel, 1996.
48 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
A Liberdade de Escolha Artigos / Articles
______. (LV) Prize essay on the Freedom of the human Will. In: The two fundamental
problems of ethics. Traduo de D. Cartwright e. E. Erdman. Oxford: Oxford University
Press, 2010. p. 35-118.
Recebido em 08/09/2016
Aceito em 15/12/2016
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017 49
SILVA, H. L.
50 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 25-50, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
O Ensaio em Lukcs: Estilo Tardio e a Forma da
Juventude
Cesar Kiraly1
Resumo: No presente ensaio, procuro estabelecer afinidade de leitura entre a tradio ctica e a
dialtica, por intermdio do conceito de crtica.
Palavras-Chave: Lukcs. Ceticismo. Dialtica.
I
Se tudo for muito rpido, aceitarmos a diferena entre o ceticismo e a
dialtica seria comum e imperioso, mais ainda, haveria inultrapassvel abismo
entre essas duas formas de pensar. As relaes seriam instrumentais, quase
diplomticas, o ctico teria apenas tratamento, a oferecer ao adoecido dialtico,
e esse to somente uma relao instrumental com aquele, como passo anterior,
ou renovador, da sua prpria trajetria. Os rebatimentos histricos seriam,
grosso modo, a recepo mais intensa do ceticismo pela filosofia analtica, e
sua suposta conciso vocabular, e a dialtica pela filosofia continental, e sua
pacincia com o conceito, aprofundando a distncia. Mas parece que no
nada disso. Se atentssemos um pouco mais, no demoraramos por admitir a
pouca credibilidade de uma separao verdadeira. No mais das vezes, trata-se
de uma forma de escolher, por espelhamento, como queremos nos expressar e
o tipo de leitura que apreciamos fazer, ou de antecipar os livros de filosofia que
detestamos, sem ler. No ensaio, como gnero da escrita filosfica, a conversa
completamente outra. Ele uma terra pertencente a cticos e dialticos e
que precisa ser compartilhada. A hiptese de dois estados aqui parece absurda
de todo. Trata-se de um lugar que precisa ser compartilhado de sorte a no
sabermos mais quem quem. O remetimento s origens precisaria ser feito de
modo delicado, para no se tornar um ardil para impedir tal forma misturada.
Parece que essa habitao inaugura formas inesperadas de descrever, de
1 Professor de Esttica e Teoria Poltica no Departamento de Cincia Poltica da UFF. Autor, dentre
outros, do livro Ceticismo e Poltica. E-mail: ckiraly@id.uff.br
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 51
KIRALY, C
continuar uma voz antecedente que se interrompe antes do fim. O ensaio,
pela capacidade de inovao formal, seduz, inadvertidamente, a dialtica a se
dissolver em ceticismo, alterando-o geneticamente. O ensasta aquele que
atende ao chamado do artista e do cientista dissolvidos em novo amlgama.
II
Existe um largo acordo moral acerca da necessidade do vnculo do
pensamento com o exerccio da crtica. Um pouco independente da posio
conceitual do pensamento, sabemos que ser melhor se for crtico. Assim,
a despeito das discordncias, a crtica que mantm dutos de conversao
entre discursos diferentes, entre tempos distintos. E a capacidade de um
pensamento ser crtico que permite mudar suas caractersticas, sem perder a
identidade. Ou, em casos mais extremos, o exerccio crtico que torna vivel
o abandono de um nome para a aquisio de um outro, novo. Nem sempre a
crtica aparece por suas razes intrnsecas, por vezes, ela despertada. Porm,
a crise existencial, a experincia negativa, sem um territrio crtico, torna-se
destrutividade ou humor; mas no necessariamente troca de identidade ou
mudana.
Ainda que o pensamento, do ponto de vista moral, seja melhor quando
crtico, existe aquele que se afirma na completa averso a tal ambiente. A
crtica no faz falta ao mundo grego. Anselmo, Hegel e Heidegger so geniais
monstruosos, cada um de seu prprio jeito na proporo em que no so
crticos. Mesmo no sendo crtico, um pensador pode ser fundamental para
uma tradio crtica. Mesmo sendo pouco crtico, um autor pode fazer da
crtica o seu objeto.
Acredito que trs sejam as mais importantes tradies crticas: (i) a
ctica, (ii) a kantiana e (iii) a marxista. A crtica ctica a mais tradicional
das trs, pois se inicia com Montaigne, La Botie e Pierre Bayle, e, apesar de
sua difusa circunscrio, tem como elemento a busca de composio com a
reticncia dos cticos gregos e helnicos com o tema da essncia, agregando
figuras enigmticas, como Pirro, Enesidemo e Carnades, e sistematizadores
rigorosos, como Sexto Emprico. A crtica ctica flutua sobre essa herana e
se adensa por causa da volta do parafuso, noutras palavras, na redescoberta
das escrituras cticas do sculo XVI; nela que a vocao da ataraxia se
transfigura em vnculo filosfico de perscrutao e imerso na diaphonia. A
crtica ctica, por si s, a mais tradicional das crticas, mas o seu cancioneiro
52 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
se d, dentre outras razes, no conforto que possui com a tradio antiga que
abriga como sua, tradio que a inventa e que incorporada de um modo
que s tem existncia na deglutio; nesse sentido, a sua falta de limites bem
postos a sua maior virtude. A virada moderna do ceticismo altera o sentido
da epoch. O ceticismo crtico a continuao, buscada, do ceticismo antigo,
que uma coisa outra. Se antes a epoch significara a suspenso do juzo, uma
alternativa isostheneia, no sculo XVI, seguindo e adquirindo seu sentido
completo no XVIII, ela se torna um operador de pictorialidade. A ataraxia
do ctico moderno tem em comum, com a do filsofo antigo, a aquisio de
uma capacidade de vislumbramento, mais especificamente, da composio da
experincia.
A crtica kantiana surge do ambiente ctico; no o caso de inflacionar
a influncia de Hume sobre Kant, mas de admitir que a agenda crtica
ultrapassa em muito o kantismo, antes mesmo que ele tenha comeado. Num
certo sentido, a crtica kantiana pode ser dita menos crtica do que a ctica,
dentre outras razes, porque ela se organiza para desenvolver apenas um dos
problemas crticos da crtica ctica. Kant toma o problema ctico do limite,
e o investiga numa srie de fenmenos distintos. A provncia ctica do limite
recebe, de Kant, o nome de transcendental, e o extravasamento do campo
da crtica, o nome de transcendncia. A liberdade humana atual se torna um
problema transcendental, logo, objeto de crtica, e a virtualidade da finalidade
humana se torna um problema de transcendncia, logo, a cargo da metafsica.
Existe uma extensa histria das ramificaes do kantismo, seja pelo logicismo
de Marburgo, seja pelo espiritualismo pr-hermenutico e axiolgico da escola
de Baden, todavia, o pertencimento ao reduto do transcendental no emprico
uma caracterstica ampla dessa tradio crtica.
A crtica marxista, a qual ser lida sob uma perspectiva ctica, muito
bem representada pela obra de juventude e tardia de Lukcs, surge do
ambiente de releitura do transcendental empreendido por Hegel. No deixa
de ser paradoxal o fato do surgimento da crtica marxista sob os auspcios de
um dos pensadores mais reativos crtica, e no crtico, da histria da filosofia.
Contudo, a incorporao de Hegel por Marx e pelos autores crtico-marxistas,
como Lukcs, e frankfurtianos, como Adorno e Benjamin, d-se de modo
especial. Antes de tudo, Hegel um pretexto para uma imanncia dialtica. Se
o transcendental em Kant d vez provncia crtica do limite da Razo, do
entendimento e da imaginao, vendo no desnvel das faculdades a origem da
norma, e de sua finalidade na histria para liberdade , Hegel o pensa como
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 53
KIRALY, C
um limite, ilimitado. Essa aparente ilogicidade por ele resolvida com uma
nova lgica, segundo a qual as provncias da conscincia e da histria no so
apartadas, porque constitudas. A sofisticao dos processos de conhecimento,
bem descrita por Kant pela Aufklrung com relao essncia do objeto,
substitui-se pela evidncia da constituio da histria, enquanto fenmeno
de inteligibilidade da conscincia. Assim, aquilo que s poderia ser visto no
conflito entre instncias adquire a natureza de um conflito constitutivo.
Mas, como frisamos, o hegelianismo, puro e simples, no participa
da histria da crtica, quando muito, marca um captulo no crtico dos
momentos da Aufklrung, pois uma lgica integralista no permite o equvoco
ou a sua reviso. A natureza do vcio a negao que constitui a virtude, no
tempo. A imanncia de Spinoza, para citarmos um outro exemplo, igualmente
no admite a crtica. Assim, se Hegel importante para certa tradio crtica,
enquanto elaborador de um artifcio de imanncia, algum ardil intelectual
teve que ser produzido para inocular o raciocnio sobre o limite e a distino
no corao do esprito. Para tanto, e Lukcs o inaugurador dessa linhagem,
tendo como seguidores Adorno e, de um modo estranho, Benjamin, houve a
identificao da histria com o transcendental, fazendo com que a dialtica
deixasse de ser to somente uma filosofia da natureza para apontar os primeiros
traos de uma crtica do constitudo na constituio. Nisso foi aberta a
possibilidade de uma crtica dialtica da sociedade, porque, muito embora
desprovida a histria de equivocidade, passa a caber ao crtico o esclarecimento
acerca da instncia possvel da verdade no tempo, e neg-la.
Lukcs no tira a crtica dialtica da cartola, seus fragmentos estavam
l no jovem Marx. Como tambm seus fragmentos estavam no dilogo do
jovem Hegel com o ceticismo. Lukcs era especialmente atento juventude
dos seus autores. Ele traz essas filosofias de juventude para o primeiro plano,
e nelas planta o seu criticismo acerca dos modos de desintegrao do tempo,
pelo que se convencionou chamar de modernidade. A crtica dialtica
aponta a equivocidade atual da verdade presente, uma vez que enuncia
desde o virtual histrico. Se Hegel foi capaz de dissolver o transcendental
numa imanncia-conscincia-histria, fazendo das pennsulas de faculdades
um grande campo devastado e frtil, Lukcs revitaliza pela instituio da
provncia crtica, nesse mesmo campo devastado, e o espelha. A crtica de
Lukcs olha nos olhos do campo devastado e diz: - Campo, ests devastado,
mas a devastao uma das suas naturezas; se houve ordem e perda de
54 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
ordem; haver ordem pica no campo futuro.2
Afastar-nos-emos da crtica kantiana, pelo menos no que for possvel,
para lermos esse captulo da crtica marxista de um pouco mais de longe,
pelos olhos da crtica ctica. A longa tradio, um tanto idosa, lendo essa nova
crtica, pelo menos por comparao. A crtica ctica olhar sempre por trs
modos da pictorialidade: (i) a paisagem, (ii) o retrato e (iii) a abstrao.
A paisagem o modo da descrio ctica inaugurado por Montaigne,
antecipa alguns elementos do retratismo, mas os utiliza em detalhe, pois numa
paisagem de crena podem estar contidos vrios rostos filosficos, mas vistos,
sobretudo, como comuns, dentre os quais, inclusive, o rosto pressuposto
para a contemplao. Em Montaigne, a paisagem pode ser contraditria ou
ambivalente, mas nunca deformada, por isso pode pressupor em sua paisagem
mais de um rosto que vislumbra. Contudo, uma paisagem pode ter elementos
internos de deformao. Mas sempre vistos numa clareza unitria. Ainda
que haja vedao deformidade do landscape, os rostos inseridos podem ser
ambivalentes; tais ambivalncias podem ter os seus sentidos relacionados. Se
o retrato de Bayle o vislumbramento da crena na ambivalncia do rosto
filosfico, o retrato na paisagem, na acumulao pictrica de Montaigne,
descreve a ambivalncia em rostos no filosficos, em construes, em
exerccios, em suma, ele descreve a ambivalncia do mundo.
O retrato modalidade da descrio ctica inaugurada por Bayle, pela
qual, ao se salientar os elementos compositivos de um sistema filosfico, nele
se restam mostradas as crenas e, nessas, o rosto humano. O retrato ctico
concerne figurabilidade do rosto humano na enunciao terica, outrossim,
do vislumbramento crena-rosto como indcio de sistema-mundo. No
somente o pigmento da crena que precisa ser tolerado para fazer diagrama,
mas algo do seu contedo deve ser recebido para fazer rosto. Deve-se tolerar
o rosto humano.
Em Hume, a sobreposio, com o abstrato, encontra o seu termo. O
retrato permanece, mas perde a sua relevncia, que o fazia portador de nome-
prprio. Hume faz retratos de Maquiavel e Spinoza, mas eles assumem a
presena conceitual de um gnero, como em O Ctico ou O Estoico. A descrio
de paisagem permanece, no entanto, perde lugar para um princpio abstrato
2 Georg Lukcs, A Teoria Do Romance (So Paulo: Ed. 34, 2000). p. 34. [S]er homem significa ser
solitrio. E a luz interna no fornece mais do que ao passo seguinte a evidncia ou a aparncia de
segurana. De dentro j no irradia mais nenhuma luz sobre o mundo dos acontecimentos e sobre o
seu emaranhado alheio alma.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 55
KIRALY, C
de pluralidade de planos. O rosto passa a ser retratado enquanto efeito de
superfcie da natureza humana e a paisagem passa ser descrita como histria
da representao. A natureza humana descrita pela sua composio: ideias,
impresses e crenas, e a histria tambm: por crenas, contrastes e fronteiras.
Assim, nessa contraposio de Lukcs com o ceticismo, temos duas
crticas a rivalizar: a crtica ctica, como filosofia poltica, e a crtica dialtica,
enquanto filosofia da histria. Veremos que a opo pela forma de juventude
e pelo estilo de maturidade, como modo de leitura, relativizar a oposio.
Entretanto, existe oposio na histria das pretenses polticas entre a filosofia
poltica e a filosofia da histria. O percurso da filosofia poltica muito mais
extenso, e data da ambientao grega. A filosofia da histria se inicia no
sculo XVIII. Mas a oposio entre as duas no se deve apenas a problemas
de origem. Deve-se, sobretudo, a razes de contedo conceitual. O filsofo
poltico, quer pela fundao, quer pelo fundamento, descreve um estado de
coisas; ele, salvo pela criao de objetos pictricos, deixa as coisas tal como
so e, mais do que perguntar pelas causas, diz o que as causas so e o modo
pelo qual vinculam a autoridade. O filsofo da histria diz como as coisas
se tornaram a ser o que so e aponta, em virtude das causas que perscruta,
para onde vo. Ambos possuem ares teolgicos, mas o filsofo da histria se
preocupa com a teogonia, enquanto o poltico, com a teofania.
Pois bem, se Rousseau, Hegel e Marx so confortavelmente filsofos
da histria, o mesmo no ocorre com Lukcs. Se Locke, Hobbes e Bodin
so filsofos polticos, o mesmo no acontece com a descritividade conceitual
de Hume. Salvaguardando as enormes diferenas entre a crtica ctica
e a crtica dialtica, o que nos leva a empreender esse debate que ambas
tradies esto num outro lugar, no qual a descrio abstrata e a inveno
deliberada de objetos histricos caminham juntas. No s o ceticismo laicizou
a crena, como a crtica dialtica desvinculou a finalidade de sua estrutura
transcendente. H, nessa medida, um profundo vnculo antiteolgico nessas
duas tradies crticas.
A leitura conjunta dessas duas formas crticas nos permite ultrapassar
o aspecto antiteolgico por uma estrutura de pensamento no-teolgica. Tal
se deve ao fato da observao da criao. De alguma forma, tanto a crtica
dialtica quanto a crtica ctica no podiam se furtar a certa relatividade
teologia, razo pela qual temos a obrigao de esquecer a reatividade, ou t-
la apenas como contexto, e avanarmos para uma fundao eminentemente
esttica para a crtica. Contudo, devemos reconhecer o mrito presente na
56 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
laicizao da criao; a crtica ctica v a natureza humana criadora de rostos,
paisagens e conceitos, e, neste ltimo modo descritivo, no que concerne
crtica dialtica, a natureza humana a criar finalidade histrica.
III
Antes de podermos avanar, precisamos estabelecer um sentido
relativamente unificado para a crtica. Estamos menos interessados no radical
grego da crtica, e sua acepo jurdica, do que no remetimento a uma ideia
prtica de julgamento. Nesse sentido, frente a dois objetos indistintos, o
crtico kritiks aquele que, de modo experimentado, cria uma ordem.
Perceba-se que o crtico s cria uma ordem, porque se dedicou a ver o que
a poucos interessa: ele carrega uma espcie de fardo e, no momento em que
a distino, e no a deciso, necessria, ele conhece por convvio. Numa
acepo ampla, pode-se dizer que a crtica se inicia numa jurisprudncia, mas
no como uma jurisdio.
Koselleck nos lembra do radical de crtica e crise, remetendo-o ao grego
KRI. E tambm nos ensina sobre a essencializao da crise, correlacionada
intensa captura mdica, principalmente pela noo de organismo, mas
tambm nos faz ver que a perda do sentido de um mundo fechado afasta a
crtica da crise. Ainda que a crise seja um dos momentos em que se precisa da
crtica, apenas a crtica continuada, como um gosto institudo no tempo,
que possibilita exercer a distino na crise. A crtica no surge em momento de
crise, ela apenas chamada a falar e, se inexistente no momento anterior, no
ter nada a dizer (KOSELLECK, 1999, p. 203). Todavia, no que concerne
relao com o poder e com os homens comuns, fora do momento crtico, de
crise, os crticos so odiados e suas mortes desejadas3, na melhor das hipteses.4
O mais vulgar de crtica surge na Inglaterra do sculo XVII como
criticism, e a partir desse momento o crtico tido, prevalentemente, um
crtico de arte que, para tanto, um lgico e um gramtico com profundas
preocupaes morais e polticas. Nesse sentido, da natureza da crtica lidar
3 [...] sobre os criticks presunosos que haviam se tornado igualmente suspeitos aos olhos de
prncipes, eruditos, protestantes e catlicos; como castigo, a maioria deles teria sido acometida de
morte violenta ou maligna. Depois da publicao do Tratado Teolgico-Poltico, existem referncias a
Spinoza como um certo crtico judeu. (KOSELLECK, 1999, p. 203).
4 Deleuze e Foucault viram bem o problema da dissociao entre crtica e crise e a sucessiva captura da
crise pelo campo da clnica. O primeiro o faz em alguns ensaios agrupados no sentido geral do volume
Crtica e Clnica, enquanto o segundo, numa monografia de ttulo O Nascimento da Clnica.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 57
KIRALY, C
com a criao de um modo laicizado; a crtica se inicia como crtica de arte,
porque a criao entendida como fenmeno humano que encontra sua maior
intensidade na ideia de obra. Por essa razo, o crtico lida com o trabalho
filosfico, enquanto imaginao, ou acrscimo de sentido ao mundo. A crtica
nasce lidando com a filosofia como quem lida com sistemas de verdade. O
crtico pode ser tomado como aquele que est imerso em sistemas de razo.
Assim, a crtica dependente de uma teoria sobre a imaginao dos sistemas
de razo.
O sculo XVIII estreita mais a indissociabilidade da crtica com a obra
de arte, at mesmo na percepo de que o sistema filosfico uma obra de
beleza, de verdade; de tal modo que os problemas da crtica so os fundamentais
para a esttica (CASSIRER, 1994, p. 368|). A postulao sobre a moralidade
e a poltica no se distingue da reflexo sobre a obra de arte, pois o incio da
moralidade moderna, e sua preocupao com as formas de vida, depende do
problema esttico da representao do rosto humano. Nesse sentido, para a
crtica, o incio da experincia aestheticus, e os problemas concernentes ao
poltico decorrem da possibilidade desse tipo de vida. Ainda que haja um
estreito vnculo entre o aestheticus e a obra de arte, o primeiro conceito o
mais amplo. Dessa maneira, todo problema poltico esttico, pois concerne
possibilidade da experincia da natureza humana, mas nem toda questo
esttica ser politicamente relevante. Ser na obra que a natureza humana
reconhecer a composio de sua experincia de modo mais intenso, porque
as atividades da natureza humana so a abertura experincia e a necessidade
instituidora. A moralidade reguladora desse dualismo de abertura e atividade.
A crtica uma atividade filosfica inscrita entre atividades filosficas;
no precisamos padecer do mau gosto de a denominar metafilosofia, mas
precisamos reconhecer que ela se afirma numa sensibilidade especial ao
carter artstico dos sistemas. Apesar do longo nascimento, em Bayle que
encontramos a figura por excelncia do exerccio da crtica, e tambm do
crtico.5 Ambos, porque seu argumento torna evidente os pequenos retratos
ambivalentes do paisagismo de Montaigne, depois porque seu Dicionrio
Histrico e Crtico assume a postura pictrica de rapporteur e se fiscaliza para
no incorrer na atitude de avocat. Por certo, em qualquer enunciao existe
a sustentao da voz, o que significa alguma centelha avocat, nem que seja a
5 A crtica uma arte de julgar. Sua atividade consiste em interrogar a autenticidade, a verdade, a
correo ou a beleza de um fato para, a partir do conhecimento adquirido, emitir um juzo [...].
(KOSELLECK, 1999, p. 93).
58 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
defesa da crtica, porm, a questo que o pictorialista predominante, tal
como, em Montaigne, o paisagismo sempre superior ao fidesmo.
O que fascinante na crtica de Bayle, e na tradio que ajuda a
inaugurar e reforar, que tal atividade se d em bloco. Se a aproximao, ou
exposio, a uma experincia se deve ao gosto, em toda a sua ambivalncia e
atrao, pela obra, se toda crtica, por mais poltica que seja, inicia-se como
crtica de arte, ela no pode se eximir a contemplar algo da confuso entre
os julgamentos morais, artsticos e polticos. Ela, ao mesmo tempo em que
no pode confundir os modos da judicao, pois um dos pilares da fundao
da crtica a interrupo analogia universalis, precisa entender a si mesma
como pirroacrobacia. No s precisa manter todos os objetos no ar, como ter
a conscincia do porqu um no se confunde com o outro, ceticamente, sem
os tornar hipstases. A crtica se afirma na categoria de verdadeira opositora ao
todas as coisas esto em todas as coisas, que no seja a experincia, pois no
se esconde na especializao das disciplinas.
O Dicionrio Histrico e Crtico (1695), d notcia de algumas
caractersticas da crtica. 6 A primeira delas a necessidade de inovao formal.
A crtica ctica inventa uma forma de dizer. A inventividade percebida no
paisagismo pictrico, falar de si e de todas as coisas que se v, dentre elas,
infindveis crenas e pequenos retratos, na demanda de fabricao literria
do gnero do ensaio. Todavia, Bayle no escreve apenas verbetes/ensaio, ele
produz uma diagramao para apresentar seus verbetes, existe um cuidado
formal para dispor os tipos de nota e a interao que essas tm com o texto:
existe uma verdade tipogrfica, que antecipa os caligramas. Por isso, podemos
concluir pelo movimento de afetao artstica, em funo do olho sensvel
pictorialidade. crtica ctica impossvel deixar de fabricar uma escritura
prpria ao seu modo de ver; se Montaigne se contentou com a criao de um
modo literrio sua expresso, Bayle tambm o fabrica, mas o faz pela captura
da verdade pela tipografia.
Existe relao entre a crtica e a razo, entretanto, a crtica kantiana
deturpou essa boa proximidade; nela, de alguma forma, a razo externa
crtica e faz dela o seu exerccio. A crtica a expresso temporal de algo que
com ela no se confunde. Contudo, a fundao crtica de Bayle bastante
6 A crtica um trabalho perigoso, pois, quando ignorados alguns fatos particulares, todos os outros
conhecimentos so incapazes de impedir que julguemos mal as coisas. (BAYLE, 1740, p. 128). Se,
no comeo, a crtica era apenas um sintoma da diferena, cada vez mais aguda, entre razo e revelao,
com Pierre Bayle, ela se torna atividade que separa os dois domnios.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 59
KIRALY, C
distinta; nela, a crtica no se distingue da razo. Dessa forma, se perguntarmos
sobre a razo, a resposta ser a crtica. Num primeiro sentido, a razo a
suspenso que leva pictorialidade, depois, consiste na paisagem de crena
e seus pequenos retratos, logo, ela se desenvolve e se torna retrato da crena
como sistema filosfico. A razo no nunca ter razo. Nessa acepo que a
tradio crtica diminui o peso da retrica e deposita confiana no ambiente da
verdade. A inovao formal crtica concerne instituio de um ambiente da
verdade. A razo tipogrfica. A liberdade liberdade de prensa. A liberdade
liberdade de instituio sobre o papel. Pode-se dizer que a razo-crtica
(usamos as duas palavras com hfen, apenas para dar a ver a indissociabilidade,
e a separao como equvoco) tem compromisso com o futuro, mas esse no
possui uma substncia a ser encontrada pela finalidade, ele no se distingue da
manuteno, de um exerccio. A crtica se vincula ao futuro em que se possa
fazer crtica.7
A razo-crtica uma mquina de guerra (no se confunde com a
stira ou com os libelos difamatrios), que, por existir, conforma o mundo
numa certa direo. Dentre os efeitos imediatos est a exumao da religio.
revelao concedido o mesmo peso de verdade que crtica, ora, tambm
uma verdade tipogrfica. Por essa razo que os contornos lgicos da crtica
ctica so tambm encontrados na religiosidade, pois a verdade religiosa a
fabricao de mundos. Nesse sentido, Montaigne, Bayle e Hume reconhecem
que na religio se encontra com intensidade o operador humano para instituir
sobre o tempo, porm, longe de admitirem o uso teolgico da crena,
promovem obras de laicizao. No que na forma crena haja religiosidade,
mas reconhecem a profunda captura histrica, promovida pela religio com
relao a esse operador. A crtica, porque percebe o porqu da crena, no se
confunde com o estado, nem tenta. Sua apoliticidade se reduz ao fato de que
no h crtica soberana. A crtica participa de um pensamento esttico e, pelo
seu exerccio, critica o Estado, os partidos e as religies.8
7 [] esse fervor da liberdade que reina na repblica das letras. Essa repblica um estado
extremamente livre. Nele s se reconhece o imprio da verdade e da razo; e, sob os auspcios delas,
trava-se guerra inocentemente contra quem quer que seja. Os amigos tm que se proteger dos amigos,
os pais dos filhos, os sogros dos genros: como um sculo de ferro. Ali, todos so soberanos e podem
ser julgados por todos. (BAYLE, 1740, p. 102).
8 Koselleck, (1999, p. 97) [...] em Bayle, o crtico s tem uma obrigao: a obrigao com relao
ao futuro. Pelo exerccio da crtica encontra-se a verdade. A pretenso de alar-se acima dos partidos
impulsionava o processo para frente na mesma medida em que seu fim no estaria vista. Na vinculao
do crtico com a verdade a ser descoberta residia a autogarantia da crtica.
60 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
Crtica quer dizer distino. (ROSELLECK, 1999, p. 105). Mas
porque o pensamento consiste, em larga medida, em fazer distines. Todavia,
se as distines so capturadas pela lgica da vitria poltica, de certa forma
a perda de elegncia tambm perda de verdade. A necessidade, posta por
Bayle, de que a crtica esteja fora da lgica da vitria poltica, d-se por
uma necessidade ontolgica: no h teoria da imaginao sem que se veja a
pictorialidade da experincia e, pelo rigor esttico, o escrito de vitria poltica
olha para o dedo de Crtilo, e no para o que aponta, sendo, portanto, um
escrito ruim. A crtica afeta a poltica, no porque se preocupe com a vitria,
mas pela fala configurao do mundo. Aquilo que a crtica precisa para
existir acrescentar objetos pictricos ao mundo. A crtica crtica de arte,
na proporo em que exerce os seus efeitos de modo incidental, posto que
configuradora de mundo, quando bela.
A crtica no relativiza a verdade, mas tambm no a substancializa. Isso
significa que a verdade um dos conceitos crticos, e que pode ser alcanada. A
verdade crtica no essncia, logo, no vista pela intuio e no se esconde
nos objetos. O estabelecimento da verdade depende, primeiro, da aceitao da
visibilidade e recusa da invisibilidade, depois, da fixao de critrios de anlise
dos observveis. Contudo, a vedao invisibilidade no reduz a experincia
sensibilidade, mas imagem. Dessa forma, existem homologias verdadeiras
e falsas. As homologias verdadeiras tomam formas discursivas nas variaes
dos princpios de composio da imagem, suas cores, e os modos pelos quais
explicam os efeitos dos discursos e dos diagramas de crenas na experincia
da natureza humana. As homologias falsas podem ser definidas pela ideia de
horizonte indistinto: enquanto no se pode enxergar bem a circunscrio dos
objetos, parecem concernir a uma mesma figura e, sob delrio, pode-se atribuir
invisibilidade lgica que os organiza. A crtica lida com pacincia e otimismo
epistemolgico com tal opacidade momentnea. Experincias indistintas ou
prenunciam um conceito ou um objeto que ainda no foi distinguido. Todas
as coisas esto em todas coisas, apenas no que concerne ao pertencimento
experincia e serem possuidoras de composio tudo o mais distinto.
A crtica, tendo os elementos de anlise da abstrao, do retrato
conceitual e da paisagem de crenas, para determinar a verdade de um enunciado
e, sobretudo, de um valor, procura localiz-la no ambiente imaginativo do
qual procede. No muito coerente analisar a verdade fora da circunstncia
da imaginao que nos faz crer nela. A ela concernem tambm os modos pelos
quais a falsificao se contrape, enquanto negativo, e a maneira pela qual a
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 61
KIRALY, C
falseabilidade a modifica. No campo da experincia crtica, notvel o poder
de anulao que a inautenticidade exerce sobre a autenticidade-verdade, bem
como na fora de modificao da verdade pelo falso e pelo falsificado. De
alguma maneira, a falsificao pode ser autntica, uma vez que pode ter efeito
de propriedade, de ironia talvez, ou de camuflagem. Assim, a associao entre
a falsificao e a inautenticidade apenas parcialmente verdadeira. medida
que a falsificao toma conscincia de sua capacidade transfiguradora, ela
passa a se fundir com a falseabilidade. No podemos ostentar uma falsificao
inautntica, pois, no processo de ser identificada e exibida, sobre ela passa a
operar a autenticidade da crtica, antes, como falseabilidade, depois, como o
verdadeiro. A crtica busca a verdade dos objetos autnticos em sua enunciao
imaginativa e persegue a falsificao, no sentido de operar sobre ela os efeitos
do falso, e, consequentemente, da verdade. Apenas o inautntico falsificado
indiscernido plenamente pernicioso, pois distante dos olhos da crtica.
Em obra no diretamente compreendida no nosso ngulo de
abordagem, Lukcs (2005) analisa o forte poder de falsificao, ou seja, de
tornar indiscernveis as diferenas entre os objetos, exercido pela filosofia do
Dasein e do existencialismo sobre as tradies da crtica filosfica. Lukcs,
contudo, cede ao rpido apelo de denominar as filosofias do mal-estar acerca da
temporalidade de irracionalismos; que, alm de ser um apelido preconceituoso
e que nada explica, furta-se a investigar a instituio do entendimento pela
imaginao. Adorno retomou o ponto de Lukcs, e chamou tais formas
filosficas de jarges da autenticidade (ADORNO, 1989). Contudo, ambos
ignoraram a tradio ctica de uso da autenticidade como marca distintiva dos
objetos, iniciada por Montaigne.
IV
Duas so as obras de Lukcs que abordaremos: Alma e Forma e
Prolegmenos para uma Ontologia do Ser Social. Trata-se, respectivamente,
do seu primeiro trabalho e do ltimo. Parece que existe uma temporalidade
comum ao estilo tardio e forma de juventude. coerente defender que o
estilo tardio uma forma de juventude, o que nos leva a um dilogo direto
entre esses momentos enunciativos. Lukcs bastante paradigmtico do
nosso argumento, pois essa ambincia enunciativa no de nenhuma maneira
necessria. H autores que no tm uma forma de juventude e h aqueles que,
mesmo lutando contra a morte para terminar uma escritura, no manifestam
62 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
um estilo tardio. Tanto o estilo tardio quanto a forma de juventude concernem
a um tempo sem tempo. O ensaio parece ser o modo de escritura que emerge
dessa ansiedade. No entanto, ainda que o tempo sem tempo seja o da
constituio do ensaio, ele no natural autoria, ele precisa ser institudo,
mas apenas o por acidente, um tipo de sorte artstica, mas azar pessoal, pois,
uma espcie de trauma. instituio surge o modo, ou seria mais um mdulo
ansioso, no qual o que precisa ser dito tem um tempo prprio para s-lo, no
s no que concerne ao mundo, porm, ao autor. O ensaio talvez seja a nica
forma defensvel de autoria, pois nele o autor se percebe esfacelado diante da
experincia que o circunda, mas, mesmo assim, precipita-se a dizer, por medo
diante do silncio eterno das homologias9.
A forma de juventude possui os mesmos elementos do estilo tardio,
mas a intensidade sofre variao. Nas duas manifestaes, percebemos: (i)
angstia acerca do conseguir dizer, (ii) angstia sobre a possibilidade de dizer
e (iii) angstia a respeito da possibilidade de levar a escritura at o final. Na
forma de juventude, uma vez instituda a angstia, o enunciador no sabe
se conseguir ser capaz de dizer no momento certo, pois ainda inventa o seu
corpo autoral, mas percebe que a sua descoberta conceitual no pode esperar
para ser revelada; o enunciador sente nos ossos que pode ser tarde demais para
o mundo. No estilo tardio, apesar das angstias, ele tem seu corpo autoral
formado, mesmo que no sob sua forma derradeira, e sabe que o mundo foi
preparado para ouvi-lo, ou que a audincia, de algum modo, aparecer, mas
no sabe se tarde demais para si mesmo. A forma de juventude possui uma
desmesurada arrogncia de gnio, todavia, um profundo altrusmo, no que
concerne a entregar, fazer algo, pelas coisas. O estilo de maturidade, pelo
gnio formado e seguro de si, no possui nenhum altrusmo, mas o profundo
egosmo acerca do terminar de dizer, por si.
simples perceber que a forma de juventude uma velhice precoce, e
que o estilo de maturidade uma espcie de grande sade. Podemos afirmar
que essa troca prende os dois momentos ao ensaio, sendo ele derradeiro e
vital. O ensaio o que liga as instncias s mesmas dificuldades autoimpostas.
Contudo, tais dificuldades no so frvolas, mas estratgicas para o evitamento
das negaes performativas e, consequentemente, contra as falsificaes. O
9 Ainda sobre a ideia de estilo tardio, um trecho do poema em prosa The Monument de Mark Strand
(2010, p. 131): Se eu fosse morrer agora, Eu mudaria o meu nome para que parecesse que o autor
da minha obra ainda fora vivo. No, no faria. Se eu fosse morrer agora, Eu seria apenas uma piada,
uma cruel piada da fortuna. Se eu fosse morrer agora, seu maior trabalho permaneceria para sempre
incompleto. Minhas ltimas palavras seriam No o termine.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 63
KIRALY, C
ensaio crtico, por sua angstia, aborda a poltica sempre de modo incidental,
por seus efeitos colaterais em obras de arte, ou temas que se apresentam
como artefato; desse modo, a lgica da vitria se mantm distante do ensaio.
Montaigne foi o primeiro a perceber a frivolidade presente na tentativa de
encontrar unidade nos ensaios. Parte da vitria lgica da vitria retrica
se deve ao fato de que o ensaio uma forma de fcil adeso, mas de fraca
fidelidade aos usos do hermeneuta.
A forma de juventude precisa muito dizer, mas escritura analtica
parece fazer faltar sentido. Por essa razo, o ensaio a forma de uma angstia
que se faz expressiva. O ensaio fala pela anlise da colateralidade de seu
objeto e torna a enunciao ainda mais alta pela expresso. Pela forma de
juventude, existem mltiplas inovaes formais sob a formalidade criada pela
angstia enunciativa. Em funo do tempo sem tempo, pela angstia, o ensaio
rotaciona numa espcie de pequenas suspenses do tempo, de sorte que a
leitura do ensaio necessita no s de preparo filosfico, mas gosto para ver a
sua durao.
Por outro lado, o estilo de maturidade no precisa se esforar para
encontrar expresso, pois a sua angstia se acende diante da morte. Porm,
no um medo convencional diante da morte, pois esse abandonado
desde a infncia do ensaio basta percebermos o humor diante da morte
de Montaigne e de Hume , mas uma angstia de quem no teme a morte,
mas ainda tem o que dizer. O medo se d apenas pela projeo de no poder
escrever a ltima frase. O estilo de maturidade evita o excesso de inovao
formal praticado pela juventude e no se preocupa com a expresso, porque
essa lhe evidente. A angstia se d em ser interrompido pelo tempo. Nesse
sentido que o estilo de maturidade saborosamente repetitivo. Nele, o corpo
autoral se faz fraco e, por isso mesmo, sua beleza se impe. O autor parece
ceder espao experincia que o inventou enquanto enunciador. O estilo de
maturidade o mais importante, pois, antes de ser uma fala-conceito, concerne
a uma palavra-experincia a deixar de ser conceito. Mesmo que o escrito de
maturidade no tenha a ontologia como objeto, se o autor possui um estilo de
maturidade, sua fala ser ontolgica por necessidade, visto que, no momento
em que sair do ser para voltar ao tempo, estar morto.
Podemos afirmar que o estilo de maturidade precisa da forma de
juventude para distrair a sua angstia. Antes de tudo, porque a segurana
da forma que permitir ao estilo de maturidade manejar com naturalidade
a expresso ontolgica. Depois, a angstia em no terminar o escrito, em ser
64 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
levado pelo tempo, aplacada pelas angstias sobre o conseguir dizer e sobre
o tempo para o mundo. Mas so apenas distraes, simulacros de angstia,
porque o estilo de maturidade forte pelo desabamento do autor e pelo fato de
que, quanto mais experincia ele mostra, menos mundo tem. A morte seria a
vida sem crenas, digamos que o estilo de maturidade o que de mais prximo
disso pode a natureza humana chegar. Ora, o estilo de maturidade se associa
forma ensastica da juventude por compartilhamento de angstias inerentes
ao tempo sem tempo e, se no nos dado viver sem julgar e sem respirar,
parece bvio que a proximidade da morte d alguma clareza metafsica ao
crtico. Seu discurso permanece colateral, porque segue a mesma estrutura da
experincia o ente se confunde com seus traumas , todavia, ao invs de se
centralizar por sobre obras de arte, ou artefatos para atingir a poltica de modo
incidental, anulando a dinmica da negao da lgica da vitria, centra-se na
pictorialidade mesma do ser.
Na obra de Montaigne, o ensaio que, como destacamos, assume
a pictorialidade descritiva da paisagem de crenas, com pequenos retratos
de homens comuns , ao mesmo tempo, forma de juventude e estilo de
maturidade. Na obra de Bayle, a pictorialidade do retrato e o compromisso com
a verdade crtica o fazem assumir um estilo entre a juventude e a maturidade,
digamos que seja a maturidade mitigada de todo aquele que possui um projeto
ilimitado. A morte no encarada, e tambm no serve como expresso, pois
espantada pela disciplina e pelo dever. Hume, tal como Lukcs, apresenta
uma diferena marcada entre a forma de juventude e o estilo de maturidade,
inclusive suas obras de transio servem de contraste para a estrutura; o
Tratado da Natureza Humana uma vertiginosa obra de juventude, de escrita
angustiada e expressiva (ainda mais se comparada ao estilo um pouco frio de
suas investigaes mesmo que o humor esteja sempre presente), ao passo que
corrige seus ensaios at o momento da morte, fazendo anedotas sobre como
conseguiria mais tempo com o barqueiro do esquecimento.
Adorno percebe que a pictorialidade do ensaio dependente da
capacidade que possui de autorreflexo. A crtica por ele conduzida depende
da modificao formal, no momento da enunciao do contedo. A forma do
ensaio demanda um meio que se metamorfoseia enquanto fala. A percepo
de si realiza a nova voz expressiva da forma de juventude, mas tambm serve
como antdoto ao julgamento biografista contra o ensaio, pois existe uma
densidade de acumulao histrica entre os ensastas. Ao se perguntar pelo
sujeito do ensaio, tem-se como resposta uma bela polifonia despertencida,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 65
KIRALY, C
porque as angstias no ensaio no so as angstias do ensasta, mas as da
forma. O ensaio escrito em muitas primeiras pessoas: para ser ensaio, o
ensasta deve falar como Montaigne, Bayle e Hume, e falar como si mesmo,
de modo indiscernvel s outras vozes. Se o ceticismo moderno se distingue do
antigo pela aceitao e habitao da diaphonia, o ensaio a voz polifnica desse
fato. Entretanto, a autorreflexo do ensaio sobretudo formalista. O ensaio
se autovislumbra como sujeito, mas tambm, como frisado, enquanto forma
pictrica. E, nesse sentido, a distino completa entre forma de juventude e
estilo tardio no possvel. O ensaio se v pictrico, logo, ele vislumbra as
cores e as formas de suas letras, razo pela qual a cultura do ensaio no se
distingue da ontologia. A metafsica se confunde com o ensaio crtico, pois o
apego estreito do ensasta, com a experincia do ensaio, faz com que o tema da
composio da experincia seja a perspectiva a partir da qual a experincia como
um todo seja percebida.10 O ensaio uma filosofia da experincia do ensaio na
experincia do mundo. Dessa maneira, a historicidade do ensaio dedutvel
da prpria forma do ensaio. No ensaio, no se trata apenas da historicidade e
fragmentaridade da verdade; nele, esses elementos so efetivamente mostrados
no modo pelo qual o ensasta experiencia a forma que inventa, e na qual
inventado.11
O ensaio uma forma de juventude pouco tolerante com a
inexperincia, porque, como ressaltamos, ele surge em Montaigne, que o
inventa, ao mesmo tempo, como forma de juventude uma grande sade e
estilo de maturidade. O ensasta precisa pressupor toda a histria do ensaio,
na sua primeira letra. Se a forma de juventude for objetivada por um jovem,
ele precisa ser um leitor nervoso, para envelhecer em esprito e poder inocular,
desde sempre, em suas enunciaes, algo do estilo de maturidade que ainda
no descobriu. Apenas depois de se ler Montaigne, Bayle e Hume que se
10
A relao com a experincia e o ensaio confere experincia tanta substncia quanto a teoria
tradicional s meras categorias uma relao com toda a histria; a experincia meramente
individual, que a conscincia toma como ponto de partida por sua proximidade, ela mesma j
mediada pela experincia mais abrangente da humanidade histrica; um mero autoengano da
sociedade e da ideologia individualistas conceber a experincia da humanidade histrica como sendo
mediada, enquanto o imediato, por sua vez, seria a experincia prpria a cada um. O ensaio desafia,
por isso, a noo de que o historicamente produzido deve ser menosprezado como objeto da teoria. A
distino entre uma filosofia primeira e uma filosofia da cultura [...] no sustentvel.(ADORNO,
2003, p. 26).
11
por isso que o ensaio no se deixa intimidar pelo depravado pensamento profundo, que contrape
verdade e histria como opostos irreconciliveis. Se a verdade tem, de fato, um ncleo temporal, ento
o contedo histrico tornou-se, em sua plenitude, um momento integral dessa verdade; o a posteriori
tornou-se concretamente um a priori [...]. (ADORNO, 2003, p. 26).
66 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
pode escrever ensaios, sendo condio necessria, mas no suficiente.
A crtica no tem fundamento, pois o ensaio no dialoga com o
infinito, dele se desvia o desvio formal um modo da refutao , no tendo
um comeo ou um fim, mas uma densidade enunciativa para acontecer. A
convico do ensasta no possui reservas ou estoques temticos, ele d tudo
o que tem, e o faz da nica forma possvel, sem guardar flego para a volta,
no tem comeo e no tem fim, porque no consiste na defesa de um sistema,
porm, de um pensamento sistemtico para a criao de objetos pictricos.
Nesse sentido, o ensaio um meio lento de interferncia na ordem das coisas,
mas seus efeitos so perenes. O ensaio crtico demora para ser entendido e, por
isso, o objeto pictrico que representa abriga objetos acessrios revelados em
cada desvelamento da visualidade. Isso ocorre, porque o ensaio retalhado, mas
no pode ser retalhado. Se a interpretao assim promove, ela simplesmente
deixa de ver um ensaio. Digamos que o ensaio sacrificou a sua capacidade de
vitria em funo da sua capacidade de mostrao. O ensaio no precisa de
sistema, contudo, diante do sistema, ele se faz, por vezes, de crtica ao sistema.12
Seria um pouco tolo admitirmos que o mtodo do ensaio no ter
mtodo, ainda que saibamos que essa ser a resposta da crtica dialtica. Mas
negar a tese como resposta ainda pouco para entender o ensaio como nosso
intenso pensamento. Porm, se no tem mtodo, o que tem? A escritura do
ensaio se d por linhagem densa. Quo mais prximo da tradio e quo
mais capaz de reinvent-la. O primeiro esforo do ensasta procura da
compreenso do estilo tardio da forma de juventude consiste na habitao.
Todavia, no se trata de uma habitao retrica, uma armadilha de passarinho,
para afastar a imagem, mas uma morada nica. O morador da habitao, pela
experincia do ensaio, mostra em sua voz pelo que passou; o ensaio, alm
de buscar reconfigurar os critrios da verdade, e acert-los tambm, deve
transmitir uma sensao de verdade, contida na convico densa da voz do
ensasta. O leitor do ensaio tem a sensao de que o ensasta viu um fantasma.
E da fantasmagoria convicta se inicia a deposio de um objeto pictrico por
intepretao do ensaio. Nesse sentido de habitao que podemos concordar
com Adorno (2003, p. 27): O pensamento profundo por se aprofundar
em seu objeto, e no pela profundidade com que capaz de reduzi-lo a uma
outra coisa. Donde, a despeito das vontades de Adorno, parece-nos necessrio
12
O ensaio tambm no deve, em seu modo de exposio, agir como se tivesse deduzido o objeto,
no deixando nada para ser dito. inerente forma do ensaio sua prpria relativizao: ele precisa se
estruturar como se pudesse, a qualquer momento, ser interrompido. O ensaio pensa em fragmentos,
uma vez que a prpria realidade fragmentada [...]. (ADORNO, 2003, p. 34-35).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 67
KIRALY, C
ter de um lado o pensamento profundo, e o seu infinito, e o pensamento
que se aprofunda, e a sua circunscrio. Enquanto esse um pensamento
que, em alguns momentos, profundo, porque, pelo gosto, passvel de se
aprofundar na temporalidade de um objeto, o outro apenas um pensamento
profundo, porque nasce sistema e, portanto, no precisa se fazer sistemtico.
O pensamento que se aprofunda, o pensamento que profundo, habita o
ensaio, enquanto o outro se afirma na negao do fragmento. O pensamento
que se aprofunda no profundo sempre, como o pensamento profundo, mas
profundo s vezes. E tal oscilao da profundidade acarreta em uma concepo
completamente distinta do que o profundo. O profundo verdadeiro,
circunscrito, no profundo, no entanto, aprofunda-se, estando, por vezes,
no raso, mas habitando para descer as escadas. O profundo de mentira est
sempre numa forma de raso a que chama de fundo, no desce escada, evita
qualquer aprofundamento no objeto, pela escolha, pretensamente a priori, de
alguns a serem defendidos com gravidade. O ensaio existe para a profundidade
circunscrita, e no para a outra.
Apenas o ensaio aborda o ensaio, dentro ele est todo fora. Noutras
palavras, todo ensaio ensaio aberto. Nesse sentido, a mera existncia
do ensaio opositora. Talvez se possa dizer que por instituir por modos
incidentais, por se desviar do pueril e da apreciao frvola, o ensaio seja um
gnero implicante. Mas essa sensao pode ser aplacada, se levarmos em conta
a necessidade de uma dinamicidade interior, mais acelerada que o mundo,
e uma intensidade expressiva, muito superior s outras vozes. O ensaio no
tem pacincia com apreciao ou escrita frvolas, por seu compromisso com
as dificuldades do incidental; as questes do ensaio so matria de vida ou
morte. Aquele que suporta o anacronismo na voz no tem tempo a perder. Por
essa razo, o ensaio se ope regularizao metodolgica do mundo ou das
disciplinas intelectuais. Em virtude de habitar a composio, o ensaio sabe que
a imagem no se reduz a regularidade. E, por outro lado, o ensaio tambm se
ope opacidade enquanto filosofia, quilo que Adorno denominou jargo da
autenticidade e que julgamos apropriado chamar de filosofia da invisibilidade,
uma vez que um engano permitir que a autenticidade se confunda com o
jargo, porque est na gnese mesma do ensaio. No jargo, a autenticidade se
presta a uma filosofia sem critrios e de fundamentos invisveis e ortodoxos.13
A autenticidade, contudo, concerne ao pensamento interno da expresso e
13
Apenas a infrao ortodoxia do pensamento torna visvel, na coisa, aquilo que a finalidade objetiva
da ortodoxia procura, secretamente, manter invisvel.(ADORNO, 2003, p. 45).
68 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
sua presena nos objetos. a autenticidade que possibilita dizer a verdade,
e, na anlise, ela que permite crtica distinguir a verdade, e os processos
de falseabilidade, da falsificao. Adorno percebeu que a verdade no pode
ser tautologia, mas no viu que a autenticidade que impede o dialelo. No
s Adorno recusou a autenticidade, por horror ao jargo, como recusou a
regularidade, por horror burocratizao da verdade, entretanto, fazendo-o,
no conseguiu escapar ao invisvel e tola distino, de todo muito diferente
daquela dos gregos, hegeliana entre imagem e conceito.14
A crtica dialtica foi despertada pelo profundo interesse de Hegel pelas
imagens, mas herda igualmente o dualismo entre a verdade, concernente ao
campo das essncias, e o falso, aos simulacros. A crtica dialtica no larga
da opacidade e do invisvel, atrelando a esse a superioridade conceitual para
reger as imagens. Mas essa cegueira pontual do conceitualismo da crtica
dialtica tem efeitos para alm da nociva hierarquizao da dinmica conceito
e imagem, o mais relevante o fetichismo da crena. Por no ser capaz de
interrogar a natureza da imagem com a mesma ateno que dedica ao conceito,
a crtica dialtica planifica a crena, denominando-a, de modo genrico, como
ideologia. O ensaio no crtica da ideologia, ele a crtica da ideologia
tambm, porm, justamente porque no separa a crena do conceito, de modo
a impedir que seja feita em fetiche, analisa-a como parte essencial da ideologia.
A ideologia um tipo especfico da crena. Ainda que nem toda crena seja
um conceito, todo conceito crena, posto imagem. Esta a boa nova
ignorada pela crtica dialtica, ao aceitar irreflexivamente a operacionalizao
do ceticismo promovida por Hegel. O ensaio, na perscrutao de si, e na
descrio de seus objetos, deve se ver no s como um gnero formal, mas
como uma forma pictrica especfica. [A] cor prpria [do ensaio] que no
pode ser apagada no deve se render a ser compreendida como metfora da
expresso, mas como matria de seu exerccio (ADORNO, 2003, p. 36).
O ensaio, ao exercer a crtica, uma ao interpretativa sobre um
objeto e, sobretudo, sobre um plano de disponibilidade pictrica. No h
acrscimo de significao sem alguma brecha a ser percebida. Pode ser que,
em algum momento da histria da humanidade, a regularidade evite todas as
formas de interpretao e o ensaio morra. Mas parte do desafio desse gnero
14
Se a verdade do ensaio move-se atravs de sua inverdade, ento ela deve ser buscada no na meia
contraposio a seu elemento insincero e proscrito, mas nesse prprio elemento, nessa instabilidade
[...]. Quando o esprito deseja mais do que a mera repetio e organizao administrativas daquilo
que j existe, ele acaba abrindo o seu flanco; a verdade, fora desse jogo, seria apenas tautologia.
(ADORNO, 2003, p. 41).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 69
KIRALY, C
preservar condies de continuidade de seu exerccio. Num certo sentido,
a preservao de alguma lacuna nas obras e na experincia. E por que no
alguma disponibilidade nos espritos? Sendo assim, o ensaio recusa a separao
entre a imagem e o conceito no para compreender a si mesmo como obra
, para, dentre outras razes, valer-se da inteligibilidade que a regularidade d
imagem, e manter a regra em seu devido lugar. A regra no mundo, mas
atributo de clareza. Se o ensaio imagem a interpretar imagens, e se no pode
ser visto como obra, ele se percebe enquanto preenchedor de lacunas, no pela
regularidade, mas pelo acrscimo de significao. Dessa forma, a interpretao
trazida pelo ensaio , no seu incio, um objeto pictrico a se encaixar em
lacunas da obra, sendo, portanto, mimtico. Embora autnomo, o ensaio se
mimetiza para se parecer obra, contudo, essa condio deve ser superada para
que se faa objeto.15 A interpretao no inicia seus efeitos de transfigurao
sem se parecer com o objeto interpretado, e sem que adquira, no horizonte,
sua prpria autonomia enquanto objeto. Antes de tudo, o ensaio fala a lngua
do outro, a das cores discurso , escritura sobre a qual se debrua, para s
da remontar o sentido do plano pictrico que passa a habitar. Aludiramos,
pois, habitao polifnico-pictrica da diaphonia da crtica a praticar o
ensaio. O objeto pictrico praticado e predicado no ensaio crtico, muda
de forma e colorao, e tal na propriedade mesma do exerccio. Por essa razo,
o ensaio faz objeto autntico que se d a ver, em seu comeo, como mtis do
discurso escolhido, mas, quando bem-sucedido, mostra-se como renovao da
planaridade pictrica (ADORNO, 2003, p. 19). A regularizao do ensaio,
ou seja, a desistncia quanto inovao formal, e perda da autorreflexo
pictrica, faz do ensaio uma escrita frvola, e que pode ser definida como falsa
profundidade ou superficialidade erudita.
Adorno repreende Lukcs, por esse ter visto no ensaio uma forma
artstica, ainda que primitiva, se comparada com a sua irm, a literatura,
marcada por certa indistino com a moral. Por outro lado, Adorno no
endossa a perda do esttico na enunciao crtica, mas no consegue perceber
para alm da negatividade do ensaio. A irreversibilidade da separao entre
cincia e arte vista por ele como de inevitvel conscincia conscincia do
ensaio. No entanto, no precisamos de excessivo esprito de conciliao para
ver um pouco de verdade em Adorno e Lukcs. Como o ensaio se escreve
como cincia do esprito de densidade expressiva e, por esse motivo, inovadora
15
Nada se deixa extrair pela interpretao que j no tenha sido, ao mesmo
tempo, introduzido pela interpretao. (ADORNO, 2003, p. 18).
70 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
nos modos de dizer, o ensasta no sabe dizer sem certa prosa potica, mas s
pode ser lido na qualidade de objeto artstico. Em funo de lhe ser vedada,
por moralidade, o imediatismo moral, apenas a leitura artstica permite os
efeitos de moralidade difusa, estratgia essencial do gnero no evitamento
da lgica da vitria. Por no ver a natureza imagtica do conceito, Adorno
restou preso dialtica na natureza. Ele cr que a conceitualidade do ensaio
afirma a dialeticidade essencial da experincia. Ele julga que a dialtica o
que une o conceito imagem. Todavia, a experincia no dialtica, mas
pictrica. A dialtica um operador da pictorialidade, uma tesoura que auxilia
a desencobrir a crueldade.
V
Pensemos, pois, que o percurso do ensaio faz movimento de realizao
de objetos, os quais, contrapostos, juntos, mostram o sentido amplo do
gnero. Dessa maneira, ver o ensaio de Lukcs uma visada que se faz olhando
para Adorno. Trata-se da capacidade de rigor descritivo de Bayle, portanto,
olhamos Montaigne ao lado de Lukcs e Adorno, to solenes quanto um
verbete, hesitando ao conferir as ligaes estritas, para no matar as mostraes
realizadas pelo amparo de um autor sobre o outro. Nos ombros dos gigantes
restada, essa transfigurao do retratismo composto com o paisagismo e
a objetalidade abstrata, pois os autores passam a funcionar como objetos
abstratos a serem compostos por montagem e o sentido geral da mostrao
obtido por uma costura de sentido que penetra nos objetos ao mesmo
tempo em que os une. D-se, nessa medida, uma dupla articulao de sentido,
aquele interno da obra dos autores e a conjugalidade de uma ponte entre
eles. Nesse caso, Adorno precisar restar nos ombros de Montaigne, Lukcs etc.
para elaborar o seu sentido, enquanto objeto da montagem, ao mesmo tempo
em que revela a sua infidelidade. Essa a evidncia da natureza tipogrfica e
objetal da verdade do ensaio crtico.
No ensaio Da Natureza e Forma do Ensaio, o aspecto da inovao
formal, uma vez partcipe da necessidade enunciativa, coloca-se desde pronto
por se tratar de uma carta. Escrita a Leo Popper, no nem uma carta de
verdade, nem uma carta entre intelectuais e nem a recomposio da carta,
como se pode ver em Goethe ou Hoffmann. Trata-se, pois, de uma carta-
ensaio. Lukcs revela bem o problema do ensaio: ele concerne a uma verdade
tipogrfica diretamente ligada liberdade da enunciao necessria, ele
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 71
KIRALY, C
consiste numa forma de arte de logicidade mais rigorosa do que a cientfica.
Nesse sentido, ele uma arte, porque sobretudo uma forma.16
Entretanto, o crucial na diferena entre uma obra de arte e o trabalho
cientfico talvez este: enquanto um finito, o outro infinito; enquanto um
fechado em si, o outro aberto; enquanto um intencionado, o outro
significativo. Enquanto um e agora estamos julgando as consequncias
incomparvel, a incio e ao fim, o outro tornado suprfluo por uma melhor
conquista. Para colocar de modo resumido: enquanto um tem forma, o
outro no. (LUKACS, 2009b, p. 92-93).17
O ensaio atende a um rigor de escritura e de verdade que se vale dos
mecanismos compreensivos e de distino, mas, ao contrrio da cincia, o
ensaio, em sua tarefa crtica, deve mostrar o modo pelo qual a verdade
construda tipograficamente e no o oposto. A cincia se depreende do ensaio,
enquanto manifestao mais leve do esprito, posto poder se conciliar com
o infinito, enquanto opacidade ortodoxa, com o aberto, enquanto regras do
campo epistmico, e com a refutao, enquanto medida de interrupo. A
verdade no ensaio faz com que o ensaio crtico seja continuamente refutado,
se posto como objeto refutao, a angstia interna a ele no se interrompe
jamais, e com que no haja uma diminuio histrica pela obsolescncia, mas
acmulo diafnico. A cada novo objeto sobreposto, nesse conjunto de verdades
humanas, mais capaz deve ser o novo gosto, para saber ouvir e distinguir.
Posto no ter angstia, a cincia no tem necessidade e quando tem, exige
uma forma de rigor artstico e o ensaio, que artstico, porque tem forma
e cincia, porque tambm pblico, apenas inicia a sua atividade a partir de
uma necessidade poltica. O grande ensasta faz algo que
[...] precisa ser cincia, mesmo quando a sua viso da vida transcende a esfera
da cincia. Por vezes, o seu voo livre constrangido pela inacessibilidade dos
fatos da coisa bruta; por vezes, perde o seu valor cientfico justamente por
isso; afinal, a viso, porque precede os fatos, pode utiliz-los livremente e
arbitrariamente. (LUKACS, 2009a , p. 29).
Assim, o ensaio parte de um ensimesmamento provocado pela urgncia
histrica, onde a maturidade e a juventude se encontram, mas se institui
Eu quero tentar definir o ensaio do modo mais estrito possvel, precisamente o descrevendo como
16
uma forma de arte. (LUKCS, 2009a, p. 17)
17
O mais interessante que Lukcs no faz essa necessria distino, pelo menos no com essa clareza,
no seu lugar de direito, que seria o ensaio sobre a natureza e forma do ensaio.
72 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
enquanto objeto pblico inultrapassvel e de refutao relativa. A relao
entre ensaios de revelao contgua, de sentido por composio de vrios
objetos ensasticos e de revolta. Porm, entre ensaios, no h ultrapassagem ou
superaes. O ensasta, ao contrrio do cientista, no tem o benefcio de ter a
sua verdade ou falsidade relativizadas. A experincia do ensaio aquela para a
qual Hume imagina a sua cincia da natureza humana, a cincia; no sentido
restrito, dela apenas uma parte, menos rigorosa.
Podemos sustentar que o ensaio a imagem do esprito que se concebe
enquanto imagem. O ensaio crtico torna explcita, na concepo descritiva, a
ordem da pictorialidade e a percepo de que a montagem um princpio ativo
da verdade tipogrfica. Por essa razo, Lukcs distingue dois tipos de realidade
do esprito, a vida e a vivncia. Aquela o momento de contemplao do
tipo no espao sem tempo, enquanto esta a ao do tipo no tempo sobre
o espao. Na verdade, tal dualidade o que se pode denominar experincia
da verdade tipogrfica, em sua passividade crtica, uma vez que o ensaio
pressupe um leitor, e sua atividade desencadeada pela necessidade poltica.
A dualidade entre a vida e a vivncia do tipo tambm pode ser transposta para
a compreenso do gosto, pois a distino entre os tipos no evidente para
um esprito sem gosto. Se a verdade tipogrfica concerne experincia do
tipo, distingui-la diz respeito a um gosto no tipo. A vida, em sua passividade,
em sua durao, o plano sobre o qual o gosto se aprofunda para ser capaz de
aprender a distinguir. A expresso necessria se d desde o gosto (LUKACS,
2009a, p. 10).
A verdade tipogrfica possui a sua imagem, a sua vida, sobre a qual o
gosto se aprofunda, e a sua significao, a sua ao, sua capacidade instituinte,
aquilo que marca um ponto sobre o qual se pode perscrutar distines verticais.
Porque a imagem uma imagem-vida, ela se torna disponvel contemplao,
ao mesmo tempo em que emana uma forte significao, vivendo. Nesse
sentido que da perspectiva da imagem s temos objetos, mais vvidos do
que os outros, e do ponto de vista da significao, temos sempre relaes entre
objetos. Por essa razo que no faz muito sentido fazer questes imagem-
vida, porque no muito se pode perguntar para objetos, por assim dizer, puros,
mas h muito a se indagar para as relaes.18
A linguagem de uma imagem slida de pura literalidade e a da
significao procura correr atrs dos efeitos produzidos pela agressividade
18
Isso tambm porque a poesia no sabe nenhuma questo: no se enderea questes para objetos
puros, apenas para as suas relaes [...] (LUKACS, 2009a, p. 20).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 73
KIRALY, C
literal. Mas no cabe ao ensaio crtico sacralizar a imagem, a centelha ctica do
gnero, da forma a buscar a forma; fala sempre mais alto do que a defesa do
invisvel, tout court, ou pela ortodoxia, nisso cabendo significao estrangular
a imagem, para, se no lev-la ao suicdio, forar que entregue seu princpio
compositivo, o modo estrutural pelo qual orientar as ligaduras de significao.
O ensaio crtico v na imagem-vida uma eterna transparncia at chegar ao
princpio de montagem e, mais alm, ao de composio. Lukcs assinala que
o ensaio crtico busca a desimagem das imagens.19
Lukcs, todavia, adverte-nos de que a separao entre imagem e
significao uma abstrao, pois no h imagem que no estabelea relaes.
No h significao que no provenha de uma imagem que a emane. E, se
podemos vincular a imagem vida e a significao vivncia, restar claro
que existe uma preparao instituinte, no momento contemplativo do crtico
a fomentar o tipo do ensaio. A vida mais leitura da verdade, enquanto
a vivncia tem mais que ver com a escritura. Uma vez que o ensaio um
gnero heterodoxo, ignora as origens invisveis, de sorte que nele vemos
constantemente a vivncia preceder a vida, porque s possvel desde a
imagem. Ao transpormos esses comentrios para o tipo, perceberemos que a
tipografia um exerccio da vivncia contemplativa do tipo. A circularidade
entre a grafia e o tipo s interrompida pela ontologia da composio, aquele
momento em que olhamos o tipo e vemos, no a sua significao, diretamente
relacional, mas a sua cor e a profundeza com que se inscreve. Apenas na
ontologia o tempo um ponto de aprofundamento do gosto, e o espao
o problema central, posto ser aquilo que se faz disponvel cor, sendo cor si
mesmo, e no que a instituio se aprofunda.
Ainda que a crtica seja motivada por uma necessidade enunciativa
prioritariamente poltica aquilo que une a forma de juventude e o estilo
de maturidade, na busca de vencer o cedo demais e o tarde demais, prprios
da relao entre a enunciao e a poltica, e de preferir o cedo demais, sob
o riso de ingenuidade, ou o esforo de ltimo sopro, ao tarde demais , ela
costuma se deter em objetos polticos, talvez pela intensidade que se pode
aprender na anlise. Esse aprendizado envolve uma dificuldade: a expresso
de uma experincia intensa sempre falseia a experincia. Por esse motivo, a
crtica precisa buscar o conceito e a composio, neles habita a autenticidade
do gnero. A falseabilidade, sob risco de pantomima, deve ser acessria
19
[...] mesmo Scrates deve falar em imagens sobre seu mundo sem forma, seu mundo no lado
avesso da forma, at mesmo a germnica desimagem uma metfora. (LUKCS, 2009a, p. 20-21),
74 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
(LUKACS, 2009a, p. 23).
Lukcs argumenta que o ensaio se distingue da poltica, pois essa
faz da forma o seu destino, enquanto o ensaio teria o seu destino da forma.
Observa ainda que o [...] destino no para ser encontrado na escritura dos
ensastas. A forma , portanto, a elementaridade ontolgica do ensaio.20 Se
o destino aparece na poesia, o ensaio antecedido pelo destino. O destino
aparece na poesia, porque nela o destino vem depois, mas no ensaio, o destino
no aparece, porque ele vem antes. Aquilo que na poltica tematizado, no
ensaio mbil da inovao formal. O destino, nesse caso, pode ser definido
pelo ocaso dos dias, pela agrura do existir, que permite ver a vida-imagem e
nela se aprofundar, ao mesmo tempo em que se levado por significaes e
sofrimentos.
A poltica no expressa forma, mas destino. O ensaio crtico no
expressa destino, mas forma. Nesse sentido, a forma a realidade da verdade
tipogrfica, o modo pelo qual se pode enderear perguntas vida-imagem e
adentrar na composio como resposta. Nada melhor do que ter o destino
diante dos olhos, para enderear perguntas vida. Por essa razo, a crtica
poltica enderea perguntas a obras de arte, porque nelas a intensidade
maior. Consiste em perguntar s obras sobre a histria. Ou seja, perguntar
vida sobre o tempo.21 Assim, fcil perceber o porqu de a necessidade crtica
ser provocada pela poltica, porque o ensasta se interessa pela vida e a poltica
o que mais a desafia. Pode-se dizer que o crtico , ao mesmo tempo, realista
e irrealista ou, melhor dizendo, que o seu apego vida o faz irrealista a ponto
de abarcar a realidade. O incio da perscrutao crtica, o vislumbramento
da imagem, porque prontamente ctico, vai ao fato sob a certeza de sua no
naturalidade, todavia, tal investida se d pela nica evidncia no emprica do
ceticismo, a pluralidade nela mesma. Se a pluralidade uma condio, o fato
no pode ser mais do que um momento de unidade, inventado por algum
outro foco de pluralidade. O crtico vai ao fato e o atravessa, para encontrar
o sistema de crena que o faz. A realidade o fato, pertencente, por sua vez,
irrealidade da crena. Ningum sabe o que pode uma crena.
20
Forma sua grande experincia, forma como realidade mimetizada a imagem-elemento, o
verdadeiro contedo vivo de seus ensaios. (LUKACS, 2009a, p. 23).
21
Mais tarde, a crtica se tornou o seu prprio contedo, a crtica passou a falar somente de poesia e
arte, porque no teve a sorte de conhecer Scrates [...]. (LUKACS, 2009a, p. 31). Lukcs percebe que
o ensaio pode no aludir a obras, mas se faz da enunciao algo de no necessrio, torna-se apenas um
livro sobre livros. A principal razo para no escrever uma crtica para tornar um livro mais fcil de
ser lido. Um ensaio no suplncia.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 75
KIRALY, C
A crtica politicamente despertada pela artificialidade do fato, tal
como quando Marx v que o fato judeu ocidental se sustenta sobre o sistema
de crenas que inventa o judeu europeu, e precisa da exemplaridade da vida,
para ser capaz de descrever as instncias tipogrficas da verdade. O crtico,
ao enderear questes vida, motivado pela necessidade poltica, percebe
que dela s tem expresso. E seu desafio passa a ser inventar uma forma que
abrigue a expresso, falseando-a por inafastabilidade, mas nunca a falsificando.
O crtico atende a uma rigorosidade mais do que cientfica, pois sua busca pela
verdade no estancada pelos critrios pblicos de uma rea de conhecimento;
a medida da busca crtica por expresso a intensidade da necessidade poltica
que o fez escrever, o seu limite dado por sua afetao moral. O ensasta
apenas poder interromper o aprofundamento numa expresso, no momento
em que se sentir satisfeito, desde que se perceba portador de uma suficiente
intensidade da verdade.
A escolha do crtico pelas obras de arte, segundo Lukcs, deve-se ao fato
da expresso artstica facilitar o caminho, visto que rene um grande nmero
de questes num s lugar. Nas obras de arte, a experincia mais objetiva. A
tarefa do crtico dar forma expresso. Ao perguntar vida-imagem sobre o
tempo, ele tem como resposta um conjunto de expresses, s quais preciso
dar uma forma, para se instituir sobre o tempo. A crtica, ao criar objetos
pictricos, institui sobre o tempo marcos de significao. A crtica faz com
que a vida no esteja mais aqum de si mesma.22 A instituio crtica passa a
servir de forma para a imagem-vida. Trata-se de uma significao discursiva
que adquire estatuto de imagem. A crtica, por se interessar sumamente pela
vida, mostra pela forma o quanto ela pode se afastar de si mesma. O ensaio
a imagem que, ao espelhar a imagem-vida, devolve a ela a sua prpria
intensidade. Quando a crtica pode se afastar das obras de arte, isso se deve
um pouco ao aumento de sua capacidade instituinte, mas o mritos so da
vida que pde ser colocada altura de si mesma.
No seria frvolo perceber a promiscuidade entre a poesia e a crtica,
na escritura do ensaio. A necessidade acrescenta ao ensaio algo da prosa
22
Alm disso dois ensaios no podem se contradizer: cada um cria um mundo diferente, e mesmo
quando, a ttulo de atingir uma maior universalidade, isso vai alm do mundo criado, isso ainda se
mantm dentro do seu tom, cor e acento; tal para dizer, isso deixa o mundo apenas em seu sentido
inessencial. [...] Por isso, o ensasta que realmente capaz de olhar a verdade, vai encontrar no fim de
sua jornada o que ele estava buscando: vida. [...] O ensasta precisa se tornar consciente de seu prprio
ser, deve achar a si mesmo e construir algo de prprio para fora de si mesmo. (LUKACS, 2009a, p.
27). Dentro, o ensaio est todo fora de si.
76 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
potica, uma vez que a verdade tipogrfica diz e mostra. Parece sbio notar
que as descobertas e demonstraes do ensaio se aplicam poesia, e tambm
o caminho inverso. Se o ensaio gradativamente revela a indistino entre a
imagem e o pensamento na paisagem, no retrato e na abstrao levando a
afirmao do carter tipogrfico da verdade, nos momentos em que a poesia
evidencia a amplitude da imagem com relao escrita, ou melhor, a mostrao
contida no dizer, como no lance de dados de Mallarm, ou nos gafanhotos de
Cummings , esta deve ser imediatamente incorporada ao corpo conceitual
do ensaio e explorada. Lukcs o faz, danando entre a dissertao, a epstola
e o dilogo. A crtica defende uma imanncia imagtica a unidade dos
mundos se d sobre o branco , apesar da modalidade na homologia entre
o pensamento, a imagem e a escritura, dentro da qual cabe objetividade do
gosto perceber as distines. Lukcs salienta que a diferena entre o ensaio
e a poesia persiste no fato de que a poesia retira motivos da vida (e da arte),
enquanto o ensaio os retira da arte (e da vida).
A fina relao a ser compreendida aquela entre a alma e a forma.
A alma, dentro, est toda fora e a forma, fora, est toda dentro. Imagem-
vida e significao-vivncia nomeiam a experincia. Ou seja, nomeiam tanto
a alma quanto a forma. A alma dependente da forma, para ter vida e
vivncia, e a forma o da alma, para ter instituies e aprofundamento.
Aquilo que a alma faz para instituir forma exercer a expresso, a qual
consiste numa procura das formas existentes da provocao da necessidade
e do gosto, que so as respostas autnticas e espontneas da necessidade
poltica. Nesse sentido que a alma busca sempre um gesto que esteja
altura da vida, para que nela possa se reconhecer. Como a vida que
leva expresso, certo que o gesto quer estar altura, ou suspender, da
experincia que lhe deu origem. No se trata de um desvio da obra, mas
do elastecimento da vida pelo gosto. Para isso, como destacamos, o crtico
assume o mundo dos fatos com o rigor de um esteta, de modo a evidenciar
o tnue limite insatisfatrio da cincia, mergulhando no objeto em busca da
sua composio. O ensaio a instituio do crtico, pois nele realiza a marca
no tempo histrico, cuja gestualidade depende de sentir as representaes.
Lukcs v nisso o paradoxo do retrato, ao que poderamos acrescentar que a
verdade, porque tipogrfica, padece do paradoxo do retrato: ela mostra, na
formalidade, os elementos ausentes na vida, para que a forma sobre a vida
permita o reconhecimento. O retrato mostra a verdade ausente na imagem,
para que a imagem finalmente se reconhea. Eis o aspecto inultrapassvel do
gosto, para ir composio da imagem (LUKACS, 2009a, p. 26).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 77
KIRALY, C
Nessa direo que se pode sustentar o ensaio como o mais profundo
dos pensamentos antigregos, o privilgio da relao tipo-vida. Isso o que
faz ver Plato como ensasta; o artifcio de chegar vida de modo incidental
uma relao direta do reconhecimento da alma-forma-imagem-vida.
Plato seria, na verdade, com sua inovao formal, o dilogo, desviando-se
da tragdia e da sofstica, o menos grego entre os gregos, seno aquele que
inventa uma forma que no aparece num ambiente cosmolgico, mas quando
dele retirado, surge enquanto estrutura do ensaio. O ensaio Plato sem
platonismo, pois a existncia da Grcia, enquanto imagem, s se realiza no
aparecimento do dilogo, da Grcia enquanto forma.23 De alguma maneira,
parece a interpretao de Lukcs indicar que a verdade da imagem-vida s
completa quando se faz em tipo. Ou melhor, quando passa a participar do
tempo como instituio.
O ensaio uma forma de arte e, por isso, no obra de arte; sendo arte,
realiza a sua ao tambm no gosto: existe um tempo da enunciao ensastica,
talvez haja um kairs profundamente perturbado pela intempestividade, pelo
cedo ou tarde demais; seja como for, o ensasta procura o tempo certo de
dizer, quer ele exista, quer no, pois enunciar no se justifica por si, mas pela
necessidade moral do dizer. O ensasta vive numa cosmocronia afetvel pela
imagem-vida, para, num rigor mais do que cientfico e mais do que artstico,
buscar o sentimento de legitimidade para o dizer. O aparente ensimesmamento
do ensasta decorre da sua adeso intensa vida. Apenas se institui na busca de
altura equivalente ao tempo.
Nas regras do ensaio, esto contidas a vedao biografia, ao subjetivo
e confisso. Ainda que esses elementos no definam a poesia, nela podem
estar contidos. Eles surgem como humor pontual, mas no na composio
dos contornos da forma. Se a experincia pode ser parcialmente definida pela
relao entre a imagem e a significao, apenas a dualidade entre forma e
alma permite o reconhecimento de que se possui um mundo. A natureza
humana tem mundo, quando reconhece na dualidade imagem e significao
o seu prprio rosto, ao reconhecer a alma na forma. A dinmica entre
imagem e significao que, pela abstrao promovida pela reductio, pode
ser vista interrompida, uma vez que a significao a origem da imagem,
e a imagem o da significao pode ser compreendida como um plano
de pictorialidade, porque presena de plena disponibilidade carecedora de
23
[...] os escritos dos grandes ensastas, aos quais pertencem a categoria: os dilogos de Plato [...], os
ensaios de Montaigne [...]. (LUKACS, 2009a, p. 18).
78 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
instituio, atendente gradao cromtica, embora no seja o caso de dar
exemplo de uma relao ontolgica, porque certo que nada mostra melhor
essa dimenso do que os quadrados de Malevich. No branco, existe imagem e
disponibilidade significao e, no quadrado, pode ser no negro, existe forma
e ndice para o reconhecimento. Tambm entre a alma e a forma, a distino
nasce da reductio, pois a forma um efeito da alma. Por outro lado, a alma
um efeito da imagem-vida-forma. No que haja experincia sem forma, mas
existe algo na vida-imagem, a expresso, que ultrapassa a forma.
A necessidade enunciativa do ensaio crtico nasce da moralidade e da
poltica; cabe dizer que a ocultao da crueldade na imagem leva reao do
dizer expressivo. Existe uma naturalidade na progresso do tempo da imagem
e suas relaes de significado. Esta pode ser percebida na constatao de que
o tempo da vida tem certo ritmo (LUKACS, 2009b, p. 42). Aceler-lo ou
atras-lo um efeito. O ceticismo identificou bem essa rtmica, e a denominou
hbito. Se a perspectiva do hbito o tempo, o mesmo no pode ser dito
para a alma e a forma. Algo da agigantada expressividade da alma decorre da
extrao desse princpio luminescente do tempo. A alma retira sua existncia
do tempo. Todavia, a rtmica da forma no horizontal, tal como a da vida. A
rtmica da forma obriga a imagem a um abismo vertical. A alma, ao se instituir
formalmente sobre o tempo, leva a imagem a se tornar objeto capaz de uma
rtmica prpria. A forma confere uma vida prpria sua instituio, confere-
lhe um tempo prprio. Essa imagem prpria do tempo no deixa de estar
inscrita no corpo rtmico, sendo-lhe submissa. Mas o acompanhamento da
imagem de vida prpria segue a horizontalidade, verticalizando-se, podendo
se atrasar com relao vida, atrapalh-la, congelar-se s raias do insuportvel
ou, mesmo, anteced-la um pouco. Basicamente, so trs modelos da imagem
de vida prpria: neles, o ponto de sada das duas retas o de instituio a
primeira reta a imagem-vida (rtmica) e a segunda, a imagem de vida prpria.
(i)
Quo mais obtusa a imagem de vida prpria, mais resistente o
seu tempo com relao vida. Pode-se dizer que so imagens nas quais o
gosto tem mais dificuldade para se aprofundar, visto que so mais abissais,
mas tambm so as mais belas e as mais virtuosas. Deve-se perceber que o
ponto de instituio se inscreve por crueldade da forma contra a imagem-
vida, ainda que seja para apresentar revivescncia imprevista. Tal crueldade,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 79
KIRALY, C
contudo, distingue-se daquela geradora da necessidade enunciativa do crtico
no ensaio, pois tal crueldade, contra a qual o ceticismo desde Montaigne
escolheu se voltar contra, aquela presente no apagamento do rastro da alma
na forma. H, portanto, a crueldade de se instituir sobre o tempo a forma da
alma e a de se apagar o rosto humano nas imagens; esta segunda realiza-se
pela transcendncia, pela moral abstrata e pela burocracia. A crtica precisa ser
capaz de ver a segunda forma de crueldade, para ser capaz de instituir a forma
da alma sobre o tempo. Tal sensibilidade ao apagamento do rosto humano na
imagem se chama crudelis meditatio.
(ii)
caracterstico da instituio conservadora, mas tambm da imagem
de vida prpria, atinente ao aprofundamento do gosto. Pode-se dizer que esta
a imagem mais cruel em sua instituio e mais ligada beleza e a virtude.
Quo mais o gosto nela se aprofunda, mais relevantes so as distines que
capaz de fazer. O apagamento do rosto humano, nesse caso, quase sempre
identificado com o fetichismo. Como o vcio nasce da mesma matria da
virtude, o fetichismo surge no encantamento com a distino pela distino.
Ainda que no exista a interrupo da rtmica do tempo da imagem-vida,
estar nos dois pontos da imagem gera a sensao de tempo que passa mais
devagar. No de todo incorreto associar esse segundo modelo com a ideia
de durao, porque justamente o tempo do gosto a ser mais relevante para
o objeto do que a prpria rtmica da vida. Alm disso, nesse modelo que se
pode compreender a transfigurao da instituio em obra.
(iii)
Responde por uma imagem de vida prpria que artificialmente se
adianta ao tempo da vida. Ela se faz por uma autntica urgncia de mudana
de rumo, no caso da revoluo, pelo esforo de falseabilidade, no caso da
tentativa de alterao dos esteios da verdade, ou ainda de suspenso das
imagens pela demonstrao de que o adiantamento a evidncia da essncia
do tempo. Quo mais agudo o ngulo, mais destrutiva a instituio, uma
vez que sua rtmica perecer muito mais rpido do que a vida. No s filosofias
da histria so abrigadas nesse modelo, mas filosofias da natureza. Se o ngulo
80 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
se torna obtuso, troca-se uma filosofia da transformao por uma da salvao.
VI
Diante do encobrimento da composio da imagem, efetivado pela
crueldade, o que leva ao apagamento da alma humana nas coisas, a falta de
compromisso do poeta com o crtico, no mais das vezes, ajuda crtica. Se a
crtica realiza uma crueldade instituinte, para promover o gosto na imagem,
de modo a se contrapor crueldade de apagamento do rosto, a poesia uma
atividade sem crueldade e sem crudelis. poesia no cabe o mergulho na
composio da imagem consolidada, mas o trabalho no colorido da vida. Se
a crtica explora a variabilidade rtmica, at mesmo pela inovao formal, a
poesia cria, entre as cores da imagem-vida, dissonncias, e para isso no pode
hesitar como o crtico. Lukcs v, no mbito moral, a poesia como preparao
crtica e a crtica como preparao potica.24 A poesia fala sobre si, mas no
se confessa. Se repete o mesmo percurso, a crtica passa a falaciosamente dar
ares de confisso objetividade. A poesia tambm vive o dentro, fora; ao se
aprofundar na dissonncia, no se ocupa com instituir objetos, mas em ser
um objeto a dissonar ambivalentemente. Por essa razo, Lukcs assevera que o
poeta enuncia a verdade sobre a imagem, e o crtico, a verdade sobre a imagem
pela poesia (LUKACS, 2009b, p. 37). Se a poesia est no plano da dissonncia
da vida, a crtica se estabelece na resoluo da imagem pelo reconhecimento
da alma na forma (LUKACS, 2009b, p. 38). H mais realidade para o poeta
e mais irrealidade para o crtico. O poeta o homem do mundo e o crtico,
dos mundos.25
As asas que Deus lhe deu/Ruflaram de par em par [...] dito pelo
poeta no significa adeso transcendncia, pode, inclusive, significar outra
coisa bem diferente, tal como um vnculo imanente ao Deus na linguagem.
Todavia, para o crtico, tal dissonncia, de falar de Deus para explicar o quo
24
Talvez a vida exista como uma realidade apenas para o homem cujos sentimentos possuem tal
dissonncia [hesitao entre forma e cor]. Talvez vida seja justamente a palavra que significa, para
o platonista [o crtico], a possibilidade de ser poeta, e para o poeta a possibilidade de ser platonista
[crtico] em sua alma. (LUKACS, 2009b, p. 40). O poeta precisa do crtico para ter mundos e viver a
transversalidade do seu prprio, e o crtico precisa do poeta para ter vida.
25
Ibid., p. 37. O poeta sempre fala sobre si mesmo, no importando o que significa; o platonista no
se atreve a pensar alto sobre si mesmo, ele apenas experiencia a sua prpria vida pela obras dos outros,
e entendendo os outros, ele se torna mais prximo de si mesmo.(LUKACS, 2009b, p. 37. Todo
platonista fala suas mais importantes palavras sobre o poeta. (LUKACS, 2009b, p. 42).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 81
KIRALY, C
faltantes so as asas, esconde uma verdade a ser mostrada e, para isso, o crtico,
por um momento, pode pensar como quem cr, depois como quem no cr
e ainda se interessar pela crena, crendo. O crtico percorrer uma cadeia
de possibilidades da vida potica, e nos mostrar, no tipo, pela instituio
de uma forma, o modo pelo qual podemos reconhecer na vida, em suas
posies mais variegadas. Ou, se for o caso, mostrar os momentos em que, por
moralidade, no podemos nos reconhecer. A vontade de sistema do ensaio
factual, contudo, no serve ao sistema; um ensasta pode mostrar ter muitos
sistemas e no ter nenhum. Porque todos os sistemas se submetem teoria da
imagem intrnseca a necessidade moral do ensaio, desencobrir a crueldade.
Por esse motivo que a forma concerne a fazer uma expresso maior do que
as circunstncias biogrficas, seja a forma potica, seja a ensastica. O poeta
maior do que si ao falar. Nos demais momentos, deve ser bem pequeno. O
tamanho exato do poeta indeterminvel. Isto , muito menor do que pensa
e muito maior do que se imagina. No se deve confundir as instncias. No
porque imagem e forma seja distintas, mas porque precisam do desnvel para
encontrar expresso. A imagem-vida prepara o salto da forma, por ser menor e
monumental. Sem a constatao da menoridade estratgica da imagem diante
da forma no se pode compreender o modo pelo qual a vida se agiganta diante
da forma instituda. Do contrrio, a vida se espiralaria fenecente e, com ela, a
forma levaria. Ao se desejar a vida menor do que a forma, o nico resultado
possvel o constrangimento enunciativo, ao perceb-la monumental
(LUKACS, 2009c, p. 48). Para evit-lo, poesia e ensaio partem de um mesmo
estado de economia performativa. O gesto no a vida toda, ele preparado
pelo gosto na vida, e se manifesta para a ultrapassar, ao que surpreendido pelo
estabelecimento da vida e uma nova necessidade de preparo. O aplacamento
da frugalidade do gesto a instituio da forma no tempo, fazendo notcia da
dissonncia, no caso da poesia, e da interpretao, no caso do ensaio. Um gesto
ultrapassa o jogo de linguagem para rep-lo mais abrangente, elastecendo o
mundo (LUKACS, 2009c, p. 45-47).
O gesto: quebra a ambiguidade do inexplicvel. (LUKACS, 2009c,
p. 46). No obstante, nele a ambivalncia no negada ou resolvida. Se a
crueldade apaga o rosto humano, e o vislumbramento da ambivalncia da
crueldade em ns, o faz pela vocao de negar a ambivalncia. A ambiguidade
o falso problema que afasta a ambivalncia, o ensaio quebra a ambiguidade
para recolar a ambivalncia. O ambguo encobre a crueldade, ao passo que
a ambivalncia a expe. A poesia vive a ambivalncia dissonantemente em
primeira pessoa, enquanto o ensaio busca desencobrir a ambivalncia, ao
82 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
perceber o ndice ambguo. No a nega, e no a relativiza, sobre ela institui o
critrio da moralidade. relevante que nem toda vida seja ensaio ou poesia,
mas que aconteam, quando necessrio.
A sensibilidade ao ambguo o principal legado do pessimismo
tradio do ensaio; talvez se possa asseverar que o pessimismo lhe tenha
se tornado prprio, ainda que nem todo ensaio o mobilize. O pessimismo
surge na tradio do ensaio para realizar a crtica ao progresso; uma vez que
a crtica abraa o mundo dos objetos, e no se interrompe antes, existe certa
tendncia do ensaio defesa do construtivismo social, e mal compreendido,
pode ser associado ao desenvolvimento, no seu sentido amplo, mas nada
mais enganoso. Ensastas como Kierkegaard e Schopenhauer, ou at mesmo
Cioran, para criticar o progresso moral e poltico, mostram que o aparente
controle sobre a ambiguidade no significa percepo da ambivalncia da
crueldade. Eles alertam que a crueldade, alm de instituir um objeto e
elastecer o mundo, cria, na mesma proporo, dimenses regressivas. Se a
instituio, pela crueldade, inscreve-se no tempo de modo ambivalente, e
se ela, no tempo, capaz de se fazer durar, tal como percorre o gosto pela
distino, tambm seria capaz de produzir abismos destrutivos no tempo. Por
assim dizer, a instituio, no caso, abriria, sob si, camadas de abissalidade.
Por exemplo, segundo a perspectiva do pessimismo, a instituio de uma
vontade de comunicao universal no teria apenas a crueldade inexorvel a
toda instituio, moral ou imoral, cuja ambiguidade serve de ndice para o
exerccio do desencobrimento por moralidade, mas tambm a ambivalente
constituio de uma abissalidade da falta de compreenso.
O pessimismo d estrutura ao que Lukcs denomina fundao da
forma contra a vida. Ainda que a contraposio entre a forma e a vida
seja sempre frustrada, pois o seu derradeiro ato, o suicdio, existe apenas
enquanto ideia, a sua prtica, tirando a problemtica ensasta de v-lo como
meio gesto ou como modulao do suicdio de uma ideia, significa apenas
a morte de um homem. O pessimismo um ensasmo que rouba nas regras
do ensaio, ele estetiza a existncia. Faz com que a vida mesma seja a obra
de arte e distancia o corpo da moralidade comum, fazendo-o totem de um
enunciado contrrio vida. No pessimismo, o corpo se torna a prpria
vida, e a vida se torna um arremedo insuficiente daquilo que o corpo . Na
estetizao da existncia, tudo quanto h limitador da forma do corpo,
cuja expresso passa a se dar na denncia quilo que prende o corpo. Assim,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 83
KIRALY, C
a forma no se d por gesto escritural de uma verdade tipogrfica, mas pela
exibio da agonia. Em alguma medida, e no de modo fatal, e no que
no se possa aproveitar os pontos fortes de outra maneira, o pessimismo
o cristianismo no ensaio. Naquilo que tem de mais fundamental, uma
obsesso com o corpo.
Se necessrio, para o corpo crtico, que a soluo venha pela forma,
o ensaio no corpo, mas a sua precipitao instituinte, pictrica, enquanto
vontade de rosto nas coisas (LUKACS, 2009b, p. 37). O pessimismo evita a
dramaturgia, tal como a crtica, porm, ele o faz tornando o corpo agnico
no nico personagem, isso o bastante evidente, reagindo s foras que
diminuem o que pode um corpo; mas o ensaio o faz tornando o objeto em
um manifesto contra essas muitas foras; nesse sentido que a moralidade da
perscrutao da crueldade se torna exerccio de filosofia pblica. As muitas
foras divergentes so matria de instituio para o ensasta, por isso, a sua
vocao construtivista, oposta tendncia destrutiva, por abandono, do
pessimismo. Se o ensaio um ceticismo com relao substncia da verdade,
fazendo-a pictrica, porque tipogrfica, o pessimismo um ceticismo acerca
de valores, cuja ao o fetichismo do corpo prprio.
Todavia, a verdade seja dita, tanto o pessimismo quanto o
construtivismo ensastico reagem agressivamente formalizao
dramatrgica da vida pblica. Esse processo deveria ser descrito pela relao
de continuidade de certos personagens sociais, em funo da estabilidade
constituinte.26 Uma vez que economia e sociedade mantm certos padres
de constituio das instituies, as instituies novas no so capazes de
fazer oscilar os personagens sociais, pintando-os sempre nos mesmos
dramas. Os pessimistas percebem a oscilao do dramatrgico, em virtude
do fato de que o grande personagem instituinte o corpo, e o corpo nunca
o mesmo personagem. Os construtivistas argumentam que a instituio do
personagem vinculadora do prprio ambiente constituinte, de sorte que as
repeties estruturais nunca so dramatrgicas, e o teatro pblico consiste
26
Um personagem dramtico impensvel sem a permanncia de caractersticas; na perspectiva do
drama, simplesmente no vemos sem essas caractersticas; as momentneas so esquecidas em um
instante. A repetio de um trao no mais do que um equivalente tcnico de um destino profundo
na constncia das caractersticas, do personagem. (LUKACS, 2009b, p. 41). Lukcs salienta que o
crtico no cr em repeties que no as afetivas, levando condio da inventividade de personagens,
em detrimento da estabilizao dos velhos, e seus velhos casacos. Um velho personagem um velho
casaco.
84 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
O Ensaio em Lukcs Artigos / Articles
numa vulgarizao da imagem, iniciado pela popularizao do romance e
arraigado nas formas contemporneas de entretenimento.
KIRALY, Csar. The essay in Lukcs: the later style and the youthful form. Tans/form/ao,
Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017.
Abstract In this article I look to establish affinities between the skeptical tradition and
the dialectic, by means of the concept of criticism.
Keywords: Lukcs. Skepticism. Dialectic.
Referncias
ADORNO, T. W. Jargon de Lauthenticit. Paris: Payot, 1989.
______. O ensaio como forma. In: Notas de literatura. So Paulo: Editora 34, 2003. p.
15-45.
BAYLE, P. Dictionaire historique et critique. Amsterdam: Fac-Simil, 1740.
CASSIRER, E. A filosofia do iluminismo. Campinas: Editora da UNICAMP, 1994.
KOSELLECK, R. Crtica e crise. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 1999.
LUKCS, G. A teoria do romance. So Paulo: Ed. 34, 2000.
______. Destruction of reason. Pontypool: Merlin Press, 2005.
LUKCS, G. On the nature and form of the essay. Translated by Anna Bostock and
Judith Butler. In: SANDERS, J. T.; TEREZAKIS, K. (Ed.). Soul and form. New York:
Columbia University Press, 2009a. p. 1-18.
______. Platonism, Poetry and Form. Translated by Anna Bostock and Judith Butler. In:
SANDERS, J. T.; TEREZAKIS, K. (Ed.). Soul and form. New York: Columbia University
Press, 2009b. p. 19-27.
______. The Bourgeois Way of Life and Art for Arts Sake. Translated by Anna Bostock
and Judith Butler. In: SANDERS, J. T.; TEREZAKIS, K. (Ed.). Soul and form. New
York: Columbia University Press, 2009c. p. 55-78.
. The Foundering of form against life. Translated by Anna Bostock and Judith
Butler. In: SANDERS, J. T.; TEREZAKIS, K. (Ed.). Soul and form. New York: Columbia
University Press, 2009d. p. 28-41.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017 85
KIRALY, C
STRAND, M. The monument. In: New selected poems. New York: Alfred A. Knopf,
2010.
Recebido em 10/06/2016
Aceito em 12/11/2016
86 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 51-86, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
Do Gnio ao Jogo. O papel da Tcnica na
Transformao dos Valores Estticos em Walter
Benjamin
Nlio Rodrigues Conceio1
Resumo: Analisando o papel desempenhado pela questo da tcnica no pensamento de Walter
Benjamin, o artigo debrua-se sobre a transformao dos valores estticos, na modernidade. As tcnicas
de reproduo/registo inventadas nos sculos XIX e XX, como a fotografia e o cinema, obrigaram a
uma reviso das articulaes entre arte, tcnica e histria, articulaes que Benjamin desenvolveu em
diversos sentidos. Contudo, no encontramos, nos seus textos, uma filosofia da tcnica de princpios
claramente estabelecidos. Portanto, o presente artigo visa estabelecer uma constelao de temas, os
quais, brotando dos seus textos, nos permitem clarificar como a tcnica influencia a transformao e a
criao de valores estticos, sendo estes entendidos como eixos em torno dos quais se do a produo
e a crtica dos fenmenos estticos. A fotografia, constituindo um momento de viragem incisivamente
estudado pelo autor, o fio condutor das diferentes leituras. Historicidade da percepo; dimenso
poltica da arte; sua relao com a memria; elemento de jogo: so estes os quatro eixos em torno dos
quais se procura clarificar e, sempre que possvel, prolongar a proposta benjaminiana.
Palavras-Chave: Tcnica. Histria. Poltica. Memria. Jogo.
1 Arte, tcnica e histria
Walter Benjamin foi um dos primeiros autores a debruar-se sobre
as implicaes do advento das tcnicas de registo/reproduo, tais como a
fotografia ou o cinema, para a compreenso das transformaes artsticas,
na modernidade. Contudo, essa ateno no desembocou numa filosofia da
tcnica, de princpios claramente estabelecidos, mas sim num conjunto de
textos, ou de observaes pontuais, que incidem quase sempre em objectos
de estudo concretos e em situaes histricas particulares. Neste sentido, o
presente artigo prope-se elaborar uma constelao de temas que, extrados
dos seus textos, nos permitem clarificar o papel da tcnica na transformao
e criao de valores estticos, sendo estes entendidos como eixos em torno
dos quais circulam a produo e a crtica dos fenmenos estticos. Essa
clarificao importante para melhor compreender a leitura que Benjamin faz
1 Doutorado em Filosofia Esttica, pela Faculdade de Cincias Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, em 2013. Actualmente, pesquisador integrado, com uma bolsa de ps-doutoramento
da Fundao para a Cincia e Tecnologia, no IFILNOVA Instituto de Filosofia da Nova. E-mail:
alnelio@yahoo.com
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 87
CONCEIO, N. R.
da modernidade e, consequentemente, para melhor compreender elementos
fundamentais da esttica que nos contempornea.
As anlises de Benjamin, partindo de um ponto de vista histrico,
exploram os fenmenos artsticos na sua complexidade intrnseca. Em
Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire, texto publicado em 1940,
Benjamin refere que Baudelaire introduziu a experincia do choque no
mago do seu trabalho artstico (BENJAMIN, 2006a, p. 112-113). O efeito
de choque, intimamente ligado a alteraes sensoriais e ao fenmeno da
multido urbana, relaciona-se tambm com a fotografia, pois esta, ao fixar
um acontecimento por tempo ilimitado, aplica um choque ao momento
captado, tornando-o pstumo. Essa ideia aparece no contexto de uma
reflexo sobre os pequenos gestos que desencadeiam um processo complexo
composto por uma srie de momentos, implicando novas experincias tcteis
e pticas que exigem ao homem um constante exerccio de adaptao: [...]
a tcnica foi submetendo o sistema sensorial humano a um treino [Training]
complexo. (BENJAMIN, 2006a, p. 127). J no ensaio Pequena histria
da fotografia, publicado em 1931, Benjamin associa um progresso tcnico
a diminuio do tamanho das cmaras e a crescente possibilidade de fixar
imagens fugidias e secretas ao choque que [...] faz parar no observador os
mecanismos associativos. (BENJAMIN, 2006c, p. 261). Nas vrias verses
do texto A obra de arte na poca da sua reprodutibilidade tcnica, escritas
ao longo da dcada de 30, o choque estendido compreenso dos efeitos
do dadasmo e do cinema. Neste sentido, e voltando leitura de Baudelaire,
vemos que a ideia do efeito de choque, na sua transversalidade, percorre
os aspectos mais estritamente poticos, as novas tcnicas, mas tambm os
elementos sensoriais e psicolgicos (Freud e a questo do trauma , nesse
contexto, uma referncia importante, permitindo um aprofundamento da
relao entre memria, lembrana e conscincia). O pano de fundo aqui,
como em outros textos, uma reflexo histrico-crtica sobre as condies da
experincia, na modernidade.
A questo da tcnica constitui igualmente uma boa pedra-de-toque
do materialismo histrico de Benjamin, o qual, embora dialogue com o
marxismo, no se confunde com qualquer ortodoxia, afastando-se tambm,
em aspectos determinantes, das concepes materialistas de autores que
com ele dialogaram directamente, como Adorno e Horkheimer. Na
verdade, o materialismo benjaminiano vai beber em fontes to distantes
88 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
quanto as de Leibniz ou Goethe.2
O texto Eduard Fuchs, coleccionador e historiador, escrito a pedido
de Horkheimer, para publicao na Revista de Investigao Social, constitui,
paralelamente s entradas de Das Passagen-Werk, reunidas sob a letra N, e
a Sobre o Conceito de Histria, uma das mais detalhadas exposies da
tarefa do materialista histrico. Nesse texto, Benjamin desenvolve algumas
consideraes que, embora incidindo sobre o sculo XIX, permitem
compreender de um modo mais amplo o seu interesse pelos fenmenos
tcnicos. Essas consideraes aparecem no contexto de uma crtica a um
processo caracterstico do sculo XIX, o da desastrosa recepo da tcnica,
processo sustentado por uma srie de ensaios entusisticos (BENJAMIN, 2010,
p. 116). A tcnica obriga-nos a testar, a pr em causa a separao positivista, e
no dialctica, entre cincias da natureza e cincias do esprito. A tcnica no
uma pura manifestao das cincias da natureza, tambm uma manifestao
histrica. (BENJAMIN, 2010, p. 116). O falhano do positivismo prende-se
com o facto de no ter sido capaz de perceber que a evoluo da tcnica est
intimamente ligada produo de mercadorias e decisivamente determinada
pelo capitalismo. E, do ponto de vista social, escapa-lhe o elemento destrutivo
que a anlise dialctica capaz de revelar, razo pela qual necessrio levar a
srio a constituio histrica da tcnica, resgatando-a das narrativas orientadas
pelo ideal de progresso. O que significa: abrir a possibilidade de arrancar os
seus objectos ao contnuo da histria, salientando, por exemplo, o modo como
as suas energias podem ser destrutivas energias reclamadas pela guerra e pela
sua preparao propagandstica (BENJAMIN, 2010, p. 117).
Benjamin dirige seguidamente as suas crticas histria da cultura
possibilidade de que o materialismo histrico seja visto como uma histria da
cultura , fazendo notar que a distncia a partir da qual esta apresenta os seus
contedos assenta na iluso e na falsa conscincia. Tal distncia olhada com
reserva pelo materialista histrico, pois, perante os gnios e as suas criaes
artsticas e cientficas, facilmente esquecida a escravido annima dos seus
2 Sobre a distino entre os mtodos dialcticos de Benjamin e Adorno, cf. Agamben, O Prncipe
e o Sapo. O problema do mtodo em Adorno e Benjamin (AGAMBEN, 2014, p. 127-147).
Agamben ressalta, com razo, a importncia da noo de mnada. Sobre a influncia de Goethe, seria
necessrio explorar todas as implicaes da entrada [N2a, 4] de Das Passagen-Werk (BENJAMIN,
1991, V.1, p. 577), referente equivalncia entre o Urphnomen (fenmeno originrio) goethiano e o
conceito de Ursprung (origem) benjaminiano, tal como aparece inicialmente tematizado no Prlogo
Epistemolgico-Crtico de A origem do drama barroco alemo, equivalncia que implica, todavia, uma
transposio dos domnios da natureza para os domnios da histria.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 89
CONCEIO, N. R.
contemporneos. Da a clebre frmula: No h documento de cultura que
no seja tambm documento de barbrie. (BENJAMIN, 2010, p. 118).
S falsamente a histria da cultura pode ser considerada dialctica. Por um
lado, falta-lhe o momento destrutivo assegurado pelo pensamento dialctico
(interrupo do contnuo histrico); por outro lado, falta-lhe a autenticidade
da experincia do historiador dialctico. Aumenta com certeza o peso dos
tesouros que se acumulam sobre os ombros da humanidade. Mas no lhe d
foras para sacudi-los, e assim ficar com eles na mo. (BENJAMIN, 2010, p.
119). Apesar de todas as crticas dirigidas a Fuchs, Benjamin elogia-o por ter
sido capaz de sacudir os princpios da histria da cultura, aproximando-se da
tarefa dialctica. Impulsionado pelo seu carcter de coleccionador, entrou por
zonas de fronteira, onde os conceitos tradicionais da arte j s podiam falhar.
A [...] escala de valores que antes determinara a relao com a obra de arte,
no tempo de Winckelmann ou Goethe, perdeu toda a sua influncia no caso
de Fuchs. (BENJAMIN, 2010, p. 120).
Nesse contexto, Benjamin enuncia os elementos dialcticos da obra de
Fuchs, isto , os elementos que a aproximam de uma cincia histrica capaz de
entender o seu objecto, no como uma simples acumulao de facticidade, mas
como uma apreenso de um conjunto determinado de fios que representam a
penetrao de um passado na textura de um presente. Essa penetrao no se
rege por um nexo causal, nem o objecto histrico interessa pela homenagem
celebratria que se lhe possa prestar; na sua relao ao presente, ele constitui-
se na exacta tarefa dialctica que tem de resolver. E essa tarefa conhece em
Fuchs trs momentos: interpretao da iconografia, significado da arte de
massas, estudo das tcnicas de reproduo. Enquanto objecto de estudo, as
tcnicas de reproduo introduzem um elemento destrutivo quanto s formas
tradicionais de entender a arte. Ao lado da interpretao iconogrfica e da
acentuao da arte de massas, o estudo das tcnicas de reproduo acentua
a importncia da recepo. So ainda corrigidos, dentro de certos limites: o
processo de reificao a que est sujeita a obra de arte; o conceito de gnio ([...]
a necessidade de no esquecer, para l da inspirao, que tem o seu papel no
nascimento da obra, a sua execuo, sem a qual ela no se tornar produtiva);
os abusos para que facilmente tende todo o formalismo (BENJAMIN, 2010,
p. 120-121).3
3 Num dos fragmentos recolhidos no sexto volume de Gesammelte Schriften, Walter Benjamin escreve
algo que vai ao encontro dessas constataes: O questionamento sobre a tcnica liquida a infrutfera
alternativa entre forma e contedo. (BENJAMIN, 1991, VI, p. 183). Essa mesma ideia aparece no
texto O Autor como Produtor, no quadro de uma reflexo sobre a relao que o escritor mantm
90 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
Podemos extrapolar essas consideraes para o mbito da crtica e da
histria da recepo de outros objectos de estudo, sejam eles provenientes
da literatura, sejam da fotografia ou, mais recentemente, da arte digital.
importante referir que as ideias levantadas por Benjamin a propsito da tcnica
esto longe de se deixar esgotar pela questo da reproduo/reprodutibilidade
das obras de arte, questo que guia um dos seus ensaios mais conhecidos e
discutidos. O ncleo original da articulao entre arte, tcnica e histria tem
sobretudo a ver com um modelo de pensamento capaz de pesar os processos de
transformao, os elementos destrutivos e a relao dialctica entre um Agora
e um Outrora. Como veremos mais adiante, esse ncleo desdobrado em
diversos textos, que nem sempre comunicam entre si, mas que nos permitem
abrir frteis pistas de leitura, quer quanto ao pensamento de Benjamin, quer
quanto s implicaes da tcnica nos nossos dias.
2 O privilgio da fotografia
Se nos concentrarmos na tcnica fotogrfica, obteremos um ponto de
vista privilegiado para a observao da relao entre arte, tcnica e histria,
observao que implica, por sua vez, uma ponderao da transformao dos
valores estticos na modernidade. Por via da fotografia, essa transformao
constitui, antes de mais, um alargamento dos meios tcnicos que, directa ou
indirectamente, interferem nas prticas artsticas, mas pressupe tambm a
propagao de novos conceitos e de novas formas de conceber a imagem.
Para Benjamin, a relevncia da fotografia para a arte tem pouco a ver com
a questo: quando que uma fotografia uma obra de arte? Trata-se, mais
essencialmente, de ir ao encontro de outra questo: o que que a fotografia
faz arte? E isso envolve um elemento da fotografia que resiste s intenes
artsticas e esteticizantes, [...] qualquer coisa [...] que continua a ser real
hoje e nunca querer ser reduzida a arte. (BENJAMIN, 2006c, p. 246).
Como destaca Sigrid Weigel, no entender esse princpio metodolgico
passar completamente ao lado da originalidade e fertilidade do pensamento
de Benjamin acerca da fotografia e da imagem (WEIGEL, 2013, p. 240).
As respostas questo o que que a fotografia faz arte? prolongam-se em
pelo menos dois sentidos. O primeiro, o qual Benjamin entreviu de forma
lapidar e que constitui uma das mais exploradas e talvez das mais exguas
portas de entradas do seu pensamento, relaciona-se com a reprodutibilidade
com a sua tcnica, a qual constitui o elemento preponderante, quer da inscrio na ordem social que
lhe contempornea, quer da dimenso poltica da sua produo.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 91
CONCEIO, N. R.
tcnica das obras de arte. O segundo, mais subtil e que s aparentemente
entra em contradio com o que acima foi destacado, relaciona-se com o
modo especfico como as tcnicas, as prticas e os conceitos da fotografia
contaminaram o mundo artstico. Por outras palavras, novos valores estticos
entraram em circulao.
O facto de a fotografia ter adquirido um lugar de relevo na arte
contempornea atesta a pertinncia e a complexidade deste segundo
aspecto. Um livro recente de Michael Fried, Why photography matters as art
as never before, procura exactamente compreender as razes que levaram
a fotografia a alcanar esse lugar de relevo. Partindo da anlise de diversos
trabalhos fotogrficos, embora desembocando na contemporaneidade, essa
obra tem um pano de fundo filosfico (ou ontolgico, como Fried por
vezes defende), o qual, operando com noes desenvolvidas anteriormente
pelo autor, como objectualidade e antiteatralidade, lhe d uma pertinente
espessura conceptual. Embora atravessando o campo da histria da arte, no
se reduz a uma abordagem estritamente histrica nem artstica. Trata-se da
prpria especificidade da fotografia ligada sua constituio tcnica e
possibilidade de nos aproximar da objectualidade dos objectos pensada no
seu desdobramento (FRIED, 2008).
Para l desse aspecto mais centrado na dimenso artstica, a fotografia,
nos seus usos mais quotidianos e massificados (na sua relao com o arquivo, a
fotografia familiar ou os media), instaurou tambm um conjunto de problemas
que fazem parte das competncias da esttica entendendo-se esta no seu
sentido mais abrangente, no redutvel filosofia da arte.
No este o lugar para explorar exaustivamente o modo como a questo
da tcnica permeia as reflexes de Benjamin sobre a fotografia, mas poderemos
acercar-nos de aspectos importantes, se nos focarmos em algumas passagens
de Pequena histria da fotografia. Referindo-se estreiteza dos debates
que ocorreram no sculo XIX acerca do aparecimento da fotografia e da sua
contraposio pintura, Benjamin critica uma concepo de artista enquanto
ser divino, regido pelas ordens superiores do seu gnio. Cita uma passagem
de um jornal alemo que se refere ao artista como aquele que, sem qualquer
mquina, tomado de inspirao celestial, seria capaz de reproduzir os traos
divinos do homem, concluindo que se manifesta [...] aqui, com todo o peso
do seu estilo enfatuado, a ideia pequeno-burguesa da arte, a que estranha
qualquer considerao de ordem tcnica e que receia ver chegar o seu fim com
o aparecimento provocatrio da nova tcnica. (BENJAMIN, 2006c, p. 244).
92 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
Perante a estreiteza dessa compreenso da arte e do artista, no de estranhar
que os debates sobre a natureza da fotografia tivessem sido toldados por uma
srie de preconceitos, os quais impediram a revelao da sua originalidade e
das suas implicaes. importante salientar que, para Benjamin, toda a arte
tem uma componente tcnica, pelo que as relaes entre as diversas formas
artsticas no se regem por uma lgica de progresso ou de causalidade, mas
sim por uma pesagem de ganhos e perdas. Esse ponto de vista no invalida,
porm, uma ideia que ele tenta demonstrar vrias vezes: existem elementos
das novas formas artsticas (e suas tcnicas correspondentes) que se encontram
virtualmente contidas em formas precedentes. Em A obra de arte na poca da
sua reprodutibilidade tcnica, h uma referncia explcita a essa ideia:
A histria de cada forma de arte conhece pocas crticas em que esta forma
aspira a efeitos que s se conseguem obter livremente quando se chega a um
nvel tcnico diferente, isto , a uma nova forma de arte. [...] o Dadasmo
tentou criar, com os meios da pintura (e da literatura), os efeitos que o pblico
hoje em dia procura no cinema. (BENJAMIN, 2006a, p. 234-235, grifo do
autor).
Neste sentido, poder-se- dizer que a fotografia e o cinema, apesar
de estarem necessariamente ligados sua pr-histria, s formas artsticas
precedentes, trouxeram novos elementos, novas questes, cujas ondas de
radicalidade se tm propagado at aos nossos dias. Exemplar tambm a
passagem que contraria uma qualquer diferena de princpio entre tcnica
e magia; como decorre da anlise de uma fotografia de Dauthendey, [...] a
mais exacta das tcnicas capaz de dar um valor mgico s suas realizaes,
um valor que um quadro pintado nunca mais ter para ns. (BENJAMIN,
2006c, p. 246). Embora Benjamin se refira principalmente s fotografias das
primeiras pginas do texto (de Dauthendey, Hill e Blofeldt), a diferena
entre tcnica e magia, enquanto varivel totalmente histrica, deixa em aberto
a possibilidade de outras variaes exemplares, observveis em muitas das
prticas fotogrficas contemporneas. A explorao da queimadura do real
(a qual, em ltima instncia, subverte o carcter de imagem da fotografia)
e a explorao do inconsciente ptico (que revela e alarga o nosso mundo
perceptivo) so caractersticas fundamentais em torno das quais se formam os
valores estticos ligados fotografia.
Posteriormente, remetendo a Atget e estabelecendo uma analogia com
o pianista Busoni, Benjamin acaba por afirmar algo que aparenta ser bvio
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 93
CONCEIO, N. R.
para qualquer arte, mas que nem sempre recebe a devida ateno: aquilo que
decisivo para a fotografia sempre a relao dos fotgrafos com a sua tcnica
(BENJAMIN, 2010b, p. 252-253). Quer nos primrdios da fotografia,
quer no seu perodo de decadncia (segundo a designao de Benjamin), as
caractersticas fundamentais da fotografia so sempre vistas em funo de uma
relao com a tcnica. Por exemplo, a aura das primeiras fotografias tinha
como equivalente tcnico a fraca qualidade das objectivas, que assim criavam
zonas de sombra. A fraca sensibilidade das primeiras chapas e o consequente
longo tempo de exposio conduziam os retratados a uma sntese de expresso
que to caracterstica dos primeiros retratos. Por outro lado, no perodo de
decadncia, surge uma tentativa de criar uma aura artificial, por intermdio do
retoque (BENJAMIN, 2006c, p. 248-252).
Um ltimo aspecto a marcar a importncia da fotografia no
pensamento de Benjamin prende-se com a hiptese, algo especulativa, de que
esse mesmo pensamento tem uma dimenso fotogrfica. Essa constatao
tornar-se- porventura menos estranha, se lanarmos um olhar sobre o texto
O autor como produtor e exigncia, de teor revolucionrio, que a feita
aos escritores e fotgrafos do seu tempo: que ambos superem as barreiras
entre texto e imagem as barreiras das competncias levantadas pelo prprio
sistema de produo , que os fotgrafos sejam capazes de dar uma legenda s
suas fotografias, resgatando-as do desgaste pela moda, e que os escritores sejam
capazes de fazer fotografia (BENJAMIN, 2006b, p. 284). Portanto, no s
Benjamin foi um atento observador da fotografia, mergulhando nos problemas
tericos por ela levantados e convivendo de perto com imagens e fotgrafos,
como tambm o seu prprio pensamento ter-se- impregnado de mecanismos
fotogrficos numa espcie de contaminao que se expande desde as tcnicas
at aos modos de pensamento, passando pelo prprio exerccio da escrita. Dito
de outra forma: h elementos de fundo do seu pensamento, nomeadamente
a noo de imagem dialctica, que podem ser aproximados de mecanismos
fotogrficos. Essa aproximao manifesta-se, desde logo, pelo elemento da
descontinuidade, da interrupo do contnuo temporal, que to importante
no contexto de Das Passagen-Werk e que aparece condensada, de um ponto
de vista mais programtico, nas teses de Sobre o Conceito de Histria. Este
um dos aspectos decisivos para a aproximao entre fotografia e histria
desenvolvida por Eduardo Cadava (1997, p. 60):
Benjamin descreve a sua posio relativamente histria e historiografia
contra as posies predominantes, e f-lo afirmando um movimento de
interrupo que suspende o continuum do tempo. Ao reter os vestgios do
94 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
passado e do futuro um passado e futuro que ela todavia transforma a
fotografia mantm a presena do movimento, as pulsaes cujo ritmo marca
a sobrevivncia daquilo que foi compreendido no interior do movimento
que ela petrifica. Somente quando o olhar de Medusa do historiador
materialista ou da cmara tiver momentaneamente trespassado [transfixed] a
histria, pode a histria aparecer como histria no seu desaparecimento. No
interior desta condensao de passado e presente, o tempo j no deve ser
entendido como contnuo e linear, mas como espacial, um espao imagtico
ao qual Benjamin chama constelao ou mnada.
A compreenso da espacialidade imagtica do tempo histrico como
que o complemento da crtica ao positivismo e ao ideal de progresso. Neste
caso, contudo, no se trata apenas da constatao da historicidade e do carcter
destrutivo da tcnica: trata-se tambm dos procedimentos especficos da
prpria tcnica fotogrfica. A fixao da imagem, elemento bsico de qualquer
fotografia, pode ento ser entendida como metfora e, em ltima instncia,
como conceito histrico-temporal.
3 Quatro notas sobre a transformao dos valores estticos
3.1 Historicidade da percepo
H uma passagem famosa e muito citada do texto A obra de arte
na poca da sua reprodutibilidade tcnica, a qual se refere ao modo como
a percepo humana historicamente condicionada. Na terceira verso do
ensaio, l-se:
Adentro de grandes perodos histricos transforma-se todo o modo de existncia
das sociedades humanas, e com ele o seu modo de percepo. O modo como se
organiza a percepo humana o meio por que se realiza no apenas
condicionado pela natureza, mas tambm pela histria. (BENJAMIN,
2006a, p. 212, grifo do autor).
importante ressaltar que, nesta passagem, no est em causa
um fatalismo histrico ou tecnolgico que reduza as teorizaes sobre a
percepo a um primado absoluto da mediao. O reconhecimento de
que a nossa percepo sempre foi mediada, no deve conduzir a uma
reificao das instncias mediadoras. Tcnica e transformaes sociais so
elementos importantes, embora no exclusivos, na compreenso dos modos
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 95
CONCEIO, N. R.
de percepo, compreenso que deve afastar-se de uma lgica de causalidade.
Num sentido bastante diferente, Benjamin prope-se pensar as mudanas da
percepo, partindo sempre j de um terreno no qual diversos estratos esto
em comunicao, sendo prestada uma particular ateno s transformaes
sociais e, nesse texto em particular, s diversas implicaes da possibilidade de
reproduzir, atravs das novas tcnicas, a existncia nica de cada situao ou
obra de arte. Como vimos no texto sobre Eduard Fuchs, a tcnica, analisada
sob o ponto de vista histrico, exactamente um dos domnios que possibilita
contornar a falsa oposio entre cincias da natureza e cincias do esprito,
pondo em causa a prpria validade das leituras cronolgicas dos fenmenos
artsticos.
O fenmeno da decadncia da aura permite acentuar os elementos
que, embora ligados a objetos artsticos concretos, no so pensveis sem
a assuno da constituio mediada histrica e tecnicamente da nossa
percepo. A experincia da aura, igualmente uma experincia do nosso olhar
ou daqueles que em ns repousam, um bom exemplo dessa forma de pensar
a percepo em funo de um fundo histrico, irredutvel a sentenas finais, e
que constitui um fiel de balana na pesagem dos valores estticos.
A articulao entre mediao tcnica e histria um dos momentos
importantes da abertura de um campo transdisciplinar que vai desde a filosofia
s cincias da comunicao. Ainda que de um ponto de vista diferente do de
Benjamin, os trabalhos de Marshall MacLuhan (e.g. A Galxia de Gutenberg)
ou de Vilm Flusser (e.g. Um Ensaio sobre a Fotografia. Para uma Filosofia da
Tcnica) tambm exploram a relao profunda entre os modos sensitivos e os
meios de comunicao que condicionam as vivncias sociais e histricas. Para
Flusser, a fotografia tem um estatuto paradigmtico (em funo de conceitos
como os de aparelho ou caixa negra), constituindo um modelo para pensar a
tcnica e, mais especificamente, as transformaes introduzidas pelas imagens
tcnicas. Por um lado, a sua proposta insere-se numa linhagem benjaminiana,
nomeadamente no que toca compreenso do efeito de ruptura introduzido
pelas imagens tcnicas; por outro lado, a sua abordagem revela (sem deixar de
apontar linhas de fuga) uma viso bem mais cptica relativamente ao carcter
emancipador da fotografia. Curiosamente, e embora no o assuma, Flusser
tambm prolonga intuies benjaminianas (que analisaremos adiante), ao
identificar a abertura de uma dimenso de jogo nas relaes que os fotgrafos
estabelecem com o aparelho. Essa dimenso, implicando a liberdade humana,
tem igualmente um carcter que no deixa de ser utpico. No se trata,
96 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
porm, de um jogo redutvel a uma dimenso ldica e descomprometida;
pelo contrrio, trata-se de um jogo que, aceitando a mediao tcnica e
histrica da experincia humana, aceita tambm, dentro de um determinado
espao de manobra (em alemo: Spielraum, termo utilizado por Benjamin), o
comprometimento com a transformao do modo de existncia das sociedades
(FLUSSER, 1998).
3.2 A dimenso poltica da arte
tambm incontornvel a forma como Benjamin introduziu a
dimenso poltica nas suas reflexes sobre arte. Em A obra de arte na poca da
sua reprodutibilidade tcnica, as teses sobre a perda do valor de culto das obras
de arte e o consequente acrscimo do valor de exposio, teses directamente
ligadas dissoluo do critrio da autenticidade, desembocam na constatao
de uma nova funo social da arte: a poltica (BENJAMIN, 2006a, cap. IV-
V). Na parte final desse mesmo texto, as questes polticas so colocadas
de um modo mais aguado. No podendo ser consideradas ideolgicas, as
anlises visam, contudo, uma demarcao entre duas perspectivas, as quais,
ao tempo do ensaio, marcavam claramente uma ciso poltica. Assim, as teses
finais desembocam na famosa oposio entre a esteticizao da poltica por
intermdio do fascismo e, como reaco primeira, a politizao da arte por
intermdio do comunismo (BENJAMIN, 2006a, p. 239-241).
Menos examinada a maneira como a dimenso poltica est enraizada
em aspectos tcnicos que se situam aqum da prpria reprodutibilidade tcnica
das obras de arte ou da sua relao com as massas. O significado poltico da
relao entre tcnica e arte, ou entre tcnica e fotografia, brota dos prprios
processos do modo de registo. Essa ideia constitui o pano de fundo de vrios
textos de Benjamin, mas encontra uma formulao contundente na seco
dedicada fotografia de Das Passagen-Werk. J perto do final das entradas
identificadas com a letra Y, so apresentadas algumas citaes que do conta de
aspectos relativos s inovaes tcnicas que preparam e antecipam a chegada
da fotografia. Aps uma longa citao de Dolf Sternberger, atinente maneira
como o panorama inscreve o factor temporal na experincia do espectador por
intermdio da fabricao das horas do dia, a prxima entrada um comentrio
e no uma citao salienta o seguinte:
A entrada do momento temporal no panorama assegurada pela sequncia
das horas do dia (com os truques de iluminao que so bem conhecidos). O
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 97
CONCEIO, N. R.
panorama transcende assim a pintura e antecipa a fotografia. Em virtude da
sua constituio tcnica, a fotografia, diferentemente da pintura, pode e deve
ser subordinada a um intervalo de tempo determinado e contnuo (tempo de
exposio). Nesta capacidade de preciso cronolgica encontra-se j contido,
in nuce, o seu significado poltico. (BENJAMIN, 1991, p. 844).
Seguindo o contexto e os pressupostos deste trecho, podemos afirmar
que a irrupo da fotografia marca algo de inaudito; isto , por mais que o tempo
e a cultura ocidental estivessem maduros e antecipassem o seu aparecimento,
por mais que se possa pensar a fotografia como uma espcie de consumao de
um desejo antropolgico de cariz realista, o acontecimento fotogrfico marca
qualquer coisa de revolucionrio. J no se trata de pintura, j no se trata de
uma luz fabricada, como nos panoramas, mas da prpria luz que se inscreve
no material fotossensvel, num segmento de tempo contnuo e bem definido.
Esse momento de contacto, o qual se d no tempo de exposio, tem um
contedo poltico embrionrio, pois desde logo a sua constituio tcnica
abre um campo de foras disruptivas, de potencialidades que tambm um
espao de manobra e de jogo.
Em Pequena histria da fotografia, e remetendo a uma fotografia de
David Octavius Hill, encontramos uma descrio que encerra a conscincia
aguda de que o retrato fotogrfico inaugura um novo espao, irredutvel s
categorias artsticas do passado:
[...] na fotografia deparamos com algo de novo e especial: naquela peixeira de
New Haven, de olhos postos no cho com um pudor indiferente e sedutor,
permanece algo que no se esgota como testemunho da arte do fotgrafo
Hill, qualquer coisa que no se pode reduzir ao silncio, que reclama
insistentemente o nome daquela mulher que viveu um dia, que continua
a ser real hoje e nunca querer ser reduzida a arte. (BENJAMIN, 2006c,
p. 246).
Face mudez constitutiva da fotografia (que tambm Roland Barthes
no deixou de assinalar), esse algo de novo e especial que irrompe com a
materialidade do real, a qual se inscreve na imagem e reclama insistentemente
o nome dos retratados, obriga-nos a reconsiderar o que est contido, de modo
embrionrio, na mudez.
Outras dimenses polticas da fotografia podem ser encontradas no
98 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
Expos, de 1935, de Das Passagen-Werk. Antes de mais, pela revoluo
iniciada pelos panoramas, a qual pressupe uma mudana nas relaes entre
arte e tcnica; ao mesmo tempo, os panoramas fazem parte de uma nova
atitude perante a vida, que implica uma alterao da relao entre o campo
e a cidade: no panorama a cidade abre-se, tornando-se paisagem. Todavia,
com o aparecimento do daguerretipo, outras transformaes fundamentais
tm lugar. Perante as novas realidades tecnolgicas e sociais, a tendncia
subjectiva nas artes pictricas e grficas comea a ser colocada em questo.
Benjamin destaca o caso de Nadar, no se referindo aos seus belssimos
retratos, mas sim s suas fotografias dos esgotos de Paris. Nelas, Nadar mostra
a sua superioridade em relao aos seus colegas contemporneos: o trabalho
fotogrfico revela-se capaz de fazer descobertas, apresentando aquilo que
antes estava escondido. Pode ento sustentar-se que tambm nesse sentido a
fotografia produz ou uma parte importante na formao de um novo
espao social e poltico. Benjamin refere-se ainda a um artigo publicado por
Wiertz, segundo o qual a fotografia teria como tarefa a iluminao filosfica
da pintura. Essa iluminao deve ser entendida no sentido poltico. Wiertz
teria sido o primeiro a requerer, se no mesmo a antecipar, o uso da montagem
fotogrfica como forma de agitao poltica (BENJAMIN, 1991, p. 48-49).
Queimadura do real no tempo de exposio como significado poltico
in nuce; participao da fotografia num novo espao sociopoltico, por
intermdio da sua capacidade de fazer descobertas; montagem fotogrfica
como forma de agitao poltica. Podem resumir-se assim alguns dos traos
que, nascendo da prpria constituio tcnica da fotografia, tecem a sua
dimenso poltica.
3.3 Fotografia(s) e memria(s)
Pode dizer-se que a fotografia (tambm enquanto objecto terico)
ocupa um territrio intermdio, furtando-se a oposies conceptuais rgidas.
As fotografias so entidades paradoxais, tocadas pela luz das coisas, mas sujeitas
s mais variadas manipulaes. Partindo dessa constatao geral, vemos que
a fotografia uma tcnica que, na sua aparente simplicidade e no seu uso
massificado, complexifica as prprias categorias que utilizamos para pensar.
A relao entre fotografia e memria padece dessa aparente simplicidade e,
portanto, de uma enorme complexidade. Por um lado, tendo sido tocadas por
uma realidade que de ns se distancia, pelo transcorrer do tempo, as fotografias
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 99
CONCEIO, N. R.
no deixam de realizar uma aproximao brusca ao passado, conduzindo a
nossa conscincia a uma paradoxal relao entre duas ordens temporais, a
qual parece implicar necessariamente uma forma de memria. Por outro lado,
face polissemia da palavra memria e face prpria diversidade de usos
fotogrficos, parece difcil dar conta dos termos exactos nos quais se joga essa
relao.
Numa definio de senso comum, prxima da constituio tcnica
da fotografia, esta uma fixao espcio-temporal, ou seja, uma forma de
registar um determinado momento que entra na memria individual ou
colectiva; os lbuns e arquivos, enquanto dispositivos de memria, so assim
um prolongamento desse elemento constitutivo.
Numa outra ordem de ideias, a fotografia constitui uma mnemotcnica.
O ser humano, enquanto ser tcnico, desenvolveu-se em funo dessas formas
de exteriorizao que constituem a memria. Nesse sentido, a fotografia
envolve tambm a histria cultural e as formas de experincia abertas pelas
novas tcnicas, que no se oferecem nem como uma continuidade linear, nem
como uma ruptura absoluta. Perceber o que a tcnica fotogrfica e as fotografias
fazem experincia humana tambm fazer as contas entre a memria e o
esquecimento, entre a abertura de novas possibilidades de experincia e a
destruio de anteriores.4
Existem vrias analogias entre memria e fotografia. comum
tratarmos da fotografia como modelo de funcionamento da nossa memria,
nomeadamente a partir de noes ligadas ao registo fiel e detalhado (a
expresso memria fotogrfica), ao arquivo ou ao lbum. Mas essas analogias
so limitadas: entre outros, a nossa memria constituda por uma srie de
elementos lingusticos, perceptivos ou inconscientes que esses modelos tm
dificuldade em abarcar. Contudo, existem dois aspectos interessantes nas
analogias: primeiro, a ideia de cesura, de interrupo, a qual tem uma relao
com a experincia do choque e que permite o cruzamento entre duas ordens
espcio-temporais, o presente e o passado; segundo, a questo da montagem,
que abre para uma perspectiva acronolgica, sensvel aos saltos temporais, s
4 Talvez aquilo que cada tcnica nova introduz na nossa experincia possa ser interpretado segundo o
conceito de origem, tal como desenvolvido por Benjamin, no Prlogo a Origem do drama barroco
alemo: uma reconstituio incompleta, o surgimento de algo novo que conserva sempre os vestgios
das coisas passadas. Portanto, num domnio mais amplo, essa mnemotcnica instaurada pela tcnica
fotogrfica, com modos muito especficos de sentir e viver o tempo e a realidade, desempenha um
papel singular na histria das tcnicas (de reproduo), sem, contudo, deixar de fazer ressoar os
vestgios do passado.
100 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
operaes do inconsciente, descoberta de novas correspondncias. Vemos,
por exemplo, a importncia que as reprodues fotogrficas tm no Atlas
Mnemosyne de Aby Warburg, parecendo este responder a uma possibilidade
aberta pela prpria tcnica fotogrfica.
De referir ainda a articulao entre fotografia, memria e afecto,
exemplarmente mostrada por Roland Barthes, em A Cmara Clara. Embora,
nessa obra, a relao com o tempo, com o isto foi, desponte como uma das
caractersticas fundamentais da fotografia, toda ela est mergulhada num fundo
afectivo. Esse fundo assumido pelo prprio autor, o qual tece tambm uma
crtica concepo fenomenolgica da imagem e lana outras possibilidades
de compreenso da fotografia; isto particularmente agudo nas anlises que
decorrem da fotografia do Jardim de Inverno (BARTHES, 1980).
Mas foquemo-nos agora em Benjamin.
No texto Franz Kafka, no dcimo aniversrio da sua morte,
Benjamin faz uma leitura da obra de Kafka que, data, se mostrava original e
propunha novos caminhos de interpretao. Um desses caminhos desenvolve
a ideia de que a obra de Kafka constitui uma revelao de acontecimentos, de
gestos no Teatro do Mundo. Neste sentido, ela poria em cena um cdigo de
gestos que a priori no possuem um claro significado simblico, constituindo
antes interrogaes cujo significado se expressaria atravs de [...] relaes e
ordenaes experimentais [Versuchsanordnungen] sempre novas. O teatro a
sede natural destas ordenaes experimentais. (BENJAMIN, 1991, p. 418).5
A obra de Kafka seria, assim, um ensaio sobre os gestos, a procura de um gesto
perdido.
Saliento ainda dois aspectos importantes desse texto.
O primeiro diz respeito a uma concepo do corpo do nosso prprio
corpo como a maior fonte de estranheza. Referindo-se a O Castelo, Benjamin
assinala: Tal como K. vive na aldeia junto colina do castelo, assim tambm o
homem de hoje vive no seu corpo; ele escapa-lhe, -lhe hostil. (BENJAMIN,
1991, p. 424). Essa estranheza tem uma relao profunda com os animais,
5 O termo Versuchsanordnung, que tambm poderia ser traduzido por ensaio, encontra-se em pelo
menos mais dois textos de Benjamin: em O que o teatro pico? e na segunda verso do ensaio A
obra de arte... Neste ltimo ensaio, o termo serve para caracterizar a segunda tcnica, aproximando-a
do jogo. Sigo aqui a traduo proposta por Luciano Gatti (2009, p. 174), cujo livro Constelaes.
Crtica e verdade em Benjamin e Adorno desenvolve um exame detalhado da questo do gesto (nas suas
articulaes com as temticas do corpo e do materialismo), nas interpretaes que Benjamin faz de
Brecht e Kafka.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 101
CONCEIO, N. R.
os depositrios daquilo que se esqueceu, aqueles que conservam a angstia
e, ainda assim, mais se dedicam reflexo. Esta ideia surge no contexto de
uma anlise da luta contra o esquecimento. Porm, aquilo que foi esquecido
nunca puramente individual, h algo de csmico (e no necessariamente
religioso) nos gestos incompreensveis. Da eles parecerem brotar de um
mundo estranho, pr-histrico a fonte de onde emanam os escritos de Kafka
(BENJAMIN, 1991, p. 430-431).
O segundo aspecto diz ainda respeito ao esquecimento e estranheza.
A personagem principal de Amrica, Karl Rossmann (personagem que pela
primeira vez, num romance de Kafka, apresentada com um nome e no com
uma inicial), acaba por dirigir-se ao teatro natural de Oklahoma, o teatro onde
todos os actores parecem capazes de representar o seu papel, que no fundo
a sua vida redimida. Mas existe uma personagem que ainda no o conseguiu.
o estudante de gestos insondveis. Para Benjamin, ele encarna a necessidade
do estudo como tentativa de encontrar a redeno, o gesto perdido. Para
explicitar essa ideia, Benjamin estabelece uma analogia entre quem se procura
encontrar por intermdio das tcnicas de reproduo (cinema e gramofone, no
caso) e a situao de Kafka. O cinema e o gramofone foram inventados numa
poca de grande alienao entre os homens, de relaes incomensuravelmente
mediadas:
No cinema, o homem no reconhece o seu prprio modo de andar, no
gramofone, no reconhece a prpria voz. H experincias que o provam.
A situao da cobaia nessas experincias a situao de Kafka. ela que o
conduz ao estudo. Talvez a se depare com fragmentos da prpria existncia,
os quais se encontram ainda em conexo com o papel. (BENJAMIN, 1991,
p. 436).6
Podemos ento afirmar que, paradoxalmente, ao aumentarem o
campo da memria, as tcnicas de registo tambm ampliam o problema do
autorreconhecimento, da estranheza em relao nossa prpria identidade,
conduzindo-nos inquietude do estudo. Aquilo que Benjamin no diz, mas
ns podemos acrescentar, que tambm a fotografia contempornea tem um
papel fundamental nessa equao entre estranheza, esquecimento e memria,
6 Em A obra de arte na poca da sua reprodutibilidade tcnica, Benjamin escreve algo que
complementa a passagem do texto sobre Kafka: A sensao de estranheza do intrprete diante da
aparelhagem, tal como Pirandello a descreve, por natureza do mesmo gnero que a sensao de
estranheza do homem perante a sua imagem no espelho. Agora, porm, a imagem formada no espelho
pode separar-se dele, torna-se transportvel. (BENJAMIN, 2006a, p. 225).
102 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
constituindo um campo privilegiado (dentro e fora do meio artstico) para
o estudo dos gestos no Teatro do Mundo. Vejam-se, por exemplo, os casos
de Cindy Sherman ou de John Coplans, os quais constituem, cada um a
seu modo, casos de estudo acerca dos gestos, da sua relao com o corpo e a
memria. Portanto, existe um potencial redentor relativamente aos destroos
deixados pelas tcnicas de registo. Por outras palavras, elas contm uma
promessa que o prprio tempo tem vindo a revelar. Para Rosalind Krauss
num texto onde manifestamente procura reler Benjamin, com o intuito de
pensar a especificidade do medium fotogrfico essa promessa est associada
aos poderes cognitivos da infncia (KRAUSS, 2006). Uma passagem de
Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire refere-se fotografia e outras
aparelhagens em termos de um alargamento da mmoire voluntaire que
implica, por outro lado, uma decadncia da aura ao nvel dos objectos
que revelam marcas de uso e ao nvel da aura que se acumula em torno das
prprias imagens da mmoire involuntaire. Os dispositivos das mquinas
fotogrficas e aparelhagens semelhantes que vieram depois alargam o alcance
da mmoire voluntaire, a aparelhagem permite a qualquer momento fixar um
acontecimento em imagem [Bild] e som. (BENJAMIN, 2006a, p. 140). Por
conseguinte, para l de todas as perdas inerentes aura, a memria voluntria
da fotografia tem as suas potencialidades, ampliando o nosso contacto com
camadas gestuais e expressivas, ampliando o nosso inconsciente ptico.
Se verdade que, genericamente falando, o gesto de pegar no isqueiro ou
na colher nos familiar, j pouco ou nada sabemos do que de facto se passa
entre a mo e o metal, para j no falar das oscilaes que esse processo
acusa, segundo a disposio em que estamos. Aqui intervm a cmara com
os seus meios auxiliares, plongs e contreplongs, interrupes e imobilizaes,
retardador e acelerador, ampliao e reduo. ela que nos inicia no
inconsciente ptico, tal como a psicanlise no inconsciente pulsional.
(BENJAMIN, 2006a, p. 233-234).
No incio do captulo a que pertence esta citao, Benjamin comea por
caracterizar o cinema no s pelo modo como o homem se apresenta perante
a aparelhagem, mas tambm pela maneira como, atravs dessa aparelhagem,
ele representa o mundo circundante. Esse enriquecimento da percepo, o
qual pode ser explicado numa analogia com a teoria freudiana, decorre da
possibilidade de isolar e tornar analisveis aquelas coisas que antes navegavam
inconscientemente na corrente da percepo. A relao entre a psicologia das
performances e o cinema d-se pelo modo como este permite avaliar, analisar
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 103
CONCEIO, N. R.
as aces, facto que, por sua vez, promove uma nova articulao entre arte e
cincia. No fundo, e regressando ao texto de Kafka, pode asseverar-se que o
cinema constitui ento um espao de anlise, de ordenaes experimentais, de
estudo, de performance, de exerccio sensorial e perceptivo sobre a forma
como o homem se apresenta cmara, mas tambm sobre o modo como,
atravs da cmara, o homem representa o mundo circundante. E aquilo que
Benjamin tinha esperana de ver consumar-se, por meio do cinema, fora
progressivamente antecipado pela fotografia, medida que esta foi povoando
o nosso mundo perceptivo com imagens inconscientes, construindo memria.
3.4 Segunda tcnica e jogo
No quadro da segunda verso do ensaio A obra de arte na poca
da sua reprodutibilidade tcnica, e referindo-se ao cinema, Benjamin tece
alguns comentrios relativos ao que ele chama de segunda tcnica, onde se d
uma reformulao dos aspectos mimticos da arte e da prpria relao entre
aparncia (Schein) e jogo (Spiel), com uma acentuao do segundo polo.
de salientar que, excepo de trechos da verso francesa, essas consideraes
no se encontram nas outras verses do texto. No captulo VI, a primeira
tcnica associada ao valor de culto e dimenso mgica. A primeira
tcnica faria o mximo uso possvel dos seres humanos, ao passo que um dos
traos fundamentais da segunda tcnica seria exactamente uma participao
mnima dos seres humanos. no distanciamento em relao natureza que
se situa a origem da segunda tcnica, distanciamento que tambm pode ser
denominado de jogo. Mais do que dominar a natureza, a segunda tcnica
procura uma interaco, um jogo-conjunto (Zusammenspiel) entre a natureza
e a humanidade (BENJAMIN, 2012, p. 35-45). Nesse sentido, a funo social
primeira da arte seria o exerccio dessa interaco. Na nota 10 do captulo XI,
Benjamin desenvolve essa questo, sobretudo a passagem do domnio da bela
aparncia para o do jogo, passagem que acompanha o aparecimento da segunda
tcnica. Ora, nesse quadro que ele introduz a mmesis enquanto polaridade
que, mais do que opor aparncia e jogo de forma irredutvel, cria entre ambos
uma tenso. Essa polaridade importante, porque tem um papel histrico e
assim ilumina a passagem da primeira para a segunda tcnica: aquilo que se
perde em aparncia ganha-se em jogo, em espao de jogo/espao de manobra
(Spielraum). Por outras palavras, trata-se de uma transformao profunda dos
prprios valores estticos. Esse processo ter-se-ia iniciado com a fotografia,
agudizando-se com o cinema (BENJAMIN, 2012, p. 72-76).
104 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
4 Concluso ou afirmao das ambiguidades
Perante a complexidade do pensamento de Walter Benjamin, e ao
contrrio do que propem certas leituras sedimentadas, convm no esquecer o
que aparece em estado nascente, em diversos textos e fragmentos. De salientar,
por exemplo, uma entrada de Das Passagen-Werk, na qual, por intermdio da
infncia, o mundo da tcnica moderna articulado com o mundo arcaico dos
smbolos da mitologia:
S um observador superficial pode negar que haja correspondncias entre o
mundo da tcnica moderna e o mundo arcaico dos smbolos da mitologia.
Inicialmente, sem dvida, a nova tcnica parece ser somente isso. Mas logo
com a primeira rememorao de infncia ela muda os seus traos. Cada
infncia realiza qualquer coisa de grande, de insubstituvel para a humanidade.
Pelo seu interesse nos fenmenos tcnicos, pela curiosidade relativa a todo o
tipo de invenes e de mquinas, cada infncia liga os avanos da tcnica aos
antigos mundos dos smbolos. No h nada na natureza que partida esteja
excludo dessa ligao. Contudo ela no se forma na aura da novidade, mas
sim na do hbito. Em recordao, infncia e sonho. - Despertar - [N 2a, 1].
(BENJAMIN, 1991, p. 576).
No contexto de A obra de arte na poca da sua reprodutibilidade
tcnica, o hbito aparece ligado questo da recepo tctil, aquela que
substitui a recepo ptica da contemplao, segundo os desafios colocados
pelo efeito de choque. J nessa ocorrncia, ele est associado a uma aura que
se ope da novidade e que implica a rememorao, a infncia e o sonho.
Portanto, as anlises relativas reprodutibilidade tcnica das obras de arte esto
longe de esgotar o espectro de relaes entre as novidades tcnicas, a arte, a
experincia humana ou a natureza. Na verdade, deve falar-se de diversos nveis
de anlise no pensamento de Benjamin sobre a tcnica, diversidade que, mais
do que originar contradies, estabelece um campo de tenses, pressupondo a
lcida constatao de que a tcnica se coloca, simultaneamente, quer do lado
da destruio das formas tradicionais da vida e da experincia (Erfahrung),
acentuando a experincia vivida (Erlebnis) do choque, quer do lado dessa
potncia redentora que toda a criana tem nas mos. A capacidade de ligar os
avanos da tcnica aos antigos mundos dos smbolos pressupe, portanto, o
reconhecimento do poder dos traos que constituem a prpria figura da infncia
os quais, se assim o podemos dizer, podem ser rememorados, exercitados
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 105
CONCEIO, N. R.
ao longo da vida e em diferentes contextos tecnolgicos, acentuando uma
dimenso do presente que no se esgota na novidade. Sendo necessariamente
transversal experincia humana, esse poder de cada infncia encontra na arte
um domnio privilegiado de actuao.
A noo de jogo, em toda a sua amplitude dramtica, vital, ldica,
poltica, tem aqui um dos seus substratos histricos mais importantes. Contudo,
a vertente ldico-experimental para que Benjamin aponta, em muitos dos seus
textos, no sugere um reencantamento do mundo. A articulao entre a
experincia mimtica das crianas e as experimentaes da vanguarda est
vinculada a uma noo de [...] aco poltica que no visa a transformao
do mundo segundo normas prefixadas, mas a partir de exerccios e tentativas
nos quais a experincia humana tanto espiritual e inteligvel como sensvel e
corporal assume outras formas. (GAGNEBIN, 2014, p. 175).
A ligao entre os avanos da tcnica e os antigos mundos da
mitologia pressupe tambm uma dimenso histrico-temporal particular,
nos antpodas da ideia de progresso ou de causalidade, o que vai ao encontro
de uma exigncia referida inicialmente: a procura de uma compreenso da
tcnica capaz de atender, quer aos seus momentos construtivos, quer aos
seus momentos destrutivos, e que tenha por base a interrupo do contnuo
histrico. Por conseguinte, no se trata de celebrar nem de denunciar a presena
desses smbolos da mitologia, mas sim de tomar conscincia deles e das foras
ambguas que se lhes associam. Despertar no tanto um gesto de rejeio de
fantasmagorias quanto de constatao de um processo dialctico incessante.
Uma passagem do Expos de 1935, referente ao carcter moderno da poesia
de Baudelaire, diz algo de revelador quanto ambiguidade dos processos
dialcticos:
[...] mas precisamente a modernidade est sempre a citar a histria originria
(Urgeschichte). Neste caso, isso acontece atravs da ambiguidade a que se
prestam as relaes e os produtos sociais desta poca. A ambiguidade a
apario figurativa da dialctica, a lei da dialctica em suspenso. Esta
suspenso utopia, e a imagem dialctica tambm imagem onrica.
Tal imagem apresentada pela pura e simples mercadoria: como fetiche.
Tal imagem apresentada pelas passagens, que tanto so casa como rua.
Tal imagem apresentada pela prostituta, ao mesmo tempo vendedora e
mercadoria. (BENJAMIN, 1991, p. 55).
Estas ltimas consideraes servem para expandir o alcance das notas
106 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Do Gnio ao Jogo Artigos / Articles
esboadas no presente texto. Mais do que descrever traos uniformes na esttica
contempornea, identificveis em estado puro, elas procuraram sobretudo
desenhar um campo de possibilidades aberto pelo questionamento sobre
a tcnica, campo que j h muito se encontra num movimento produtivo,
carregado de tenses e ambiguidades. Historicidade da percepo, dimenso
poltica, memria e jogo so, assim, traos que se mesclam entre si e com
outros que aqui no foram abordados. Constituindo eixos em torno dos quais
vemos aglomerarem-se um sem-nmero de fenmenos estticos, so tambm
valores que norteiam a prtica artstica e o discurso crtico.
CONCEIO, Nlio Rodrigues. From the genius to the game: the role of technology in
the transformation of aesthetic values in Walter Benjamin. Tans/form/ao, Marlia, v. 40,
n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017.
Abstract: Analyzing the role played by the question of technology in Walter Benjamins thought, this
article delves into the transformation of aesthetic values in modernity. The technologies of reproduction
and recording invented during the 19th and 20th centuries, such as photography and cinema, led to
a reformulation of the relationship between art, technology, and history, which Benjamin examined
in various ways. However, we do not find in his texts a philosophy of technology with well-defined
principles. Therefore, this article aims at establishing a constellation of themes emerging from his texts,
that allows us to clarify the way technology promotes the transformation and creation of aesthetic
values. These values are here understood as axes around which the production and the critique of
aesthetic phenomena occur. Photography, as a turning point that was incisively studied by the author,
is the leading thread in the different readings of his work. The historicity of perception; the political
dimension of art; its relation with memory; the element of play: these are the four axes around which
a clarification and, whenever possible, an expansion, of Benjamins ideas are discussed.
Keywords: Technology. History. Politics. Memory. Play
Referncias
AGAMBEN, G. Infncia e histria: destruio da experincia e origem da histria. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2014.
BARTHES, R. La Chambre Claire: note sur la photographie. Paris: Cahiers du Cinma;
Gallimard/Seuil, 1980.
BENJAMIN, W. Das passagen-Werk. In: Gesammelte schriften. Band V. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1991a.
______. Franz Kafka: zur zehnten Wiederkehr seines Todestages. In: Gesammelte schriften.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991b [1934], p. 409-438. II.2.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017 107
CONCEIO, N. R.
______. Gesammelte schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991c [1972-1989]. 7 v.
______. A obra de arte na poca da sua possibilidade de reproduo tcnica (terceira
verso). In: ______. A modernidade. 3. ed. Traduo Joo Barreto. Lisboa: Assrio e
Alvim, 2006a [1955]. p. 207-241.
______. O autor como produtor. In: ______. A modernidade. 3. ed. Traduo Joo
Barreto. Lisboa: Assrio e Alvim, 2006b [1934]. p. 271-293.
______. Pequena histria da fotografia. In: ______. A modernidade. 3. ed. Traduo Joo
Barreto . Lisboa: Assrio e Alvim, 2006c [1931].
______. Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire. In: ______. A modernidade. 3. ed.
Traduo Joo Barreto. Lisboa: Assrio e Alvim, 2006d [1940].
______. Eduard Fuchs, coleccionador e historiador In: O Anjo da Histria. Lisboa:
Assrio e Alvim, 2010 [1937].
______. A obra de arte na poca de sua reprodutibilidade tcnica. 2. verso. Porto Alegre:
Zouk, 2014 [1989].
CADAVA, E. Words of light: theses on the photography of history. New Jersey: Princeton
University Press, 1997.
FLUSSER, V. Ensaio sobre a fotografia: para uma filosofia da tcnica. Lisboa: Relgio
dgua, 1998 [1985].
FRIED, M. Why photography matters as art as never before. New Haven; London: Yale
University Press, 2008.
GAGNEBIN, J. M. Limiar, aura e rememorao: ensaios sobre Walter Benjamin. So
Paulo: Editora 34, 2014.
GATTI, L. Constelaes: crtica e verdade em Benjamin e Adorno. So Paulo: Loyola,
2009.
KRAUSS, R. Reinventar o medium: introduo fotografia. In: NICOLAU, R. (Ed.).
A fotografia na arte: de ferramenta a paradigma. Porto: Fundao de Serralves; Jornal
Pblico, 2006. p. 152-162.
WEIGEL, S. Walter Benjamin: images, the creaturely, and the Holy. Stanford: Stanford
University Press, 2013 [2008].
Recebido em 02/08/2016
Aceito em 19/12/2016
108 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 87-108, Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
Trs Faces de um Poema. Leitura do Poema de Sete
Faces, de Carlos Drummond de Andrade
Cristiano Perius1
Resumo: O presente ensaio visa a interpretar o Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de An-
drade. O exerccio de reduo fenomenolgica, a ambiguidade, a percepo e o corpo prprio, entre
outros conceitos da Fenomenologia da percepo, de Merleau-Ponty, orientam o trabalho de leitura, es-
truturado a partir dos seguintes temas: o lado gauche, a correlao eu-mundo (que apenas se completa
na poesia meridiana) e a primazia do olhar. Tal procedimento de leitura rene o poema hepta-partido
em trs faces ou tenses fundamentais, levando em conta os efeitos das imagens.
Palavras-Chave: Fenomenologia. Poesia. Maurice Merleau-Ponty. Carlos Drummond de Andrade.
* *
*
Alguma Poesia, publicado em 1930, rene os poemas escritos por Carlos
Drummond de Andrade a partir da segunda metade dos anos 20. Precisamos
considerar a maturidade do poeta, especialmente como livro de estria. Contra a
mxima que pondera os pecados da juventude, reconhecemos as obras da 1 fase
sem nenhum carter pejorativo. Antes de Alguma Poesia e ao longo de toda aquela
dcada de grande nimo literrio, podemos constatar a formao de um grupo
modernista mineiro, em dilogo com o centro. (CURY, 1988) j Drummond
em ampla atividade, exercida em diversas mos, aliado ao meio jornalstico (Dirio
de Minas) e servios burocrticos. A respeito dessa obra principiante e constante-
mente corrigida, examinaremos por que o Poema de Sete Faces decisivo, haja
vista o gauchismo e a ironia, o humour e o pessimismo crtico em curso, a partir
de ento.
A propsito do Poema de Sete Faces, tanto quanto a coletnea Alguma
Poesia, deve-se reconhecer um caldo bem cozinhado do primeiro modernismo
brasileiro. No entanto, o princpio, fictcio, apenas o nome-ndice que o crtico
literrio encontra para a obra j estabelecida. Mas o poeta atua livre no campo no
qual o crtico procura coeso e com frequncia v mais fios, tramas e nexos do
1 Cristiano Perius professor de Filosofia da Universidade Estadual de Maring (UEM) e atua nas reas
de esttica e fenomenologia. E-mail: cristianoperius@hotmail.com
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 109
PERIUS, C.
que se poderia explicar. Por isso, melhor do que a exibio cronolgica da obra,
examinaremos suas tenses internas. Aqui encontramos razes para o Poema de
Sete Faces ser fundamental e ter, mais que a anuncia de ser o primeiro, outro
propsito: constituir uma potica do olhar.
E ainda h outra razo, diacrnica, evocada pelo poema. Como diz Nova-
lis, [...] o comeo efetivo um segundo momento. A reflexo a volta sobre si
mesma, que acaba tornando efetivo sincrnico um elemento diacrnico, cha-
mado por Novalis de segundo momento. O Poema de Sete Faces seminal, visto
anunciar algo que o crtico v e espera explicitar. Porm, o que v est, por ora,
sub-reptcio, pois, onde l Vai, Carlos!, ser gauche na vida, identifica a obra intei-
ra. retrospectivo, porque se d na pertinncia entre o vai (Carlos) ser, e o que
ser. O vai ser de Drummond j contm, aos olhos do crtico, algo que foi. Eis
o carter performtico da arte, a propriedade de ser a realizao de uma imagem
reflexiva. Realizaes pensadas, sim, mas, antes de tudo, germinaes, fios do te-
cido que vai ser. Explicaramos melhor esse paradoxo se nos fixssemos menos no
Vai a que toda crtica vem e sempre volta para tratar do Carlos, j que
um passo se sobrepe a outro, exige um novo, s possvel pelo prvio. Onde quer
que v, do ponto final ao passo inicial que abriu caminho, no foi seno marcha
sua, palmo a palmo progredindo. Todavia, se o crtico tem um olhar retrospectivo,
certo que o poeta vai, sem fixar destino. Vamos ao Poema de Sete Faces, o
qual, apesar de hepta-partido, ser dividido em trs temas principais.
Face 1. O gauche
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
O gauche do verso 3 Vai, Carlos! ser gauche na vida contracena com
outras metforas: Quando nasci, um anjo torto (v.1); desses que vivem na som-
bra (v.2). (grifo nosso) Gauche, anjo torto e sombra so imagens que denegam.
Contrariam a regra, isto que esperamos ser a via reta: o modo justo ou correto de
chegar a um fim. Invertendo a norma de teor racionalista, cujas fontes remontam
filosofia moderna e crena na luz natural da razo, Drummond expe o lado
esquerdo e no o direito, o torto e no o reto, a sombra e no a luz. Essa inverso
extraordinria e nos leva a duas consideraes. A primeira delas a ironia perante
o heri clssico, que lembra, embora sem relao direta, Mrio de Andrade e seu
Macunama, heri sem nenhum carter. Em seguida, o itinerrio esttico livre
110 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
dos padres clssicos de criao,2 uma vez que visa ao entorpecimento da razo
fora de mecanismos de controle ostensivos, evocado claramente pela ltima estro-
fe do poema:
Eu no devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.
Fortalecido pelas imagens noturnas de luar, diabo e embriaguez,
trata-se do labor potico que contrasta a herana potica parnasiana. A poesia
desce de seu reino augusto para confundir-se com o gole noturno, com o dilogo
post laborem do bar. Sombra (v.2) e lua (v.26), anjo torto (v.1) e diabo (v.28) esto
em sintonia com o gauche. Noite, bebida e luar aludem atmosfera da cena inte-
lectual do final da dcada de vinte, quando a bomia se misturava discusso de
ideais estticos de vanguarda. O gole de conhaque e a impossibilidade do soneto
dividem um cenrio de renovao de ideias, quando o sucesso da poesia no est
mais na perfeio formal do objeto esttico. O lado esquerdo, que serve de anttese
tradio crist obstinada no exerccio da moral lacerante, ironiza pelo avesso:
pactua no com Deus, mas com o diabo, mencionado no ltimo verso do poema,
e mantm relao com o anjo torto, do primeiro. o desastre do iderio clssico
que se manifesta na rebeldia contra Deus e pacto com o diabo, desde os versos de
Baudelaire (1985, p.422): Oh Satan, prends piti de ma longue misre, estribilho
do poema. Lembrar de Baudelaire no inoportuno, se h a inteno, prpria
esttica modernista, de propor uma poesia autntica e liberada de qualquer tipo de
cnone. Gauche , segundo a expresso do poeta, seu lado fatal, sua dose diria
de erro, que incorpora o defeito.
A aceitao do imperfeito a conjuntura implicada na crise da razo e
impossibilidade artstica de sntese formal ou regra urea, de outro modo no se
compreenderia o anjo torto, que circunstancia o desvio em relao norma, bem
2 Para a meno das fontes tericas dos padres clssicos da arte, pensamos em Plato, cujo princpio
de simetria, harmonia e regras ureas de composio estabelecem o conceito de imitao da natureza,
a partir da beleza formal do objeto esttico. Princpios apolneos, diria Nietzsche, contrapondo a
iluso onrica embriaguez dionisaca. Observe-se, nesse sentido, a seguinte frase de Nietzsche: Apolo,
como divindade, exige a medida [...]. Nada em demasia, ao passo que a auto exaltao e o desmedido
eram considerados como demnios propriamente hostis esfera no-apolnea, portanto, propriedades
da poca pr-apolnea, da era dos Tits e do mundo extra-apolneo, ou seja, do mundo dos brbaros.
(NIETZSCHE,1992, p. 40.) Evidencia-se aqui a contraposio entre a ordem, a medida, como
princpio racional e apolneo, e o caos, a desmesura, como princpio irracional e dionisaco.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 111
PERIUS, C.
visvel, tambm, no poema Deriva esquerda, de Bento Prado Jnior (2000, p.
4):
Comea a faltar-me/ O joelho esquerdo./ Como um lquido clido/ A dor
circula, entre ossos,/ Nesse minsculo msculo motor.// Falha-me o joelho/
E, com ele, toda a esquerda perna./ Falta-me tambm a Faculdade de Julgar,/
Para reequilibrar o meu andar/ E o prprio Mundo.// Fui condenado a deri-
var esquerda,/ Para todo o sempre,/Por falta de um joelho/ (uma asa?)/ ou
de uma impensvel bengala lgico-metafsica.
O poema de Bento Prado Jnior tributrio ao gauchisme de Drummond.
Recusar a via reta a inclinao filosfica do anjo torto, que desiste de um
princpio de regulao metafsico, o qual renuncia sntese racional, perfeio
formal que sustentava a esttica clssica.3 Dizer no bengala (da) metafsica, eis
o mrito do guache. Tal interpretao, embora evidente no poema de Bento Prado
Jnior, subjacente potica de Drummond. Sem Deus, sozinho, com poucos
amigos, o poeta segue seu caminho:
O homem atrs do bigode
srio, simples e forte.
Quase no conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrs dos culos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu no era Deus
se sabias que eu era fraco.
A bengala, na letra de Bento Prado Jnior, corrige o andar cambembe. Faz
valer a dialtica corretiva que a filosofia cannica trazia implcita: ordenar o passo
torpe, isto , proibir a experincia sem proveito. Andar sem bengalas, mancar ou
derivar esquerda, nesse sentido, so metforas para o incerto, o hipottico, o
problemtico do homem. Assim, o gauche colhe as incertezas da vida. A maior
virtude do gauche est em que a incerteza no adjetivo de menos no total da vida
3 Por esttica clssica entende-se, aqui, a ideia vaga, sem meno explcita, das correntes artsticas
que racionalizam a experincia esttica. o caso do conceito de imitao, pois mesmo Aristteles, para
quem a causa final do poema trgico emocional e catrtico, as pretenses morais e cognitivas da arte,
ainda que veladas, identificam o belo ao ideal.
112 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
que a literatura pesa. Irnico sinal de mais, visto que mancar , no final das contas,
andar por si mesmo, sem o socorro de apoios.
Face 2: Eumundo
Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, no seria uma soluo.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto meu corao.
Rima e soluo, mundo e corao, ao lado de Raimundo, formam um
conjunto de palavras assonantes. No obstante a sonoridade proporcionada pela
paronomsia, o mundo um conceito seminal. Entre o corao do poeta e a vas-
tido do mundo h uma sensvel diferena de grandezas.4 Examinemos esse tema
a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty.
De fato, o corao maior do que o mundo perfaz as antinomias do eu
esttico e inflexvel, observador visual sem ser visto o qual no participa do
mundo-espetculo, mas lhe testemunha. No poema Mundo Grande, da cole-
tnea Sentimento do Mundo, d-se a inverso desse ponto de vista. A realidade do
mundo passa a ser mais importante, ao passo que o eu, insignificante. Em A Rosa
do Povo, acontece o quiasma, a imbricao (empitement) e a reversibilidade,
segundo a expresso de Merleau-Ponty, entre o sentimento do eu e a facticidade do
mundo, isto , o fenmeno de produo de imagens que transgride as fronteiras
lgicas entre os polos subjetivo e objetivo, atravs do jogo metafrico que estabe-
lece a intencionalidade ambgua e incompleta entre os termos. Seja por espelha-
mento, seja por reverso, o poesia opera uma distncia intencional entre o sujeito
e o objeto, entre o eu e o mundo, permitindo a transposio de tudo isto que,
nascendo em um, termine em outro, e vice-versa.
Consideremos melhor. A tenso Eu Mundo, iniciada no Poema de
Sete Faces, alcana a forma definitiva e equilibrada na poesia posterior. s a
partir de Sentimento do Mundo que, com suas palavras, afirma ter [...] resolvido
as contradies elementares de sua poesia.5 por isso que, para a anlise desse
4 Afonso R. de SantAnna trata especialmente desse tema em seu estudo: Drummond: o gauche no
tempo (1992).
5 Cf.: Meu primeiro livro, Alguma poesia (1930), traduz uma grande inexperincia do sofrimento
e uma deleitao ingnua com o prprio indivduo. J em Brejo das almas (1934), alguma coisa se
comps, se organizou; o individualismo ser mais exacerbado, mas h tambm uma conscincia
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 113
PERIUS, C.
tema, que a intencionalidade operante entre as imagens do eu e do mundo,
acompanharemos o Poema de Sete Faces luz de alguns versos da poesia meri-
diana, especialmente A Rosa do Povo.
Poemas como No se Mate justificam o Eu > mundo [eu maior do
que o mundo], quando a oscilao do mundo ora escurido, ora claridade em
nada altera a rocha abismal do eu: Voc caminha/ melanclico e vertical./ Voc a
palmeira, voc o grito/ que ningum ouviu no teatro/ e as luzes todas se apagam./ O
amor no escuro, no, no claro,/ sempre triste, meu filho, Carlos,/ mas no diga nada
a ningum,/ ningum sabe nem saber. (DRUMMOND, 2002, p.58) A propsito
da melancolia desse contato vertical, o eu est no centro e, ao mesmo tempo,
disseminado, visto que hiper-sensvel e sinestsico. Mais do que egocntrico, in-
trovertido, fechado, despojado na escuta do outro que no seno a fala de si
mesmo, na fuga de si onde se v olhando, mesmo sendo o mundo o que v, o
outro que escuta, ao transformar a horizontalidade do mundo em verticalidade do
eu. Observador implacvel e, por isso mesmo, por sentir as dores do mundo como
suas, o poeta caminha afetado, nada esperando do mundo, apenas colhendo. Se
assume as dores do mundo, no h reciprocidade, o mundo no compreende.
O mundo menor. O corao pulverizado percorre todos os cantos do mundo,
desbaratado pelo eu insupervel, e se desdobra, indiviso, vendo em tudo a si mes-
mo, multiplicado. Esse sentimento exprime o contraste claramente apresentado
no Poema de Sete Faces, versos 24 e 25: mundo mundo vasto mundo,/ mais vasto
meu corao.
Em Desdobramento de Adalgisa (DRUMMOND, 2002, p.63), o po-
eta forja, sob o substantivo (Adalgisa), o adjetivo (adaljosa) e o verbo (adalgisar).
Poder-se-ia propor uma pardia a respeito, dizendo que a substncia de Adalgisa,
adaljeica, mundalgisa. Essa matriz substantiva, polimorfa, alcana tudo: A vos-
sa Adalgisa/ virou duas diferentes (v. 5-6); Sou loura, trmula, blndula/ e morena
esfogueteada./ Ando na rua a meu lado,/ colho bocas, olhos, dedos/ pela esquerda e
pela direita (v. 8-12); quando uma que so duas (v. 18); tem tantas direes/ e em
nenhuma se define,/ mas em todas se resume (v. 21-23); Saberei multiplicar-me,/ e
em cada praia tereis/ dois, trs, quatro, sete corpos/ de Adalgisa, a lisa, fria/ e quente
e spera Adalgisa,/ numerosa qual Amor (v. 24-28); Se fugirdes para a floresta/ serei
cip, lagarto, cobra/ eco de grota na tarde/ ou serei a humilde folha,/ sombra tmi-
da, silncio/ entre duas pedras (v. 29-34); Se voardes, se descerdes/ mil ps abaixo do
crescente da sua precariedade e uma desaprovao tcita da conduta (ou falta de conduta) espiritual
do autor. Penso ter resolvido as contradies elementares da minha poesia num terceiro volume,
Sentimento do mundo (1940). Autobiografia para uma revista. In: Confisso de Minas. So Paulo:
Cosac e Naify, 2011, p.68.
114 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
solo,/ se vos matardes afim,/ serei ar de respirao,/ serei tiro de pistola/ veneno, corda,
Adalgisa, Adalgisa eterna (v. 37-43); Eu mesma no me limito:/ se viro o rosto me
encontro,/ quatro pernas, quatro braos,/ duas cinturas e um/ s desejo de amar./ Sou
a qudrupla Adalgisa,/ sou a mltipla, sou a nica/ e analgsica Adalgisa. (v. 51-58)
Primeiro dupla, depois qudrupla, Adalgisa desdobra-se em progresso aritmtica,
ilimitada, para no dizer infinita, deixando onde passa e atrs de si apenas o rastro
de seu olhar metanoico. O final do poema, para onde quer que vades,/ o mundo
s Adalgisa(v. 60-61), o resultado final da atividade paradigmtica do eu, cujo
olhar paralisante igual os olhos de Medusa.
No entanto, a Adalgisa hiperblica, metamrfica, s podia acabar no mais
puro receio do seu desdobramento aritmtico. Sobrevindo a desconfiana, cisma,
expondo os perigos da poesia em disposio contrria. o perodo no qual a pe-
quenez humana se faz mais patente e o mundo, um ser enorme, distante, inatin-
gvel. nesse momento que se opera a inverso cabal da disposio do Poema de
Sete Faces, ao revelar-se o eu < mundo [eu menor do que o mundo]:
No, meu corao no maior que o mundo.
muito menor.
.......................................................
Sim, meu corao muito pequeno.
S agora vejo que nele no cabem os homens.
Os homens esto c fora, esto na rua.
A rua enorme. Maior, muito maior do que eu esperava.
Mas tambm a rua no cabe todos os homens.
A rua menor que o mundo.
O mundo grande.
Tu sabes como grande o mundo.
.......................................................
Viste as diferentes cores dos homens,
as diferentes dores dos homens,
sabes como difcil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso
num s peito de homem... sem que estale.
........................................................
Meu corao no sabe.
Estpido, ridculo e frgil meu corao.
(DRUMMOND, 2002, p.87).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 115
PERIUS, C.
Noturno Janela do Apartamento esboa o estatelamento do eu frente
ao mundo, nos versos acima sugeridos. Barroquismo e pequenez, entre o silncio
no contido e o inefvel presumido, atingem o paroxismo:
Silencioso cubo de treva:/ um salto, e seria a morte. [...] Nenhum pensamen-
to de infncia,/ nem saudade nem vo propsito./ Somente a contemplao/
de um mundo grande e parado./ A soma da vida nula.[...] Suicdio, rique-
za, cincia.../ A alma severa se interroga/ e logo se cala. E no sabe/ se noite,
mar ou distncia. (DRUMMOND, 2002, p.88).
O verso final do poema: Triste farol da ilha Rasa, preserva a inverso das
grandezas; o eu: pequeno farol insular; o mundo: todos continentes e oceanos
terrestres, onde uma ilha perece.
A circunscrio do eu (num nfimo canto do mundo) vem associada a
diferentes imagens em sintonia com o novo dispositivo: eu < Mundo. Privao
do que est no mundo ausente no eu: a hora em que o sino toca,/ mas aqui
no h sinos; a hora em que o pssaro voa, no h pssaros.(DRUMMOND,
2002, p. 122). Medo, pela insuficincia das foras de que dispe: em verdade
temos medo./ Nascemos escuro./ As existncias so poucas:/ Carteiro, ditador,
soldado./ Nosso destino incompleto (DRUMMOND, 2002, p. 122). Solido
e alteridade perdida frente extenso hiperblica do mundo: Nesta cidade do
Rio,/ de dois milhes de habitantes,/ estou sozinho no quarto,/ estou sozinho na
Amrica (DRUMMOND, 2002, p. 93); solido do boi no campo,/ solido
do homem na rua! (DRUMMOND, 2002, p. 94); No cimento, nem trao/ da
pena dos homens./ As famlias se fecham/ em clulas estanques (DRUMMOND,
2002, p. 96). O ser privilegiado, que em parte alguma deveria ser nfimo, desva-
lorizado: O elevador sem ternura/ expele, absorve/ num ranger montono/ subs-
tncia humana (DRUMMOND, 2002, p. 96). O riso, to prprio do humour
drummondiano, fica garganta, uma expectativa dramtica toma conta da fala,
quando a graa baixa o tom: a palavra Encanto/ recolhe-se ao livro,/ entre mil
palavras/ inertes espera (DRUMMOND, 2002p. 96). H uma tnica desse
sentimento que no , salvo por breves interrupes, absorvido. O movimento do
eu permanece aquietado a uma sorte de paralisia que, em memria ao vitalismo
antigo [eu > mundo], confrange-se.
A constante desolao do eu frente impossibilidade de suportar o dina-
mismo do mundo, a qual se d no confronto entre grandezas desiguais, eu peque-
no, mundo grande, sofrer uma ltima transformao na sequncia das imagens.
Apresentaremos esse novo momento, eu = mundo [eu igual ao mundo], a partir
116 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
da fenomenologia de M. Merleau-Ponty.
Na Fenomenologia da Percepo, Merleau-Ponty enderea a conceitos da
epistemologia moderna o rtulo de prejuzos clssicos. O alvo da crtica se
constitui, em linhas gerais, pelo pensamento reflexivo, vtima da operao inte-
lectualista, e pelo associacionismo, vtima da operao empirista. Trata-se de duas
abordagens antitticas e incompatveis, uma vez que tomam parti pris opostos, ou
seja, o partido materialista ou objetivista, de um lado, e o partido espiritualista
ou subjetivista, de outro. Ora, a soluo para o problema est, segundo Merleau-
-Ponty, em estabelecer uma nova teoria da percepo, apta a escapar das antteses
dos modernos. Trata-se de remeter a ambas as operaes a mesma crtica, a saber,
o ensinamento ambguo e exemplar contido no conceito de corpo prprio, nem
subjetivo, nem objetivo. Resulta disso a iniciativa de superar os prejuzos clssicos
atravs de uma arqueologia do sentido, segundo a expresso de Renaud Barba-
ras, em Do ser do fenmeno (BARBARAS, 1991), isto , a descrio da experincia
que desvela, a partir do teor da percepo, o sentido originrio de conceitos chaves
como a ateno e o juzo, interpretados unilateralmente pelas tradies subjetivis-
tas e objetivistas.
Ora, mundo, mundo vasto mundo,/ mais vasto meu corao, do Poema
de Sete Faces, tanto quanto estpido, ridculo e frgil meu corao, do poema
Mundo Grande, so antteses semelhantes s que Merleau-Ponty menciona. De
fato, desde que entendemos o mundo por totalidade de fenmenos autnomos e
independentes conscincia, o eu por um princpio formal, fonte de represen-
taes, j estamos na direo de um dualismo antittico. Chamamos de subje-
tivo o lugar transcendental, com base no qual as representaes nos aparecem;
chamamos de objetivo os entes intramundanos, contedos representacionais da
conscincia. Este o partido intelectualista, segundo o qual os objetos do mundo
dependem das representaes da conscincia.6 O partido inverso empirista re-
nuncia fonte mgica das representaes, colocando no prprio mundo a chave
de suas relaes internas. Resulta disso o eu > mundo, poderoso e absoluto, apto
a entender as leis do mundo, ou, na via inversa, o eu < mundo, predisposto a
desconfiar da faculdade de vidncia, isto , do enigmtico dom da constituio. O
encaminhamento potico a essa anttese a percepo de que no se trata de medir
foras entre o eu e o mundo, mas, ao contrrio, de equilibr-las entre si.
No poema intitulado Caso do Vestido, de A Rosa do Povo, encontramos
o seguinte verso: O mundo grande e pequeno. (DRUMMOND, 2002, p.163).
6 Esta a prerrogativa kantiana, segundo a qual o eu deve acompanhar todas as minhas representaes,
isto , ser o avalista lgico e formal de ajuizamento sobre o mundo.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 117
PERIUS, C.
nesse momento que a incompatibilidade entre o polo subjetivo (o eu) e o polo
objetivo (o mundo), a qual fundava uma relao de grandezas desiguais na com-
posio das imagens, desaparece. Entretanto, isso no tudo. Trata-se da eliso do
sujeito e do objeto, segundo a Procura da Poesia, isto , do reconhecimento de
um plano em que o eu e o mundo no contrastam, mas sofrem a ao de contami-
nao e de iluminao recproca. Trata-se, segundo os conceitos da fenomenolo-
gia, do a priori de correlao, pois o sujeito e o objeto no so nada em si mesmos,
mas, em funo de. Ora, este a priori de correlao que est operando, quando
se trata da reciprocidade entre eu e mundo. Drummond permite pensar em algo
como se (eu)... ento (mundo)... e vice-versa, porque so correlatos. Trata-se
de um problema genuinamente fenomenolgico, pois a fenomenologia procura a
constituio do mundo sem pressupor que ele j esteja dado, de um lado, assim
como no o reduz categorias transcendentais do esprito, de outro. Com o con-
ceito de fenmeno o que aparece a fenomenologia toma a iniciativa de sair
do idealismo sem cair no realismo, ou seja, no supe o mundo dado como faz
o empirismo , nem tampouco pr-formado como faz o intelectualismo, uma
vez que no se pode pressupor que os fenmenos so revelados por uma estrutura
consciente ou egolgica, nem adotar o parti pris inverso, a saber, pensar que o
dado possui uma estrutura autnoma e independente do sujeito.7
No por acaso, Drummond favorece a leitura fenomenolgica de poemas.
Como um binmio de primeira ordem, eu e mundo so fenmenos origin-
rios para a produo potica. Nascemos no mundo, isto , no h vazio ontolgico
a ser substitudo pelo pleno do mundo. Por sua vez, o eu, que tem sentidos, di-
rige-se ao mundo com poder incomparvel de ontognese, ser para mim, sem que
possa ser outra coisa seno sentido. A caracterstica da viso, a qual mantm o ser
como ser-visto, que reduz o mundo a espetculo e funda a condio de condicio-
nante, no apaga a de condicionado, a condio de mundo em si. A confluncia
desse duplo faculta a possibilidade de intercmbio e com possibilidade, a oscilao
de um para outro, assim como dizemos que a viso minha ou que o visto est
em mim. No constitumos o mundo com o pensamento lgico, e a segurana de
termos uma viso confivel menos dele que das prprias coisas. Se o sentimento
de atingir as prprias coisas, de estar no mundo sem fantasmas derivado, isto ,
no vem de mim, ento o mundo tem, tanto quanto eu, existncia soberana, lugar
assegurado na cadeia da verdade. Como aponta Merleau-Ponty (1960, p.15): [...]
nossas relaes com o ser comportam um duplo sentido, o primeiro segundo o
qual ns somos seus, o segundo o qual ele nosso.
7 Para as fontes tericas deste tema, segundo o aporte da fenomenologia, cf. o ensaio: A dobra do
corpo e a questo do dualismo (PERIUS, 2006).
118 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
Se levamos os fios eu mundo adiante, de forma a procurar a cumpli-
cidade do grande e do pequeno, do interior e do exterior, que a contradio
encerra o exerccio artstico, se de primeira ordem. A ironia da metfora que
assina o jogo de ambivalncias entre o eu e o mundo uma tenso fundamental
de sua poesia.8
Face 3: Primazia do olhar
O homem atrs do bigode
srio, simples e forte.
Quase no conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrs dos culos e do bigode.
O homem de bigode esconde, sob a marca do bigode, a particularidade de
ser genrico e s nos versos seguintes tem poucos, raros amigos (v.16), srio sim-
ples e forte (v.14), quase no conversa (v.15) podemos completar o seu sentido.
Uma face descritiva, sem dvida, sob o signo do sigilo (atrs de...). Essa descri-
o de cinco versos, prpria de um homem tmido, a discrio de um homem
reservado presena muda do olhar. Em parte alguma posto o pensamento do
homem atrs dos culos. A referncia aos culos e bigodes corporal e sensvel,
enquanto o pensamento abstrato e inteligvel. A meno ao corpo, segundo
Merleau-Ponty, extraordinria, pois se ope tradio racionalista, tal como se
l nesta passagem de Descartes, citada na Fenomenologia da Percepo:
Se por acaso olho pela janela homens que passam na rua, no deixo de dizer
que vejo homens [...] mas o que vejo da janela, seno chapus e mantos que
podem cobrir espectros de simulacros que apenas se movem por mecanis-
mos? Mas eu julgo que so homens e assim compreendo pela nica potncia
de julgar que reside em meu esprito, isto que eu cria ver de meus olhos.
(MERLEAU-PONTY, 1945, p. 41).
H, nessa passagem, um prejuzo do corpo que Descartes autoriza. O po-
der de ver sem aparncias, no entanto, a confirmar a certeza de no ter fantas-
mas, do pensamento, no dos olhos que me trazem, alm da quina da janela, o
tablado do alpendre, sob o qual os homens passam. O corpo, ser sensvel que se
move, perfaz o movimento dos olhos, o qual Descartes acreditava subordinado.
Consideraes como estas significam que os culos no so de natureza descartvel
8 Que se veja, nesse sentido, a expresso sentimento do mundo, ttulo da coletnea de 1940.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 119
PERIUS, C.
e que, ao invs de nos livrar da opacidade das coisas, trazem-nas com mais con-
fiana para aqueles que os usam. O esprito, que assume o vis de pensamento e de
conscincia soberana, no exterior a esse instrumento convexo e binocular que,
mais que interromper a vista direta, entrega-nos a vista direita, mesmo porque no
temos contato puro com a essncia, ideal de conhecimento que se realize a partir
da contemplao de objetos isolveis de intercmbio com o corpo. Dito de outro
modo, o pensamento puro, sem a crosta sensvel, exclui o papel vital do corpo,
onde est o homem de bigodes. E, se no h contato de esprito a esprito, viso
sem profundidade, sem carne que habite e encarne as coisas em suas lacunas e
obscuridades, porque a clareza pertence s ideias, no aos olhos. No entanto, isto
que a encarnao dos olhos perde (a evidncia) nada mais seno um recobrimen-
to metafrico da luz. Entre o pensamento (inteligvel) e a viso (sensvel) no h
hiato. De fato, no h viso espontnea que extraia, de imediato, os significados da
cultura, maneira de olhar e compreender o que visto. Assim como aprendemos a
falar, a destacar as coisas, dando nomes, vemos, no visto, seu sentido, e possvel
que, em poucos anos nesse exerccio de aprendizado, pouco reste de desconhecido.
A matria visvel dos culos e do bigode no diferente dos traos do carter, os
quais falam em nome da natureza interior. Desse modo, no sintico quadro de
cinco versos h, em alegoria, uma descrio dos olhos, mas tambm do esprito,
e, se levarmos s ltimas consequncias o que os versos significam, est implcito:
transcendncia sobre o visto que sugere, no fim das contas, um enigma do olhar
imperceptvel a Descartes. Atrs dos culos e dos bigodes est o esprito, por
certo, mas este o significado metafsico do olhar.
Como aponta Merleau-Ponty, em A Dvida de Czanne: Tudo indica
que os animais no sabem olhar, penetrar nas coisas sem nada esperar delas seno
a verdade. (MERLEAU-PONTY: 1988, p.120). Segundo Descartes, as informa-
es trocadas entre o esprito e os rgos sensoriais servem para corrigir a percep-
o. O pensamento de ver, conforme Descartes, uma representao bem mais
segura que as intempries da coisa vista, porque vai essncia sem permanecer no
domnio corporal e sensvel. A respeito dessa expectativa, h motivos de sobra para
crermos que, no corpo, as pulses tm parte, e a julgar pelo Poema de Sete Faces,
desviam-se do puro pensamento:
As casas espiam os homens
que correm atrs de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
no houvesse tantos desejos.
120 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
O desenho simples de uma casa no possui fisionomia de rosto humano?
Cabelos so telhados, olhos so janelas, nariz e boca porta e rs do cho... No
deserto e na metrpole moderna, entretanto, a casa muda, emblema da natu-
reza habitada. Acolhe tanto o rigor do esprito errante e silencioso do homem
imensido desrtica quanto o prdio arquitetura tensa do espao comprimido
da cidade. Fornecem abrigo e moradia, isto , conhecem a intimidade da famlia.
Todavia, como os homens correm, as casas calam. Ermas, distendem-se pela rua e
cercam os passantes. Se as coisas pertencem mesma dana, tm os mesmos traos
e relevos, no so objetos, mas fisionomias que assediam, que respondem ao modo
dos enigmas e, se respaldam como seres deste mundo, invertem os papis do ativo
e do passivo. No horizonte que as fazem casas para ns esto erguidas sobre o mes-
mo mundo, como a figura e o fundo. O outro a fundir minha carne, as coisas tm
empatia e parentesco, altrusmos que as valorizam tanto quanto um ser anmico.
Se levarmos a srio o verso de Drummond, veremos que a relao que estabelece
com as coisas no a do ponto de vista do sujeito, nem, ao contrrio, delas a ns,
do objeto, mas o vaivm e o balano que faz o paradoxo de olhar e de ser visto.
Contra a tradio clssica que racionaliza a sensibilidade artstica,9 o Poema de
Sete Faces consagra o olhar:
O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu corao.
Porm meus olhos
no perguntam nada.
Entre o corao, que pergunta, e o olhar, no h apenas uma diferena de
grau, mas, de natureza. Segundo Husserl (apud ESCOUBAS, 1991, p. 13): A
intuio de uma obra de arte se completa ao seio de uma estrita colocao entre
parnteses de toda disposio existencial do intelecto, assim como de toda dispo-
sio do sentimento e da vontade. A disposio esttica implica uma mudana
de atitude em relao ao mundo natural. Nela [dimenso esttica], os objetos so
postos entre parnteses, isto , reduzidos a um modo de aparecer que suspende
todo e qualquer tipo de interesse, seja especulativo ou utilitrio sobre as coisas. Em
9 A crtica ao racionalismo uma caracterstica do gauche. Vejamo-la claramente, no poema poro:
em verde, sozinha,/ antieuclidiana,/ uma orqudea forma-se. (DRUMMOND, 2002, p. 142.) A
inverso desse ideal apolneo, cujo princpio persegue o formalismo geomtrico, tambm visvel
no poema A Flor e a Nusea: Uma flor nasceu na rua!/ feia. Mas uma flor. (DRUMMOND,
2002, p. 119.)
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 121
PERIUS, C.
outras palavras, a fenomenologia aproxima a experincia esttica da experincia
originria e sensvel, onde o mundo aparece em sua fenomenalidade pura, sem
conceito. Se Husserl aproxima a intuio fenomenolgica da intuio esttica,
como ele mesmo diz [sic]:[...] ver fenomenolgico primo-irmo do ver estti-
co, porque [...] o artista se comporta como fenomenlogo e no como cientista
ou psiclogo, que operam por observao, na inteno de se informarem sobre a
natureza e sobre o homem. (ESCOUBAS: 1991, p.13).
Essa viso pura, desinteressada, corresponde neutralidade da arte, isto
, ausncia, em primeira instncia, de valor moral e cognitivo para o produto
esttico. Fenomenologia e arte esto unidas na mesma visada, que olhar o mun-
do pela primeira vez. Mais ainda, esse olhar puro, sem conceito, v o mundo sem
equivalentes subjetivos e objetivos. Que se leia, nesse sentido, o comentrio de
Patrcia Limido-Heulot (2010, p. 5):
Os atos do sentimento e da vontade: a alegria (pelo que ), a tristeza (pelo
que no ), o desejo (pelo que poderia ser), etc., so as tomadas de um par-
tido existencial dos sentimentos. Tal a atitude natural ordinria. Trata-se
de uma posio oposta a da intuio esttica, onde a existncia disto que
aparece no posta como real, mas, entre parnteses.
Em outras palavras, a reduo fenomenolgica aparece espontaneamente
na arte, pois destitui o olhar da obrigao de ver o mundo segundo uma viso
utilitria ou interessada. E isso assim, porque
[...] a atitude esttica, que aboliu todo interesse natural, psicolgico, ou mes-
mo terico, ento inteiramente conduzida para o prazer da apario: um
prazer que deixa a existncia fora de jogo para se consagrar apario, aos
seus modos, ao seu como, logo, uma atitude que se instala na contemplao
sensvel para si e apenas para si [pour lui-mme et pour lui seul]. (LIMIDO-
-HEULOT, 2010, p. 7).
O olhar do artista, assim, opera a reduo fenomenolgica, porque mo-
biliza o sensvel como tal ao aparecer, sem predicao lingustica, como forma de
limite (e de paradoxo).
Se o Poema de Sete Faces conduz o silncio do olhar ao estado mximo,
porque o sensvel contm em si mesmo o estatuto de objeto fenomnico, antes
do conceito. A presena pura das coisas, anterior linguagem, confirma a prerro-
122 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
gativa de que a predicao lingustica corrompe a estrutura do dado. Como afirma
Maurice Blanchot (apud COLLIN, 1971, p. 196):A linguagem, como escritura,
no posio, mas, proposio.. Por essa razo, a reduo fenomenolgica as-
sume, aos olhos de Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepo, a admirao
diante do mundo, isto , o espanto de ver o mundo sem conceito:
A melhor frmula da reduo sem dvida aquela que lhe dava Eugen Fink,
o assistente de Husserl, quando falava de uma admirao diante do mun-
do. A reflexo no se retira do mundo em direo unidade da conscincia
enquanto fundamento do mundo; ela toma distncia para ver brotar os fios
intencionais que nos ligam ao mundo para faz-los aparecer, ela s consci-
ncia do mundo porque o revela como estranho e paradoxal. (MERLEAU-
-PONTY, 1945, p.viii).
Se o Poema de Sete Faces edifica um abismo entre a lngua, que per-
gunta, e olhos, que no perguntam nada (v.13), porque o sensvel possui a
qualidade de ser originrio em face linguagem articulada.10 Ver, sem perguntar,
porque as perguntas nunca acabam, ao passo que o silncio recua ao solo percep-
tivo da presena muda do olhar. No ter palavras significa perder o conceito das
coisas, como a fala articulada o conjunto de signos que constituem a atualidade
da lngua. De fato, a fala conceitua, ao passo que a viso nunca interrompida.
A fala rene, enquanto a viso dispersa. O corao pergunta, mas os olhos no
respondem. Apenas olham.
PERIUS, Cristiano. Three faces of a poem: a reading of the Poema de Sete Faces by Carlos
Drummond de Andrade. Tans/form/ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017.
Abstract: The purpose of this essay is to interpret Carlos Drummond de Andrades Poema de Sete Faces
(Poem of Seven Faces). Phenomenological reduction, ambiguity, and corporeality, among other con-
cepts in the Phenomenology of Perception by Merleau-Ponty, lead and structure a reading based on the
following themes: the left side, the correlation between self and world, and the primacy of perception.
Such a reading brings together the seven part poem and dwivides it into three aspects or fundamental
tensions, taking into consideration the effects of metaphor.
Keywords: Phenomenology. Poetry. Maurice Merleau-Ponty. Carlos Drummond de Andrade.
10
Lembremo-nos de que a fala, segundo a tradio da filosofia, traduzida por lgos, razo discursiva,
e, por isso mesmo, articulada, no sentido de fnica, falada.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 123
PERIUS, C.
Referncias
ANDRADE, C. D. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002.
______. Autobiografia para uma revista. In: ______. Confisso de Minas. So Paulo: Cosac
e Naify, 2011. p. 67-69.
BARBARAS, R. De ltre du phnomne: sur lontologie de Merleau-Ponty. Grenoble: J-
rme Millon, 1991.
______. Le tournant de lexprience. Paris: Vrin, 1998.
BAUDELAIRE, C. As flores do mal. Edio bilnge. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
COLLIN, F. Maurice Blanchot et la question de lcriture. Paris: Gallimard, 1971.
CURY, M. Z. F. Horizontes modernistas: o jovem Drummond e seu grupo em papel jornal.
Belo Horizonte: Autntica, 1998.
DESCARTES, R. Mditations mtaphysiques: objetions et rponses, suivi de quatre lettres.
Traduction de Jean-Marie e Michelle Beyssade. Paris: Flammarion, 1992.
DUCHARME, R. Lavall des avals. Paris: Gallimard, 1966.
ESCOUBAS, E. Art et phnomnologie. Revue La Part de Lil, Bruxelles: Acadmie
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, n. 7, 1991.
KANT, I. Crtica da faculdade do juzo. Traduo de Valrio Rohden e Antonio Marques. 2.
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1995.
LIMIDO-HEULOT, P. Lexprience esthtique, entre feinte intentionnelle et preuve
relle. Bulletin danalyse phnomnologique, v. 7, p. 5, 2010. Disponvel em : <http: //
popups.ulg.ac.be/bap.htm> . Acesso em: 22 jan. 2017.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Phnomnologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
______. loge de la philosophie et autres essais. Paris: Gallimard, 1960. p. 15.
______. Sens et non-sens. Paris: Nagel, 1966.
______. A dvida de Czanne. In: ______. Textos escolhidos. So Paulo: Abril Cultural,
1988. p.113-126.
NIETZSCHE, F. O nascimento da tragdia. Traduo de J. Guinsburg. So Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1992.
NUNES, B. Crivo de papel. 2. ed. So Paulo: tica, 1998.
PERIUS, C. A dobra do corpo e a questo do dualismo. In: GONALVES, A. et al (Org.).
Questes de filosofia contempornea. So Paulo: Discurso Editorial, 2006. p. 107-117.
PRADO JNIOR, B. Poema indito. Folha de S. Paulo, 17 mar. 2000. Caderno Mais.
RICOEUR, P. A metfora viva. Traduo de Dion Davi Macedo. So Paulo: Loyola, 2000.
124 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
Trs Faces de um Poema Artigos / Articles
SANTANNA, A. R. Carlos Drummond de Andrade: anlise da obra. 3. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1980.
______. Drummond: o gauche no tempo. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 1992.
Recebido em 27/07/2016
Aceito em 18/11/2016
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126, Jan./Mar., 2017 125
PERIUS, C.
126 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 109-126 Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
La Emancipacin de Un Cuerpo Sin rganos Puesta a
Prueba: 31 Bienal de So Paulo
Rosa Mara Droguett Abarca1
Resumen: El presente artculo propone que la 31 Bienal de Sao Paulo entraa un afn emancipador
para los sin tierra errantes, migrantes y viajeros. Para ello se conforma como un cuerpo sin
rganos (CsO), que despliega estrategias liberadoras promoviendo: desarticulacin, experimentacin,
vagabundeo y trnsito de sujetos y pueblos. Esta Bienal, en tanto CsO, mueve intensidades como flujos
sensibles por los intersticios de los proyectos artsticos dispuestos en organismo. Ac el CsO es un
conjunto de prcticas reservadas a desterritorializar los estratos del organismo social y hacer estallar
los rganos estructurados en dichos sistemas.
Palabras Clave: Territorio. Emancipacin. Trnsito. Cuerpo. rgano.
1 De Deleuze y Guattari a la Bienal de Sao Paulo
La tendencia al movimiento y a la fuga es un elemento constitutivo de
los imaginarios artsticos en los espacios del arte contemporneo, mbitos que
facilitan la virtualidad de una experiencia esttica, e influyen en la conforma-
cin de naciones en trnsito, en un sentido esttico. En este contexto es que el
presente estudio se basa en una investigacin relativa al problema de la transi-
tividad en los espacios del arte y su relacin con individuos y colectividades de
identidad nmade2, a partir de la 31a Bienal de Sao Paulo, cuya curatora fue
Cmo hablar de las cosas que No existen.
El proyecto curatorial de la 31a Bienal de Sao Paulo expuso una pro-
puesta para los sin tierra, los errantes, los migrantes y los viajeros, que bus-
1 Acadmica del Instituto de Esttica (Facultad de Filosofa) de la Pontificia Universidad Catlica
de Chile. Realiza docencia e investigacin en torno a la esttica, historias del arte y los problemas
contemporneos de los fenmenos museales y paramuseales, organizando un primer coloquio
internacional en torno al tema en Chile (2015). Lidera un equipo de trabajo interdisciplinario en
torno a Museologa, Museografa y Patrimonio junto a la Escuela de Arte (Facultad de Artes) de dicha
Universidad. Su estudio se enmarca en el Doctorado en Filosofa con Mencin en Esttica y Teora
del Arte de la Universidad de Chile, refrendado por estudios de campo y curatoras independientes.
E-mail: rdroguet00@gmail.com
2 A partir de ciertos elementos de una esttica relacional y radicante (BOURRIAUD, 2008) se afirma
la existencia de un individuo nmade, quien conforma naciones estticamente globales y vagabundas.
La nacin es por tanto una forma en movimiento, estticamente hbrida, fluida e inestable. Nicols
Bourriaud en Radicante (2009) lo relaciona ms con artistas y sus obras.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 127
ABARCA, R. M. D.
can cruzar las barreras fsicas, sociales y culturales que los constrie, en la
imagen de un cuerpo orgnico; pero a su vez los moviliz a un extracuerpo
imaginario, inexistente, deseado, incognoscible y liberador. En esta oposicin
este proyecto tiende a un Cuerpo sin rganos (CsO)3, que en tanto proceso
abierto de emancipacin, despliega estrategias liberadoras que consisten en: la
desarticulacin, la experimentacin, el nomadismo, la fuga y los flujos a travs
de vectores y lneas divergentes. Si se han organizado territorios y sus imagi-
narios, su verdadero afn ha sido desterritorializar, esto es, estallar mltiples
posibilidades de experimentacin, participacin e intervencin artstica, social
y poltica. Entonces esta Bienal deviene en un CsO, instalndose e instalan-
do proyectos como rganos detonados (en un organismo dem), buscando
aquella nueva tierra siempre pendiente, abriendo a su vez, zonas de ruptura
y tensin en los estratos mimados (como dira Deleuze), para desvencijar su
poder estructurante y controlador.
En este artculo se pondr a prueba la nocin de CsO, considerando
tres dimensiones de la Bienal de Sao Paulo: la de mapa (imagen e imgenes);
la de una imagen-bienal (imagen global), y la de imgenes-obra (proyectos
artsticos representativos). Por otra parte, en pos de acercarnos al carcter a
la vez problemtico y liberador de este proceso, se establecern dilogos entre
un marco filosfico (la idea de organismo en Bergson y, principalmente, el
CsO planteado por Deleuze), y el marco curatorial: la idea de lo trans con
sus cuatro conceptos eje: conflicto, colectividad-comunidad, imaginacin y
transformacin.
Deleuze retoma de Bergson una operacin metodolgica que resulta
fundamental en la articulacin de su pensamiento y que nos hace sentido
en esta exploracin: para conquistar su forma propiamente ontolgica, la
filosofa ha de abrirse a la experiencia inmediata de lo real, dejando de lado
toda mediacin esquemtica o conceptual. Asimismo, ha de realizar una toma
de contacto con lo real que se aparece de manera directa a la conciencia no
como concepto o esquema, sino como duracin, intensidad y potencia a la
vez una y mltiple que nutre al pensamiento con su propia forma dinmica.
3 La visin de un CsO fue expresada originalmente por el poeta y dramaturgo francs Antonin Artaud
(1896-1948) y luego tomada por Deleuze para indagar filosficamente en sus implicancias desde
la redaccin de su libro Lgica del sentido (1969), y luego en El Anti Edipo (1972) y Mil Mesetas,
Capitalismo y Ezquizofrenia, junto a Flix Guattari (1988). Desde Bergson hasta Deleuze, estas
medidas prcticas del CsO valoran el movimiento (en lneas de fuga), y por lo tanto, el cambio y la
multiplicidad (de lenguajes, de culturas, de miradas). As se busca abrir lneas de tensin y ruptura en
los estratos, siendo cuidadosos al ubicar un Lugar para hacerlo. Tal como lo advirtiera Deleuze, este
Lugar es el de investigador-pasajero clandestino, el cual subyace tanto en la experiencia como a la
reflexin que sustenta este texto.
128 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
Tal como lo expresa Jos Ezcurdia (2013) en relacin a La Evolucin
Creadora (2012 b), la intuicin que para Bergson marcha en el mismo sentido
que la vida, est en el centro de la filosofa, ya que es el origen de los datos que la
razn ordena en un mapa conceptual determinado (2012b). Por una parte, para
l la intuicin filosfica, en tanto conciencia que aprehende inmediatamente la
forma de lo real, sigue una va sustractiva, una va de negacin, que va en pos
de la intuicin simple, buscando esa imagen mediadora que pueda traducirla.
Segn lo anterior, en esta exploracin nos acercaremos a una intuicin
que se despliega bajo la dermis4 de la Bienal, para lo cual se examinar la
imbricacin entre la simplicidad de la intuicin concreta e inmediata y la
complejidad de las abstracciones, considerando que [] lo que llegaremos
a aprehender y a fijar es una cierta imagen intermedia entre la simplicidad de
la intuicin concreta y la complejidad de las abstracciones que la traducen,
imagen fugaz y evanescente. (BERGSON, 1963, regln 120).
El pasajero clandestino deviene en intrprete de otros pensamientos,
de ese maestro y de los maestros del equipo curatorial, de los artistas y su
objetivo esttico, de los creadores annimos en un tejido heterogneo y
creador; la imagen mediadora ser pivote de la reflexin y bisagra de la
intuicin ante la Bienal en sus mltiples apariciones, campos y promesas. No
podemos olvidar la clsica Introduccin de Materia y Memoria de Bergson
(2013b), cuando el filsofo francs comienza hacindonos la advertencia que
entender la imagen es anterior a cualquier construccin terica. Seguiremos
en camino de la imagen.
La imagen y la sensacin deben ser pensadas, siguiendo a Deleuze, en
tanto rizoma, pliegue y meseta; unidad anterior a cualquier tipo de rgano, es
decir, previo a cualquier organismo. Nos acercamos al organismo bergsoniano,
como aquella tierra deseada y prometida, que se busca desterritorializar o
fragmentar, en pos de la emancipacin propia de un CsO. Como lo aclara
Deleuze, el CsO no es contrario a los rganos de hecho posee rganos
verdaderos pues el adversario es el organismo en tanto organizacin
orgnica de los rganos (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 163), e implicar
desmembramiento tras flujos intensos mediados por la sensacin, como un
[] un rgano indeterminado, mientras que el organismo se define por
rganos determinados (DELEUZE, 1989, p. 53-54).
El CsO, entonces, no es ms que un conjunto de prcticas reservadas
4 Hay una dermis que contiene y ordena la Bienal como un organismo; empero, es preciso fugarse de
este campo organizado para llegar a una nueva tierra, libre de los puntos de subjetivacin que fijan
a un estrato. Esta tierra prometida para los exiliados, los nmades, los fuera de deber conformarse
en alteracin y transitividad, necesitando de la errancia, la migracin y la huida permanente.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 129
ABARCA, R. M. D.
a desterritorializar aquella tierra estratificada, hacer estallar rganos
estructurados en sistemas desmembrando el organismo, incomodando el cuerpo
al extremo, para lograr finalmente desprenderse de su orden y estabilidad. La
estrategia supone dos fases, una para su fabricacin y otra para hacer circular
o pasar algo, desde la intensidad de la sensacin. El plan de consistencia, en
tanto conjunto eventual de los CsO, insta al despliegue y la experimentacin
de mltiple estratos, encajados unos en otros. As se desarrolla una batalla que
lo libera, atravesando y desbaratando capas y superficies de estratificacin que
lo bloquean y lo repliegan (DELEUZE; GUATTARI, 2008).
Por otra parte, desde Deleuze y en tensin con Bergson podemos
entender el organismo como el juicio de Dios sistematizado; juicio que ejerce
peso y control, y amalgama los rganos en un organismo: as los arranca de su
inmanencia.
En Cmo hacerse un cuerpo sin rganos? (2008), Deleuze y Guattari
ponen un ejemplo de Historias de poder de Carlos Castaneda, donde el autor
establece la diferencia entre lo tonal y lo nagual, definindolos de la siguiente
forma. Tonal es el organismo, lo organizado y organizador; la significancia, lo
susceptible de explicacin, lo memorable; el Yo, el sujeto; es el juicio de Dios.
Sin embargo, bajo esa apariencia totalizadora, es una isla. Nagual, en cambio,
es lo que deshace los estratos; no explica ni interpreta sueos o fantasmas; y no
concibe recuerdos de infancia para recordar, sino colores y sonidos, devenires
e intensidades. No es un Yo, sino [] una bruma brillante, un vaho amarillo
e inquietante [] que tiene afectos y experimenta movimientos, velocidades.
(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 166-167).
En esta oposicin lo tonal, sin embargo, no se puede destruir de golpe,
porque [] un nagual que irrumpiera, que destruyera lo tonal, un cuerpo
sin rganos que rompiese todos los estratos, se convertira inmediatamente
en cuerpo de nada, autodestruccin pura sin otra salida que la muerte
(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 166-167), y de una catstrofe as no
podra existir ningn tipo de liberacin del cuerpo individual y social de
corpus y socius.
En el curso de lo nagual, el CsO se pone en marcha, como diran
Deleuze y Guattari (2008), en aquel Lugar, Plan, Colectivo, agenciando
elementos, cosas, vegetales, animales, herramientas, hombres, fragmentos,
proyectos, obras dentro y fuera. En clave de la 31a Bienal nos acercamos a las
sensaciones intensas de la curatora sin evitar nada; lo nagual gua la relacin
activa entre el pasajero clandestino y los proyectos artsticos, espacios y
devenires. Lo nagual deshace estratos para crear otros y dejar el camino para
nuevas destrucciones-reconstrucciones. Esto ltimo ha ocurrido en lo que
130 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
llamamos las dimensiones corporales de la bienal: su imagen global como
cuerpo y las imgenes obras como rganos reventados del organismo-Bienal,
en tanto promesa y bsqueda de un proceso liberador.
Siendo fundamental el uso de la prudencia, recordemos que el CsO
se bambolea entre las superficies que lo estratifican y el plan que lo libera.
Entonces cmo emanciparlo? Los tres grandes estratos que nos atan ms
directamente (y que se relacionan con nosotros) son: el organismo (organizado
o depravado), la significancia (significante-significado, o desviado) y la
subjetivacin (punto de subjetivacin o sujecin, del sujeto o el vagabundo).
Frente a estos obstculos para la liberacin, el CsO opone la desarticulacin,
la experimentacin (nada significante, no interpretes jams!) y el nomadismo
como movimiento (tema relevante en el fenmeno que estudiamos).
Las lneas de fuga (desde dentro hacia afuera y en todas direcciones)
podrn desarticular el organismo y abrirse a las rupturas que la emancipacin
del cuerpo necesita. La palabra es alteracin, alloiosis. Siguiendo a Miguel Ruiz
Stull (2011), si entendemos el cuerpo como un sistema relativamente cerrado,
este posee dos dimensiones reales: [] la continuidad moviente en el todo y
el continuo cambio de forma en el interior del cuerpo viviente con que toda
vez se entrecruza formando su propio campo. (DELEUZE; GUATTARI,
2008, p. 143). Es as como un CsO, tal como el cuerpo viviente, es cambio.
En esta Bienal el CsO se pone en movimiento, lo que se expresa en
el trayecto de los migrantes, los exiliados, los sin tierra. Pero anterior a los
estratos por desmembrar, est la potencia centrfuga de vectores, entradas,
salidas y viajes.
2 Una nueva tierra en la 31 Bienal?
Pensemos el proyecto curatorial de la 31 Bienal anclado de forma
explcita en la idea de viaje como organismo. Este incita a los pasajeros a una
experiencia que supone lneas de fuga: al recorrer la muestra, al descubrir los
vectores que de un proyecto artstico se lanza a otro, hacia arriba o abajo,
hacia afuera y muy lejos del pabelln que lo ordena. Esta muestra, que si bien
posee una cartografa museogrfica estipulada (entendmosla como un plan
de organizacin espacial, con fines simblicos), desde el interior remite a
muchos exteriores que deben ser discernidos bajo riesgo de los errantes. No
es moverse, es lanzarse.
La Bienal de Sao Paulo se ha constituido como un evento de intercambio
artstico, pero ante todo de cuestionamiento terico en torno a las prcticas
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 131
ABARCA, R. M. D.
curatoriales, al problema del espacio-tiempo en los mbitos de visibilizacin
de las artes, al asunto del estatuto de la obra de arte, y al papel de creador-
conformador de los mismos curadores, artistas, ciudadanos paulistanos y
pblico general asistente.
La propuesta de la 31 Bienal es Cmo hablar de las cosas que No
existen, la que invoca de forma potica la capacidad del arte para reflexionar y
actuar sobre la vida, el poder y la creencia. Tambin alude a la idea de viaje en
sus diversas lecturas y a la Bienal como proceso de intercambio y receptculo
de proyectos ms que de obras , con el objetivo de tener una incidencia
en la situacin cultural y social de Brasil, ms all del contexto artstico5.
Para la instancia se trabaj desde el principio en un cuerpo colectivo, lo cual
es coherente con nuestra precaria contemporaneidad cultural. Es as como
surgieron conceptos que fueron pivotes en la construccin de la propuesta:
conflicto, colectividad, imaginacin, y transformacin, con la transversalidad
de lo trans.
En la ocasin se expusieron diferentes maneras de generar conflicto,
por lo que muchos de los proyectos estn basados en enfrentamientos sin
resolver: entre diferentes grupos, entre versiones contradictorias de una misma
historia, o entre los ideales incompatibles6. En paralelo, la imaginacin es
vista como una herramienta para ir ms all de nuestra situacin actual y
para transformarla. En su mejor momento, el arte es una fuerza disruptiva, y
en la medida en que permite diferentes maneras de imaginar el mundo, crea
situaciones en que lo rechazado puede ser aceptado y apreciado. A su vez, la
transformacin entonces se puede entender como una manera de lograr un
cambio en el rendimiento de la transgresin, la transmutacin, el transgnero,
el trnsito, la transexualidad, el transporte, la transmisin, el trastorno, entre
otros7. Estas palabras ofrecen caminos para acercarse a esas cosas que no
existen, o que no pueden existir bajo miradas convergentes y hegemnicas.
5 El ttulo ha sido establecido por el equipo de curadores Charles Esche, Galit Eliat, Nuria Enguita
Mayo, Pablo Lafuente y Oren Sagiv, y por los curadores asociados Benjamin Seroussi y Luiza Proenca
y se trata de una llamada potica que coloca la potencia del arte en el centro del proyecto.
6 La dinmica que generan estos conflictos apunta a la necesidad de pensar y actuar de manera
colectiva, ms potente y enriquecedora que la lgica individualista que se impone. Con un 70% de
trabajos producidos para la ocasin, la Bienal se hace eco del desmoronamiento de las estructuras
piramidales y de la consiguiente voz renovada de las antiguas minoras, cuya forma de ver el mundo no
solo se legitima sino que se torna predominante.
7 En Primeras lneas de orientacin curatorial se plantea un escenario de incertezas del cual[] proviene
el inters de la curatora por el concepto de vuelta (*en el sentido de dar vuelta) como fenmeno
y de trans- como concepto. Ambos sugieren que hay un cambio ocurriendo en el nivel social, sin
objetivos de mayor alcance todava. Esas transformaciones probablemente son irreversibles [...] pero
suceden sin una direccin clara. Son desordenadas, o incluso deshonestas y estratgicas. No operan va
132 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
Figura 1: Vista de Mapa, del artista Qiu Zhijie, en la apertura de la 31a Bienal de Arte de Sao Paulo.
Fuente: http://www.notitarde.com/Cultura/Bienal-de-Arte-de-Sao-Paulo-abre-en-medio-de-
polemica-por-conflicto-palestino-FOTOS/2014/09/05/351329.
La Bienal se presenta como un cuerpo vivo, disponible a ser recorrido,
redescubierto y refundado. Dentro del Pabelln se dispusieron tres mapas de
cosas que no existen; en tanto declaracin de principios cartogrfica, que
invitan al visitante a crear una cartografa propia, tejida de imgenes, ideas,
culturas, urgencias, denuncias y tiempos.
La que llamaremos imagen de imgenes es la obra Mapa del artista
chino Qiu Zhijie. El artista, quien piensa que a travs de los mapas lo
desconocido se hace visible y comprensible, los elabora en base a vnculos
mutuos entre clulas conceptuales, las que dan vida a grandes tapices de
naturaleza narrativa.8 Esta serie de mapas grafica la ficcin cartogrfica de
una tensin geopoltica: las relaciones de intercambio cultural entre el Este
y el Oeste, lo cual permite advertir la cercana a un CsO con objetivos
micropolticos. A modo delueziano, estaramos ante lneas de segmentariedad
flexible o molecular, con sus microformaciones de actitudes y percepciones9
representaciones y estructuras legtimas [...], proponiendo en los trans una operacin emancipatoria
trans-gresora. (Capturado el 12 de marzo del 2014, 1:15 am, http://bienal.org.br/post.php?i=424).
8
Qiu Zhijie dise para la 31 Bienal, un mapa a gran escala que acta como un prlogo para el viaje
a travs de la exposicin, basado en ideas curatoriales, y sus propias reflexiones.
9 Se habla de dos segmentaridades rgida y flexible, o molar y molecular, donde Toda sociedad,
sino tambin cualquier individuo, es atravesado por dos segmentaridades al mismo tiempo: una
molar y otra molecular Siempre una presupone la otra. En resumen, todo es poltico, adems
toda poltica es al mismo tiempo macropoltca y micropoltica (DELEUZE; GUATTARI, 1996,
p. 90; en HAESBAERT, 2004). Lo molecular referido que se constituyen en devenires y refieren a
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 133
ABARCA, R. M. D.
[] en la medida en que los movimientos moleculares ya no logran
perfeccionar, sino combatir y socavar la gran organizacin mundial. Es lo
que deca el presidente Giscard dEstaing en su leccin de geografa poltica
y militar: cuanto ms se equilibran las cosas entre el Este y el Oeste, en una
mquina dual, sobrecodificante y supermilitarizada, ms se desestabilizan
en la otra lnea, del Norte al Sur. (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 220).
La primera cartografa, siguiendo a Deleuze y Guattari, instala la clave del
cuerpo como referente problemtico, cuerpo cultural conformado (organismo)
y desmembrado a la vez, vehculo de la trashumancia de individuos y colectivos
(CsO). Un cuerpo como proceso y problema, un cuerpo de cuerpos fuera
de territorio. En este sentido el trabajo de Qiu forma parte del entramado
cartogrfico de lneas de errancia: estamos ante un cuerpo que se nos aparece como
desterritorializaciones o reterritorializaciones de cosas que no existen; lo que nos
lleva a la detonacin a la lgica geopoltica, terica, histrica y filosfica.
Cmo se identificarn las imgenes? La experiencia sensible de la Bienal
asume la imagen de un cuerpo, como se atisba en la cartografa de Qiu Zhijie,
pero a modo de lneas de errancia, entendido por Deleuze y Guattari en Mil
Mesetas.10 Esta se compone de distintos territorios con carga semntica, frente a lo
cual proponemos los siguientes sintagmas corporales: piel, trax-corazn, cabeza
y extremidades considerando que el interior se encuentra contenido por la piel
del edificio. Descubrimos este cuerpo en segmentos, y desde esta condicin
ponemos a prueba la alteracin y ruptura de lo trans. En este sentido es preciso
hacer un esquizoanlisis, que [] no tiene por objeto elementos ni conjuntos,
ni sujetos, relaciones y estructuras. Tiene por objeto lineamientos, que atraviesan
tanto a grupos como a individuos. (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 207).
Piel. Primero reparamos en una piel semitransparente de los ventanales
intervenidos con obras, que provocan vrtigo del lmite y ms all; borde y
proyectil al mismo tiempo. Observamos dos proyectos. El primero es Mohino
Vivo, referencia a un trabajo de taller entre artistas y al movimiento de Vida
intensidades (no a organizaciones ni a lneas estables y definidas como lo molar); considera el detalle
en las vicisitudes de pequeos grupos (sectas, bandas, pueblos, barrios, familias). En el captulo
Micropoltica y Segmentariedad, de Mil Mesetas, se distingue lo molar de lo molecular, lo cual no
resta que se potencien incluso que coincidan (DELEUZE; GUATTARI, 2008).
10
El trabajo de Zhijie ensambla con un entramado cartogrfico de lneas de fuga expuesto por Deleuze
en Mil Mesetas: Individuos o grupos, estamos atravesados por lneas, meridianos, geodsicas, trpicos,
husos que no marcan el mismo ritmo y que no tienen la misma naturaleza. Lneas que nos componen,
nosotros hablamos de tres tipos de lneas. O ms bien paquetes de lneas, puesto que cada tipo es
mltiple. Lneas de fuga de animales diferentes [] tambin hay mapas de percepciones, mapas de
gestos [], con gestos habituales y gestos de errancia (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 206- 207).
134 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
Molino11, ocurrido fuera del espacio de exposicin, en colaboracin con la Favela
Mill. Este ha sido un intento de explorar el arte en su capacidad de interferir en
diferentes contextos. La 31 Bienal refiere a la visibilidad, la autodefinicin y la
agencia para el arte y la cultura, as como la posibilidad de solidarizacin entre los
diferentes tipos de estratos culturales. El segundo proyecto de este tipo se ubic en
el otro borde del pabelln: Wall work workshop, del artista rumano Dan Perjovschi.
En este se critica la llamada occidentalizacin pos comunismo, y se refiere a
la formacin de identidades nmades. Enfatiza los contrastes que esto supone
entre algunas personas, por ejemplo, que pueden viajar por todo el mundo y las
que sufren de movilidad obstaculizada, como sucede a los trabajadores migrantes.
Figuras 2 y 3: Vistas de la obra Wall work workshop, del artista Dan Perjovschi.
Fuente: http://www.31bienal.org.br/en/post/1365.
11
Se han tratado de talleres culturales y educativos entre septiembre y noviembre de 2014, cuyos
productos han quedado adheridos a la piel del Pabelln.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 135
ABARCA, R. M. D.
Trax - corazn. Trans Amricas del artista chileno Juan Downey (1940-
1993) es el articulador de la muestra. El trabajo de Downey instala la posibilidad
y el sentido de los trnsitos dentro de la exposicin. El artista realiz muchos viajes
por Amrica Latina en busca de una arquitectura invisible. Busc el sentido del
viaje ritual, las espirales, el reencuentro o desencuentro entre personas y entre
culturas, el ms all de las migraciones y las buenas o malas experiencias de no ser
de aqu ni de all; todo esto se convirti en la reflexin visual y audiovisual de la
jornada misma. Desterritorializacin de un organismo geopoltico, de esa regin
cultural llamada Latinoamrica? 12
Figura 4: Mapa de Amrica, del artista Juan Downey
Fuente: https://www.artnexus.com/Notice_View.aspx?DocumentID=24379&lan=es&x=1.
12
De acuerdo con Deleuze, tanto los individuos como los grupos estn constituidos por lneas de diversa
naturalezatal como se menciona en la bajada, citando a Mil Mesetas; se distinguen tres que nos atraviesan
y componen: dos lneas de segmentariedad : molar (rgida) y molecular (flexible), y las lneas de fuga
o de desterritorializacin. Estas ltimas no son segmentarias; caracterizan a las sociedades pues en ellas
prima la intencionalidady la huda, es decir, impredeciblemente se trazan, componen, cruzan y mueven
afectndolas (DELEUZE; GUATTARI, 2008).
136 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
El video Trans Amricas es el proyecto ms ambicioso de Downey. Combina
aspectos de la antropologa visual y la poesa, logrando capturar la situacin de
abandono en el que algunas comunidades vivan, pero tambin la diversidad y
complejidad de sus tradiciones. Es aqu donde la errancia de Downey asume un
compromiso poltico y articula la mayor parte de las obras, pues esta zona propone
una reflexin en torno a la situacin de vulnerabilidad en la que se encuentran
muchas comunidades indgenas de Amrica Latina.
En esta zona del Pabelln se busca desmoronar una capa invisibilizadora
de otras comunidades, como se observa en trabajos como Ym Nhandehetama (En
el pasado ramos muchos), de Armando Queiroz con Almires Martins y Marcelo
Rodrigues. Esta consiste en el testimonio de un hombre guaran (el grupo indgena
ms grande en Brasil) que narra la situacin de exclusin que su comunidad
vive cotidianamente y cmo las personas indgenas son invisibles para el Estado
brasileo. Tambin se encuentra Martirio, de Thiago Martins de Melo, una
instalacin compuesta por varias esculturas y dos leos gigantes que reproducen el
imaginario barroco catlico para retratar a treinta personas indgenas, activistas,
abogados y sacerdotes que murieron en la lucha contra la deforestacin de
madereros.
Cabeza. En la cspide del Pabelln, y a modo de vuelo de la imaginacin
y despliegue de imgenes mediadoras del mundo real, se ubic el proyecto
Invention, del artista canadiense Mark Lewis.
Esta es una instalacin a gran escala que se basa en una suposicin ficticia
y simple, pero muy sugerente: la existencia de un mundo paralelo (que no existe),
gracias a las tecnologas de la imagen en movimiento. El proyecto nos lleva a
especular sobre cmo habramos mirado las imgenes si no existieran el cine, la
televisin y otras plataformas en lnea. Nos preguntamos entonces puede una
imagen-movimiento devenir en un CsO?
Figura 5: Invention, del artista Mark Lewis. Fuente: Invention, del artista Mark Lewis
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 137
ABARCA, R. M. D.
Fuente: http://www.art-agenda.com/reviews/%E2%80%9Chow-to-talk-about-things-that-
don%E2%80%99t-exist%E2%80%9D/.
Esa investigacin se hace presencia visible de un mundo otro: el
mundo de la imagen inventada para hacernos pensar el lmite entre la ficcin
dominante y consensuada de la realidad (segmentarizadas), y las opiniones y
utopas, que engaa y seduce a su vez a un espectador en vas de emancipacin.
Aquellos lugares quedan suspendidos en el tiempo y en el espacio, y son
reinventados, reterritorializados y desterritorializados permitiendo el flujo
intenso de la inmanencia de lo trascendental, pues [] cuando se
abre el mundo hormigueante de las singularidades annimas y nmadas,
impersonales, preindividuales, asaltamos por fin el campo de lo trascendental.
(DELEUZE, 1989, p. 124-125). Un CsO que estira sus vectores, experimenta
con las sensaciones de realidad y rompe las lgicas del espacio-tiempo.
Extremidades. Obras que por su ubicacin y naturaleza (en tensin y
relacin con Downey como centro), nos remiten a un movimiento centrfugo
y divergente. Vectores de problemas y referentes que, tal como pies y manos,
brazos y piernas, actan o instan a actuar; se hacen cargo de una contingencia
o testimonian una emergencia. Estas extremidades ponen en evidencia huidas,
gritos, protestas, o migraciones individuales y sociales, en el sentido de que
[] en las lneas de fuga se inventan armas nuevas, para oponerlas a las
pesadas armas de Estado. (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 208).
Brazos y manos. Loomshuttles, Warpaths de Ins Doujak y John Barker
reflexiona sobre el lugar que ocupamos en el mundo, cuando nuestra cultura
entra en tensin con el entorno internacional. Lo hace por medio de un video,
una instalacin y una coleccin de afiches, que refieren a la manufactura
textil y a la confeccin de la moda, con un llamado a descubrir la propia
identidad, como un acto social y de posicionamiento poltico, desmantelando
y desterritorializando las expectativas de los dems.
Ins Doujak y John Barker exploran la dimensin problemtica del
comercio cultural: efectos polticos, derechos econmicos, sociales y culturales
de los procesos de colonizacin y poscolonizacin entre otros.
Manos. En la obra Historias de Aprendizaje la artista chilena Voluspa
Jarpa expuso la tachadura y desclasificacin de diversos documentos secretos
vinculados a la represin en Latinoamrica: los de la Central Intelligence
Agency (CIA) de la ltima dictadura en Brasil (1964-1985), desclasificados
hace unos aos por el gobierno de Estados Unidos; y los documentos del
servicio secreto brasileo producidos durante los mandatos de Getlio Vargas
(1951-1954) y Joo Goulart (1961-1964).
138 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
Piernas y pies. Detrs de la obra The Incidental Insurgents de Basel
Abbas y Ruanne Abou-Rahme se observan referentes simblicos de una huida
imposible, en crculos, cual eterno retorno. Por otra parte en El Dorado de
Danica Dakic se arma un relato donde un grupo de adolescentes inmigrantes y
refugiados viven temporalmente en una calle de Giessbergstrasse de la ciudad
de Kassel, Alemania. Expresan sus trayectorias, expectativas y deseos de una
tierra y un hogar, utilizando como fondo de pantalla panormica de El Dorado
(1849) de la coleccin alemana de wallpaper, con una exhuberante flora y
fauna.
El arma es, justamente, la instalacin de la fuga a la otra tierra
poniendo de manifiesto irnicamente un fuera de territorio , Recordando
el peligro de que sus lneas son realidades; algo muy peligroso para las sociedades,
aunque no puedan prescindir de ellas, y hasta en ocasiones las manipulen (Tres
novelas cortas, o Qu ha pasado? En: DELEUZE; GUATTARI, 2008, p.
208).
En este marco nos preguntamos: puede la curatora de la 31 Bienal
cumplir su promesa denunciante y liberadora? Se desterritorializa en pos de
esa nueva tierra? Es posible esa nueva tierra de estratos abiertos?
Figura 6: Panormica de la obra Worlds That Are on This One del artista Tony Chakar.
Fuente: http://www.leedor.com/contenidos/especiales/gestion/bienales/tony-chakar-en-la-31bienal-
of-other-worlds-that-are-on-this-one.
Se ponen a prueba el fin emancipador, la accin de armas, las
detonaciones y fugas; solo cuando examinamos lo que hay tras las capas
de la Bienal, o sentimos el flujo rebelde de sus rganos y sistemas, es decir,
cuando reparamos el entramado vivo de los proyectos como territorios de
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 139
ABARCA, R. M. D.
visibilizacin.
Of Other Worlds That Are on This One del artista, arquitecto y escritor
libans Tony Chakar nos lleva a una extraeza de naturaleza metafsica y
mstica para que nos cuestionamos la realidad de ese otro mundo en este, y
el sentido de lo que somos en tanto individuos y colectivos. Nuestro contexto
es el de un devenir histrico en el seducen promesas y bsquedas superiores,
las que se cruzan con discursos y tecnologa. En esta obra examina imgenes
observadas a travs de las redes sociales, siendo su trasfondo las revoluciones
rabes y los diferentes movimientos de ocupacin en el mundo entero.
En Of Other Worlds That Are on This One hay una estratgica violencia
contra elorganismo conformada de dos mundos: uno se compone de las
imgenes que por lo general incluyen personas, tomadas por Chakar con
su telfono mvil; el otro mundo surge del ordenador y un programa de
reconocimiento facial, el cual distingue entidades objetuales y no las personas
registradas. Cuando se le pregunta al artista qu mundo muestra, responde:
el trabajo no muestra otro mundo, pero apunta a la posibilidad de encontrar
otro mundo en l.
Figura 7: One Hundred Thousand Solitudes, del artista Tony Chakar.
Fuente: http://www.31bienal.org.br/en/post/1516.
140 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
Con otra parte de la obra de Ckakar: One Hundred Thousand Solitudes,
se produce una interrelacin pertinente, pues estas imgenes manifiestan entre
pliegues una
[] declaracin de la venida de los tiempos mesinicos - sin el Mesas:
los muertos podrn volver a la vida, convirtiendo ros en sangre, la gente
hablar en lenguas [] ocurrir la inversin de la historia [] Una bomba
nmade. Esto disloca an ms la presencia corporal del primer plano: los
rostros tocan intensamente nuestra sensacin desde el extraamiento: cmo
salvamos-liberamos este cuerpo sin cuerpo? Deleuze se pregunta: No hay
adems otra va por la que la imagen-afeccin podra salvarse, deshacindose
de su propio lmite? (DELEUZE, 1984, p. 149).
En esta lnea podemos aprehender la operacin de Chakar que no
suprime los rostros, sino que los anula en tanto organismo, haciendo que sus
movimientos intensivos [] tracen lneas de fuga, justo lo suficiente para
abrir en el espacio una dimensin de otro orden favorable a estas composiciones
de afectos. Es decir, el afecto no culmina en el borramiento de los rostros en
la nada, sino desviarlo hacia lo abierto, hacia lo vivo (DELEUZE, 1984,
p. 150).
Figura 8: The Incidental Insurgents, de los artistas Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme.
Fuente: http://www.ibraaz.org/projects/52.
Otro proyecto que se mueve tras la posibilidad e imposibilidad de
promesas liberadoras es The Incidental Insurgents de Basel Abbas y Ruanne
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 141
ABARCA, R. M. D.
Abou-Rahme. A travs de textos, objetos, performances, sonidos y videos,
artistas palestinos proponen entornos de inmersin y creaciones multimediales.
Abren forados en los estratos de mltiples historias: sus obsesiones, las nuestras,
las del mundo asitico y las que no existen.
Figura 9: The Incidental Insurgents, de los artistas Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme.
Fuente: http://www.ibraaz.org/projects/52.
Esta historia de ficcin del video puede llegar a ser la del pasajero
clandestino, segn sea contada y recibida: la narrativa puede entrelazarse con
nosotros, activar recuerdos y experiencias que cuestionan la subjetivacin de
la cual pendemos, hacindose patente la necesidad o la imposibilidad de la
utopa. Se abre la posibilidad de actuar, narrar, rehacer la historia que nos da
la espalda o a la cual nosotros como ellos le damos la espalda.
La bsqueda comienza con tres coordenadas con las cuales se hace,
cual montaje desarticulado de sentido, una nueva historia, comprometida
de forma vital y poltica. Esta es la vida anarquista del precoz Victor Serge y
sus bandidos contemporneos en el Pars de la dcada de 1910; Abu Jilda y
la pandilla de Armeet, formada por malhechores de una rebelin contra los
britnicos en Palestina de 1930; y el artista como bandido por excelencia,
segn la novela de Roberto Bolao Los detectives salvajes, ambientada en
Mxico de 1970. Desde este espacio micropoltico se rompe el estrato y
se pone en jaque el orden establecido; ya que las referencias utilizadas en
la composicin de la obra evocan el carcter del proscrito: un individuo
142 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
rebelde y marginal que a menudo se entiende como un criminal.
En The Incidental Insurgents se hace presente la tensin entre la
segmentacin molar (lnea rgida asociable a la organizacin -el organismo-
y as a controles macropolticos de grandes bloques) y la segmentacin
molecular (en tanto lnea flexible y errtica de microformaciones sociales,
cuyas actitudes y percepciones singulares y dinmicas, se encuentran
dispuestas a las operaciones micropolticas). En esta obra, el CsO expone
dos molaridades, en pos de la desterritorializacin y resistiendo la rigidez de
un conflicto: el Este: Asia-Palestina y el Oeste: Europa-Amrica, en lo que
Deleuze advierte como una fisura en zig-zag que cruza los segmentos con
lneas de fuga que resisten a la centralizacin y tienden a la alteracin social.
Pues [] siempre hay un palestino, pero tambin un vasco, un corso,
para provocar una desestabilizacin regional de la seguridad. (DELEUZE;
GUATTARI, 2008, p. 220).
Los protagonistas del video, rebeldes e idealistas al margen de
un relato oficial, hacen una aparicin de suyo metonmica: ellos son los
pasajeros clandestinos, los viajeros sin rumbo, los errantes contemporneos
que buscan la tierra prometida y una luz (en el video: Oh, qu alivio para
llegar a luz, aun siendo penumbra, qu alivio oscuro para llegar donde est
ms claro), pero sin un Mesas, como lo anuncia Tony Chakar. El objetivo
que se declara es emancipatorio, que es el de mantener los mrgenes de la
ideologa dominante.
Ms all de la tachadura de la historia, de la distopa y la muerte de
las esperanzas, en la inestabilidad productiva de un CsO, [] estamos
donde no podramos dejar de estar dice el video. Queda entonces []
la impotencia de la accin y la bsqueda del acto potico, [] as se
presentan los profundos movimientos que sacuden una sociedad, aunque
sean necesariamente representados como un enfrentamiento entre segmentos
molares. (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p 220).13
13
Es preciso completar la cita, con la voz de Deleuze:Como consecuencia, los dos grandes conjuntos
molares, al Este y al Oeste, estn constantemente trabajados por una segmentacin molecular, con fisura
en zig-zag, que hace que tengan dificultad para retener sus propios segmentos. Como si constantemente
una lnea de fuga [] fluyese entre los segmentos y escapase a su centralizacin, eludiese su totalizacin.
(DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 220).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 143
ABARCA, R. M. D.
Figuras 10 y 11: The Incidental Insurgents, de los artistas Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme.
Fuente: http://www.ibraaz.org/projects/52.
3 31 Bienal: CsO emancipacin y desterritorializacin?
La 31 Bienal como un CsO ocurre tras un proceso abierto de
emancipacin. Es preciso recoger ciertos aspectos en el despliegue de las
estrategias liberadoras, a partir de la base filosfica y su dilogo con los
proyectos de esta curatora. Fundamental ha sido el devenir y el trnsito activo
del pasajero clandestino; su lugar ha puesto a prueba los supuestos.
Organismo: segn lo entiende Bergson, est en batalla con el CsO de
144 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
la Bienal. Este es la base de la curatora misma. Por eso la guerra ha sido, en
trminos especulativos, muy eficaz. Cada rgano (zona marcada semntica y
estructuralmente por los conceptos ejes y los cuatro sintagmas corporales que
se han levantado post investigacin de campo) y su funcin (reivindicacin o
visibilizacin de los diversos trans: transformacin, transgresin, transgnero,
trnsito) han tenido dos comportamientos: por una parte, se ha visto
sometido a las explosiones de ciertas obras, a la ruptura de los estratos y a
las lneas de fuga, gracias al desplazamiento y experiencia sensible de los
mismos pasajeros clandestinos. Por otra parte, se ha rearticulado junto otros,
seducido por la promesa salvfica de ese Mesas prometedor, que est y no est,
o por esa tierra, territorio seguro, estable, cerrado, solo para rearmarse.
CsO desde lo molar. Se observa que el CsO en esta Bienal posee
una estrategia fundamental para vrselas con su enemigo: el organismo, y
liberar el cuerpo individual y colectivo, que es lo molar, es decir la instalacin
y la explosin de lneas de fuga en los estratos para desbaratar el orden del
organismo curatorial desde operaciones artsticas micropolticas. Es as que la
ruptura de las tensiones de los bloques moleculares, como Este-Oeste, Norte-
Sur, se produce cuidadosamente en los proyectos y entre ellos, as como por los
pliegues de Cmo hablar de cosas que no existen. En esta mirada de la bienal,
la segmentariedad flexible, es una operacin poltica eficaz a pequea escala
(o bien poltica antinstitucional) que tiende a disminuir la importancia de lo
macropoltico, pues su tendencia orgnica solo lo lleva al anquilosamiento y
as a la perpetuacin de las divisiones y los conflictos. Se encuentran ausentes
las naciones, los grandes poderes, las macrointervenciones del arte, y las pautas
a errantes o excluidos: ellos mismos quedan expuestos y as liberados de la
invisibilidad y el exilio absoluto de las historias. Es la emancipacin de esos
individuos que migran, de aquellos con nombre, rostro, y huella que vagan en
busca de algo, y de los viajeros singulares en busca de libertad.
Es as como la incomodidad sociopoltica de los ncleos moleculares y
su tendencia, como grupos singulares, al movimiento y al cambio, no tienen
por qu corresponder a un pensamiento que solo es capaz de imaginar fugas
radicales, del capital, del Estado y de la hegemona de los espacios del arte,
teniendo como nica perspectiva catastrfica su absoluta reterritorializacin
final (, en otras palabras, su destruccin total).
Proyecto reterritorializado y emancipado. Adems de los proyectos
analizados, hay uno en especial en este marco que, desde una marginalidad
espacial, muestra el impacto de la alteracin silenciosa y eficaz cuando se
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 145
ABARCA, R. M. D.
busca intensamente esa nueva tierra. Se trata de Histrias ao p do baob.
El colectivo brasileo Contrafil de arte, poltica y educacin, y el Campus-
Campamentos, desarrollan un programa educativo experimental en conjunto
con el campamento Deheishe de refugiados en Beln. Ambos grupos
comparten un inters liberador: la descolonizacin de pensamiento y la
construccin de un dilogo Norte-Sur. Esto permite el intercambio directo
de sus emergencias, entre las cuales figuran una fuerte relacin con la tierra,
el exilio y la experiencia comn. El punto de encuentro son las historias que
se cuentan de estos pueblos que participan del cultivo baobab. Con este rbol
milenario se vinculan quilombos brasileiros y campos de refugiados palestinos;
con el fin de que la colectividad exiliada logre un arraigo profundo al territorio,
para crecer y desarrollarse, pero desterritorializndose y re-territorializndose.
Sobre la trama de imgenes mediadoras y el afn emancipatorio.
El CsO se imbrica desde lo trans, con los conceptos eje de la Bienal; desde
esa vitalidad y alteracin abismante interpela al pasajero clandestino de un
devenir inmvil; l se suma a la muchedumbre de los nmades tras una
deseada transformacin. Pero esto ha sido realmente posible?
El motor de este cuerpo cartogrfico que es la Bienal es la transformacin.
Y as nos encontramos con la imagen de interrelaciones entre comunidades,
sujetos y conflictos lejanos que se reconocen familiares. Esos dispositivos
extraos, que crean formas de relaciones en vez de formas plsticas, arman un
gran patchwork: ensamblajes de simultaneidades, montajes de imgenes tras
una comunidad de heterogneos, una multiplicidad de CsO molares; tal vez
un plan de consistencia.
La propuesta emancipatoria en la curatora ha sido un camino complejo
descubrir, porque asume que es preciso ubicarse, y a su vez estar dispuesto
a desprenderse de los puntos de subjetivacin para quedar suspendidos, o
liberados, o desarticulados, o estrellados. Nadie est dispuesto sin ms a tal
radicalidad. Lo que se ha hecho patente es el encuentro esttico con obras
particulares y redes de relacin entre historias particulares. Los rganos
del organismo inicial (el declarado en la curatora) se resisten a perder su
ubicacin lgica dentro de esa estructura. Una y otra vez volvemos a agrupar
coherentemente los rganos (proyectos artsticos, artistas, voces, discursos)
dentro del organismo. Es preciso insistir en ello, ya que la emancipacin se
encuentra cruzada por este transe.
A ratos fue posible distinguir nuevas redes y rizomas entre niveles,
146 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
obras, artistas y voces. Por momentos, el sistema orgnico se emancipa y
descubre los llamados liberadores de los proyectos, pero de inmediato llaman
a ser solidificados y coagulados en un nuevo estrato, para ser contenidos en la
reflexin especulativa.
La promesa. Y logramos sentir, entender, y creer intensamente en un
mensaje salvfico susurrado, una promesa desde Mapa, la imagen de imgenes
hasta Invention. Unas obras ms que otras del cuerpo-Bienal (fuerza centrpeta)
dan la pista de cmo y por qu referirse al intercambio, al conflicto, a la
comunidad participante, a los desheredados, a los fuera de y a los errantes que
debieran o han buscado emanciparse (fuerza centrfuga). En esta experiencia
y ejercicio analtico surge una peculiar visin de la historia contempornea y
el papel de los conflictos, las colectividades, y la imaginacin, en beneficio de
la transformacin.
El CsO recobrado como un conjunto en plena accin, muestra huellas,
abren acertijos, sugiere rutas a seguir y testimonia individuos y colectivos. Esta
imagen no puede ni debe quedarse all, pues en su naturaleza vinculante nos
confronta con las pequeas historias y nos remite a la vida (drama y esperanza)
de las colectividades; nos hace sentir en el cuerpo el conflicto, nos exige
transformacin por medio de por intuicin, imaginacin, reflexin y accin.
Es as como este proyecto curatorial de la 31 Bienal de Sao Paulo se
presenta como un CsO en tanto proceso de emancipacin, que busca aquella
nueva tierra, siempre pendiente, territorio que ansa desterritorializar-se.
ABARCA, Rosa Mara Droguett. The emancipation of a body without organs put to the
test: the 31st Sao Paulo Biennial. Tans/form/ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150 , Jan./
Mar., 2017.
Abstract: This article shows that the 31st Sao Paulo Biennial has an emancipatory affinity for the
landless wanderers, migrants, and travelers. As such it becomes aBody without Organs(BwO) that
displays liberating strategies, promoting disarticulation, experimentation, wandering, and the transit
of subjects and peoples. This Biennial, as a BwO, moves intensities as sensible flows through the
interstices of the artistic projects inside the organism. Here, theBwObecomes a set of practices that
deterritorialize the strata of the social organism, making the structured organs in these systems
explode.
Keywords: Territory. Emancipation. Transit. Body. Organ.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 147
ABARCA, R. M. D.
Referncias
BERGSON, H. La intuicin filosfica, versin castellana con algunas modificaciones de
Jos Antonio Miguez. In: Obras Escogidas. Madrid: Aguilar, 1963. p. 1131-1152.
______. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Madrid: Sgueme, 1999.
______. La energa espiritual: ensayos y conferencias. Buenos Aires: Cactus, 2012a.
______. La evolucin creadora. Buenos Aires: Cactus, 2012b.
______. El pensamiento y lo moviente. Buenos Aires: Cactus, 2013a.
______. Materia y memoria. Buenos Aires: Cactus, 2013b.
BOURRIAUD, N. Esttica Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.
______. Radicante. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009.
DELEUZE, G. La imagen-movimiento: estudios sobre cine 1. Barcelona: Paids, 1984.
______. La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2. Barcelona: Paids, 1986.
______. Lgica del sentido. Traducin de Miguel Morey. Barcelona: Paids, 1989.
______. Rizoma. Valencia: Pre-Textos, 2005.
______. Qu es la filosofa? Barcelona: Anagrama, 2009.
______. ; GUATTARI, F. Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos,
2008.
ESCHE, C. et al. Como procurar coisas que no existen. 31 Bienal de Sao Paulo. Sao Paulo:
Ediciones Bienal de Sao Paulo, 2014.
EZCURDIA, J. Amor, cuerpo y filosofa de la experiencia: hacia la lectura deleuziana de
Bergson. En-claves del Pensamiento v. 7, n. 14, p. 145-176, jul./dic. 2013.
GUATTARI, F. Cartografas del deseo. Buenos aires: La Marca, 1995.
HAESBAERT, R. O mito da desterritorializaao: do fim dos territrios
multiterritiralidade. Ro de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
HARDT, M. Deleuze: un aprendizaje filosfico. Buenos Aires: Paids, 2004.
MAILLARD, C. Lgica Borrosa. Mlaga, Espaa: Miguel Gmez, 2002.
MORENTE, M. G. La filosofa de Bergson. Madrid: Residencia de Estudiantes, 1917.
RANCIERE, J. Sobre polticas estticas. Barcelona: Museu dArt Contemporani, 2005.
______. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
RUIZ STULL, M. Intuicin, la experiencia y el tiempo en el pensamiento de Bergson.
Alpha, n. 29, p. 185-201, dic. 2009.
148 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
La Emancipacin de Un Cuerpo Artigos / Articles
______. La frmula del cuerpo sin rganos: una aproximacin bergsoniana a su
enunciacin. Trans/Form/Ao, v. 34, n. 1, p. 131-148, 2011.
SLTERDIJK, P. Esferas III, espumas: esferologa plural. Madrid: Siruela, 2006.
Recebido em 23/04/2016
Aceito em 11/08/2016
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017 149
ABARCA, R. M. D.
150 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 127-150, Jan./Mar., 2017
Diferentes Diferencias Artigos / Articles
Diferentes Diferencias1
Valentina Bulo Vargas2
Rodolfo Merio Guzmn3
Resumen: El artculo realiza una precisin conceptual respecto a la idea de diferencia trabajada por
algunos autores ligados al pensamiento de la diferencia. Estas diferentes diferencias constituirn una
trama en donde cada una se mostrar en su irreductibilidad y constitutiva vinculacin a las otras; unas
diferencias convergern con otras o simplemente las desplazarn. La hiptesis es que la diferencia
ontolgica, la diferrance, la diferencia pura, la diferencia de los cuerpos y la diferencia colonial
muestran que el problema de la diferencia, llevado a mbitos concretos como diferencias de gnero,
diferencias tnicas, etc., ha de ser siempre trabajado desde el carcter irreductiblemente plural de la
diferencia.
Palabras Clave: Diferencia. Heidegger. Derrida. Nancy. Deleuze. Fanon.
Identidad y diferencia expresan dos caras de una misma moneda, el
principio de identidad atribuido a Aristteles, ha constituido la base para la
conceptualizacin de cualquier diferencia, el principio de identidad es desde
siempre la condicin de posibilidad para que haya pensamiento y para que
acontezca el mundo. Pensar es siempre pensar en algo y ese algo ha de ser
al menos en alguna medida el mismo referente en aquellos que lo piensan
y el mismo a travs de los distintos momentos de su existencia, si hubiera
diferencia absoluta en el pensar no habra pensamiento, el pensamiento esta
afirmado en la identidad. Del mismo modo para que el mundo sea mundo
y no solamente caos, sus componentes han de estar de algn modo reunidos,
ordenados respecto a algn principio idntico para todos; sea cual fuere, los
elementos del mundo han de coincidir en algo que los conjunte y ellos mismos,
1 Este escrito forma parte del proyecto de investigacinMaterialidad del cuerpo y la diferencia en
la ontologa de Jean-Luc Nancy (Fondecyt n1150266) del que Valentina Bulo es Investigadora
responsable.
2 Doctora en Filosofa por la Universidad Complutense de Madrid, autora de El temblor del ser. Cuerpo
y afectividad en el pensamiento tardo de Martin Heidegger (Biblos, 2012) y Tonos de realidad. Pensar
el sentimiento en la filosofa de Xavier Zubiri. Actualmente se desempea como acadmica en el
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. E-mail: valenbulo@hotmail.
com
3 Doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se desempea
como acadmico de la Universidad Alberto Hurtado. E-mail: merino.rodolfo@gmail.com
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017 151
VARGAS, V. B.; GUZMN, R. M.
para conformar un mundo, habran de poseer una cierta identidad consigo
mismos. La edificacin de la filosofa occidental ha sido preeminentemente
una edificacin de la identidad en todos sus mbitos, desde la bsqueda del
arj al espritu absoluto; la filosofa, casi podramos decir, consiste en esta
construccin de la identidad, y cuando ha pensado la diferencia la ha pensado
de un modo derivado, como aquello que difiere de una identidad, siempre
anterior y fundante. Esta identidad, sin embargo, tampoco puede ser
absoluta, necesita la diferencia, pues el mundo y el pensamiento consisten en
un cierto acontecer de diferentes modos a travs del tiempo; las diferencias
tensionan las identidades, las hacen peligrar y la vez las posibilitan. Identidad
y diferencia juegan a lo largo de la historia y el acento va yendo de una a otra
en el juego de estructura y libertad.
Un cambio de direccin radical acontece aproximadamente a mediados
del siglo XX, cuando comienza a configurarse en Europa lo que luego sera
conocido como el pensamiento de la diferencia, que lleva como signo
distintivo la priorizacin de las diferencias entre unos y otros con respecto a
sus rasgos comunes o idnticos. Si predominantemente a lo largo de la historia
del pensamiento ha definido la diferencia desde o a partir de la identidad, aqu
habr un vuelco que intentar pensar desde la diferencia
El presente texto busca por una parte delimitar conceptualmente la
diferencia en algunos autores, especficamente Heidegger, Deleuze, Derrida
y Nancy para luego proponer otra diferencia con rango ontolgico que
podramos denominar diferencia colonial. Finalmente realizaremos algunas
observaciones de las diferencias trabajadas en su conjunto. La tesis que
sostendremos aqu es que no podemos subsumir las diferentes diferencias a un
idntico pensamiento, si hablamos del pensamiento de la diferencia debe ser
siempre desde una categora plural de diferencias. Para cada caso no da lo
mismo que estilo de diferencia se use, cada diferencia tiene su propio tono,
campo de juego, posicin y umbral. Mostraremos algunos matices posibles
de diferencias y sus mezclas, entendiendo que desde un pensamiento de la
diferencia la elaboracin conceptual es diferente cada vez y por tanto infinita,
o, como propondremos, omnicntrica.
Uno de los conceptos centrales de la filosofa heideggeriana es el de la
diferencia ontolgica y su tesis respecto al olvido de esta diferencia por parte
de la filosofa occidental desde Platn en adelante. Aunque la expresin del
olvido de la diferencia es ms ntida en el pensamiento tardo de Heidegger
se puede afirmar que este olvido constituye el nervio mismo del pensamiento
152 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017
Diferentes Diferencias Artigos / Articles
heideggeriano ya en Ser y Tiempo, pues en l estn presentes los trazos
principales que dibujan la diferencia ontolgica. Las distinciones existentivo-
existencial, ntico-ontolgico y sobretodo el intento de instaurar una
ontologa fundamental y primera respecto de otras ontologas que finalmente
olvidan la diferencia entre ser y ente, apuntan en esa direccin. El Dasein tal
como es concebido en Ser y Tiempo podra definirse como el lugar donde
primeramente acontece esta diferencia, l es diferencia ontolgica, [] aquel
ente al que le va cada vez el ser mismo. (HEIDEGGER, 1986, p. 41).
La diferencia ontolgica tal como es caracterizada en el pensamiento
tardo de Heidegger, se sita en el mbito del Entre (HEIDDEGER, 2003, p.
470), esto quiere decir que la diferencia es siempre relacional, anterior a sus
relatos; la diferencia entre uno y otro es anterior a uno y otro. Puedo establecer
diferencias entre una cosa y otra porque hay un espacio que ha abierto la
posibilidad de que haya uno y otro determinado, este espacio (temporal) es lo
que Heidegger denomina Entre y la diferencia ontolgica es lo que hace posible
vincular, en su identidad y diferencia, a unas cosas y otras. El acontecimiento
es el despliegue histrico de este Entre como posibilitador de toda relacin.
Si bien en Heidegger la diferencia ontolgica es la diferencia entre el
ser y el ente, sta es fundadora de las posibilidades de todas las diferencias y en
este sentido es una mismidad, por ello podemos afirmar que Heidegger opera
desde la diferencia como vnculo privilegiado respecto al Ser. La ontologizacin
de la diferencia en Heidegger, acta como una cierta condicin de posibilidad
histrica para que unas cosas y otras puedan llegar a aparecer justamente
como unas y otras, la diferencia entre el ser y el ente es una sobrevenida del
ser donde el ente es la llegada, esto es: la figura histrica del ser es condicin
de posibilidad para que los entes se diferencien entre s y con ello se determine
el modo del despliegue de la diferencia; obviamente la diferencia est aqu
anclada en la mismidad del ser.
La diferencia ontolgica es LA diferencia desde donde surgiran todas
las dems, en este sentido este estilo de diferencia consiste en el privilegio de
unos sobre otros, y de unas diferencias sobre otras, ya sea del ser sobreviniendo
a los entes y determinando el modo de todas sus relaciones (como Entre), o de
aquel ente privilegiado, el nico que realmente existe y que realmente muere,
el nico que tiene (al) mundo (Dasein).
De todos modos Heidegger -y esto lo compartir, pensamos, con
Deleuze y Derrida- evocar un pensamiento que se propone pensar a partir
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017 153
VARGAS, V. B.; GUZMN, R. M.
de la diferencia en directa crtica con el pensamiento representativo de lo
idntico, aunque para l en la diferencia ontolgica siempre subyacer una
mismidad fundante.
En la propuesta de Deleuze, en cambio, no subyace la mismidad; la
diferencia sin negacin es la diferencia por la diferencia, diferencia como flujo
del deseo, como produccin de realidad. Deleuze ejecuta el desplazamiento
del Ser al diferir y con ello produce un desmantelamiento de la identidad, se
afirman todas las diferencias juntas, sin negacin, y se repite una y otra vez lo
mismo en donde lo mismo es cada vez diferente.
El ltimo prrafo de Diferencia y repeticin acta como una especie de
frmula:
Una sola y misma voz para los mil caminos, un slo y mismo Ocano para
todas las gotas, un slo clamor del Ser para todos los entes. A condicin de
que se haya alcanzado para cada ente, para cada gota, y en cada camino el
estado de exceso, es decir la diferencia que los desplaza y los disfraza, y los
hace retornar, girando sobre su punta mvil. (DELEUZE, 1968, p. 388).
Aqu podemos constatar que la condicin puesta por Deleuze a la
mismidad del ser es justamente su desplazamiento al diferir, es la instalacin
de la diferencia como el exceso de cada caso, su desborde que deshace cualquier
identidad. El pensamiento de la diferencia en Deleuze ha de comprenderse
como un movimiento expansivo que hace estallar la identidad. La diferencia
aqu no es un fin que alcanzar, o una idea abarcable, es un modo de acontecer,
es pensar desidentitariamente, diferentemente. Deleuze construye un
pensamiento que se est haciendo siempre otro, que se multiplica y se muestra
siempre problemticamente, como un pensamiento siempre abierto, para
dejar salir las diferencias, y en este sentido es un pensamiento liberador. Se
trata de [] una diferencia sin negacin, liberada as de cualquier identidad
que reduzca su diferencia; una liberacin mltiple en donde cada diferencia
se excede a s misma. (BULO, 2012, p. 67).
Henos aqu forzados a sentir y pensar la diferencia. Sentimos algo
que es contrario a las leyes de la naturaleza, pensamos algo que es contrario
a los principios del pensamiento... cmo lo impensable no estara en el
corazn del pensamiento? (DELEUZE, 1968, p. 293). Si hemos dicho que
la diferencia en s misma es impensable ya que cualquier pensamiento tiene
como condicin de posibilidad una cierta identidad, el trabajo de Deleuze ser
154 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017
Diferentes Diferencias Artigos / Articles
descomponer el pensamiento, realizar una especie de movimiento de reversa
que detenga la cristalizacin y fijacin propia del pensamiento. Esto no se
dirige a una aniquilacin de toda verdad ni de todo principio: no pretende
aniquilar toda verdad sino desmantelar su interpretacin cannica y leer
ciertos contenidos en direccin diferente al canon, al sentido nico dominante
que se ha impuesto como verdadero, es decir, no busca aniquilar toda verdad
sino desplazar su campo de dominio, remover los modos de organizarse del
pensamiento. No pretende la aniquilacin de todo principio sino justamente
al revs: la afirmacin de todos los principios, a eso apunta la diferencia sin
negacin.
Heidegger tambin ejecuta un desmantelamiento de la identidad, pero
para hacer resurgir la mismidad originaria, el pensamiento da un paso atrs
para el gran salto de la fundacin de una genuina historia del ser. El tono
deleuziano no pretende ser ontohistrico, repite el movimiento, en cada caso
deshace una identidad y construye otra que difiere, sembrando all mismo
el germen de su propia alteracin de modo que no se pueda reproducir
identitariamente.
La diferencia en Derrida ir por otro camino. Referirnos a la Differance
derridiana es casi un contrasentido pues todo lo que digamos sobre ella est
mal dicho de antemano; innombrable no slo por su a, es casi como el estar
mal dicho (maldito) que se supone al existir, es un diferir como un estar en
diferido, como un principio que no es principio, o un principio que tacha
el principio y se tacha como tal, y que con todo es, podramos decir, una
diferencia ms real, porque es un desfase, una falla espaciotemporal, un acto
fallido del Ser. Nancy dice que ella es la anulacin de la diferencia ontolgica,
y lo es al menos en el sentido de destituir toda posibilidad de privilegio, o
principio, o buen decir. La Differance de Derrida es la articulacin de la
nulidad de la diferencia ontolgica: ella trata de pensar que el ser no es otra
cosa que el ex del existir. Esta articulacin es pensada como aquella de una
presencia-a-s que se difiere. (NANCY, 2002, p. 97).
Aunque Heidegger pens la diferencia en trminos ontohistricos,
como un despliegue del ser, es Derrida quien piensa la diferencia no slo
como diferencia entre una cosa y otra sino tambin en trminos temporales;
el diferir expresa estos dos sentidos (DERRIDA, 1972, p. 8), es un desfase,
un desacoplamiento como borradura de cualquier origen temporal y espacial.
Si Deleuze opera con el principio de la afirmacin de todas las diferencias
y con ello una especie de caotizacin de cualquier jerarqua de diferencias,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017 155
VARGAS, V. B.; GUZMN, R. M.
Derrida operar con la sustraccin del carcter principial que pueda pretender
cualquier diferencia. En ambos est, pensamos, el intento de ir contra esa fuerza
que tiende a la cristalizacin de las diferencias hacindolas identidades, pero
su estrategia es distinta: Deleuze activa, por decirlo as, todas las diferencias
juntas y Derrida desactiva cualquier principio diferencial (es la operacin
deconstructiva).
Nancy (2008, p. 250) afirma respecto a Deleuze y Derrida que:
Compartieron el tiempo filosfico de la diferencia. El tiempo del
pensamiento de la diferencia. El tiempo de un pensamiento diferente de la
diferencia. El tiempo de un pensamiento que deba diferir de aquellos que
lo haban precedido. El tiempo de un estremecimiento de la identidad: el
tiempo, el momento, de un reparto[] La frmula de Deleuze se enuncia:
diferir consigo mismo. La de Derrida: s mismo difirindose. Deleuze
dice diferir consigo mismo: la diferencia y el s son dados juntos, el uno
con el otro; ni identificados formalmente como si uno fuese otro, ni separados
uno del otro como si uno excluyese el otro. Derrida tiene delante de l al
diferir de la presencia misma. Ella no se presenta sino por adelantado o con
retraso respecto de sEn cierto modo, aqu y all se trata del sentido. De
aquello que constituye el sentido del sentido. De aquello que del sentido, en
el sentido, difiere de una identidad significada, de una verdad dada. Pero uno
lo ve diferir abrindose, el otro lo ve ser abierto difirindose. Uno est en el
surgimiento del sentido, el otro en su promesa que promete no ser cumplida.
Si miramos desde aqu la diferencia ontolgica heideggeriana podemos
ver que ambas operaciones terminan con ella, o al menos con su privilegio;
en esta misma lnea, Jean-Luc Nancy resituar el problema de la diferencia
desplazndolo al campo de juego de los cuerpos.
Pensar los cuerpos significa desde ya pensar las diferencias, y es que
cuerpo y diferencia se tejen juntos. Un cuerpo es una diferencia, como es una
diferencia con todos los otros cuerpos- mientras que los espritus son idnticos-
l no termina jams de diferir. (NANCY, 2004, p.27). Pensar los cuerpos
significa de partida encontrarse con una pluralidad y a la vez una concrecin,
una localidad, agregando con ello determinadas texturas al problema de la
diferencia. La diferencia ahora ser tan concreta, singular y plural como el
tocar, en el cual los cuerpos no constituyen el objeto tocado sino el modo de
relacin/diferenciacin de unos cuerpos con otros, en donde el pensamiento
mismo se configura como un pensar tctil.
Pensar tctilmente los cuerpos no es pensar a los cuerpos para
156 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017
Diferentes Diferencias Artigos / Articles
elevarlos a un plano espiritual, desprendindolos de su materialidad, pensar
tctilmente los cuerpos es justamente no sublimarlos, ni siquiera absorberlos,
un pensamiento que toca es tambin un cuerpo que se expone y toca por fuera
a otro, como la piel. El tacto es el sentido de la diferencia (BULO, 2012, p.
112), tocar es tocar por fuera, tocar el lmite y tocarse con otros, es
exactamente tocar la diferencia sin remitirla a ningn otro principio que no
est ah, entre los cuerpos con que nos tocamos.
De este pensar tctil la diferencia ser repartida simtricamente, ms que
sacar a determinadas diferencias del centro ordenador, ms que una operacin
de descentramiento en Nancy acontece una especie de omnicentrismo. Las
diferencias dejan de ordenarse en torno al privilegio de unas sobre otras; hay
aqu una destitucin del privilegio de la diferencia ontolgica, con el
consecuente descentramiento del lugar del hombre en el mundo. Ms que
quitarle al hombre sus privilegios, una reparticin simtrica de las diferencias
conlleva a una irreductible pluralidad de orgenes que se los otorga a todos
los dems: omnicentrismo, cada cuerpo es el centro.
Jean-Luc Nancy desplaza la diferencia al lugar de los cuerpos y la
diferencia en los cuerpos es plural, ms que no haber origen como differance
hay infinita pluralidad de orgenes, cada vez en cada punto, de cada roce
de cada cuerpo. Se trata de cuerpos diferenciales hacedores de mundo. La
diferencia es aqu lo que Nancy llama el con, nuestros cuerpos, unos con
otros, tocndose por fuera: apilados, acariciados, heridos, contagiados. El
con en el lmite y la diferenciacin de unos con otros, all no hay un estar
juntos en remisin a algo comn, sino exactamente al revs, el con expresa
el estar juntos de nuestras irreductibles diferencias.
Con Nancy el asunto de la diferencia tomar un tono ms
ontopoltico, puesto que siempre la diferencia acta entre unos y otros; ms
concretamente, entre nosotros. Son nuestros cuerpos los que hacen el mundo,
los que construyen historia y ellos mismos son ya constructos. A diferencia
de las lneas fenomenolgicas, que pretenden poner un cuerpo-principio-
dado, como un acceso originario desde donde fundamentar una construccin
supuestamente ulterior de un sistema de pensamiento, (y en eso el Heidegger
de Ser y Tiempo es capaz de mostrar la ingenuidad fenomenolgica de creer en
contenidos meramente o puramente dados a la percepcin, pues stos siempre
se presentan ya interpretativamente), es posible pensar nuestros cuerpos
mismos como constructos-construyentes; nos inventamos un cuerpo en el
hacer-mundo.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017 157
VARGAS, V. B.; GUZMN, R. M.
Con nimo provocativo queremos proponer articular a las diferencias
ya expuestas lo que algunos autores del llamado pensamiento decolonial
denominan diferencia colonial. Pensamos que este matiz ha de ser integrado
o al menos reconocido desde la configuracin de diferencias del pensamiento
occidental, ya que justamente lo que se dice, desde esta otra diferencia, es
que ella ha sido negada histricamente por la filosofa. Esto no quiere decir,
sin embargo, que se pretenda subsumir la diferencia colonial al pensamiento
de la diferencia, pues pecara justamente de aquello mismo que ataca: ser
colonizada por el pensamiento de la diferencia. La clave aqu es pensar la
diferencia colonial como otra, y ese es su mayor aporte.
As como distinguimos, a partir de la diferencia ontolgica, los rdenes
ontico-ontolgico, hemos de distinguir colonizacin, como el acontecimiento
histrico que comienza en el siglo XV con la expansin mercantil que
reconfigura el espacio geohistrico europeo, de la colonialidad, que alude a
una cierta lgica que configura nuestro mundo hasta nuestros das.
La diferencia colonial encuentra su lgica como una expresin posible
de las distintas relaciones diferenciales dominantes que ha construido el
pensamiento occidental, en este sentido [] occidente ha querido ser una
aventura del espritu. Y en nombre del Espritu, del espritu europeo por
supuesto, Europa ha justificado sus crmenes y ha legitimado la esclavitud en la
que mantiene a las cuatro quintas partes de la humanidad. (FANON, 1991,
p. 289). Por medio de esta aventura la modernidad se ha constituido como
tal, pues [] no existe modernidad sin colonialidad, la modernidad necesita
y produce la colonialidad. (MIGNOLO, 2003, p. 37). Desde la filosofa
tradicional esta diferencia es negada, literalmente no existe como articuladora
del mundo (moderno) y es que efectivamente lo otro es lo que no es sujeto,
la diferencia colonial se articula con el no ser del mundo colonizado.
Para el argentino Walter Mignolo esta relacin entre modernidad y
colonialidad es producto de la diferencia colonial, entendida esta como []
la localizacin tanto fsica como imaginaria desde la que la colonialidad del
poder est operando a partir de la confrontacin entre dos tiempos de historia
locales que se desarrollan en distintos espacios y tiempos a lo largo del planeta.
(MIGNOLO, 2003, p. 8). Esta relacin diferencial tiene cierta lgica,
un diseo con determinado estilo, que produce determinados gestos de los
cuerpos y los hace vibrar en determinados tonos con determinados umbrales,
los que han sido bosquejados con la configuracin del mundo moderno/
158 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017
Diferentes Diferencias Artigos / Articles
colonial. Cmo dos caras de una misma moneda se presenta la modernidad,
por un lado, su cara iluminada desde el renacimiento, ilustracin, revolucin
francesa, etc., mientras en Amrica se establece la barbarie, la destruccin
de los espacios, posesin, violacin, neutralizacin y el sometimiento a un
sistema de explotacin tanto de la tierra como de los cuerpos, que en definitiva
logra articular la colonialidad en cuatro dimensiones: colonialidad del poder
(QUIJANO, 2001), colonialidad del saber (MIGNOLO, 2003), colonialidad
del ser (MALDONADO TORRES, 2007) y colonialidad de la naturaleza
(WALSH, 2007).
Marie-France Hirigoyen, al hablar del maltrato psicolgico nos dice lo
siguiente sobre una relacin de dominio:
El dominio se puede descomponer en tres grandes aspectos:
-una accin de apropiacin mediante el desposeimiento del otro;
- una accin de dominacin que mantiene al otro en un estado de sumisin
y dependencia;
-una accin de discriminacin que pretende marcar al otro.
Es innegable que el dominio trae consigo un componente destructivo, ya que
neutraliza el deseo del otro y anula toda su especificidad. La vctima pierde
poco a poco su resistencia y tiene cada vez menos posibilidades de oponerse.
Pierde toda opcin de criticar. En cuanto queda incapaz de reaccionar y
queda literalmente anonadada, se convierte en una cmplice de lo que la
oprime. En ningn caso se trata de un consentimiento por su parte, sino de
que ha quedado cosificada, se ha vuelto incapaz de tener un pensamiento
propio y slo puede pensar igual que su agresor. Ya no se puede decir que la
vctima sea el otro: ya no es ms que el alter ego de su agresor. Padece sin
consentir, e incluso sin participar. (HIRIGOYEN, 2011, p.).
Si leemos esta cita en clave colonial, podemos afirmar que la diferencia
colonial, en este sentido, es una relacin diferencial de dominio en donde
un sujeto (el espritu de occidente) se constituye como tal a partir del
anodadamiento ontolgico- de otro en tanto que otro.
La diferencia colonial supone una radicalidad de la diferencia en tanto
jerarqua excluyente/dominadora con lo alterizado (hombre o naturaleza),
convirtiendo la diferencia (binaria) en dos polos, ejemplo: indio-espaol,
metrpoli-colonia, colonizador-colonizado, etc., lo que nos llevara a coincidir
con la idea de la existencia de una heterogeneidad colonial:
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017 159
VARGAS, V. B.; GUZMN, R. M.
[] se refiere a las formas mltiples de sub-alterizacin, articuladas en
torno a la nocin moderna de raza; una idea que se genera en relacin con
la concepcin de pueblos indgenas en las Amricas, y que queda cimentada
en el imaginario, el sentido comn y las relaciones sociales que se establecen
en relacin con los esclavos provenientes de frica en las Amricas.
(MALDONADO TORRES, 2007, p. 133).
Por medio de la diferencia colonial es posible entender cmo opera el
carcter diferencial en sus diversas formas de deshumanizacin por medio de
la idea de raza, que es especfica a cada colonia o colonizador, por lo tanto, en
el Caribe el inferior era el negro y en meso Amrica el indio. As se configur
la idea de la existencia de grados de existencia y en ella grados de humanidad
existencial consecuencia de una condicin cultural (CSAIRE, 2006).
Ciertamente esta diferencia colonial parece lejana a las diferencias
trabajadas anteriormente sobre todo porque no posee el tono ontolgico
requerido, aunque ella opere rigurosamente como un diferencial que ordena
categoras de ser. Afirmamos aqu, y es la lectura que proponemos, que la
diferencia colonial es posible de analizar con perspectiva ontolgica ya que
ejerce una jerarqua de la diferencia dominante, estableciendo as una lgica
de la naturalizacin de diferencias jerarquizadas socialmente, es decir que
configuran nuestro mundo y su horizonte de comprensibilidad. Lo ms
grave, y que aqu hemos querido subrayar, es el que se niegue el sitial de esta
diferencia, pues justamente en esa negacin volvemos a cometer la accin
dominante de hacer como que no est, de decir que eso no alcanza la altura
o el rango ontolgico de las otras diferencias.
Sin querer aplicar categoras heideggerianas, podemos decir que al
menos el anlisis ontohistrico del despliegue de la diferencia es compatible
con la figura de la diferencia en tanto modernidad/colonialidad, la diferencia
colonial marca el lmite, es decir configura el horizonte del mundo y lo que
queda fuera del mundo. Este quedar fuera es lo que Fanon ha categorizado
desde el negro. Los condenados de la tierra son justamente los in-mundos, los
restos del mundo occidental, que Sartre, en el prefacio al libro de Fanon (1991)
catalog como los que viven en el estado decolonizado del ser, ni plenamente
vivos, ni plenamente muertos. Esta inmundicia, que coincide exactamente
con el sentido nancyano de lo inmundo4, est materializada en la opacidad de
4 Para Nancy (2006, p. 90) inmundo es aquello que no es absorbible, sublimable o reciclable por el
mundo, son los restos del mundo que escapan a todo ciclo.
160 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017
Diferentes Diferencias Artigos / Articles
la piel, en el cuerpo colonizado.
Un cuerpo colonial es un cuerpo inscripto, marcado y organizado por una
escritura que le es anterior, como lo es el lenguaje que lo habita, y exterior
en tanto lo produce ausente, monstruoso, incorregible y paradjicamente
pasible de una intervencin que puede rectificarlo. En s misma, esta
produccin significa una forma especfica de relacin entre el poder y el
saber, una forma de organizacin del saber que involucra una prctica del
poder especfica. (DE OTO, 2006, p. 3).
Nuestra intencin ha sido tejer juntas las diferencias aqu aludidas,
integrar la diferencia colonial nos parece necesario, no slo porque los
colonizados corresponden a la mayor parte de la humanidad y a la mayor parte
de los territorios de la tierra, sino porque filosficamente un pensamiento de la
diferencia requiere ser tensionado desde otras diferencias, un pensamiento de
la diferencia consiste en integrar las diferencias y se constituye, en este sentido,
como hemos afirmado con Nancy, de un modo irreductiblemente plural. Es
justamente pensar la diferencia como problema.
VARGA, Valentina Bulo; GUSMN, Rodolfo Merio. Different differences. Tans/form/
ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017.
Abstract: This article presents the idea of difference as discussed by some authors linked difference
thinking. These different differences constitute a drama where each one will be displayed in its
irreducibility and its constitutive relationship to the others; some differences will converge with others
or simply displace them. Ontological difference, difference, pure difference, the difference of bodies,
and colonial difference, show that the problem of difference, when brought into specific areas such
as gender, ethnicity, etc., must always be approached from the irreducibly plural nature of difference.
Keywords: Difference. Heidegger. Derrida. Nancy. Deleuze. Fanon.
Referncias
BADIOU, A. Breve tratado de ontologa transitoria. Barcelona: Gedisa, 2002.
BULO, V. El temblor del ser: cuerpo y afectividad en el pensar tardo de Martin
Heidegger. Buenos Aires: Biblos, 2012.
CSAIRE, A. Discurso sobre el colonialismo. Espaa: Akal, 2006.
DELEUZE, G. Diffrence et rptition. Paris: PUF, 1968.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017 161
VARGAS, V. B.; GUZMN, R. M.
______. Diferencia y repeticin. Traduccin de Mara Silvia Delpy y Hugo Beccacece.
Buenos Aires: Amorrortu, 2006.
DE OTO, A. Apuntes sobre historia y cuerpos coloniales: algunas razones para seguir
leyendo a Fanon. Worlds & Knowledges Otherwise, v.1, n.3, p. 1-11, Fall, 2006.
DERRIDA, J. Marges de la philosophie. Paris: Minuit, 1972.
______. Margens de la filosofa. Traduccin de Carmen GonzlezMarn. Madrid:
Ctedra, 2010.
FANON, F. Les damns de la terre. Paris: Gallimard, 1991.
HEIDEGGER, M. Identidad y diferencia. Traduccin de H. Corts y Arturo Leyte.
Edicin bilinge. Barcelona: ntropos, 1990.
______. Sein und Zeit. Tbingen: Max Niemeyer, 1986.
______. Ser y Tiempo. Traduccin de Jorge Eduardo Rivera. Santiago: Editorial
Universitaria, 1997.
______. Beitrge zur philosophie (Vom Ereignis). Gesamtausgabe, Band 65, Frankfurt am
Main: Vittorio Klostermann, 2003.
HIRIGOYEN, M.-F. El acoso moral: el maltrato psicolgico en la vida cotidiana. Madrid:
Paids, 2011.
MALDONADO TORRES, N. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al
desarrollo de un concepto. In: CASTRO-GMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Ed.).
El giro de colonial: reflexiones para una diversidad epistmica ms all del capitalismo
global. Bogot: Siglo del Hombres; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales
Contemporneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. p. 127-167.
MIGNOLO, W. Historia locales/diseos globales. Madrid: Akal, 2003.
NANCY, J.-L. La cration du monde ou la mondialisation. Paris: Galile, 2002.
______. Corpus. Traduccin de Patricio Bulnes. Paris: Mtaili, 2006.
______. 58 indices sur le corps et extension de lme. Qubec: Nota Bene, 2004.
______. Las diferencias paralelas: Deleuze y Derrida. In: ______. Por amor a Derrida.
Buenos Aires: La Cebra, 2008. p. 249-262.
QUIJANO, A. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en Amrica Latina. In:
MIGNOLO, W. (Ed.). Capitalismo y geopoltica del conocimiento: el eurocentrismo y la
filosofa de la liberacin en el debate intelectual contemporneo. Buenos Aires: Ediciones
del Signo-Duke University, 2001. p. 117-131.
SARTRE J.-P. Prface. In: FANON, F. Les damns de la terre. Paris: Gallimard, 1991. P.
18-36.
162 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017
Diferentes Diferencias Artigos / Articles
WALSH, C. Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a las
epistemologas decoloniales. Nmadas, n. 26, p. 102-113, abr. 2007.
Recebido em 07/09/2016
Aceito em 11/12/2016
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017 163
VARGAS, V. B.; GUZMN, R. M.
164 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 151-164, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
Zizek com lacan em: kant sem Sade. Liberdade como
Reapropriao do Gozo
Fernando Fac de Assis Fonseca1
Hildemar Luiz Rech2
Resumo: Neste artigo, pretendemos trabalhar, a partir de uma leitura de Zizek e Lacan, a perspectiva
radical de liberdade como superao da dialtica entre a Lei moral kantiana e o gozo sdico. Para
isso, procuramos primeiramente mostrar como Lacan articula a relao de Kant com Sade, para, em
seguida, pensar como, segundo Zizek, o psicanalista encontra uma sada para o princpio de liberdade
kantiana, a partir da tica do desejo puro, o que nos permitir pensar um Kant sem Sade.
Palavras-Chave: Lei Moral. Desejo. Gozo. Liberdade.
Introduo
Em 1963, Lacan publica um texto considerado por muitos como um dos
mais hermticos de seus Escritos, e cuja dificuldade se expressa j no ttulo: Kant
com Sade. A impressionante combinao desses dois autores nos leva diretamente
questo de como possvel o arauto da moralidade, na era moderna, para quem
a liberdade est incondicionalmente ligada ao dever moral, intransigncia do
imperativo categrico, formar par com o seu extremo oposto, a maior expresso
literria da perverso e da libertinagem incontida. Por isso, Zizek (1998) assinala
que essa dupla, de todas que j se formaram, ao longo dos ltimos anos (como
Freud e Lacan, Marx e Lenin etc.), , com efeito, a mais problemtica do pensa-
mento moderno. Mas, longe de essa estranha associao ser um mero devaneio do
psicanalista, devemos louvar aqui seu gnio: Lacan pde extrair do seio do rigor
moral kantiano o seu ncleo obsceno, excessivo e perverso, que permanecia oculto
para a tradio, e cuja melhor representao no outra seno a figura libertina
de Sade. Zizek (1998) tem, portanto, plena razo ao afirmar que essa dupla Kant-
1 Doutor em Filosofia da Educao pela Universidade Federal do Cear-UFC. Possui mestrado em
Filosofia pelo programa Erasmus Mundus Europhilosophie (2010).] Tem tambm mestrado em
Filosofia pela Universidade Federal do Cear (2008). E-mail: fernandofaco@hotmail.com
2 Doutor em Cincias Sociais pelo IFCH da UNICAMP, SP, com sandwish pela Universidade de
Manchester, Inglaterra; Pesquisador e Professor Associado IV no Departamento de Fundamentos da
Educao e na Linha de Pesquisa de Filosofia e Sociologia da Educao no Programa de Ps-Graduao
em Educao, FACED-UFC. E-mail: hluizrech@gmail.com
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 165
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
Sade, que representa a essncia de nossa eticidade moderna, um tpico caso de
julgamento infinito hegeliano hegeliano,3 em cujo ncleo se concentram os ra-
dicais opostos de uma sublime atitude tica desinteressada com o prazer sexual
fundado nas experincias sdicas de extrema violncia.
De uma maneira inequvoca, essa contradio incutida no seio da pr-
pria modernidade nos leva direto s questes abertas pelos tericos da Escola de
Frankfurt4sobre Esclarecimento e barbrie, ou seja, a respeito da ntima relao
entre os ideais erguidos pela razo iluminista e as grandes hecatombes ocorridas
no sculo XX (as duas Grandes Guerras, o holocausto, a bomba atmica etc.).
Nesse sentido, vlido perguntar: seria lcito reconhecer uma linha que vai do
formalismo tico kantiano diretamente indstria da morte a sangue-frio, em
Auschwitz? Ou, ainda, seriam os campos de concentrao, ali onde o genocdio
era executado segundo uma lgica burocrtica, o resultado direto da insistncia
no projeto de uma razo esclarecida e emancipadora da modernidade? (ZIZEK,
1998). Convm, ento, abordar esse questionamento, enfocando o paradoxo da
moralidade kantiana, a fim de discutirmos como possvel rearticular o conceito
de liberdade, assimilando integralmente essa contradio constituinte. Todavia,
para responder a essas questes cumpre, pois, entender como foi possvel unir
Kant e Sade numa mesma linha de perspectiva.
O formalismo tico de Kant
Para os leitores minimamente versados em Kant, no deve ser difcil reco-
nhecer a mudana estrutural que seu pensamento acarretou, no campo da filosofia
moral. Para sermos claros e sucintos, basta dizer que a moral kantiana rompe
drasticamente com duas frentes tericas: a tradio tico-cosmolgica dos antigos
e a viso utilitarista dos filsofos pragmticos, na modernidade. A fim de com-
preender o alcance dessa ruptura, imprescindvel ressaltar o profundo impacto
que a cincia moderna exerceu em todos os domnios da humanidade, inclusive e
sobretudo na esfera da filosofia prtica. Nesse sentido, com o advento das cincias
modernas, o mundo passa a ser compreendido como um espao neutro, onde os
3 Em Hegel (2003), esse juzo (julgamento) infinito tambm conhecido como juzo especulativo, uma
espcie de juzo que toca na prpria dimenso ontolgica da realidade. O juzo especulativo hegeliano ,
pois, a prpria coincidncia dos opostos, cujo paradoxo inapreensvel pelo padro de funcionamento
do entendimento. Por sua articulao, elementos de naturezas totalmente incompatveis se fundem um
no outro, provocando um sentimento de estranheza inconcilivel. Eis, portanto, alguns desses juzos,
extrados da filosofia hegeliana, que Zizek destaca, ao longo de sua obra: O Esprito um osso, o eu
o dinheiro, o Estado um monarca, Deus Cristo etc.
4 Refiro-me especialmente aos tericos Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin.
166 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
corpos se movimentam apenas por puras relaes de foras como documentam
as leis da mecnica de Newton. Assim, a natureza j no pode mais representar
um modelo de cosmos bom e harmonioso, cuja forma teria por misso servir de
ideal prxis moral. Diante disso, a moral dos antigos sofre um golpe profun-
do e irreversvel: a viso cosmolgica da natureza, que norteou os fundamentos
da tica pag, se transforma, na modernidade, num sistema mecnico inspido,
isento de qualquer sentido ltimo ou densidade substancial. O que est em jogo
aqui no mais o contedo significativo do universo, mas o sistema formal de
leis que governam sua estrutura. E tal formalidade, prpria do mundo moderno
cujo foco agora se concentra eminentemente no mtodo, e no mais no objeto
da cincia , leva, portanto, Kant a reconduzir a moral para uma base tambm
formal, desvinculada assim de qualquer tese substancialista mais profunda. Se Ba-
con (2014), em seu Novo rganon, ao subjugar a natureza, procura libertar o
homem no campo do conhecimento, Kant procura libertar o homem no campo
da moral. medida que o homem se torna autnomo em relao natureza, ele
deve impor a si mesmo uma moral autnoma, sem pressupostos e sem vnculos
metafsicos. Ou seja, uma moral emancipada, radicalizada na prpria esfera da
finitude humana.
Contudo, o que dizer das ticas utilitaristas? Elas tambm no seriam a
construo de um projeto de uma tica moderna, ps-metafsica, livres da iluso
tico-cosmolgica dos antigos? Sim. Apesar disso, a tica utilitarista no uma
tica eminentemente antropocntrica, fundada na liberdade e na universalidade
da espcie humana. certo que os filsofos utilitaristas sucessores do britnico
Jeremy Bentham procuram adotar um padro de medida tico-moral embasado
numa metodologia com rigor cientfico sem apelar, com isso, para princpios
metafsicos ou teolgicos. No entanto, o mtodo estipulado por eles no chega
a ser, segundo Kant (2011b), verdadeiramente universal. O problema reside no
fato de os utilitaristas no se desprenderem completamente das condies pato-
lgicas que orientam as aes humanas. Embora eles aleguem um total descom-
promisso com interesses egostas, narcsicos etc., e que seu propsito seja, em l-
tima instncia, um legtimo altrusmo, o que constatamos aqui um resultado
profundamente ambguo: ao empregar, por exemplo, o rduo clculo do prazer
e do desprazer como propsito tico, o vnculo patolgico que orienta a prxis
implica, em ltima instncia, a negao de qualquer ascenso ao princpio moral
de validade universal.
Para Kant (2011b), no h universalidade moral enquanto no houver um
esvaziamento completo da carga patolgica que orienta minha ao. Querer para
o outro o mesmo que se quer para si continua a ser, mesmo que disfaradamente,
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 167
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
uma injuno radicalmente egosta. Por isso, Lacan (1959-60/1988) est correto
em afirmar, no seu Seminrio sobre a tica na psicanlise, que [...] meu egosmo
se satisfaz extremamente bem com um certo altrusmo, com aquele que se situa
no nvel do til, e precisamente o pretexto por meio do qual evito abordar o
problema do mal que desejo, e que deseja o meu prximo. (LACAN, 1959-
60/1988, p. 228). No haveria, nesse sentido, um prazer excessivamente egosta
em toda ao altrusta? como se o que eu estabeleo como fim moral universal
fosse apenas uma projeo pessoal pautada no sentimentalismo idiossincrtico.
Assim, o desafio propriamente tico que se coloca aqui : como sair desse ciclo, ou
seja, como alcanar um nvel ideal de ao universal e impessoal, desvinculada de
toda e qualquer inclinao patolgica? Ou, ainda: como estabelecer um tribunal
idneo, justo e universal, que possa ser capaz de julgar uma ao verdadeiramente
tica? Somente no imperativo moral que atingimos a verdadeira universalidade,
haja vista que seu imperativo formal pautado unicamente no dever imposto pela
razo universal. Trata-se de uma proposta de uma moral deontolgica, cujo prefixo
grego deon, que significa dever, obrigao, sugere uma ao fundada basicamente
no dever Lei universal. Dessa forma, Kant (2011b, p. 62) enfatiza que [...] o
imperativo categrico portanto s um nico, que este: Age apenas segundo uma
mxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.
O objeto da moral kantiana
Podemos, portanto, concluir que, diferentemente do que prega o senso-co-
mum, ser livre no seguir indiscriminadamente as leis fisiolgicas que submetem
a vontade ao objeto, mas justamente o contrrio: como destaca Vladimir Safa-
tle (2003, p. 206), [...] s h liberdade quando o sujeito pode determinar de
maneira autnoma um objeto vontade. A fim de produzir tal determinao, ele
deve se apoiar na razo contra os impulsos patolgicos do desejo. Desse modo,
no lugar de um desejo determinado empiricamente, por um objeto particular, a
liberdade corresponde vontade pela pura forma da Lei universal, que, nesse caso,
completamente vazia de determinao. E somente atravs desse vazio, [...]
dessa rejeio radical da srie de objetos patolgicos, que a conduta humana com
seu sistema de decises pode ser outra coisa que o simples efeito da causalidade
natural. (SAFATLE, 2003, p. 207).
Porm, pensar uma vontade desprovida de objeto no seria um caso claro
de contradictio in adjecto? Afinal, toda vontade no vontade de alguma coisa?
Com efeito. E, nesse sentido, preciso determinar qual o objeto que melhor se
enquadra no modelo da vontade livre. Para isso, Kant introduz o conceito de das
168 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
Gute: [...] um bem para alm do sentimento utilitrio de prazer. (SAFATLE,
2003, p. 207). Mas que espcie de objeto esse, das Gute? Para responder, cabe fa-
zer aqui uma rpida diferenciao entre duas espcies de bem: das Gute e das Wohl.
Das Gute representa o bem supremo da lei moral, ao passo que das Wohl consiste
no bem-estar do sujeito patologizado. Em consequncia, a fim de erradicar qual-
quer referncia patolgica que contamine com elementos empricos a pureza da
universalidade moral, devemos conceber das Gute diferentemente de das Wohl
como um bem para alm de qualquer princpio de prazer envolvido com o exer-
ccio da lei moral. Em suma: enquanto das Wohl designa o bem-estar, das Gute de-
signa o bem-para-alm-do-bem-estar. Das Gute, portanto, corresponde injuno
tica suprema do imperativo categrico, uma injuno radicalmente desprovida
de qualquer sensao de bem-estar. Por isso, como ressalta Lacan (1963/1998),
das Gute o bem que se ouve dentro de ns como a voz proferida pela razo, a
voz da conscincia.
No entanto, no que consistiria pensar um objeto da vontade livre, das
Gute, cuja natureza no pode ser intuitivamente assimilada, ou seja, no pode
ser formalizada segundo as formas a priori da intuio sensvel (tempo e espao)?
Ora, para Kant, como ressalta Safatle (2003, p. 208), [...] a vontade que quer
das Gute quer apenas uma forma de agir, uma forma especfica para a ao, e no
um objeto emprico privilegiado. Concluso: o objeto da vontade livre a pura
forma da Lei, e [...] a forma dessa lei tambm sua nica substncia. (LACAN,
1963/1998, p. 770). Para diz-lo em outros termos, no estamos lidando aqui
com um objeto de natureza emprica, dotado de um contedo especfico etc., pelo
contrrio, estamos lidando com um objeto cuja natureza estritamente formal.
Kant enfatiza (2011a, p. 56): [...] a lei da vontade pura, que livre, pe esta numa
esfera diversa da emprica, e a necessidade que ela expressa, j que no deve ser
nenhuma necessidade natural, tem que consistir meramente em condies formais
de possibilidade de uma lei em geral.
Na Metafsica dos Costumes, Kant (2008, p. 62-63) deixa claro que a von-
tade corresponde [...] faculdade do desejo cujo fundamento determinante se
encontra na razo do sujeito, ou seja, na prpria capacidade de determinar a
escolha e, por essa razo, ela no possui um fundamento determinante. Entre-
tanto, esse ntido contraste entre uma vontade livre, que visa pura forma da
Lei, e o desejo, que corresponde s inclinaes patolgicas do sujeito fenomnico,
pode sofrer uma complicao aqui. E se, no exato momento em que todo desejo
emprico completamente expurgado do cdigo universalizante da Lei moral,
surgisse um desejo ainda mais avassalador? E se essa supresso completa de todo e
qualquer contedo patolgico gerasse, em contrapartida, no uma vontade livre
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 169
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
(de objeto), mas sim um novo desejo cujo objeto fosse a prpria forma da Lei?
Dito de outra forma, quando Kant purifica o dever moral de todo contedo pa-
tolgico, ou seja, dos desejos empricos que corrompem a universalidade da Lei
moral com inclinaes idiossincrticas e utilitaristas, o resultado o surgimento
de uma vontade livre, totalmente desprovida de objeto, vinculada unicamente
pura forma da Lei. Porm, segundo Lacan (1963/1998), o que Kant no percebe
que, nesse momento, quando se elimina do campo da universalidade moral todo
objeto patolgico em funo de uma vontade livre que quer simplesmente a pura
forma da Lei, ele automaticamente eleva essa prpria forma da Lei moral condi-
o de um objeto inalcanvel, impossvel. Ou seja, ele no v que a prpria forma
da Lei o objeto par excellence do desejo, o qual impele uma depurao furiosa e
compulsiva de todo contedo emprico que macula seu a priori transcendental.
E exatamente aqui que Kant trai a si mesmo: ele no assume a possibilidade
de que a pura forma da Lei possa ainda servir de objeto para o desejo. Em ou-
tras palavras, Kant no reconhece (ou melhor, recalca) que o prprio estatuto da
Lei moral, sua condio puramente formal, se apresenta de maneira essencial-
mente ambgua em relao ao desejo: no momento em que a pura forma da Lei
impele duramente rejeio de todo desejo patolgico, a dimenso formal da
Lei continua a servir como objeto primordial do desejo humano. Dessa forma,
Kant recua diante de sua prpria injuno moral. Ou seja, uma vez que a forma
da Lei ainda serve como objeto de desejo, significa ento que Kant no alcana
uma radicalizao rigorosa de seu prprio imperativo categrico, qual seja, o de
garantir uma autonomia moral para alm de toda e qualquer dependncia do
objeto (ainda que este seja identificado como a pura forma da Lei).
Kant com Sade
Portanto, a questo fundamental agora compreender o que de fato une
Kant a Sade. Comecemos, ento, atentando para o seguinte: embora Kant insista
na lacuna entre a pura forma da lei moral e os sentimentos patolgicos, existe
um sentimento que o sujeito necessariamente experimenta, quando confrontado
com a injuno do imperativo categrico: a dor da humilhao (ZIZEK, 1998).
Ocorre que a voz interior da conscincia se revela como uma voz implacvel, uma
voz que exige, sem concesso, que lutemos e que at mesmo nos violentemos
contra os impulsos patolgicos orientados pelo princpio de prazer. Dito de
forma mais concisa, o essencial que, segundo Zizek (2012a, p. 562), a dor no
apenas um sentimento fenomnico, entre outros, mas um modo fenomenal privi-
legiado, [...] em que a negatividade pode ser experimentada. Aqui, Zizek segue
170 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
pista de Heidegger, para quem, na sua atenta leitura da Crtica da Razo Prtica,
a dor consistiria na nica emoo transcendental, a priori, [...] a emoo do meu
eu patolgico sendo humilhado pela injuno da lei moral. (ZIZEK, 2012a, p.
562). Assim, para Kant (2007), o significado de perfectibilidade da esfera tica
implica uma rigorosa disciplina e submisso dos sentidos razo universal. Isto
, o homem conquista a sua liberdade lutando contra si mesmo, ou melhor, se
educando e impondo a si um regime disciplinar ininterrupto. por essa razo
que educao um termo que tem sentido somente para seres humanos, j que,
na base de sua dita natureza, lidamos com um descarrilamento estrutural ou,
melhor dizendo, no natural.
Em seus escritos antropolgicos, Kant sublinha que o animal humano
precisa de uma fora disciplinar para domar essa insubordinao constitutiva
de sua natureza. Como atesta, nesta passagem: [...] o ser humano a nica
criatura que deve ser educada. Por educao queremos dizer especificamente
cuidado (manuteno, suporte), disciplina (treinamento) e instruo, juntamente
com formao. (KANT, 2007, p. 437). E, aqui, Kant mais rousseauniano do
que nunca. Foi Rousseau quem primeiro estabeleceu essa relao indissocivel
entre liberdade e perfectibilidade moral. Para ele, a liberdade uma condio
estritamente humana, pois somente o homem possui a capacidade intrnseca de se
aperfeioar, ao longo de sua existncia, ao passo que o animal, guiado desde a ori-
gem de modo instintivo pela natureza, , digamos, perfeito desde sempre (FERRY,
2012. p. 74). Isso testemunha o fato de que o elo perdido entre natureza e cultura
um elo perdido desde sempre. No h base natural do homem; h, nele, uma
vocao antinatural, manifestada por um excesso disjuntivo, inquietante e violen-
to, e que est ausente nos animais. Eis o principal motivo da distino freudiana
entre instinto e pulso: enquanto o instinto possui um tlos prprio, incutido
na biologia do animal, a pulso , pelo contrrio, completamente desprovida de
horizonte, uma espcie de propulso libidinal cuja nica meta a pura e eterna
repetio cclica. H, portanto, uma disfuno constitutiva inerente ao prprio
homem, que desregula e pe abaixo todo o trabalho edificante e harmonioso da
natureza. E, por essa razo, a liberdade s possvel a partir de uma fora discipli-
nar implacvel sobre o homem.
No entanto, Lacan identifica com muita perspiccia a fina correlao entre
a universalidade da lei moral e esse excesso insubordinvel do homem. A proble-
mtica que ele levanta concerne, ento, ao fato de que a lei moral kantiana no
atua de sorte a abrandar esse excesso, como se tratasse de duas foras antagnicas.
Pelo contrrio, a lei moral pressuposta por esse excesso, ela s se torna possvel
contra o pano de fundo de um descarrilamento constitutivo, de uma compulso
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 171
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
repetio puramente mecnica. Nesse sentido, torna-se impossvel manter a di-
cotomia clssica entre o animal humano, patologizado, e o sujeito transcendental,
racional, como se estivssemos lidando com duas foras contrrias, travando uma
luta eterna entre elas: Lei moral e compulso repetio so, a rigor, um s prin-
cpio, porm, cuja identidade cindida por uma lacuna irredutvel, paralctica.
Assim, se, por um lado, a essncia da liberdade em Kant numnica, por outro, a
condio material dessa liberdade reside no prprio desvio pulsional que lhe serve
de suporte. Desse modo, no lugar de elevar o sujeito a um autocontrole pleno
sobre si, o imperativo categrico de Kant s faz manter vivo, a pleno vapor, a
incessante compulso repetio. E o problema que Lacan identifica na filosofia
prtica de Kant precisamente o fato de o filsofo escamotear, ou melhor, recalcar
essa lacuna. E exatamente aqui que Sade entra em cena.
Do outro lado da medalha, Sade apresenta a mesma frmula kantiana,
mas numa lgica invertida. Enquanto Kant tematiza o sentimento de dor e hu-
milhao somente para ressaltar o contedo edificante da lei moral (o sentimento
de respeito), Sade apresenta o que essa operao tem de oculto e obsceno. como
se Sade revelasse a Kant o que ele evita reconhecer em seu prprio arcabouo
terico. Ou seja, Sade torna transparente o fora-da-lei que habita na prpria lei.
Zizek (1992, p. 65) assevera: No comeo da lei h um certo fora-da-lei, um
certo real da violncia que coincide com o prprio ato de instaurao da lei [...]
[o] desmentido desse avesso da lei. em razo desse desmentido que devemos ler
Kant com Sade.
Pode-se, ento, afirmar que Kant e Sade so frente e verso da mesma ideia.
Vejamos por este ngulo: numa certa perspectiva, tem-se um quadro vazio, pura-
mente formal, que exige inflexivelmente o exerccio de um dever moral universal,
mas que, por sua vez, no d pistas de como cumpri-lo. Numa outra vertente,
tem-se a representao de prticas ritualsticas, porm, desprovida de ascese, isto ,
desprovida de uma moldura especfica que lhes d sentido, manifestando somente
a pura mecanicidade dos gestos enquanto um fim em si mesmo. exatamente
isso que se torna obsceno na moral kantiana: quando passamos a agir em nome
de uma formalidade vazia de contedo, em funo de um imperativo categrico
silencioso, que no delimita ponto ou linha de chegada, a resposta s pode ser o
excesso das prticas automatizadas desprovidas de significado. E eis o retrato do
universo sadiano: a expresso fria e indiferente das prticas sexuais mecanizadas,
desvinculadas de horizonte ou sentido ltimo. E exatamente isso, de acordo com
Zizek (1998), que Lacan identifica como a fantasia fundamental sadiana. Ou seja,
enquanto Kant proporciona a bela imagem do dever tico incondicional (o sen-
timento de respeito proporcionado pela dignidade moral), Sade nos proporciona
172 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
a imagem do corpo torturado como suporte material desse ideal de beleza. E
exatamente isso que Kant nos omite (e omite a si mesmo): o postulado da imor-
talidade da alma, numa luta sem fim para alcanar a perfeio tica, correlato de
seu exato oposto, da imortalidade do corpo para suportar, golpe por golpe, dor e
humilhao infinita.
Nesse sentido, crucial destacar que Sade, bem como Kant, busca em
seus escritos um formalismo universal. Ou seja, nos rituais sdicos de prticas
sexuais extremas, est em jogo uma rejeio radical do patolgico, de modo que
o produto de suas prticas no corresponde em absoluto obteno de satisfa-
o dos desejos imediatos, mas, sim, ao excesso que se encontra para alm do
princpio de prazer. Desse modo, a mesma apatia que anima o dever da lei moral
em Kant serve tambm como pano de fundo para a mxima sadiana. Portanto, h
manifestadamente um desprezo radical pelo sensvel e pela resistncia do objeto.
Isto , Sade tambm est procura de uma purificao da vontade que a libere
de todo contedo emprico e patolgico. (SAFATLE, 2003, p. 218). o que
assinala, por exemplo, Monique David-Mnard (1998, p. 18), nesta passagem:
Certamente no desprovido de pertinncia observar que o homem do
sublime e da moralidade, o homem kantiano, que coloca o patolgico no
ritmo da constncia dos princpios que a ao reivindica, se parece com o
homem sadiano no que justamente a variabilidade dos objetos pulsionais
interpretada por um e pelo outro com uma indiferena indiferena aos
olhos do reino exclusivo dos interesses do gozo para Sade, indiferena no
respeito pela lei moral que relega todos os interesses sensveis numa no-
pertinncia aos olhos do imperativo para Kant.
Um gozo para alm do princpio do prazer
aqui que passamos a considerar o efeito da jouissance (gozo), um con-
ceito estritamente psicanaltico que articula uma espcie de satisfao que no
da ordem do princpio do prazer. crucial, portanto, perguntar: h satisfao na
dor da humilhao de se submeter infatigavelmente ao imperativo da lei moral?
Para a psicanlise, sim. Todavia, essa satisfao no est associada ao princpio de
prazer; trata-se da satisfao da prpria pulso em repetir eterna e ciclicamente
um mesmo movimento. E esse o ponto que est velado em Kant, mas que Lacan
enxerga com muita propriedade, nos escritos de Sade. Como afirma Zizek (1992,
p. 66), [...] segundo Lacan, Kant escamoteia o outro lado dessa neutralidade da
lei moral, sua maldade e sua obscenidade, sua malignidade que remete a um gozo
por trs da ordem da lei. Ou seja, a fora motriz que impulsiona o sujeito ao das
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 173
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
Gute, que o faz continuar a obedecer ao imperativo da lei sem o ganho de qualquer
benefcio calculvel para o sujeito, a jouissance.
Para melhor compreender essa complicada relao entre jouissance e princ-
pio de prazer, tomemos a anlise que Lacan faz de uma famosa passagem da Crtica
da razo prtica. A fim de demonstrar a autonomia da liberdade em seguir o dever
moral, em detrimento das inclinaes patolgicas do sujeito, Kant (2011a, p. 50-
51) apresenta o seguinte desafio:
Supondo que algum alegue que sua voluptuosa inclinao seja-lhe
totalmente irresistvel no momento em que o objeto querido e a ocasio
correspondente lhe ocorram, pergunta-lhe se, no caso em que se erguesse
perante a casa em que ele encontra essa ocasio uma forca para suspend-lo
logo aps a gozada volpia, ele ento no dominaria sua inclinao. No se
precisa de muito tempo para adivinhar o que ele responderia.
Ou seja, para Kant (2011a), entre ser enforcado aps ter tido a chance
de fazer sexo com a mulher de seus sonhos e no faz-lo, obviamente que o ho-
mem escolheria suspender suas inclinaes patolgicas em favor da vida. claro
que essa representao no corresponde ao que Kant toma como uma atitude
verdadeiramente moral, pois est em jogo um clculo bem-sucedido sobre as
consequncias empricas de sua escolha. E Lacan est totalmente ciente disso:
[...] isso no nada, e no a que est o fundamento da moralidade em Kant.
(LACAN, 1959-60/1988, p. 136). Contudo, outra coisa que lhe chama a
ateno. No fundo, para Lacan, fazer ou no sexo com a mulher no significa
respectivamente satisfao ou abstinncia dos prazeres. No est em jogo aqui uma
escolha simples que acarreta diretamente em prazer ou desprazer. Pelo contrrio,
do ponto de vista da psicanlise, a nica forma de o sujeito obter prazer renun-
ciando ou protelando a prpria satisfao imediata. Isto , a escolha do sujeito
no se baseia somente nas consequncias empricas de seu ato: o sujeito escolhe
a abstinncia do sexo, no por temer diretamente a forca, mas porque talvez essa
seja a nica condio de ele continuar gozando. Essa lgica paradoxal certamente
a principal contribuio da teoria psicanaltica: o que, at Freud, nunca se tinha
levado em considerao o fato de que h uma assimetria profunda entre prazer e
gozo. Gozo e princpio de prazer so no princpios antagnicos, mas antinmicos
par excellence. Ou seja, eles no esto situados no mesmo plano linear, mas se-
parados por uma lacuna paralctica irredutvel. E, para que continue havendo
desejo, preciso que haja sempre uma distncia mnima entre princpio de prazer
(satisfao) e gozo. Assinala Miller (2011, p. 204):
174 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
Aqui somos obrigados a fazer uma disjuno entre gozo e satisfao. No
haveria experincia analtica se o gozo fosse satisfatrio. precisamente pelo
fato de o verme estar no prprio fruto do gozo que se pode conceber uma
anlise na qual uma jaculao possa retificar. Retificar no o sujeito. Trata-
se de uma retificao do gozo, isto , que ele se torne, que ele possa ser
concebido como satisfatrio.
Quer dizer, o verme dentro do fruto significa a prpria lacuna que impede
um acesso direto ao gozo pela via do prazer.
Segundo Johnston (2005), podemos apontar dois fatores que, do ponto de
vista da psicanlise, solapam a tese do filsofo. Primeiramente, Johnston declara
que, segundo Lacan, essa escolha no to bvia assim, ou seja, no h na verdade
nenhuma necessidade lgica e/ou transcendental para o homem deixar de dormir
com a mulher de seus sonhos a fim de evitar o enforcamento. No fundo, est to-
talmente no seu campo de possibilidade decidir se sacrificar para ter uma noite de
extraordinria de prazer. Em segundo lugar, para Lacan (1963/1998), a forca no
representa absolutamente um empecilho para o exerccio do desejo do homem;
com efeito, consiste na prpria condio positiva para seu desejo. Ou seja, o objeto
de desejo e a forca no so duas categorias disponibilizadas num mesmo plano
simtrico, onde a possibilidade de ser enforcado aps consumar o ato anularia o
desejo pela mulher. Na verdade, h aqui uma assimetria radical entre eles, cujo
efeito revelador apresenta um como sendo a condio positiva do outro. Dito
sem rodeios: do ponto de vista da psicanlise, o que sustenta o vnculo do sujeito
pela mulher justamente a possibilidade de ser enforcado logo aps a to sonhada
gozada volpia. Como explica Zizek (1999, p. 289):
O contra-argumento de Lacan aqui que ns certamente temos de adivinhar
o que sua resposta pode ser: e se ns encontrssemos um sujeito (como
constata regularmente a psicanlise) que s pode desfrutar plenamente
de uma noite de paixo se alguma forma de forca amea-lo isto , se,
fazendo isso, ele violasse alguma proibio... se a gratificao da paixo sexual
envolvesse a prpria suspenso dos mais elementares interesses egostas [...]
esta gratificao claramente localizada no alm do princpio do prazer.
Assim, o desafio de Kant no , como pensava ele, um simples conflito entre
princpio de prazer e conservao da vida. O que ele no levou em considerao
a existncia de um terceiro termo que regula todo o processo: o gozo. O ponto
paradoxal que, ao escolher pela abstinncia, o homem escolhe ao mesmo tempo
pelo princpio do prazer. E a nica condio de ele continuar gozando abdicando
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 175
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
de seu gozo literal, de sucumbir ao pathos de sua inclinao sexual. Todavia, isso
s se torna inteligvel, se tivermos em mente de que se trata insisto de uma re-
lao radicalmente assimtrica entre a donzela e a forca, ou melhor, entre desejo e
proibio. Dessa maneira, enquanto, numa dimenso, o sujeito impedido de en-
tregar-se s suas inclinaes patolgicas imediatas, na outra, ele goza lascivamente
desse mesmo impedimento. Eis o segredo de Kant que Sade nos revela: enquanto,
por um lado, seguimos obstinadamente o rigor da lei moral, por outro, gozamos
compulsivamente.
Este o paradoxo bsico da jouissance: o fato de ela ser tanto impossvel
quanto inevitvel. Como nos mostra Zizek, por um lado, ela nunca atingida,
sempre perdida, mas, por outro, nunca nos livramos dela. Ou seja, cada vez que
renunciamos ao gozo, gera-se um gozo na renncia. Com cada empecilho que
obstrui o acesso ao desejo, gera-se um desejo por esse mesmo obstculo [...]
o excesso do gozo no um resto do gozo que resiste, no importa com que
intensidade o sujeito lute para se livrar dele, mas sim um gozo que surge da prpria
renncia. (ZIZEK; MILBANK, 2014, p. 310). Por isso, a dialtica entre desejo e
proibio no significa simplesmente elevar o valor do objeto, tornando seu acesso
mais difcil, porm, de maneira propriamente paradoxal, tomar esse mesmo objeto
como uma fora autocontraditria, de atrao e repulso simultnea, gerando,
assim, um vazio estrutural por cujo eixo gravita nosso desejo (ZIZEK, 2006b, p.
25).
Assinala claramente Zizek (2008a, p. 89):
assim tambm que deveramos ler a tese de Lacan sobre a satisfao das
pulses: a pulso traz satisfao porque [...] transforma fracasso em triunfo
nela, o prprio fracasso de atingir a meta, a repetio desse fracasso, a
circulao sem fim em torno do objeto, gera uma satisfao prpria. Como
explica Lacan, o verdadeiro alvo da pulso no atingir a meta, mas sim
circular interminavelmente em torno dela.
O objeto a
Desse modo, v-se que desejo e gozo so categorias radicalmente antagni-
cas e at exclusivas, uma em relao outra. No entanto, diante disso, surge uma
outra questo pertinente: [...] como ser ento possvel acoplar desejo e gozo
para garantir um mnimo de gozo no interior do espao do desejo? (ZIZEK,
2004, p. 52). Ou seja, qual seria o elemento mediador dos domnios incompat-
veis entre gozo e desejo? A resposta s pode ser uma: o famoso objeto a de Lacan.
, portanto, o objeto a que, por assim dizer, d as coordenadas elementares que
176 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
estruturam o quadro de nossa dimenso fenomnica. E, como tal, ele cumpre uma
dupla designao: ele tanto o objeto-causa do desejo como tambm o objeto-
-mais gozar. Jacques Alain-Miller (2010, p. 195) eloquentemente preciso, quan-
do destaca que [...] o objeto a um amboceptor entre o desejo e o gozo. Para
mostrar isso, nada melhor do que estas duas definies trazidas por Lacan ao longo
de sua obra: ele o define tanto como mais gozar quanto como causa do desejo.
Portanto, no nos deixemos enganar: o objeto a no (somente) o objeto
faltante, que sempre escapa ao meu alcance, apto a driblar astuciosamente o meu
desejo. Mais que isso, o objeto a propriamente a falta encarnada que inaugura a
prpria dimenso do desejo. Assim, ressalta Zizek (2004, p.52): O objeto peque-
no a no aquilo que desejamos, aquilo que procuramos, mas antes o que pe o
nosso desejo em movimento, o quadro formal que lhe d consistncia. Em outras
palavras, o objeto a o objeto-causa da falta ou causa-do-desejo (uma vez que o
desejo corresponde a esse processo metonmico) e, como tal, ele no (somente)
um processo dinmico e fugaz, contudo, constitui a prpria presena inerte da
falta que nos pe em um pseudomovimento de busca eterna o eixo fixo que nos
faz estupidamente mover em crculo, em torno dele. Zizek (2012, p. 384) afirma,
em seu Menos que Nada: [...] o objeto-causa do desejo no seno a encarnao
da falta, seu lugar-tenente. Aqui, a relao entre objeto e falta invertida: a falta
no redutvel falta de um objeto, ao contrrio: o prprio objeto que a positi-
vao espectral de uma falta.
E, medida que o objeto a o objeto que encarna a prpria falta em
torno da qual circula o nosso desejo, esse objeto estrutural deve ento produzir
um excesso de gozo, um mais-gozar, que impede o arremate final entre desejo e
gozo. Isto , ele a distncia mnima que articula essas duas dimenses. Isso se
torna menos enigmtico, se levarmos em conta a ambiguidade que comporta a
expresso francesa plus-de-jouir. O plus aqui pode significar tanto mais, exces-
so, como tambm no mais, nenhum (dependendo apenas da forma como
pronunciado). Isso significa que o mais-gozar tanto aquilo que produz gozo, mas
tambm aquilo que impede o acesso ao gozo. Nesse sentido, o excesso de gozo
sobre o mero prazer gerado pela presena do exato oposto do prazer, ou seja, a
dor. (ZIZEK, 2012a, p. 164).
O mais-gozar , por conseguinte, o prprio gozo na dor, ou seja, quando
almejamos obter um excesso de prazer, o resultado que j no temos mais nenhum
prazer, pelo simples motivo de que s podemos experiment-lo como dor. Em
suma: temos ento uma relao antinmica entre gozo e desejo, cujo mediador
justamente o objeto a. Dessa maneira, correto afirmar que o desejo constitui a di-
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 177
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
menso fenomnica do infinito esprio, na qual o sujeito trafega incessantemente
numa estrada sem fim, em busca de sua satisfao plena, ou seja, de seu gozo
absoluto. No entanto, o que passa despercebido para esse sujeito o fato de que
o gozo no se encontra na dimenso tempo-espacial da realidade fenomnica, na
linha de chegada dessa estrada, mas se apresenta de maneira inerte e ininterrupta
justamente nessa prpria busca eterna e frustrante. Consequentemente, esse gozo
s pode ser obtido na forma de um mais-gozar, na medida em que frustrado
no prprio campo do desejo. Assim, longe de ser uma concepo metafsica do
gozo, para a psicanlise, desejo e gozo so, a rigor, um s princpio, separado de
si mesmo por uma lacuna paralctica: o objeto a. Enfatiza Zizek (2008b, p. 55):
[...] o objeto a o rochedo, o obstculo que interrompe o fechamento do circuito
do princpio do prazer e descarrila seu movimento equilibrado.
Cabe fazer, neste ponto, uma pergunta trivial, porm, extremamente re-
veladora: se o objeto a o objeto-causa do desejo, isto , o objeto que garante as
coordenadas bsicas segundo as quais o sujeito se inscreve no campo do desejo,
por que razo continuar chamando-o de objeto, e no apenas de quadro categorial
do desejo? Em outras palavras, se ele no consiste num objeto ordinrio do nosso
desejo, mas naquilo que inaugura o prprio campo do desejo, ento ele, mais
do que um objeto, consiste na prpria dimenso transcendental do desejo. Cor-
reto. Entretanto, devemos novamente encarar aqui mais uma inverso dialtica
radical: a problemtica que o objeto a levanta no apenas a problemtica do
idealismo transcendental kantiano, cuja nfase reside no horizonte transcendental
da realidade fenomnica, mas, de forma essencialmente hegeliana, Lacan procura
capturar a dimenso ontolgica do transcendental inscrito na prpria realidade
fenomnica. Em outras palavras, o objeto a, justamente por ser o mediador entre
gozo e desejo, ele, para utilizar uma expresso foucaultiana, um duplo emprico-
-transcendental. Desse modo, ao mesmo tempo em que o objeto a a causa trans-
cendental do desejo, ele reificado no prprio campo espao-temporal do desejo
razo pela qual no se pode pens-lo nem somente em sua condio ntica, nem
somente em sua dimenso ontolgica, como horizonte de significado do ser. Seu
estatuto literalmente ntico-ontolgico, cujo prottipo segue o princpio do
juzo especulativo hegeliano: O Esprito um osso, Deus Cristo etc.
Isso explica sua dupla designao: como objeto-causa do desejo, ele cum-
pre essa funo transcendental mais elevada, ao passo que, como objeto-mais-
-gozar, ele cumpre o excesso ntico inapreensvel pelo quadro do transcendental
do desejo. Por isso, Lacan procura igualmente diferenciar o objeto a da Coisa
numenal (das Ding-en-sich kantiano, ou das Ding freudiano): enquanto a Coisa
consiste no excedente numnico que extrapola os limites de minhas capacidades
178 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
transcendentais de apreenso e conceitualizao, o objeto a esse prprio limite
transcendental reificado. Ele , por assim dizer, a borda que delimita o espao da
subjetividade. A grande dificuldade para apreender o verdadeiro significado da
ideia de objeto a , pois, identificar num mesmo conceito tanto a forma a priori
que abre o campo metonmico do desejo, como o excesso ntico irredutvel a essa
falta.
O imperativo do gozo
Voltemos, ento, para nosso tema fundamental: a relao ntima e
paradoxal entre Kant e Sade. Como vimos, o esforo lacaniano na leitura de Kant
com Sade nada mais do que revelar o objeto de gozo excessivo oculto na Crtica
da Razo Prtica. Foi, portanto, Sade quem revelou o fato de que o sujeito moral
kantiano no de modo algum uma totalidade harmnica idntica a si mesma,
mas, em ltima instncia, um sujeito radicalmente clivado em seu cerne. A voz
da conscincia, a qual exprime a lei moral, no uma voz clara e distinta, como
acreditava Kant: uma voz dissonante e estrangeira, cujo efeito um estranha-
mento inconcilivel do sujeito consigo mesmo. como se o imperativo du kannst,
denn du sollst! (podes, porque deves!), que emerge ininterruptamente na conscin-
cia moral, provocasse, por sua condio puramente formal, uma exigncia aterra-
dora e monstruosa, uma necessidade compulsiva de purificao e aniquilao de
todo contedo emprico. E o resultado disso o absurdo tico supremo: tendo em
vista a inflexibilidade do imperativo categrico, o Bem supremo do dever tico
universal se confunde com a perversidade maligna do gozo destrutivo. Nos termos
de Zizek (1988, p. 66), [...] a lei moral uma ordem feroz que no admite des-
culpas podes, porque deves e que ganha, por isso, o ar de uma neutralizada
malfazeja, uma indiferena malvola. Desse modo, pode-se concluir que a voz
silenciosa e intransigente da conscincia uma voz monossilbica e repetitiva que
emite uma s ordem: goze!
O mrito de Sade, portanto, foi ter revelado essa ciso constitutiva do
sujeito, a voz como o objeto que cinde o sujeito entre gozo e desejo. E, neste
ponto, cumpre introduzir a ambiguidade constitutiva do conceito de supereu para
Lacan. O supereu, identificado com o prprio princpio formal da Lei moral,
justamente o princpio que desperta esse excesso libidinal: o prprio vazio formal
da Lei moral o agente da transgresso, que impele o sujeito ao gozo. Nesse sentido,
[...] o supereu uma lei enlouquecida, na medida em que probe o que formal-
mente permite. (ZIZEK, 2006b, p. 194). Ou, ainda:
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 179
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
O supereu uma Lei na medida em que no est integrado no sistema sim-
blico do sujeito, na medida em que sua funo como ordem incompreens-
vel, sem sentido, traumtica, incomensurvel com a riqueza psicolgica das
atitudes afetivas do sujeito, manifesta uma espcie de neutralidade malevo-
lente dirigida contra o sujeito, indiferente s suas empatias e temores. Neste
ponto preciso, medida que se confronta com a instncia da letra [no
caso, o Significante-Mestre (S1)] na sua exterioridade original e radical, com
o sem-sentido do significante no seu estado mais puro, o sujeito depara-se
com a ordem do supereu Goza!, que se dirige ao ncleo mais ntimo do seu
ser. (ZIZEK, 2006b, p. 133).
Ou seja, aqui, a forma pura da Lei e transgresso se confundem. Na me-
dida em que a Lei se aproxima de sua forma pura, de seu vazio formal, somos
fatalmente compelidos ao seu gozo obsceno, jouissance que expressa isso que
Zizek chamou acima de neutralidade malevolente. Quer dizer, a formalidade da
Lei moral universal, sua obsesso implacvel por uma total depurao de todo e
qualquer contedo patolgico , paradoxalmente, sua transgresso imanente, seu
excesso incontido que destri justamente aquilo mesmo que se quer preservar.
Kant sem Sade
Embora tenhamos feito at aqui todo esforo para aproximar a filosofia
prtica de Kant da injuno ao gozo, em Sade, de maneira que se torna cada vez
mais claro para ns o quanto o vazio da Lei moral intrinsecamente correlato de
sua transgresso constituinte, a esta altura oportuno desfazer esse lao e pen-
sar uma possibilidade de considerar um Kant sem Sade. Isto , evidentemente, o
modo com que a pura forma da Lei moral kantiana foi conduzida at aqui nos
fez perceber como o sujeito da Lei moral no uno, idntico a si mesmo, como
acreditava Kant, mas, no que concerne ao exerccio de seu dever, ele radicalmente
cindido entre desejo e gozo. No entanto, agora devemos ir com calma, pois esse
no o ponto final da histria. A pergunta-chave, porm, passa a ser: estaremos
condenados eternamente ao paradoxo de Kant com Sade, ou seja, a essa repe-
tio demonaca entre desejo/frustrao e gozo? Estaremos condenados a gozar
na dor e na humilhao de nosso fracasso? Ser que a resposta final da moral
kantiana consiste, de fato, na frmula do supereu obsceno da injuno ao gozo?
Se a resposta for sim, devemos aceitar o fato de que Sade realmente representa
a verdade do projeto moral de Kant. Contudo, se a resposta for no, significa
que deveramos encontrar uma sada para o projeto da filosofia prtica de Kant
que no corresponda lgica do supereu e que, nesse sentido, Sade passasse a
180 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
representar apenas o aspecto pervertido da Lei moral kantiana. Todavia, isso no
significa que devemos regredir de Sade a Kant (e desmentir seu elo imanente),
mas, pelo contrrio, devemos confrontar Kant com ele mesmo, encontrar no
prprio impulso criativo da filosofia kantiana o ncleo que excede seu prprio
edifcio terico e, assim, fazer Kant avanar sobre Sade. Da a importncia em
fazer jus intuio fundamental de Kant e radicalizar o princpio de autonomia
humana. Porm, para isso, preciso trair a letra de Kant, para assim ser fiel a seu es-
prito. Cumpre, desse modo, efetuar aqui um passo decisivo: devemos abandonar
o modelo formal-transcendental kantiano para alcanar um nvel mais profundo
de autonomia e liberdade; preciso, em outras palavras, que o vigor do imperativo
categrico kantiano, isto , o abandono completo de toda lei heternoma que
bloqueia a extenso da autonomia moral, alcance uma fora ainda mais aguda e,
dessa forma, o sujeito se aproprie do prprio ncleo subversivo da Lei moral, de
seu gozo subjacente. Mas de que maneira?
Se quisermos recuperar a intuio fundamental de Kant, devemos
radicalizar ainda mais a lgica do sacrifcio imposto pelo rigor moral. Quando
Freud articulou o conceito de supereu, ele o associou diretamente com um
sentimento de culpa inassimilvel. Para Freud (1923/2011), quanto mais o sujeito
se submete inflexibilidade do supereu, maior a presso e mais ele se sente culpado
quanto mais cumpre o seu dever, maior o peso da culpa sobre seus ombros. Ou
seja, o efeito paradoxal que o sentimento de culpa jamais pode ser dissipado com
o cumprimento da Lei imposta pelo supereu. E Lacan faz a leitura correta desse
paradoxo, conforme assevera Zizek (2006b, p. 196):
No entender de Lacan, esse sentimento de culpa no uma iluso que deva
dissipar-se no decorrer da cura psicanaltica: realmente somos culpados; o
supereu extrai a energia necessria para pressionar o sujeito do fato de este
no ser fiel ao seu desejo e haver cedido. O nosso sacrifcio ao supereu, o
tributo que lhe pagamos, s confirma a nossa culpa. E por isso que a nossa
atividade para com o supereu no tem remisso: quanto mais pagamos, mais
devemos. O supereu como o chantagista que nos vai lentamente sangrando
at a morte; quanto mais obtm, maior influncia tem sobre ns.
E qual o significado disso? Significa que, se o sentimento de culpa ainda
persiste, embora se obedea rigorosamente necessidade de sacrifcio em nome
da Lei, isto testemunha o fato de que algo ainda continua a ser comprometido,
quer dizer, atesta somente que o sacrifcio ainda no fora suficientemente radical.
Por conseguinte, o que poderia ser sacrificado, alm de todo sacrifcio exercido
em funo da Lei moral? Resposta: o prprio sacrifcio em si, ou (o que d no
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 181
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
mesmo) o sacrifcio do gozo. Uma vez que a frmula bsica da agncia do supereu
maligno o sacrifcio de todo contedo emprico, em nome da pura forma da
Lei, o passo seguinte para radicalizar o princpio absoluto do sacrifcio, imposto
pela Lei moral, seria, ento, sacrificar a prpria forma da Lei, ou seja, sacrificar o
prprio sacrifcio. Num primeiro momento, o sujeito sacrifica tudo em nome da
exigncia do prprio sacrifcio, restando disso um gozo inaudito articulado pelo
prprio ato de sacrificar. Mas, num segundo momento, como consequncia lgica
do primeiro ato, o sujeito deve sacrificar o prprio sacrifcio, ou seja, o prprio
gozo incutido na compulso da injuno ao sacrifcio.
Nesse sentido, imprescindvel remover o mbito da tica para alm da
tenso entre Lei e gozo. Cabe, pois, opor o que Lacan considera como a tica
do desejo, na psicanlise, cuja mxima no cedas no teu desejo, injuno
ao gozo exercida pelo supereu. primeira vista, parece haver uma contradio
nessa mxima lacaniana, uma vez que o desejo, como foi tratado ao longo deste
captulo, a condio de possibilidade (negativa) do gozo. No entanto, devemos
considerar que o gesto conclusivo do desejo, seu acabamento final, no o encon-
tro satisfatrio com o objeto (uma vez que isso impossvel), mas o sacrifcio de
si, ou seja, o desejo deve sacrificar a prpria causa que pe em atividade o circuito
metonmico atravs da qual ele busca satisfao. Em outras palavras, embora o de-
sejo seja caracterizado por uma perda constitutiva a priori, isto , por uma eterna e
incessante procura por seu objeto perdido, a sua tica mais fundamental no pode
consistir na manuteno desse movimento incessante em torno desse vazio. A tica
do desejo consiste, ao contrrio, na perda da prpria perda, ou seja, na negao da
negao, a via atravs da qual se nega a prpria causa-da-negao que d origem
ao desejo. Isso nos leva ao conceito lacaniano de travessia da fantasia. Para enten-
d-lo, temos que justapor dois tipos de negatividade: a primeira delas ocasiona-
da pelo engodo da posio subjetiva que incorpora a negatividade/finitude como
dimenso metonmica do desejo. Mediante essa postura, surge inevitavelmente o
sentimento de uma perda originria e constitutiva, uma falta jamais suprida. A
segunda negatividade, todavia, uma inverso dialtica da prpria perda, isto ,
perda dessa perda originria: no que o sujeito perca algo positivo, um objeto
determinado cuja falta determinar o sentido de sua existncia; mas o que ele per-
de exatamente o que nunca possuiu, ou seja, ele perde a iluso subjetiva de que
antigamente possua algo. E o sentimento de culpa, que acompanha o supereu, a
confirmao inequvoca de que essa travessia (da fantasia) ainda no foi definitiva,
e que o desejo ainda comprometido de alguma forma.
Qual, ento, a relao disso com a moral kantiana? Ora, o ponto falho da
moral transcendental de Kant justamente quando ele no tematiza essa inverso
182 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
dialtica em que, para que se alcance a verdadeira dimenso da liberdade, tanto o
contedo patolgico que mancha a pura forma da Lei moral deve ser sacrificado,
como tambm e sobretudo a prpria forma da Lei moral deve ser sacrificada.
Por esse motivo, Zizek insiste no fato de que Sade no a verdade ltima de Kant,
mas apenas o sintoma de Kant em haver cedido em sua intuio tica primordial,
cedido em seu desejo de enfrentar as consequncias de sua revoluo moral. Zizek
(2011a, p. 215) afirma claramente:
Devemos inverter a leitura mais comum do lacaniano Kant com Sade,
segundo a qual a perverso sadiana a verdade de Kant, mais radical do
que Kant, e deduz as consequncias que o prprio Kant no teve coragem
de enfrentar. Mas deveramos afirmar o contrrio: a perverso sadiana
surge como resultado da acomodao kantiana, do fato de Kant evitar as
consequncias de sua descoberta. Sade o sintoma de Kant: embora seja
verdade que Kant recuou para no exprimir todas as consequncias de sua
revoluo tica, foi essa acomodao de Kant, essa falta de vontade de ir at
o fim, de ser totalmente fiel sua descoberta filosfica, que abriu espao para
a figura de Sade. Longe de ser simples e diretamente a verdade de Kant,
Sade o sintoma de como Kant traiu a verdade de sua prpria descoberta o
obsceno jouisseur sadiano um estigma que testemunha a acomodao tica
de Kant; o radicalismo aparente desse personagem (a disposio do heri
sadiano de ir at o fim em sua Vontade-de-Gozar) uma mscara do extremo
oposto. Em outras palavras, o verdadeiro horror no a orgia sadiana, e sim
o mago real da prpria tica kantiana.
Por isso que somente assumindo a jouissance oculta por trs da forma
pura da Lei moral que podemos pensar um Kant desprovido de seu excesso
obscuro e, assim, finalmente, quebrar o crculo vicioso entre Kant e Sade. E
somente ao sobrepor a crtica do desejo puro de Lacan Crtica da Razo Prtica
de Kant que podemos radicalizar o princpio da liberdade humana. E, como
ficou claro, esse desejo puro s pode ser efetivado com a identificao plena do
sujeito transcendental com o seu resto excrementcio enquanto mais-gozar. Ou
seja, somos livres apenas quando nos identificamos com o complemento objetal
da falta, isto , o objeto a como o fundamento da pura formalizao do sujeito
transcendental.
FONSECA, Fernando Fac de Assis; RECH, Hildemar Luiz. Zizek with Lacan in Kant
without Sade: freedom as the reappropriation of pleasure. Tans/form/ao, Marlia, v. 40, n.
1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017.
Abstract: In this article, based on a reading of Zizek and Lacan, we discuss the radical perspective of
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 183
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
freedom as an overcoming of the dialectic between the Kantian moral law and sadistic joy. We first
try to show how Lacan articulates Kants relationship with Sade, and then consider how, according to
Zizek, the psychoanalyst finds an outlet for the Kantian principle of freedom based the ethics of pure
desire, which allows us to think of a Kant without Sade.
Keywords: Moral law. Desire. Enjoyment. Freedom.
Referncias
BACON, F. Novo rganon [Instauration Magna] So Paulo: Edipro, 2014.
DAVID-MNARD, M. A construo do universal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud,
1998.
FERRY, L. Kant: uma leitura das trs Crticas. Rio de Janeiro: DIFEL, 2012.
FREUD, S. O eu e o id. In: ______. Obras completas, v. 16. So Paulo: Companhia das
Letras, 2011. (Original publicado em 1923).
HEGEL, G. W. F Fenomenologia do esprito. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.
JOHNSTON, A. Time Driven: metapsychology and the splitting of the Drive Evanston.
Northwestern: University Press, 2005.
KANT, I. Anthropology, history and education. New York: Cambridge University Press,
2007.
______. A metafsica dos costumes. So Paulo: Edipro, 2008.
______. Crtica da razo prtica. So Paulo: Martins Fontes, 2011a.
______. Fundamentao da metafsica dos costumes. Lisboa: Edies 70, 2011b.
LACAN, J. Subversao do sujeito e dialetica do desejo no inconsciente freudiano. In:
Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 807-842.
______. O seminrio, Livro 7: a tica da psicanlise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.
(Original 1959/1960).
MILLER, J. A. Perspectivas dos escritos e outros escritos de Lacan: entre desejo e gozo. Rio de
Janeiro: Zahar, 2011.
SAFATLE, V. O ato para alm da lei: Kant com Sade como ponto de viragem do pensamento
lacaniano. In: ______. (Org.). Um limite tenso: Lacan entre a filosofia e a psicanlise. So
Paulo: Editora da UNESP, 2003. p. 189-232.
ZIZEK, S. O mais sublime dos histricos: Hegel com Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1988.
______. Eles no sabem o que fazem: o sublime objeto da ideologia.Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1992.
184 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Zizek com lacan em Artigos / Articles
______. Kant and Sade: the ideal couple. Lacanian Ink, Nova York, 13, p. 12-25, Fall,1998.
Disponvel em: <http://www.lacan.com/cover13.htm>. Acesso em: 20 nov. 2016.
______. Kant with (or against) Sade. In: WRIGHT, E.; WRIGHT, E. (Ed.). The Zizek
Reader. Oxford: Blackwell, 1999. p. 281-301.
______. A subjetividade por vir. Lisboa: Relgio dgua, 2004.
______. As Metstases do gozo: seis ensaios sobre a mulher e a causalidade. Lisboa: Relgio
dgua, 2006b.
______. A viso em paralaxe. So Paulo: Boitempo, 2008a.
______. Enjoy your symptom! Enjoy your symptom!: Lacan in Hollywood and Out. New
York; London: Routledge, 2008b.
______. rgos sem corpo: Deleuze e conseqncias. Rio de Janeiro: Companhia de Freud,
2011a.
______. Menos que nada: Hegel e a sombra do materialismo dialtico. So Paulo: Boitempo,
2012a.
______; MILBANK, J. A monstruosidade de Cristo. So Paulo: Trs Estrelas, 2014.
Recebido em 20/07/2016
Aceito em 21/10/2016
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017 185
FONSECA, F. F. A.; RECH, H. L.
186 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 165-186, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
Donacin y Subjetividad en La Nueva Fenomenologa
en Francia: Marion, Romano y Barbaras1
Patricio Mena Malet2
Resumen: El siguiente trabajo tiene por objetivo examinar la Nueva fenomenologa en Francia, a travs
de las obras de Marion, Romano y Barbaras. Nuestra hiptesis de lectura es que estas fenomenologas,
por un lado la de Marion y Romano, y por el otro la de Barbaras, coinciden en dos cuestiones: 1)
el privilegio que otorgan a la donacin y, 2) la necesidad de pensar la subjetividad abandonando el
paradigma de la subjetividad trascendental husserliano. Ambas propuestas requieren de un examen
de las intenciones metdicas de la fenomenologa husserliana y es, en dicha discusin, que ganan, al
mismo tiempo, la originalidad de su marcha fenomenolgica.
Palabras Claves: Subjetividad. Donacin. Deseo. Acontecimiento. Fenmeno.
1. No cabe duda que la fenomenologa en Francia es actualmente muy
fructfera. Obras tan importantes como las de Renaud Barbaras, Jean-Luc Marion,
Michel Henry, Henry Maldiney, Franoise Dastur, Jean-Louis Chrtien, Jean-Yves
Lacoste, Claude Romano, Emmanuel Housset, Jocelyn Benoist, Bruce Bgout,
entre otros, dinamizan la escena de la filosofa actual con propuestas originales que
actualmente son debatidas y discutidas. Ciertamente, en los ltimos 30 aos en
Francia, la fenomenologa se ha desarrollado de manera muy importante, tal como
lo han sealado en un estudio reciente Lsl Tengelyi y Hans-Dieter Gondek
(2011). Es a partir de 1990, que las obras de estos autores toma el relevo de las de
Sartre, Merleau-Ponty y Levinas, tras un largo silencio de la fenomenologa que
cedi su lugar a movimientos como el estructuralismo y las filosofas de la diferencia
y la deconstruccin. Sin embargo, aquellos aos de silencio no significaron
un abandono de la fenomenologa, pues fueron verdaderos aos de formacin
marcados por la publicacin de los inditos de Husserl que abra otras vas de
interrogacin fenomenolgica. No cabe duda, entonces, que la fenomenologa,
que ha sido revivificada a partir de la obra paciente de Jean-Luc Marion por
nombrar solo a este autor-, segn el juicio de Tengelyi y Gondek, haya tomado
en Francia el rol de la filosofa (MARION, 2004, p. 7). Basta leer los mltiples
1 Este artculo ha sido escrito en el marco del proyecto Fondecyt Regular N 1140997 (2014-2016),
del que el autor es el Investigador Responsable.
2 Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de La Frontera. Temuco, Chile. E-mail: patricio.
mena.m@ufrontera.cl
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 187
MALET, P. M.
comentarios de Jean Greisch (2009) para reconocer el lugar predominante y la
originalidad con la que se ha desarrollado la fenomenologa en Francia.
Pero el amplio panorama de la fenomenologa actual demanda al menos dos
tipos de preguntas: en primer lugar, siendo tantas las propuestas fenomenolgicas
donde varan los fenmenos a describir (el acontecimiento, la carne, el cono y
el dolo, la afectividad, etc.), es sensato preguntarse por los ajustes metdicos
precisados, ajustes que dependen de los objetos a ser descritos. Mas, en verdad, ni
siquiera se trata de ajustes, pues el mtodo mismo no puede ser sino la filosofa.
Es, en este sentido, que las nuevas propuestas fenomenolgicas no se desarrollan
sin poner en cuestin el mtodo de la manera ms radical posible. Un buen
ejemplo de ello es el ltimo trabajo de Claude Romano (2010a), Au cur de la
raison, la phnomnologie, donde el autor, reinterrogando la experiencia, propone
una revisin exhaustiva del mtodo fenomenolgico. Es as que el filsofo afirma:
Si hay algo que Husserl nos ha enseado, es que el mtodo no es importado
desde el exterior en la filosofa, no consiste en un conjunto de preceptos
vacos dictados abstractamente, es decir independientemente de los objetos
sobre los que trata esta disciplina, puesto que aqu el mtodo es uno con la
marcha filosfica misma y con la cosa, el asunto (Sache) al que tiene por
misin reconducirnos []. En fenomenologa como en filosofa, el mtodo
es la cosa misma. (ROMANO, 2010a, p. 17).
Y un poco ms adelante, agrega:
[] es porque el presente libro es a la vez una introduccin a la fenomenologa
(en el sentido de una introduccin en la fenomenologa, de una auto-
presentacin de esta ltima) y una transformacin de la fenomenologa,
la tentativa de una mejor justificacin de sus tesis fundamentales una
presentacin de la fenomenologa a partir de ella misma en tanto que su
propia transformacin. (ROMANO, 2010a, p. 18).
Una segunda pregunta que puede plantearse es si es posible reconocer un
hilo comn entre las diversas propuestas fenomenolgicas actuales a pesar de sus
diferencias. Nuestra respuesta ante esta segunda cuestin es afirmativa. Pero antes
de avocarnos a su justificacin, es preciso constatar cmo la situacin actual de
la fenomenologa viene a dar la razn al modo cmo Ricur la presentaba ya en
1967:
[] la fenomenologa, dice el autor francs, es la suma de la obra husserliana
y de las herejas resultadas de Husserl; es tambin, la suma de las variaciones
188 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
de Husserl mismo y en particular la suma de las descripciones propiamente
fenomenolgicas y de las interpretaciones filosficas por las que reflexiona y
sistematiza el mtodo. (RICUR, 2004, p. 9).
Treinta y nueve aos despus, Bruce Bgout, en un artculo sobre Paul
Ricur, comentando el texto recin citado, afirma que [] cada fenomenologa
avanza as por distancias y encauzamientos de los presupuestos iniciales de
la fenomenologa que remodela en funcin de temas y cuestiones que les son
propias. (BGOUT, 2008, p. 197). As tambin, Philippe Grosos (2014, p. 192)
ha afirmado recientemente que
[] lo propio de lo que se llama fenomenologa es no existir en tanto
que escuela o disciplina y tal vez probablemente ni siquiera en tanto que
tal! La fenomenologa no existe sino para reinventar cada vez el modo de
aproximacin que es el suyo, para adaptarse mejor al fenmeno que intenta
pensar. La nica exigencia, si es que la hay, es pensar lo que se da en trminos
de fenmeno y por tanto pensar su modo de donacin.
Y un poco ms adelante agrega: El despliegue de la fenomenologa
hay cada vez que reinventarlo en funcin de la cosa misma que hay que pensar.
Radica all su dificultad, pero igualmente su pertinencia y su inters. (GROSOS;
VINCENT, 2008, p. 134).
El carcter hertico de la fenomenologa, tan plural y fructfero como sea,
ha sido objeto de una polmica importante promovida por Dominique Janicaud
(2009), quien ha acusado a las obras de Marion, Chrtien, Levinas y Henry, de
haber dado un giro teolgico. Recientemente, Isabelle Thomas-Fogiel califica a las
fenomenologas actuales de un giro emprico o realista sobre este giro volveremos
a lo largo de la exposicin-- y Christian Sommer de un giro antropolgico.
Mientras que Thomas-Fogiel (2013, p. 529) reconoce que la actual fenomenologa
[] profesa una forma de realismo de la experiencia que es el verdadero punto
de unin (lugar de reparto) de las diferentes elaboraciones. Christian Sommer
(2011, p. 160) afirma que
[] lejos de ver en esta proximidad con la antropologa un dficit, se
podra encontrar all la ocasin de un posible retorno al (del) ser humano
encarnado, en carne y hueso, puesto entre parntesis por la fenomenologa
trascendental como por la ontologa fundamental. Lo que pide rehabilitar la
antropologa, interrogndose sobre su forclusin y su rechazo por parte de
Husserl y Heidegger.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 189
MALET, P. M.
Por su parte, Bruce Bgout ve un intento constante de la fenomenologa
practicada en Francia de anexarle a sta la fenomenologa-- una doctrina extra-
fenomenolgica que viene a resistir al idealismo trascendental contra el cual la
nueva generacin se ha alzado. Al respecto, Bgout (2008, p. 132) afirma que:
Si los filsofos post-husserlianos separan a los hermanos siameses de la
fenomenologa y la filosofa trascendental es, a continuacin, para anexarle
a la parte fenomenolgica otro cuerpo extrao: ontologa, antropologa,
hermenutica, filosofa de la vida, de la donacin, del Otro. Apenas liberada
del yugo del idealismo la fenomenologa no tiene tiempo de gozar de su
nueva libertad pues es asociada, incluso sujetada, a una nueva doctrina
extra-fenomenolgica para darle una base filosfica ms slida que la que le
aportara el idealismo trascendental.
Se comprende, por tanto, que ante la constante acusacin que recae
sobre la fenomenologa practicada en Francia, de dar un giro o teolgico, o
antropolgico, o empirista, lo que est en juego es la necesidad de reconocer una
suerte de topos comn (THOMAS-FOGIEL, 2013, p. 528) a los autores de esta
ltima generacin fenomenolgica. Por mi parte, quisiera proponer brevemente
algunos argumentos que permitan, por un lado, reconocer una preocupacin
comn a la nueva fenomenologa en Francia, tomando en cuenta dos corrientes
fenomenolgicas con orgenes distintos: por un lado, consideraremos las obras
de Marion y Romano, que son ms bien deudores de la filosofa heideggeriana
y husserliana; y por otro lado, nos centraremos en la obra de Renaud Barbaras,
ms prximo a Husserl, Merleau-Ponty y Marc Richir. Siguiendo parcialmente los
anlisis de Isabelle Thomas-Fogiel, parece posible reconocer que una preocupacin
constante de la fenomenologa actual es la donacin; en este sentido, la obra de
Renaud Barbaras, La dynamique de la manifestation (2013) junto a tant donn
(2005) de Marion y Lvnement et le monde (1998) de Romano--, viene tal vez
a corroborar esta hiptesis de lectura a la que adhiero y que quisiera defender3.
Un balance crtico con las obras de Marion y Romano puede aportar elementos
suficientes para su justificacin. Pero, para ello y as poder desplegar los argumentos
a favor de la tesis del predominio de la donacin en la prctica fenomenolgica
actual y a modo de contraste--, quisiera presentar en primer lugar el modo cmo
la fenomenologa husserliana y heideggeriana fue recepcionada por la primera
3 A pesar de que adhiero a la tesis de Isabel Thomas-Fogiel respecto del predominio de la cuestin de
la donacin en la nueva fenomenologa en Francia, no comparto, sin embargo, la tesis general de su
ltimo libro, Le lieu de luniversel (2015), segn la cual la actual fenomenologa francesa habra dado
un giro hacia una fenomenologa realista. Cf. Mena (2015, p. 107-137).
190 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
generacin de fenomenlogos en Francia, a saber Sartre, Merleau-Ponty y Ricoeur.
2- No es ni la exigencia de fundacin ltima, ni la reivindicacin de evidencia
apodctica de la conciencia de s que fueron primero destacadas, dice Ricur, sino
al contrario, lo que en el tema de la intencionalidad rompa con la identificacin
cartesiana entre conciencia y conciencia de s. (RICUR, 1995, p. 17). Con este
texto, Paul Ricur se refiere al impacto que caus la fenomenologa en la primera
generacin de fenomenlogos franceses, a saber Emmanuel Levinas, Merleau-
Ponty, Jean-Paul Sartre y l mismo. Es el descubrimiento de la intencionalidad lo
que ha marcado de manera profunda los primeros desarrollos de la fenomenologa
en Francia, tal como puede atestiguarlo el breve ensayo de juventud dedicado por
Sartre a la intencionalidad fenomenolgica. Este descubrimiento vena, de todos
modos, de la mano de la lectura de Sein und Zeit de Heidegger y su ruptura con
la fenomenologa husserliana, a excepcin de Ricur que era influido ms por los
existencialismos de Marcel y Jaspers, antes que por la ontologa fundamental de
Heidegger. No es posible entender el desarrollo de la fenomenologa en las obras
de Sartre, Merleau-Ponty, Ricur y Levinas sin comprender que stas toman su
curso a partir del de las lecturas cruzadas entre Husserl y Heidegger_. Es as que
Merleau-Ponty, en una entrevista publicada en 1946, explicaba que sus filosofas
las de Husserl y Heidegger- les aportaba a los fenomenlogos de su generacin
[] una filosofa extendida, un anlisis sin prejuicios de los fenmenos, es decir
del medio en el cual se desarrolla nuestra vida concreta. (MERLEAU-PONTY,
1997, p. 67). Se trataba, para Merleau-Ponty y Sartre, en opinin de Franoise
Dastur, [] de encontrar en esta filosofa de la existencia que les vena de
Alemania, a travs de Husserl y Heidegger, el medio para salir de la estrechez de
una filosofa reflexiva de inspiracin cartesiana y de pensar la situacin concreta
del hombre en el mundo y a travs de la historia. (DASTUR, 2011, p. 37).
Por otro lado, es claro que esta primera generacin de fenomenlogos
franceses buscan tomar distancia del idealismo trascendental husserliano en
fidelidad al lema que demandaba [] volver a las cosas mismas. (HUSSERL,
1985a, 218). Es as que el proyecto de una filosofa de la voluntad de Ricur
buscaba realizar una descripcin eidtica del acto voluntario -proyecto inspirado
en la Phnomnologie de la perception de Merleau-Ponty que dejaba el campo de la
vida prctica, a su juicio, sin explorar-. En Le volontaire et linvolontaire, Ricur,
para llevar a cabo la eidtica de la voluntad, se sita, descriptivamente desde la
intencionalidad: siendo que como sujetos intencionales somos ciegos a la intencin
por la que estamos lanzados al mundo, no queda ms que comenzar la descripcin
tomando primeramente en cuenta eso a lo que estamos vueltos intencionalmente;
tal como lo afirma Ricur (1950, p. 10), son [] las articulaciones de lo querido
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 191
MALET, P. M.
como correlato del querer que orientan la descripcin. Y posteriormente, afirma:
Con Husserl llamamos intencionalidad a ese movimiento centrfugo
del pensamiento vuelto hacia un objeto: yo soy en eso que veo, imagino,
deseo y quiero. La intencin primera del pensamiento no es atestiguarme
mi existencia, sino unirme al objeto percibido, imaginado, querido. Si
llamamos proyecto en sentido estricto al objeto de una decisin -lo querido,
lo que decido- decimos: decidir es volverse hacia el proyecto, olvidarse en el
proyecto, ser fuera de s en el proyecto, sin detenerse a mirarse queriendo.
(RICUR, 1950, p. 42).
Hay aqu, al menos en la obra de Ricur, el desarrollo de una fenomenologa
que se deja orientar por la objetividad y que impulsar posteriormente el injerto
hermenutico en la fenomenologa que demanda un cogito capaz de dejarse instruir
por los signos, los smbolos y los textos.
Si los caminos emprendidos por Merleau-Ponty, Sartre y Ricur son
diferentes, incluso contradictorios entre s mientras que Merleau-Ponty y Sartre
rechazan todo tipo de reflexividad cartesiana, Ricur adhiere a una reflexividad
vuelta hermenutica--, cada una de estas propuestas busca rechazar un cartesianismo
ingenuo. Es por lo dems, la tarea actual de la fenomenologa, a juicio de Claude
Romano (2012). De este modo, si hay un punto coincidente entre la primera
generacin y aquella conformada por los trabajos de Marion y Romano, por tomar
solo a estos, es la distancia asumida con respecto a la subjetividad trascendental.
Pero esta vez, el camino es inverso. Mientras que la primera generacin encontraba
razones para oponerse al idealismo fenomenolgico tomando como va privilegiada
para acceder a las cosas mismas a la intencionalidad, al correlato intencional;
los trabajos de Marion y de Romano, por el contrario, resisten a la subjetividad
trascendental invirtiendo la intencionalidad husserliana. Por un lado, mientras
que la primera generacin estaba en busca de lo originario o archi-originario
(la carne para Merleau-Ponty, el otro para Levinas, etc.), la generacin actual es
ms atenta a la multiplicidad de fenmenos dados. Un buen ejemplo de esto es
el ltimo libro de Jean-Yves Lacoste, tre en danger, que en palabras de Isabelle
Thomas-Fogiel (2013, p. 532)
[] denuncia la preocupacin de una experiencia originaria y sus derivas
hacia las temticas de lo fundamental, para oponerle una fenomenologa
abierta, siempre capaz de ofrecer hospitalidad a nuevos fenmenos [].
Se trata, en un tal cuadro, agrega Thomas-Fogiel extendiendo el anlisis a
las obras de Marion y Romano, de no hacer ms que describir lo que se da,
puesto que en Marion como en Romano o incluso en Richir (por su teora
192 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
de la formacin espontnea del sentido), toda la iniciativa proviene del
fenmeno que surge (Richir) o adviene (Romano).
Volver a las cosas mismas significa dejar que los fenmenos se den, esto
es que se muestren en su aparecer por s mismos y, por tanto, dejar al s del
fenmeno manifestarse; entonces, lo que se conoce como el idealismo de la
fenomenologa trascendental se vuelve, ciertamente, problemtico. Es, claramente,
las Meditaciones cartesianas el lugar donde mejor se deja expresar esta tesis. En el
pargrafo 33, Husserl (1985b, p. 123) realiza la siguiente declaracin:
Como el ego concreto que es la mnada comprende la vida entera, real
y potencial, de la conciencia, es claro que el problema de la exhibicin
fenomenolgica de este ego-mnada (el problema de su constitucin para s
mismo) ha de abarcar todos los problemas de constitucin. Otra consecuencia
es la identidad de la fenomenologa de esta autoconstitucin con la
fenomenologa en general.
Luego, en el pargrafo 41 agrega:
Llevada a cabo en esta concrecin sistemtica, es la fenomenologa eo ipso
idealismo trascendental, bien que en un sentido radicalmente nuevo. No en
el sentido de un idealismo psicolgico, en el de un idealismo que se empea
en sacar de datos sensoriales sin ningn sentido un mundo con un sentido.
Tampoco es un idealismo kantiano, que cree poder dejar abierta, al menos
como concepto lmite, la posibilidad de un mundo de cosas en s; sino un
idealismo que no es exactamente nada ms que una autoexposicin de mi
ego en cuanto sujeto de todo conocimiento posible, y por respecto a todo
sentido de realidad con que haya de poder haber para m, el ego, un sentido,
desarrollada esta exposicin consecuentemente como una ciencia egolgica
sistemtica. (HUSSERL, 1985b, p. 143).
Se entiende que lo propio de la tesis idealista de la fenomenologa
trascendental consiste en homologar la autoconstitucin del ego-mnada con el
problema de la constitucin en general. Al respecto, Ricur (2004, p. 229) afirma
que:
El yo no es ya simplemente el polo sujeto opuesto al polo objeto, es el
englobante: todo es Gebilde de la subjetividad trascendental, producto de su
Leistung: la fenomenologa es Selbstauslegung meines ego, als subjekten jeder
mglichen Erkenntnis. Es por tanto en la doctrina del ego y de su constitucin
temporal que se vinculan de modo inseparable fenomenologa e idealismo.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 193
MALET, P. M.
Si el idealismo de la fenomenologa consiste en reducir la explicitacin del
mundo a la del ego-mnada, entonces el fenmeno no solo es lo que se da para
m, sino tambin en m y a partir de m (RICUR, 2004, p. 184), quedando
oscurecida toda regin de alteridad, en cuanto el fenmeno, cualquiera que sea,
no se da sino gracias al poder constituyente de la subjetividad, no siendo sino un
momento mismo del flujo mismo de la vida de la conciencia; bajo este respecto,
el fenmeno es englobado por el ego trascendental. El ego-mnada no tiene como
correlato ningn otro, ninguna alteridad que lo confronte, que se le imponga,
porque todo lo dado, todo fenmeno dado no viene sino a explicitarlo a l mismo.
El reproche que le dirige la nueva fenomenologa en Francia a la
fenomenologa en su cada en el idealismo trascendental, tal como es entendido
por Husserl, es que este ltimo olvida que siendo la conciencia la llamada a aclarar
el sentido del fenmeno, este se da, sin embargo, por s mismo y mantiene un
ingrediente de alteridad insuperable porque inabordable de modo definitivo. Un
fenmeno constituido en, para y a partir de la conciencia constituyente deja de
ser propiamente un fenmeno, si es que su mostranza (mostrance, Erscheinung, tal
como lo afirma Romano siguiendo a Claudel y a Hegel (ROMANO 1998, p. 42;
GABILLIERI, 2015) destaca tambin la influencia hegeliana en el modo como
Marion comprende el fenmeno como aquello que se da por s sin condicin) se
confunde con la autoconstitucin del ego trascendental.
A juicio de Isabelle Thomas-Fogiel habra que agregar tambin a Jocelyn
Benoist quien reconoce en la fenomenologa un cierto empirismo en la referencia
a lo dado (cf. BENOIST, 2001, p. 45)-, la mxima volver a las cosas mismas
se ha transformado en un volver de las cosas mismas (THOMAS-FOGIEL,
2015, p. 39-50). No se trata de una traicin a la consigna husserliana sino de
su efectivo cumplimiento o concrecin. Volver a las cosas mismas requiere
aprender a tomarlas en su aparecer y, por tanto, como fenmenos. Son estos
ltimos desde donde es preciso partir, siendo que, de algn modo, los fenmenos
se imponen por sus propios medios (cf. MARION, 2005, p. 16) en tanto que su
aparecer nos sobreviene (cf. DE GRAMONT, 2014, p. 141). Cmo ser fiel a
la mxima fenomenolgica que nos pide volver a las cosas mismas, esto es a las
cosas en su donacin en persona, a su manifestarse por s mismo? Esto, en tanto
consideremos que fenmeno es, precisamente, lo que se muestra a partir de s
mismo ( HEIDEGGER, 1997, p. 51-55; ROMANO, 1998, p. 42; MARION,
2005, p. 13-17). As, lo que est en cuestin es cmo y de qu manera dejar
aparecer a las cosas mismas en su mostrarse, en su mostranza, ya no englobadas
y ensombrecidas por el ego trascendental.
194 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
Lo que se muestra por s mismo, el fenmeno, es, al mismo tiempo, lo que
gua y determina los modos de su aproximacin con el fin de liberar su aparecer
en tanto tal la reduccin mantiene, al menos en la filosofa de Marion, an su
lugar-. Afirma De Gramont (2014, p. 144):
Al comienzo, es el fenmeno, y la primera palabra del pensamiento es
aqu para decir que viene en segundo lugar. En tanto que el impulso de la
bsqueda no puede venir sino de las cosas mismas, entendidas en el sentido
de lo que se muestra (fenmeno), lo que se da desde s mismo (lo dado), o lo
que viene a partir de s mismo (el acontecimiento). La mxima husserliana
que nos ordena ir derecho a las cosas mismas no dice otra cosa, y podemos
recibir como libres variaciones sobre el mismo tema estos otros preceptos
que nos piden dejar la primaca al fenmeno (y en consecuencia dejar al
fenmeno advenir l mismo), o pensar el acontecimiento antes de toda
cosa.
La mxima husserliana puede ser comprendida como una conminacin a
dejar advenir al fenmeno por s mismo, al punto que ste termine por imponerse
en su propio aparecer. No se recobra el mundo de la experiencia humana, ante le
hegemona del mundo de los objetos cientficos que operan un hiato entre nuestras
percepciones sensibles y el mundo vestido con ideas, sin que tal recuperacin
consista primariamente en aprender a recibir los fenmenos, en dejar que stos
se nos impongan antes que nosotros los constituyamos. Es tambin lo que ha
indicado Jean Greisch (2002, p. 21) al decir que:
El sufijo -loga no tiene el mismo sentido en el sintagma fenomenologa
que en los trminos biologa o filologa. No se trata de mantener un
discurso sobre los fenmenos, sino de escuchar la voz misma de los
fenmenos. La fenomenologa debe laboriosamente forjar un lenguaje que
est a la altura de la donacin de los fenmenos, lo que implica una cierta
violencia hecha al lenguaje ordinario, siempre ms o menos cmplice de la
actitud natural.
Lo que es puesto en juego, por las nuevas fenomenologas llevadas a
cabo en Francia, las de Marion y Romano en este caso, es, por tanto, un intento
por volver a pensar el proceder metdico mismo de la fenomenologa: sta no
puede ser un idealismo trascendental, tal como Husserl llega a creerlo en las
Meditaciones cartesianas, porque, si tal es el caso, lo que queda irremediablemente
ensombrecido es la potencia misma del fenmeno, su ipseidad, vale decir el hecho
de que ste aparece por s mismo exceptundose de toda condicin previa que le
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 195
MALET, P. M.
fuera asignada para aparecer. A juicio de Marion, la fenomenologa debe avanzar
conforme al respeto escrupuloso por describir los fenmenos en su donacin, en
su mostracin, siendo que nada [] hace excepcin a la donacin. (THOMAS-
FOGIEL, 2013, p. 530). De este modo, la fenomenologa tiene que liberar al
fenmeno de las condiciones que el sujeto, la subjetividad trascendental, le impone.
Se trata de [] dejar a la aparicin mostrarse en su apariencia segn su aparecer.
(MARION, 2005, p. 13). Pero, qu puede significar liberar al fenmeno de las
condiciones que la subjetividad le impone? No significa eso que lo que se da por
s mismo no se deja restringir ni constituir al menos en el sentido idealista ya
examinado- por el sujeto ni suscribe a ningn a priori? (DE GRAMONT, 2014b,
p. 209). En efecto, el fenmeno propiamente tal, porta sus propias condiciones de
posibilidad, siendo, en este sentido, incondicionado (ABELLIERI, 2015, p. 38).
As, propiamente, fenmeno es aquello que en su aparecer no reconoce lmites
que se le impongan por ningn tipo de subjetividad trascendental ni kantiana
ni husserliana-, apareciendo por s. Liberando al fenmeno de las condiciones
impuestas por la subjetividad, se recobra el campo del aparecer mismo que excede,
por lo dems, al de los entes y de los objetos. En palabras de Christian Sommer
(2011, p. 152):
[] es la donacin, como figura fundamental de la fenomenalidad que
permite liberarse del ideal de la representacin objetivante, y el origen de la
donacin es precisamente el s del fenmeno que no puede ser constituido
por un ego trascendental, un s marcado por una determinacin de
acontecimiento: mostrndose, el fenmeno propiamente inmirable
sobreviene de s mismo, sin causa antecedente.
3- Si la fenomenologa se da por conminacin el volver a las cosas mismas,
lo hace, precisamente, porque stas no nos son dadas de modo inmediato, de ah el
necesario recurso a la reduccin, tal como Marion la comprende. Afirma Marion
(2012, p. 122):
La filosofa tiende, bien entendido, a conocer las cosas mismas como ellas
son, pero esta definicin misma, las cosas tales como son, constituye ya
una operacin. No se puede hablar de las cosas tales como son, ni del ente
en tanto que ente, sin ejecutar una operacin, puesto que se reduce lo que
aparece a lo que es, o ms bien a lo que es en l. La inmediatez aparente
de la aparicin misma resulta de una operacin, no sera ms que de una
interpretacin. La inmediatez no aparece si puedo decirlo- ms que si se
suspende en ellas las mediaciones ya implcitas o utilizadas en un momento
dado para producirla. Tambin el retorno a las cosas mismas indica que
stas no son inmediatamente dadas, que su inmediatez debe ganarse
196 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
mediatamente en la medida que es necesario precisamente volver a ellas por
reconduccin, reduccin.
Este volver a las cosas mismas, en tanto que fenmenos, conlleva un
examen de las operaciones mismas de la fenomenologa. Pero no se trata de un
mero asunto metodolgico, sino, por el contrario: lo que est en cuestin es
su proceder mismo, su marcha y encaminamiento hacia las cosas, por tanto, el
mtodo como orientacin fundamental hacia stas. La palabra de orden de la
fenomenologa, volver a las cosas mismas, plantea al fenomenlogo la cuestin
relevante del examen del modo cmo acceder a stas.
Que este acceso no sea inmediato es lo que ha constatado la fenomenologa
actual, tal como lo indicaba Marion, as como tambin lo ha hecho Romano mas
he aqu un disenso-:
[] no hay jams fenmenos que seran ofrecidos tal cual a una
descripcin, ninguna inmediatez de una donacin de la que se podra
esperar toda la luz: todo acceso a los fenmenos es irremediablemente
mediato. Conviene renunciar al mito de un puro dado, solidario aquel
(cartesiano y husserliano) de una ausencia total de presuposiciones cuya
descripcin podra prevalerse. (ROMANO, 1999, p. 2-3).
Pero, si ambos textos, el de Marion y el de Romano, parecen indicar lo
mismo: el mito de lo dado puro e inmediato al que es preciso renunciar; al
mismo tiempo, no es la misma va la que emprenden ambas fenomenologas.
As, constatando el acceso mediato a los fenmenos, una, la fenomenologa de
la donacin de Marion, privilegia la reduccin como el proceder segn el cual es
posible determinar los [] grados y figuras de la donacin, para no confundir
a unos con otros, ni con otras instancias distintas a lo dado mismo (MARION,
2012, p. 124); por su parte, la fenomenologa del acontecimiento de Romano, se
reconoce ella misma como una hermenutica del advenir, sin tener que recurrir a
la reduccin.
La crtica que conduce Romano al recurso a la reduccin, por parte de
Marion, la ha expresado del siguiente modo: [] si vuestro fin es sacar a la luz
el s del fenmeno y dejarlo a su propia iniciativa, liberarlo de toda instancia
trascendental que aportara la medida de su fenomenalidad, por qu hacer un
llamado a un procedimiento [la reduccin] que designa al mtodo trascendental
por excelencia? (ROMANO, 2000, p. 11). La respuesta de Marion es clara.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 197
MALET, P. M.
Tal objecin supone: 1) que se considere que la reduccin conserva un estatuto
trascendental [] adosndose a un Yo l mismo incondicionado (MARION,
2015, p. 218), mientras que el Yo que opera la reduccin ha sido en verdad
modificado por la reduccin misma. Por lo que la trascendentalidad no se dice,
necesariamente y ese es el caso para Marion- del ego, sino de la reduccin. Es
decir, Marion postula una reduccin sin un sujeto trascendental, por lo que el
fenmeno, propiamente tal, no se da, no aparece ni se muestra por condicin
alguna impuesta por la subjetividad trascendental. Pues, la reduccin a la
donacin (la tercera reduccin que postula Marion, luego de la reduccin al
objeto Husserl y al ente Heidegger) no es una operacin llevada a cabo por
un ego trascendental, sino por un sujeto ya reducido por la reduccin misma; as,
su objetivo no es sino dilucidar el [] grado de doneidad de este aparecer, hasta
qu punto da y se da. (MARION, 2012, p. 127). Gracias a esta reduccin a lo
dado segn su manifestacin, Marion puede delimitar entre fenmenos saturados
o paradojas, fenmenos pobres y de derecho comn, siendo los primeros, los
fenmenos saturados, los que propiamente se dan de modo incondicionado.
Tal como se puede apreciar en la objecin que Romano formula a Marion,
el autor de Lvnement et le monde opta por renunciar de modo definitivo a la
reduccin en fidelidad a la comprensin del fenmeno como aquello que se da
por s. En ambos autores hay, por tanto, un rechazo a sostener un ego trascendental
que englobe, en su poder constituyente, al fenmeno reducido al punto
que su explicitacin no sea sino un momento de la explicitacin del ego. Hay
coincidencia en el respeto absoluto por dar cuenta del fenmeno en su capacidad
de mostrarse por s, incondicionado, liberado, por tanto, de las condiciones que
impone el sujeto trascendental. Y al mismo tiempo, hay acuerdo en mantener
an lo trascendental; mientras que Marion lo dice de la reduccin, Romano lo
reconocer en el darse a posteriori del acontecimiento, que para l es el fenmeno
insigne. No siendo nosotros contemporneos de su advenimiento, del hecho de
que nos arribe singularizndonos, sorprendindonos, portando una novedad que
estremece nuestra aventura, ste, el acontecimiento, se nos da a la postre, aprs
coup, demandando de nosotros, los advinientes, una comprensin que es siempre
retrospectiva. De este modo, el no darse inmediatamente del fenmeno insigne
no demanda operar la reduccin, sino un ejercicio comprensivo retrospectivo
del conjunto de posibles en su totalidad- que ha sido remecido y transformado
por el acontecimiento. As, mientras que Marion requiere de la reduccin para
discriminar lo dado y sus modos de donacin, Romano le asigna a la comprensin
la tarea de dar mejor cuenta de los fenmenos que se interpretan a la luz del
acontecimiento (ROMANO, 1998, p. 202-211).
198 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
En suma, la fenomenologa de Marion, as como la de Romano, siendo
fiel a la mxima husserliana de ir a las cosas mismas ha debido revisar aquello
que llamamos fenmeno. El punto de apoyo se halla, a su juicio, en el pargrafo
7 de Ser y tiempo: fenmeno es lo que se muestra por s mismo. Aquello implica
una revisin de la marcha metdica de la fenomenologa, sin la cual no es posible
abocarnos pronto a la descripcin de las esencias del fenmeno. En primer lugar, si
fenmeno es lo que se muestra por s, entonces es preciso renunciar a la instancia
del Ego trascendental y, por consiguiente, de un sujeto fundante y constituyente:
el sujeto es ms bien constituido por el fenmeno que en su arribo lo afecta; el
fenmeno que se da por s, dndose al sujeto, se le impone al punto que ste se recibe
gracias y a partir del fenmeno que se le da. Mas, es preciso aqu destacar entonces
lo siguiente. Rechazando el Ego trascendental y con ello a la fenomenologa en
su versin idealista-, se aboga por dejar aparecer al fenmeno por s, esto es en
toda su radical alteridad; no solo se pone en cuestin la instancia constituyente
y englobante del ego-mnada, sino tambin el movimiento intencional por el
cual el objeto es mentado. Dejar aparecer al fenmeno y aprender a recibirlo
implica enfatizar y realzar su alteridad, que era lo que no permita el idealismo
trascendental en cuanto el fenmeno era un momento de la explicitacin del ego.
Por otro lado, la va fenomenolgica de Marion confirma an que el acceso
a los fenmenos es posible a partir de una experiencia fenomenolgica que se hace
y que supone una serie de operaciones que hay que llevar a cabo para dejar que el
fenmeno se de. De este modo, la fenomenologa reivindica una experiencia que
se hace y no meramente que se tiene- en pos de dejar mostrarse aquello de lo que
somos ciegos en la actitud natural, el fenmeno y sus procesos de constitucin; es
una experiencia en tanto relacin o correlacin. Husserl ha vuelto evidente que no
se trata de pensar un polo con independencia del otro, sino que lo dado mismo
es por y gracias a la relacin entre ambos polos, ambos inseparables entre s. Jean-
Luc Marion reconoce el acceso mediato a los fenmenos y, con ello, reivindica
an la reduccin como modo de acceso a estos; pero opera una reduccin de
los fenmenos a la donacin, y no a la objetidad ni a la entidad. Mas, al mismo
tiempo, propone una inversin de la va intencional de la fenomenologa,
tambin realizada por Henry Maldiney, Claude Romano, y buena parte de la
nueva fenomenologa en Francia. Con ello, no niega ninguno de los dos polos
de la correlacin, sino que acenta el movimiento que va del fenmeno al sujeto.
El objetivo, comn por ejemplo a Maldiney, es dar cuenta del aparecer de los
fenmenos sin tener que reducirlos a objetos o entes; as, por ejemplo, Maldiney
ante la pregunta qu es el aparecer? responde: El aparecer, el phainesthai no
tiene ms ac. l aporta y lleva consigo su comienzo. Lo que aparece se descubre
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 199
MALET, P. M.
por s mismo a partir de nada. (MALDINEY, 2012, p. 16); Sobre Maldiney y
la cuestin del aparecer, cf. (BARBARAS, 2014; ESCOUBAS, 2014; GROSOS,
2014; HOUSSET, 2014).
4 - Liberar el campo del aparecer de las condiciones impuestas por el
sujeto constituyente, significa tambin operar una transformacin profunda en
la manera de comprender al sujeto a quien los fenmenos le advienen. A partir
de Marion, se puede hablar de una subjetividad en segunda instancia, es decir
que se deja constituir por los fenmenos que arriban y su modo de manifestacin.
Es as que el filsofo francs dejar de hablar de sujeto para referirse ms bien al
adonn e interoloqu, es decir a aquel que se recibe de lo que se le da y de lo que
lo llama; Claude Romano, por su parte, propondr hablar del advenant ante los
acontecimientos que le arriban y Jean-Louis Chrtien de un rpondant capaz de
responder a la palabra que nos interpela y demanda y que se deja escuchar en
nuestras respuestas. De este modo, [] lo dado surge y se impone a m sin
que lo ordene y lo construya. (THOMAS-FOGIEL, 2013, p. 533). Bajo este
respecto, el sujeto, antes que ser espectador constituyente, es pensado como
testigo constituido (cf. MARION, 2005, p. 302) del fenmeno que avanza
como inmirable, irreductible, inconstituible (SOMMER, 2012, p. 153).
El devenir testigo del sujeto conlleva, al mismo tiempo, una contra-
experiencia que, antes de plantearnos ante un objeto, nos deja frente a una paradoja;
se trata de una inversin de la intencionalidad, una contra-intencionalidad o
una intencionalidad invertida por los fenmenos saturados (donde la intuicin
del fenmeno da desmesuradamente ms de lo que la intencin podra tender
y prever): se trata de una [] experiencia que resiste a la condiciones de
objetividad. (MARION, 2005, p. 300).
En el caso de la hermenutica acontecial de Claude Romano, el advenant
no impone tampoco condiciones de recepcin al fenmeno del acontecimiento.
Muy por el contrario, el arribo del acontecimiento provoca, por un lado, una
reconfiguracin del mundo del sujeto como tambin una crisis, una epoj historial.
Del mismo modo, Henry Maldiney (2001, p. 92) afirmaba que:
Un acontecimiento es una desgarradura en la trama del ser-en-el-mundo,
por tanto a la vez de la presencia y del mundo del que es el ah. Y el
acontecimiento es transformador. Se hace claro en la transformacin a la que
su integracin nos obliga []. La irrupcin del acontecimiento determina
un estado crtico. Nuestra presencia en el mundo es amenazada, pues un
acontecimiento no se produce en el mundo, es l al contrario que abre el
mundo.
200 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
Es as que cuando un acontecimiento arriba, ste [] hace que yo
no sea nunca ms el mismo. (ROMANO, 2010b, p. 36; MICHEL, 2012, p.
46-53). No solo el advenant no pone las condiciones para la manifestacin del
acontecimiento, aunque s podra decirse que l es la ocasin para su recepcin
pues solo hay acontecimiento para un sujeto capaz de hacer su experiencia, sino
que adems l mismo es configurado por su arribo: finalmente, para el advenant
hacer la experiencia de los acontecimientos es hacer la de su propia transformacin
y devenir a raz del arribo sorprendente, singularizante y epocal de los sucesos
que nos advienen. Por qu? Pues, al igual que Marion, Claude Romano intenta
describir la manifestacin de aquello que no se deja reducir a objetividad alguna.
Es as que, en estricto rigor, ni tenemos experiencia de los acontecimientos en
el sentido de experiencia que nos reporte conocimientos acumulativos con bases
objetivas--, ni hacemos su experiencia, si esto significa un encuentro con estos
fundado en nuestras capacidades para reducirlo a algn tipo de objeto apreciable y
manipulable. Por el contrario, el acontecimiento arriba siempre a nuestras espaldas
pues su experiencia es la de la novedad absoluta, por lo que, rigurosamente a juicio
de Romano, no somos sus contemporneos. Dice Romano (1998, p. 196):
La experiencia es ese riesgo de una exposicin a eso que me alcanza en pleno
corazn: por el acontecimiento que, destinndose a m insustituiblemente,
me da solamente el advenir a m mismo []. Si la experiencia es desde
entonces pensada radicalmente como travesa y ese riesgo en que estoy en
juego yo mismo, a riesgo de perderme, no hay entonces experiencia en el
sentido propio del acontecimiento []. La experiencia es esta travesa hacia
s a riesgo de s, en tanto que exposicin a todo otro: al acontecimiento.
Y si los acontecimientos, en tanto que nos afectan, nos tocan y nos son
contingentes, suponen de parte del advenant la capacidad de recibirlos, sta consiste
en un poder qua pasividad: su poder es dado por los acontecimientos y no por el
sujeto: se trata, por tanto, de la pasibilidad. Pasible significa capaz de padecer,
de sufrir; y esta capacidad implica una actividad, inmanente a la experiencia, que
consiste en abrir su propio campo de receptividad (MALDINEY, 2007, p. 265).
Una recepcin antes de toda recepcin? S, pues no hay posibilidad de ninguna
hospitalidad sin haber recibido, incluso a nuestra pesar. El camino de la recepcin
de los acontecimientos es trazado por ellos mismos; y el sujeto que los padece, solo
puede responderles despus de haberlos recibido.
En suma, el sujeto -que ya no puede ser pensado en tanto subjectum o
hypokeimenon- es pensado en su capacidad para acoger y recibir el fenmeno -el
acontecimiento, la llamada- y dejarse constituir por su arribo. Se trata de un
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 201
MALET, P. M.
sujeto que, sin haber perdido su cualificacin de agente, se recibe a s mismo por
la novedad que portan los acontecimientos. An est en juego un sujeto libre
y responsable, pero entendiendo que tal responsabilidad no queda limitada a la
imputacin de nuestras acciones y sus efectos que yo mismo y otros me pueden
dirigir: hay aqu otro tipo de imputabilidad que es ms bien sealada a partir
del sentimiento de incumbencia. En efecto, los acontecimientos en cuanto traen
consigo un sentido nuevo capaz de reconfigurar el todo de nuestra orientacin,
nos ponen en situacin de responder de aquellos posibles a los que quedamos
abiertos; la ipseidad, afirmar Romano, es precisamente aquella capacidad de
responder de los acontecimientos; pero, es claro que no se responde de ellos, sino
en cuanto que el sentido que nos propone, por el cual se reconfigura nuestro
mundo, nos incumbe, sentimos o creemos que nos incumbe. De este modo, el
sujeto, pasible ante los acontecimientos, responde de ellos en la medida que se
reconoce incumbido por su sentido.
5- Hasta aqu el principal objetivo ha sido mostrar cmo la fenomenologa
actualmente practicada en Francia, principalmente en los trabajos de Marion
y Romano, ha operado un giro con respecto a la primera generacin, que hizo
la recepcin de la fenomenologa husserliana y heideggeriana celebrando el
descubrimiento de la intencionalidad; la generacin actual ha tomado como
punto de partida y de correccin metdica a la donacin, lo que ha conllevado
tambin, por un lado, la destitucin del polo ego en su poder constituyente, y por
otro, el examen de una contra-intencionalidad y, por tanto, el abandono de la
objetividad como horizonte gnoseolgico.
Ante este panorama, cabe preguntarnos qu lugar ocupa la obra de
Barbaras en la fenomenologa actual. Pues, incluso, si pueden reconocerse
intenciones comunes entre las filosofas de Barbaras y de Marion por nombrarlos
solo a ellos--, tambin es indudable que la obra del autor de La dynamique de
la manifestation (2013) representa la otra punta de la cuerda, siendo la primera
aquella representada por Marion, Romano, Maldiney, etc. Las diferencias entre
ambos movimientos fenomenolgicos se podran expresar diciendo que mientras
que aquel ha vuelto su mirada a la donacin, aquel otro se ha dirigido hacia la
vida? Tal vez se pueden reconocer algunos puntos comunes que atestiguan que,
tratndose de dos polos de una misma cuerda, ambos estn ligados en lo esencial.
En primer lugar, la renuncia al subjetivismo trascendental y al ideal de intuitividad.
En palabras de Pierre Rodrigo (2013, p. 256):
202 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
Es por tanto porque Husserl presupone que toda esencia es una plenitud
de ser, dicho de otro modo un en s segn un modelo implcito que no es
otro importa notarlo que el de la objetividad, que no puede pensar la
intencionalidad de otro modo que como un mentar todo tendido hacia el
ideal de intuitividad: a la esencia en tanto que plenitud de ser corresponde
en la correlacin una conciencia que tiende tambin a la plenitud por su
exigencia de intuicin.
Si este texto nos permite agregar razones para comprender por qu algunos
de las fenomenologas actuales son contra-intencionales, otorgando un certificado
de defuncin a la subjetividad trascendental, en pos de un sujeto en segunda
instancia que se recibe de lo que se dona, es preciso destacar que la fenomenologa
de Renaud Barbaras no deja de privilegiar el a priori universal de correlacin,
sin que ello signifique una vuelta atrs hacia un ideal de intuitividad ni hacia una
reificacin de la conciencia (BARBARAS, 2012). El nfasis que pone Barbaras en
el a priori correlacional tiene por funcin salvar al aparecer de la reduccin a un
tipo particular de apareciente, tal como son las vivencias. Porque, reconociendo
el aparecer a las vivencias hylticas y noticas en el cuadro de una constitucin
trascendental, se subordina el aparecer a un cierto apareciente, a esta categora
singular de entes que son las vivencias, dndose as el aparecer de antemano en el
momento en que se pretende dar cuenta de l. (BARBARAS, 2012, p. 51). De
este modo, a diferencia de las fenomenologas de Marion y Romano, Barbaras
no requiere postular una contra-intencionalidad para describir la donacin de
los fenmenos en su ms amplio espectro, como lo querra Jean-Yves Lacoste--,
sino que le parece que, adems de mantener y pensar el a priori correlacional,
incluso llegando a aquellas consecuencias como las de renunciar a la reificacin
de la conciencia y la del ideal de intuitividad y que el propio Husserl no habra
sabido vislumbrar, es lo que permite pensar verdaderamente la autonoma de
la manifestacin, lo que significa que [] ella es independiente frente a todo
apareciente, que no es de ningn modo tributaria de lo manifestado. Pues, lo
propio de eso que se manifiesta en la manifestacin es que su modo de ser es el de
la cosa o, ms precisamente, del ente. (BARBARAS, 2011a, p. 333).
La autonoma de la manifestacin conlleva, por consiguiente, una crtica
a las pretensiones de fundar el aparecer en la subjetividad, pues ms que ser sta
constitutiva del aparecer de los entes, si tenemos en cuenta el a priori correlacional,
habra que decir que la subjetividad es una dimensin constitutiva del aparecer,
y que ste mismo la hace posible [] como surgimiento de este ente singular
que es la vivencia. (BARBARAS, 2011a, p. 334). Ms que decir que el aparecer
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 203
MALET, P. M.
es subjetivo, cuestin tambin rechazada por las fenomenologas de Marion y de
Romano, habra que afirmar con Barbaras que es una estructura que [] puede
dar lugar al aparecer subjetivo. (BARBARAS, 2011a, p. 334). Pero, tambin hay
que afirmar que la manifestacin se mantiene autnoma frente al otro polo de la
correlacin, la objetividad. De este modo, Barbaras afirma que la manifestacin
no es cosa, no es objeto. Se trata, por el contrario, de un acontecimiento, el
acontecimiento de la manifestacin. Aqu podran esbozarse algunos vnculos con
la filosofa de Marion, que hace del fenmeno saturado precisamente un fenmeno
que excediendo en intuicin se dona como lo inmirable, lo inobjetualizable,
lo intematizable. Pero he aqu otro punto de discusin: si tal como lo afirma
Barbaras, la manifestacin, sin ser cosa alguna, no puede advenir sino como
cosa, entonces lo que queda al descubierto a partir del a priori correlacional es lo
que el autor ha llamado la dinmica de la manifestacin que no apunta sino al
aparecer mismo de las cosas, a su movimiento de manifestacin, a su develamiento
y descubrimiento: [] manifestarse es ser descubierto, afirma Barbaras, pero
ser descubierto es ser delimitado. (BARBARAS, 2011a, 344). Es lo propio del
movimiento descubrir circunscribiendo, delimitando. Es la razn por la que el
movimiento de la manifestacin no produce el movimiento de los entes, sino que
lo presupone. Pensar de este modo la correlacin es dar cuenta de lo que el autor
ha llamado estructura: ni el polo ego, ni la objetidad, sino la estructura misma
que los rene; es decir, el movimiento, el devenir, esto es ni substrato ntico ni
determinaciones, sino el proceso o advenimiento de las cosas: No hay ser maduro
ms que como movimiento de maduracin, y es ese movimiento que produce
conjuntamente la unidad de la determinacin e identidad del substrato, o an el
ser-junto y el lugar que delimita. (BARBARAS, 2011a, p. 346).
El movimiento no puede ser sino un movimiento de limitacin. Es as que
el movimiento natural del mundo se da en cada ente limitndose a ese ente en
particular, sin que aquel ente agote el movimiento mismo del mundo, y sin que el
ente mismo finiquite aquellas manifestaciones, pues precisamente su movimiento
o devenir consiste tambin en quedar abierto a otros modos de manifestacin.
Lo que est en juego aqu no es sino una negatividad fundamental que Barbaras
(2012, p. 56) expresa del siguiente modo:
[] se puede decir indiferentemente que lo finito es negacin de lo infinito,
puesto que toda aparicin reenva a un mundo que limita, y que lo infinito
es negacin de lo finito en tanto que el mundo no se revela ms que en sus
apariciones como lo que las excede. En una suerte de inversin intencional
fundamental, la aparicin hace aparecer al mundo como eso de lo que forma
parte, aclara ante ella el mundo del que proviene sin embargo. El mundo
ya no precede a la aparicin como aquella no lo precede: uno y otro nacen
juntos del dinamismo originario del aparecer.
204 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
El caso de la percepcin es ejemplar: se puede afirmar, en cierto respecto,
que la cosa es ya el esquema perceptivo mismo en cuanto su aparecer es por escorzos,
no siendo los escorzos sino los modos cmo la cosa se da; aunque, por otro lado,
los escorzos demandan ser superados hacia la cosa misma que, sin embargo, como
se deca, no se da sino por perfiles. Si consideramos las cualidades de las cosas,
como el ser rojo de tal o cual objeto, es al mismo tiempo experienciado como una
potencia inagotable de ser (GLY, 2013, p. 247), es decir como una limitacin
del mundo, pero tambin como [] la presencia misma de una ausencia radical,
de una ausencia de nada determinado. (GLY, 2013, p. 247). Es as que en la
percepcin hacemos la experiencia tanto de una presencia como de una ausencia.
Es este juego de presencia y ausencia, inseparables entre s, que nos permite
comprender que la percepcin es experiencia de un exceso, de una nada que no
puede ser determinada. Es como si cada cosa dada, dndose, manifestndose del
nico modo que puede hacerlo, mientras se da de ese modo, remitiera al mismo
tiempo, porque en tanto movimiento queda abierta, a otros mltiples modos de
manifestaciones que, ausentes, se hacen presentes como carencia subrayada por el
aparecer de la cosa que no es sino limitacin, esencia.
Ahora bien, este exceso no da cuenta sino de una no-coincidencia
fundamental e insuperable entre el ente que aparece y sus apariciones. En palabras
de Barbaras: [] el ente que aparece difiere de sus apariciones sin por ello ser
otro que ellas. (BARBARAS, 2011b, p. 159). No encontramos aqu alguno de
los argumentos con los que Barbaras busca escapar a la trampa de la reificacin
de la conciencia? Precisamente, la no-coincidencia del aparecer lo que aparece
y sus apariciones--, es signo tambin de una negatividad que, por un lado, es
indeterminacin y por otro negacin de s, en suma, movimiento. He aqu el
ltimo punto que me interesa subrayar; pues la fenomenologa de Renaud
Barbaras, siendo que se ha dado por tarea pensar con radicalidad el a priori
correlacional, termina por subrayar la relacin necesaria y fundamental que el
sujeto mantiene, sin poder sustraerse de ella, con lo otro para existir: [] su ser
no reside en l mismo, en suma es caracterizado por una falta de ser []. Eso
significa que el movimiento por el cual me parece deber definir el sujeto no es
un movimiento cualquiera: su dinamismo ser ordenado por una bsqueda de
s en lo otro, ser aspiracin. (BARBARAS, 2011b, p. 162). En este sentido,
el sujeto, el destinatario de la manifestacin, no se comprende sino en y a partir
del movimiento incesante que es su existencia, movimiento hacia el mundo que
est caracterizado por ser indefinido: movimiento, por tanto, que no encuentra
ni trmino ni reposo, que no deja de realizarse porque no termina nunca de
cumplirse. Movimiento, por consiguiente, que es deseo y distancia.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 205
MALET, P. M.
El deseo tiene en efecto esto de propio que si algo puede satisfacerle nada
puedo colmarlo, de modo que renace en lo que lo apacigua, como lo deseado
exacerba en la medida que lo satisface. Todo pasa como si [] la vida se
confundiese con una aspiracin a la venida del mundo. El sujeto existe como
deseo del mundo, es decir como una aspiracin que, a la vez, es susceptible
de realizarse, precisamente, bajo la forma de la aparicin de los entes finitos,
pero no puede por principio ser colmada en tanto que el mundo se retira
siempre de las apariciones en las que se presenta. (BARBARAS, 2012, p. 58).
El deseo es, bajo este respecto, movimiento hacia lo que el sujeto no es;
movimiento que es principio de manifestacin de las cosas. La negatividad propia
de la manifestacin, que no es sino la de la vida, tiene su fundamento en el deseo
de ser ms, de ser otro.
Para concluir, quisiera tan solo realizar una breve nota. Hasta aqu
hemos intentado mostrar que la fenomenologa de Barbaras toma lugar en
la fenomenologa actual desarrollada en Francia, renunciando por un lado al
subjetivismo trascendental y, por otro lado, proponiendo una descripcin del
aparecer, tal como a su modo lo han hecho Marion y Romano. Pero quisiera,
tambin, subrayar brevemente una cierta comunidad de pensamiento o, al menos
un aire de familia, entre la propuesta de la fenomenologa de la manifestacin, de
la dinmica de la manifestacin, de Barbaras y la fenomenologa hermenutica
de Paul Ricur. Ciertamente, reconozco el abismo que separa ambas propuestas
filosficas, pero al mismo tiempo no se puede negar el inters comn entre los dos
filsofos por cuestiones como el deseo, el esfuerzo y el movimiento. Si para Barbaras
el deseo muestra porque mueve, manifiesta porque es negatividad, para Ricur
el deseo tambin conlleva un movimiento y una negatividad, pues es deseo de ser
y de persistir en la existencia (VALL, 2013). Al respecto, Ricur (1969, p. 95)
afirma que: La existencia [...] es deseo y esfuerzo. Nosotros la llamamos esfuerzo
para sealar su energa positiva y dinamismo, la llamamos deseo para designar
su carencia e indigencia. Incluso si el deseo es deseo de s, incluso en dicho caso
siempre se trata de un movimiento hacia una alteridad, movimiento mismo que
manifiesta la relacin estricta entre el sujeto y lo otro, y por tanto aquella distancia
que, insalvable, no deja de ser al mismo tiempo un modo de proximidad. Pero
decir proximidad es subrayar la distancia insalvable que no se deja suprimir jams.
La proximidad es distancia y, en ese sentido, el deseo es negatividad pues jams se
colma, jams se detiene siendo movimiento, el movimiento del deseo, una suerte
de perennidad insalvable.
206 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
MALET, Patricio Mena. Donation and subjectivity in the new French phenomenology:
Marion, Romano and Barbaras. Tans/form/ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar.,
2017.
Abstract: The aim of this paper is to examine the new phenomenological tendencies in France
through the works of Marion, Roman, and Barbaras. Our hypothesis is that these phenomenologies,
on the one hand those of Marion and Romano, and on the other hand that of Barbaras, agree on two
main points: 1) the priority given to donation and 2) the need to think about subjectivity by putting
aside Husserls paradigm of transcendental subjectivity. We suggest that both philosophical approaches
require an examination of Husserls methodological pretensions, because it is in this context that the
originality of their own phenomenological ideas can be noticed.
Keywords: Subjectivity. Donation. Desire. Event. Phenomenon.
Referncias
BARBARAS, R. Introduction une phnomnologie de la vie. Paris: Vrin, 2008.
______. La phnomnologie comme dynamique de la manifestation. Les tudes
Philosophiques, v. 3, n. 98, p. 331-349, 2011a.
______. Sauver dune rification de la conscience la tche de la phnomnologie. Les
tudes Philosophiques, v. 1, n. 100, p. 49-63, 2012.
______. La dynamique de la manifestation. Paris: Vrin, 2013.
______. et al. La phnomnologie et le concept de vie: un entretien avec Renaud
Barbaras. Journal of French and Francophone Philosophy. Revue de la Philosophie Franaise
et de Langue Franaise, v. 19, n. 2, p. 153-179, 2011b.
______. Lessence de la receptivit: transpasibilit ou dsir? In: VV. AA. Maldiney, une
singulire prsence. Paris: Encre Marine, 2014. p. 15-31.
BGOUT, B. Le phnomne et son ombre. Chatou: La Transparence, 2008.
DASTUR, F. Rception et non-rception de Heidegger en France. Revue Germanique
Internationale: Phnomnologie Allemande, Phnomnologie Franaise, n. 13, p. 35-57,
2011.
DE GRAMONT, J. Lentre en philosophie: les premiers mots. Paris: LHarmattan, 1999.
(Ouverture philosophique).
______. Au commencement: parole, regard, affect. Paris: Cerf, 2013. (La Nuit Surveille).
______. Lappel de la loi. Louvain-Paris: ditions de lInstitut Suprieur de Philosophie
Louvain-la-Neuve; ditions Peeters, 2014a.
______. Portrait(s) de Jean-Luc Marion. In: SOMMER, C. (Org.). Nouvelles
phnomnologies en France. Paris: Hermann, Rue de la Sorbonne, 2014b. p. 205-213.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 207
MALET, P. M.
ESCOUBAS, E. Henry Maldiney avec Dominique Janicaud: la rsistance
phnomnologique la philosophie premire et lontho-thologique. In: SOMMER,
C. (Org.). Nouvelles phnomnologies en France. Paris: Hermann, Rue de la Sorbonne,
2014. p. 115-126.
FALQUE, E. Passer le Rubicon: philosophie et thologie: essai sur les frontires. Bruxelles:
Lessius, 2013. (Donner Raison, Philosophie).
______. Le Combat amoureux: disputes phnomnologiques et thologiques. Paris:
Hermann, 2014. (De Visu).
GABELLIERI, E. Paradoxe, univocit, analogie. In: CAPPELLE-DUMONT, P. (Org.).
Philosophie de Jean-Luc Marion: phnomnologie, thologie, mtaphysique. Paris:
Hermann, Rue de la Sorbonne, 2015. p. 31-48.
GLY, R. La finitude radicale de la vie: rflexions partir de la phnomnologie de
Renaud Barbaras. Alter: Revue de phnomnologie, v. 21, n. 21, p. 100-116, 2013. (La
vie).
GREISCH, J. Le buisson ardent et les lumires de la raison. Linvention de la philosophie de
la religion. Tome II: Les approches phnomnologiques et analytiques. Paris: Cerf, 2002.
______. Qui sommes-nous? Chemins phnomnologiques vers lhomme (Novembre
2006). Louvain-Paris: ditions de lInstitut Superieur de Philosophie Louvain-la-Neuve;
ditions Peeters, 2009.
GROSOS, P. Henry Maldiney, Michel Henry et la critique de la phnomnologie. In:
DE GRAMONT, J.; GROSOS, P. (Org.). Henri Maldiney: phnomnologie, psychiatrie,
esthtique. Rennes: PUR, 2014. p. 13-22.
______. ; VINCENT C. Entretien avec Philippe Grosos. Le philosophoire. v. 2, n. 30, p.
127-145, 2008.
HOUSSET, E. Personne et sujet selon Husserl. Paris: PUF, 1997. (pimthe).
______. Husserl et lnigme du monde. Paris: Le Seuil, 2000. (Points, essais).
______. La vocation de la personne: lhistoire du concept de personne de sa naissance
augustinienne sa redcouverte phnomnologique. Paris: PUF, 2007. (pimthe).
______. Lanthropologie au risque de la phnomnologie dans Penser lhomme et la folie.
In: DE GRAMONT, J.; GROSOS, P. Henri Maldiney: phnomnologie, psychiatrie,
esthtique. Rennes: PUR, 2014. p. 53-73.
______. La crise des sciences europene. Paris: Gallimard, 1976.
______. Investigaciones lgicas, I. Madrid: Alianza, 1985a.
______. Meditaciones cartesianas. Madrid: FCE, 1985b.
______. Philosophie premire. 2. Thorie de la rduction phnomnologique. Paris: PUF,
1990. (pimthe).
208 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Donacin y Subjetividad en La Nueva Artigos / Articles
JANICAUD. D. Le tournant thologique de la phnomnologie franaise In: ______. La
phnomnologie dans tous ses tats. Paris: Gallimard, 2009. p. 39-149 (Folio Essais).
MALDINEY, H. Existence: crise et cration. In: DE GRAMONT, J.; GROSOS, P.
(Org.). Henry Maldiney entour de ses amis. Existence. Crise et cration. La Versanne: Encre
Marine, 2001. p. 73-112.
______. Penser lhomme et la folie. Grenoble: Million, 2007.
______. Lart, lclaire de ltre. Paris: Cerf, 2012.
MARION, J.-L. tant donn. Paris: PUF, 2005.
MENA, P. El fenmeno de la apelacin. Co-herencia: Revista de Humanidades,
Universidad EAFIT, v. 12, n. 23, p. 107-137, jul.-dic. 2015.
MERLEAU-PONTY, M. Parcours 1933-1951. Lagrasse: Verdier, 1997.
______. La prose du monde. In: uvres. Paris: Gallimard, 2000. (Quarto).
MICHEL, J. Sociologie du soi. Paris: PUR, 2012.
RICUR, P. Le volontaire et linvolontaire. Paris: Aubier, 1950.
RICUR, P. Le conflit des interprtations. Paris: Seuil, 1969.
______. Rflexion faite: autobiographie intellectuelle. Paris: Esprit, 1995.
______. lcole de la phnomnologie. Paris: Vrin, 2004.
RODRIGO, P. Lacune et totalit: phnomnalit, vie et monde dans la pens de Renaud
Barbaras. Alter: Revue de Phnomnologie, v. 21, n. 21, p. 255-266, 2013. (La vie).
ROMANO, C. Lvnement et le monde. Paris: PUF, 1998.
______. Au cur de la raison, la phnomnologie. Paris: Gallimard, 2010a.
______. Laventure temporelle. Paris: PUF, 2010b.
______. La phnomnologie doit-elle demeurer cartsienne? Les tudes philosophiques, n.
100, 2012.
______. Le don, la donation et le pardoxe. In: CAPPELLE-DUMONT, P. (Org.).
Philosophie de Jean-Luc Marion: phnomnologie, thologie, mtaphysique. Paris:
Hermann, Rue de la Sorbonne, 2015. p. 11-30.
SAUDAN, A. Penser Dieu autrement: introduction luvre dEmmanuel Falque. Paris:
Germina, 2013.
SOMMER, C. Le sujet sans subjectivit: aprs le tournant thologique de la
phnomnologie franaise. Revue Germanique Internationale: Phnomnologie
Allemande, Phnomnologie Franaise, n. 13, p. 149-162, 2011.
TENGELYI, L. Lexprience de la singularit. Paris: Hermann, 2014. (Le Bel Aujourdhui).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017 209
MALET, P. M.
______.; GONDEK, H-D. Neue phnomenologie in Frankreich. Berlin: Suhrkamp, 2011.
THOMAS-FOGIEL, I. La tournure empiriste de la phnomnologie franaise
contemporaine. Revue Philosophique, n. 4, p. 527-548, 2013.
______. Le lieu de luniversel: impasses du ralisme dans la phnomnologie
contemporaine. Paris: Le Seuil, 2015. (Lordre Philosophique).
VALL, M.-A. Ricur et Spinoza: intrt et difficults dune rappropriation
hermneutique de la pense de Spinoza. Alea. Revista internacional de fenomenologa y
hermenutica, n. 11, p. 89-107, 2013.
Recebido em 29/08/2016
Aceito em 23/12/2016
210 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 187-210, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
Sobre El Abuso de Lo Necesario A Posteriori1
Rafael Miranda Rojas2
Resumen: El presente escrito argumenta cmo el denominado abuso de lo necesario a posteriori,
propuesto en Beebee y Sabbarton-Leary (2010), asume errneamente que: a) los enunciados necesarios
a posteriori requieren un compromiso metafsico con un esencialismo no trivial; y b) que el experimento
mental de la tierra gemela cumple un rol evidencial en la determinacin de lo necesario a posteriori.
Contra a), se sostiene que lo necesario a posteriori no requiere un compromiso esencialista no trivial; a
lo sumo, el esencialismo no trivial es consecuencia de la propuesta de lo necesario a posteriori. Contra
b), se afirma cmo el experimento mental de la tierra gemela cumple un rol subsidiario, explicativo
y no evidencial. Esto evita un compromiso ontolgico con el nexo concebible posible. Luego, se
discute cmo la nocin de co- referencialidad rgida (de jure de facto) es una va de solucin a la
exigencia de esencialismo no trivial. Finalmente, se considera de qu modo el esencialismo cientfico
de Brian Ellis, al enunciar condiciones a priori de satisfaccin, no afecta la justificacin de lo necesario
a posteriori. Del mismo modo, se defiende un nexo trmino rgido de jure/clase sustancial trmino
rgido de facto/clase propiedad.
Palabras Clave: Necesidad. A posteriori. A priori. Esencialismo. Experimento Mental.
1 La redaccin de este escrito se enmarca en el proyecto post doctoral CONICYT FONDECYT N
3140174. Una versin de este escrito fue presentada en la III Latin American Analytic Philosophy
Conference (ALFAn) & Conference of the Brazilian Society for Analytic Philosophy (SBA), 27 30
de Mayo, 2014, Fortaleza (Brasil) y el IV Coloquio de Metafsica Analtica, 8 10 Octubre de 2014,
Santiago (Chile). Sean mis agradecimientos para Javier Vidal Lpez.
2 Licenciado en Filosofa y Educacin por la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, Chile
(2007). Doctor en Filosofa por la misma Universidad (2012). Recientemente finaliz su proyecto
postdoctoral FONDECYT (2014 - 2016) en la Universidad Catlica del Maule, Chile. Acadmico
de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosficas de la Universidad Catlica del Maule, Chile.
Actualmente se desempea como director y docente del Magster en Ciencias Religiosas y Filosficas
de la misma universidad (Lnea de Investigacin Filosofa del Lenguaje y Epistemologa). Profesor
Visitante del Magster en Filosofa de la Universidad de Concepcin, Chile. Miembro de la Asociacin
Chilena de Filosofa (ACHIF), la Asociacin Latinoamericana de Filosofa Analtica (ALFAn),
la Sociedad Chilena de Filosofa Analtica (SChFA) y la Sociedad Chilena de Filosofa Cristiana
(SChFC). Sus reas de estudio son: Filosofa Analtica, Filosofa del Lenguaje, Epistemologa y
Metafsica. Sus ltimas publicaciones son los ensayos: Enunciados de identidad, invariabilidad
proposicional y estipulacin contextual (Revista Discusiones Filosficas, v. 14, n. 23. Universidad de
Caldas, Colombia. 2013b); Consideraciones en torno al rechazo de la premisa in intellectu en el
argumento ontolgico (Revista Temas Medievales, n. 21, 2013, Departamento de Investigaciones
Medievales del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas [DIMED-IMHICIHU-
CONICET] Buenos Aires, Argentina); Bootstrapping y justificacin a priori (por venir) Revista
Discusiones Filosficas. v. 16, n. 25, 2014. Universidad de Caldas, Colombia. 2014); y Enunciados
necesarios a posteriori, necesidad dbil y racionalismo (por venir) Revista Ideas y Valores, v. 65, n. 160,
abril 2016. Universidad Nacional de Colombia. Bogot, Colombia). E mail: rafaelmirandarojas@
gmail.com; rmiranda@ucm.cl
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 211
ROJAS, R. M.
1 Introduccin
Recientemente, Helen Beebee y Nigel Sabbarton-Leary (2010, p. 159 -
179) han cuestionado lo que ellos denominan un abuso de lo necesario a posteriori.
Tal abuso consiste en que no se tienen argumentos para explicar porqu ciertos
enunciados verdaderos, conocidos a posteriori, son tambin necesarios. Es lo que
Albert Casullo (2003, p. 191) denomina estatus modal especfico (specifical modal
status). La idea intuitiva de esta nocin es que la justificacin del conocimiento
de la verdad de cierto enunciado E es distinta de la justificacin del conocimiento
del estatus modal del mismo enunciado E. As, el abuso consistira en sostener
que Abuso de lo necesario a posteriori: La justificacin del conocimiento de la
verdad de ciertos enunciados de identidad terica fundamenta la justificacin del
conocimiento de que tales enunciados son necesarios.
Segn los autores, este paso exigira un compromiso con un tipo de
esencialismo no trivial, el denominado esencialismo cientfico (Scientific
Essentialism) (ELLIS, 2001)3. Siendo el esencialismo cientfico un caso de
esencialismo no trivial, se propone en este escrito que lo necesario a posteriori
no depende de alguna tesis esencialista de este tipo, sino slo de un esencialismo
trivial que permita afirmar la necesidad del principio de identidad y de diferencia
(MIRANDA, por venir).
El desarrollo de este escrito es el siguiente: La seccin 2 analiza la tesis
implcita que permite afirmar el denominado abuso de lo necesario a posteriori.
Ulteriormente, se enuncia y fundamenta la tesis gua de este escrito, a saber: Lo
necesario a posteriori no depende de una tesis esencialista no trivial. La ventaja de
esta tesis es que no exige un compromiso esencialista especfico. Del mismo modo,
se analiza la denominada primera ruta kripkeana y la importancia de que la co
referencialidad rgida no sea comprendida como mera cuestin de hecho. Para
evitar esto, se enuncian las condiciones que debe cumplir la co referencialidad
rgida. La seccin 3 especifica las razones de porqu fracasa la denominada segunda
ruta kripkeana propuesta por Beebee y Nigel Sabbarton-Leary (2010), siendo la
ms importante la comprensin del rol que le corresponde al experimento mental.
Se critica el rol evidencial, y se propone el rol heurstico. Siguiendo a Roca Royes
(2011), se enfatiza la importancia del criterio de carencia de conocimiento (lack of
knowledge) y el error que constituye el comprenderlo como un caso de simulacin
(pretense). La principal consecuencia es que se evita un compromiso ontolgico
con el nexo concebible posible. Posteriormente, se discute el experimento mental
3 La tesis central de ste esencialismo es que las leyes naturales son metafsicamente necesarias, pero
cognoscibles slo a posteriori. Este escrito no discute esta tesis metafsica.
212 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
de la tierra seca, y cmo su crtica modal al externalismo exige comprender el
experimento mental como evidencia. La seccin 4 considera el estatuto epistmico
a posteriori de los enunciados de identidad terica, y cmo el esencialismo
cientfico propuesto por Ellis no cumple este requisito de a posterioridad. Se
rescata, no obstante el nexo clase sustancial/clase propiedad como un caso anlogo
del nexo rigidez de jure/rigidez de facto, pero evitando el compromiso con un
esencialismo no trivial. Finalmente, se enuncian las principales conclusiones de
este escrito.
2 Fundamentacin del abuso, distincin necesario a posteriori/esencial y
co -referencialidad rgida de jure de facto
Beebee y Nigel Sabbarton-Leary han explicitado lo que ellos denominan
un abuso de lo necesario a posteriori al inicio de su escrito: [] contemporary
metaphysicians have increasingly appealed to the category of the necessary a
posteriori. What they generally fail to do, however, is provide any argument for
why the truths in question fall into this category. (BEEBEE; SABBARTON-
LEARY, 2010, p. 159).
El problema no est, por tanto, en la verdad de los enunciados de identidad
terica, sino ms bien en la justificacin que permita sostener que tales enunciados
son necesariamente verdaderos4. La necesidad que se est cuestionamiento aqu
4 Ver Kant (1965, p. 43-44): Experience teaches us that a thing is so and so, but not that it cannot be
otherwise. First, then, if we have a proposition which in being thought is thought as necessary, it is an
a priori judgement [] Necessity and strict universality are thus sure criteria of a priori knowledge.
Kripke (1980, p. 159) observa cmo este modo de entender el nexo a priori necesario, impide
proponer enunciados necesarios a posteriori. Destaca Kripke la importancia de la distincin puede
debe (esto es discutido en MIRANDA, por venir): Kant thus appears to hold that if a proposition is
known to be necessary, the mode of knowledge not only can be a priori but must be. (ibid. nfasis
de quin escribe) Las consecuencias de este anlisis, para la viabilidad de enunciados a posteriori es
central. No se trata de que Kripke confunda el acceso a posteriori con la justificacin a posteriori:
se trata de que los enunciados necesarios a posteriori son un caso anlogo al de los enunciados
matemticos, de modo tal que si un sujeto S conoce a posteriori que un enunciado E es verdadero,
por tratarse de un tipo especial de enunciado, ese sujeto S conoce a posteriori que E es necesariamente
verdadero. As lo sostiene lneas despus Kripke: [] one can learn a mathematical truth a posteriori
by consulting a computing machine, or even by asking a mathematician. Nor can Kant argue that
experience can tell us that a mathematical proposition is true, but not that it is necessary ; for the
peculiar character of mathematical propositions (like Goldbachs conjecture) is that one knows (a
priori) that they cannot be contingently true; a mathematical statement, if true, is necessary. All
the cases of the necessary a posteriori advocated in the text have the special character attributed to
mathematical statements: Philosophical analysis tells us that they cannot be contingently true, so
any empirical knowledge of their truth is automatically empirical knowledge that they are necessary.
This characterization applies, in particular, to the cases of identity statements and of essence. It may
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 213
ROJAS, R. M.
es la necesidad de re, necesidad metafsica sobre los objetos que son designados.
Beebee y Sabbarton Leary observan que los trminos que se encuentran en la
derecha de los enunciados de identidad terica pueden ser comprendidos como
descripciones de la naturaleza subyacente (underlying nature) de la clase natural,
pero al costo de que la determinacin de esta naturaleza subyacente como la
esencia de dicha clase natural dependa de un experimento mental similar al de
la tierra gemela (PUTNAM (1975). Sin este experimento mental, se carecera de
la fundamentacin para comprender la naturaleza subyacente como esencia de la
clase natural: [] what is discovered a posteriori is merely the underlying nature
of the kind in question, rather than its essence; and this possibility will in turn
need to be removed using a Twin Earthstyle thought experiment. (BEEBEE;
SABBARTON-LEARY, 2010, p. 161).
La implausibilidad de sostener que el experimento mental de la tierra
gemela sea la fundamentacin de lo necesario a posteriori, permite observar el
avance que supone distinguir dos nociones centrales en la postura kripkeana, a
saber: esencialismo/necesario a posteriori. Una gua de esta distincin es enunciada
give a clue to a general characterization of a posteriori knowledge of necessary truths. Cabe notar
que, distinto al modo cmo lo entienden Gendler & Hawthorne (2002, p. 30), estos enunciados
de identidad si requieren de informacin emprica que establezca que son enunciados de identidad
verdaderos y, por esto, necesarios. Los autores sostienen explcitamente que: Whether a proposition
is necessary or contingent is a metaphysical question: it turns on whether its truth is independent of
what the world is like. (GENDLER; HAWTHORNE, 2002, p. 30). Estrictamente, los enunciados
de identidad considerados en la defensa de lo necesario a posteriori, no son independientes del modo
cmo es el mundo. Esta lectura, en rigor anti kripkeana, contina lneas despus, al sostener de los
casos Hspero es Fsforo y Agua es H2O que: They are necessary because the rigid designators
on each side of the copula co refer in the actual world, in hence in all possible worlds; but they
are knowable only a posteriori because the co reference of the terms is itself contingent
(GENDLER; HAWTHORNE, 2002, p. 31) La co referencia rgida no es del caso de que slo ocurre
(happen) qu es co referencial. Es un error que esto sea comprendido de ese modo, si se considera lo
explcitamente sostenido por Kripke (1971, p.136):
(2) (x)b(x = x)
But
(3) (x) (y) (x = y) Y [b(x = x) Y b(x = y)]
From (2) and (3), we can conclude that, for every x and y, if x equals y, then, it is necessary that x
equals y:
(4) (x) (y) (x = y) Y b(x = y)
Lo anterior se enmarca en la discusin sobre la ley de sustitucin de la identidad (law of the substitutivity
of identity). Es correcto sostener que la postura kripkeana no acepta como tesis subsidiaria que la co
referencia de los trminos rgidos sea contingente, pese a que lo enunciado en la primera parte del
prrafo citado de Gendler & Hawthorne (2002) pueda ser entendido como una postura actualista que
soluciona lo afirmado lneas despus (MIRANDA, 2011).
214 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
por Kripke5: Its certainly a philosophical thesis, and not a matter of obvious
definitional equivalence, either that everything a priori is necessary or that
everything necessary is a priori. (KRIPKE, 1980, p. 35).
Este escrito propone, anlogamente, que i) Es una tesis filosfica (y no un
asunto de equivalencia de definicin) que lo necesario a posteriori exige una tesis
esencialista no trivial.
Esta tesis es desde ya plausible al considerar el caso de los enunciados de
identidad en trminos singulares, al no exigir tesis esencialista subsidiaria para
afirmar la necesidad de casos como Hspero es Fsforo. Sin embargo, los
enunciados de identidad terica exigen una distincin de jure/de facto, debido a
que aceptar una doble estipulacin exige que ambos trminos rgidos sean de jure
y, de este modo, cognoscibles a priori. La co referencialidad rgida de jure de
facto es una va de solucin a este problema. Si esto es correcto, se puede afirmar
que lo necesario a posteriori se establece va co referencialidad rgida de jure de
facto, independiente de algn compromiso esencialista ulterior. Un antecedente
del nexo esencialista necesario a posteriori se observa en el siguiente anlisis que
Casullo (2003) realiza de la postura enunciada en Kripke (1980 y 1971):
(Tl) The concepts of a priori truth and necessary truth are different; they are
not interchangeable.
(T2) It is a substantive philosophical thesis, one that requires philosophical
argument to establish, that everything necessary is a priori or that everything
a priori is necessary.
(T3) The a priori and the necessary are not coextensive; there are examples
of necessary a posteriori truths and probably contingent a priori truths.
(CASULLO, 2003, p. 181).
Es ampliamente aceptado que, independiente de la discusin de lo
necesario a posteriori en los enunciados de identidad terica, es plausible sostener
que (T3) ya presenta casos en los enunciados de identidad que incluyen trminos
singulares co referenciales (MIRANDA, 2013), por lo que el que la discusin
se centre en los primeros se debe, en gran parte, a que no es evidente qu objeto
es el referente de los trminos generales. Si casos como Hspero es Fsforo son
reconocidos como necesarios a posteriori6, la pregunta que persiste es porque casos
5 Luego desarrollada por Casullo (2003).
6 Ver Haukioja (2012), quin defiende una independencia de lo necesario a posteriori y la nocin de
rigidez, y sostiene que la base para los enunciados de identidad terica descansa en una dependencia
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 215
ROJAS, R. M.
como El oro es la sustancia cuyo nmero atmico es 79 o Agua es H2O no
son admitidos del mismo modo. Casullo, tal como luego proponen Helen Beebee
y Nigel Sabbarton-Leary (2010) atribuye esto a una tesis esencialista no trivial. No
obstante, esto no coincide estrictamente con la postura kripkeana. Kripke afirma
que una postura esencialista depende de la separacin, de la divisin entre a priori
a posteriori y necesario contingente. Esta distincin es, en otras palabras,
condicin necesaria para sostener un esencialismo no trivial. Lo necesario a
posteriori viene a ser un criterio a favor del esencialismo, no el esencialismo un
criterio que fundamente lo necesario a posteriori.
If the essentialist view is correct, it can only be correct if we sharply
distinguish between the notions of a posteriori and a priori truth on the
one hand, and contingent and necessary truth on the other hand, for
although the statement that this table, if it exists at all, was not made of ice,
is necessary, it certainly is not something that we know a priori. (KRIPKE,
1971, p. 152-153).
En otras palabras, una postura esencialista no debera ser comprendida como
la fundamentacin de enunciados necesarios a posteriori. Esto es controversial por
diversas razones, siendo la central el que se tenga por un objetivo subsidiario de
la propuesta de lo necesario a posteriori la defensa de cierto esencialismo. Sea
afirmativa o negativa la postura ante este problema, para refutar el aludido abuso
se debe afirmar que:
a) Lo necesario a posteriori no depende de una tesis esencialista no trivial.
Esto no es, strictu sensu, antiesencialismo. Por ejemplo, es errado afirmar
que Kripke no defiende un esencialismo de origen, o que no defiende un dualismo
anti fisicalista. Slo es trivial la distincin necesario esencial, si se alude a un
esencialismo trivial, como es el caso de la identidad consigo mismo (self identity).
Por lo tanto, la tesis propuesta tiene por objetivo distinguir lo necesario a posteriori
de un esencialismo no trivial, sin que ello exija rechazar un nexo ulterior con
de actualidad (actuality-dependence). Si bien la propuesta de Haukioja intenta diferenciar rigidez
dependencia de actualidad, es claro en el inicio de su escrito que, al menos, rigidez supone dependencia
de actualidad: [] given that Hesperus and Phosphorus are rigid designators, and given that
they are coreferential in the actual world, it follows that they designate the same object in all possible
worlds. (HAUKIOJA, 2012, p. 400) Del mismo modo, Gler & Pagin (2012) defienden que la
nocin de rigidez no puede explicar el estatuto epistmico a posteriori de los denominados enunciados
de identidad terica, sino slo su estatuto modal, su necesidad. Para explicar este estatuto, proponen
lo que ellos denominan switcher-style dual-property association, asociacin que enfatiza el rol de la
naturaleza subyacente (underlying nature) en la determinacin de lo necesario a posteriori (GLER;
PAGIN, 2012, p. 160).
216 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
este tipo de esencialismo7. Proponer esta distincin tiene una ventaja epistmica
y metafsica:
b) No exige al defensor de lo necesario a posteriori un compromiso
especfico con algn tipo de esencialismo.
c) Impide que la postura anti esencialista ataque la nocin de necesario a
posteriori, al derrotar (defeat) cualquier tipo de esencialismo no trivial.
Algunos autores han propuesto que este debate necesario a posteriori/
esencial podra evitarse si, de modo similar al caso de los enunciados de identidad
para singulares, los trminos que determinan como necesario un enunciado de
identidad terica8 fuesen ambos nombres propios, como es en efecto en Pablo
Neruda es Neftal Reyes, sin que ello derive en sostener que, si bien necesarios,
enunciados de este tipo no seran a posteriori. Beebee y Nigel Sabbarton-Leary
(2010, p. 160) observan no obstante una distincin entre ambos trminos, en el
caso de los enunciados de identidad terica. Los de la izquierda son:
7 Por ejemplo, Della Rocca (2002, p. 226, n. 4) no distingue entre necesario esencial. No obstante,
ulteriormente Della Rocca sostendr que el esencialismo que critica acepta la siguiente tesis:
(b) The modal properties of an individual (properties such as being essentially F or possibly G) are had
independently of the way in which the individual is referred to. (DELLA ROCCA, 2002, p. 226).
Y no (a), a saber:
(a) Individuals have some properties essentially or necessarily (DELLA ROCCA, 2002, p. 226.)
La razn principal por la que la autora centra su crtica en (b) y no en (a), es debido a que le parece
que el rechazo de (a) exige un anti esencialismo absoluto, tal que ninguna propiedad de un objeto o es
necesaria a tal objeto o. Este anti esencialismo absoluto descarta, por lo tanto, un esencialismo trivial.
Respecto a (b), la razn principal por la que la autora la rechaza es debido a que le parece, en ltima
instancia, errado sostener que las propiedades modales son independientes del modo cmo es referido
el objeto o. Si bien Della Rocca atribuye esta tesis a Kripke, cabe destacar que la nocin de rigidez
es precisamente un modo en que el objeto es referido, y la necesidad de los enunciados de identidad
terica, y de los enunciados necesarios a posteriori, descansa en la rigidez de los trminos que refiere
dicho objeto (o clase). Ms importante para el objetivo de este escrito, la autora relaciona esta tesis
(b) con la necesidad de la identidad: Let us say that a is a name for a particular object [] a has
the property of being necessarily self identical. To deny this would be to hold that a could fail to be
identical with itself, an absurd claim. (DELLA ROCCA, 2002, p. 227) Es correcto, como se observa
en la nota 1 de este escrito, que la sustitucin de los idnticos le permite a Kripke afirmar no slo un
esencialismo trivial (que descanse en esta propiedad de auto identidad) sino tambin la exigencia de
que toda propiedad que le corresponda a x, le corresponda a y (ntese que esto no ha de ser entendido
como un caso de hiper- esencialismo, pues no exige que toda propiedad de x ni de y, que son el mismo
objeto, sea necesaria).
8 En tanto casos de enunciados de identidad, es una tesis subsidiaria de este escrito (defendida en
MIRANDA, por venir) que los enunciados de identidad terica son necesariamente verdaderos (si
son verdaderos) en base al principio de identidad y, por lo tanto, de un principio a priori. Esto es
particularmente importante, considerando lo afirmado en la tesis a), pues permite sostener cmo estos
enunciados no requieren de un compromiso esencialista no trivial, al sostener la necesidad a posteriori.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 217
ROJAS, R. M.
(i) non-descriptive, (ii) de jure rigid e (iii) introduced by ostensive baptism.
Los de la derecha, en contraste, son:
(i) definite descriptions, (ii) de facto rigid y (iii) discovered and described
by science rather than ostensively introduced.
Todo sugiere que el peso de la fundamentacin a posteriori recae en aquellos
trminos que no son meramente estipulados por un bautismo ostensivo, los de la
derecha. La razn principal para sostener esto es que, a diferencia de los casos de
identidad en singulares, pareciese que sostener la tesis de que ambos trminos
son estipulados ostensivamente, deriva en un compromiso a priorista que, al
fundamentar un enunciado E como necesario a posteriori, presenta el problema de
cmo dos estipulaciones no han de ser comprendidas como arbitrarias y a priori.
Esta sera, en el anlisis de los autores, la denominada primera ruta de lo necesario
a posteriori. Esta es la ruta que precisamente descartan Beebee y Nigel Sabbarton-
Leary (2010, p. 160) al sostener que:
One route is analogous to the route Kripke describes in the case of proper
names. If one can plausibly maintain that the two terms in the identity
statement are both analogous to proper names (as perhaps gold is, but
the element with atomic number 79 clearlywe believeis not), whose
reference traces back to two distinct baptismal events which happen
to name the same kind, then one has a good case for claiming that the
relevant identity claim is necessary a posteriori.
El anlisis de esta cita permite enunciar, contra Beebee y Sabbarton-Leary,
que:
d) el no comprender los trminos de la derecha como nombres propios no
exige que toda descripcin definida sea comprendida como rgida (un descriptor9,
9 Una caracterstica central de un descriptor es no cumplir con el denominado criterio de la naturalidad
(naturalness). El ejemplo dado por los autores (Idem, 1) es lo que estos denominan NARG u Object
bigger than a car. Es una descripcin que cumple cualquier objeto ms grande que un auto, sin
criterio natural unificador. La Porte (2000, p. 299) denomina a estas clases, non-natural. Considrese
el ejemplo Mary favourite color Es rgida esta descripcin? Selecciona el mismo color en toda
situacin contrafctica? Esto ha sido discutido, en particular, por aquellas posturas que defienden
una lectura de los trminos de clases naturales como predicados (MART, 2004, p. 133). Si bien no
es la lectura que defiende este escrito, conviene tener presente la distincin propiedad determinada
propiedad determinable. En el caso del color favorito de Mary, puede plantearse plausiblemente
que esta descripcin corresponde a una propiedad a) determinable (color), no b) determinada (azul,
rojo, verde, etc). De este modo, la rigidez sera correctamente sostenida en a), pero no en b). Esto
conduce a la implausible tesis siguiente: 1) Toda propiedad determinable es rgida y 2) Toda propiedad
218 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
como lo destacan ulteriormente los autores, siguiendo a Connelly et al. (2005)).
y
e) la co referencialidad rgida no puede ser comprendida como algo que
solo ocurre (happen)
Pues ello conduce a la crtica respecto a si dos trminos rgidos que pueden
no designar el mismo objeto en toda situacin contrafctica (renate cordate)
son un ejemplo de un enunciado necesario a posteriori. Si dos trminos rgidos
designan el mismo objeto o la misma clase, no debe ser slo una cuestin de
hecho. Es una tesis intuitiva que, si la co referencialidad fuese slo una cuestin
de hecho, no sera rgida. Por otra parte, el rechazo de co referencialidad rgida
permite al menos de entrada sostener que los enunciados de identidad no son
necesariamente verdaderos. Se pueden enunciar tres condiciones que han de
cumplir trminos co referenciales rgidos:
C1) Dos trminos T1 y T2, independiente uno de otro 10
, designan
rgidamente un objeto O o clase C.
C2) La rigidez de T1 y T2 exige que, en caso de designar el mismo objeto
O o clase C, tal co referencialidad sea rgida.
C3) La co referencialidad rgida descarta co referencialidad contingente
(descarte de la alternativa just happen o mera cuestin de hecho).
3 La segunda ruta
Beebee y Nigel Sabbarton-Leary plantean que el problema de la falta de
argumentos de porqu los enunciados de identidad terica son necesarios, si son
determinada no es rgida. Es implausible, pues la propiedad determinable ha de tener una propiedad
determinada especfica. Por otra parte, tal como destaca Haukioja (2012, p. 401), la discusin sobre
la rigidez en los trminos que designan colores deriva en el debate esencialismo antiesencialismo:
There may be room for discussion about whether colour terms in fact are rigid, but if the essentialist
view were correct, there should be no doubt whatsoever about their status: in general, red things
are obviously not essentially red. Tal vez, considerando el aporte de La Porte, podra evitarse esta
consecuencia implausible, apelando a la no naturalidad. Sin embargo, esto slo es viable en casos como
el del color favorito de Mary, en que el color no es designado directamente. En ltima instancia, eso
es otra razn para diferenciar (si bien no separar, al menos en Kripke) lo necesario a posteriori de una
tesis esencialista.
10
Cf. Miranda (2013). Es central comprender que la rigidez de ambos trminos T1 y T2 no
es dependiente de su co referencialidad rgida. Esto permite sostener la tesis de invariabilidad
proposicional en casos paradigmticamente complejos, como Neftal Reyes es Neftal Reyes y
Neftal Reyes es Pablo Neruda.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 219
ROJAS, R. M.
verdaderos, se da en lo que ellos denominan la segunda ruta de lo necesario a
posteriori, la que debiese justificar dos aspectos: la necesidad y la a posterioridad:
The other route is the route we attribute to Kripke above in the case of
natural kind terms... Here, the term on the left (gold) is analogous
to a proper name and names a natural kind, and the term on the right
(the element with atomic number 79) specifies the essence of that kind.
(BEEBEE; SABBARTON-LEARY, 2010, p. 161, grifo do autor).
Esto, que parece obvio, es el centro de la crtica de los autores, pues es el
supuesto de que ambos criterios se cumplen, lo que conduce a sostener que los
enunciados de identidad terica son necesarios, y son a posteriori. Lo que exigen
los autores es un caso: But one must argue that ones alleged case of a necessary
a posteriori truth fits this model. (BEEBEE; SABBARTON-LEARY, 2010, p.
161). El caso que atacan es el de agua. El centro de la crtica pretenden los
autores que sea la incidencia del experimento mental como argumento, lo que ser
analizado en la seccin siguiente. Pese a esto, se puede destacar un contraste entre
lo que los autores entienden como la ruta kripkeana, y lo que los autores sostienen
puede atribuirse a esta ruta kripkeana:
Lets grant that water has a straightforward underlying nature: actual samples
of water are samples of a substance that is composed of molecules, each of
which is composed in turn of two hydrogen atoms and one oxygen atom. It
does not follow, however, that water is H2O is necessary, because it does
not follow that the underlying nature is waters essence. For of course
it might be, for all that has been said so far, that the term water is not
analogous to a proper name: it might have a meaning such as whatever
potable liquid is typically to be found in rivers and lakes and falls from the
sky, in which case the claim that water is H2O would be contingent rather
than necessary. In order to rule this possibility out, we have to run a
Twin Earthstyle thought experiment: it is only the fact that we (allegedly)
intuitively judge that XYZ is not water, despite meeting the above description,
that justifies the claim that waters underlying nature is its essence, and hence
that water is H2O is necessary. (BEEBEE; SABBARTON-LEARY, 2010,
p. 161, grofo do autor).
Es importante desglosar esta cita, y contrastarla con lo explcitamente
aceptado por los autores como la segunda ruta kripkeana (BEEBEE; SABBARTON-
LEARY, 2010, p. 161). Primero, segn los autores: Cul es la razn por la que no
se sigue que Agua es H2O es necesaria? La razn es que la naturaleza subyacente
220 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
(underlying nature) no es la esencia de agua (waters essence) Segundo: Cul es
el fundamento para establecer esta distincin entre underlying nature y waters
essence, segn los autores? El fundamento es que el trmino agua puede no ser
un anlogo de un nombre propio (For of course it might be, for all that has been said
so far, that the term water is not analogous to a proper name), y tener por contraparte
un significado como cualquier lquido potable que es tpicamente encontrado en
ros y lagos y cae desde el cielo (whatever potable liquid is typically to be found
in rivers and lakes and falls from the sky). Debiese ser evidente como este paso
es inviable, ya que se acepta explcitamente la comprensin del trmino agua
como anlogo a un nombre propio en la denominada segunda ruta kripkeana, lo
que descarta la posibilidad de que agua sea una descripcin definida disfrazada.
Esta fundamentacin, sin siquiera considerar an el problema del experimento
mental, no respeta una condicin fundamental de los enunciados de identidad
kripkeanos. Apoyados en esta posibilidad epistmica descartada extensamente por
Kripke (1980), los autores dan paso al cuestionamiento del experimento mental.
3.1 El problema del experimento mental
Un experimento mental se comprende como un supuesto estado de cosas
(por lo general una situacin contrafctica)11 a partir del cul se intenta evidenciar
la plausibilidad de cierta postura, ante las consecuencias contraintuitivas que
tendra su rechazo12. En el caso de los enunciados necesarios a posteriori, Beebee
y Nigel Sabbarton-Leary (2010, p. 161) cuestionan que sea un experimento
mental el argumento que fundamente que ciertos hechos no slo ocurren, sino
que ocurren necesariamente:
Kripke invites us to imagine a scenario where there is a substance that has
a completely different atomic structure from that of water, but resembled
water in these [characteristic] respects (Kripke 1980, 128),); is this water?
According to Kripke the answer is no. Just as there is a fools gold there
11
Brown (2011) distingue entre experimento mental y razonamiento contrafctico, pues observa
que el segundo requiere por regla general experimentacin: They should also be distinguished (N.A:
los experimentos mentales) from counterfactual reasoning in general, as they seem to require an
experimental element). Para que la distincin sea importante, se asume que esta experimentacin es
de carcter fctica.
12
Siguiendo la taxonoma propuesta por Popper (1959), este tipo de experimento mental corresponde
a un caso de experimento apologtico, que tiene por finalidad dar razones a favor de una teora. Los
otros dos son heurstico, cuyo objetivo es ilustrar una teora, y crtico que tiene por objetivo dar razones
contra una teora. Este escrito sostiene que el caso de la tierra gemela cumple un rol heurstico.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 221
ROJAS, R. M.
could be a fools water (ibid.). Given that water is H2O, nothing lacking
that atomic structure could be water.
La crtica al experimento mental hecha por los autores constituye un
cuestionamiento implcito a que las intuiciones que tenga cierto sujeto S sean
una base correcta para establecer la necesidad de ciertos enunciados. Hay, por lo
menos, cierta ambigedad en la postura kripkeana ante el rol de las intuiciones.
Por un lado, Kripke (1980, p. 46) las comprende positivamente, como una
gua epistmica vlida para establecer cierto conocimiento. Por otro, acepta que
en ciertas ocasiones conducen a lo que Gendler & Hawthorne (2002, p. 33)
denominan la ilusin de posibilidad:
[] he (Kripke) does offer a strategy for re-establishing a link between
intuitions of possibility and what is in fact posible. There will, he
acknowledges, be cases where it seemsto be possible that not-P, but where,
in fact, P is necessary: a posteriori necessities provide us with a class of such
cases. In such cases, we will be faced with an illusion of possibility not-P
will seem possible, though in fact it is not.13
En particular, el experimento mental sostiene la plausibilidad de que, si
es el caso que Agua es H2O es verdadero, sera contradictorio sostener como
verdadero Agua no es H2O14, y es implausible sostener que Agua es XYZ no
exige que Agua no es H2O es verdadero.
Es importante fijarse en un aspecto de esta aludida contradiccin: Permite
sostener la necesidad del enunciado Agua es H2O, si es que resulta ser el caso
(a posteriori) que:
13
Ver Bealer (2002, p. 82). El conflicto entre intuiciones, sostiene el autor, se debe a que al menos
una de ellas est mal informada (misreported). Esto, como se discutir, es un caso de lack of knowledge.
14
Ver Roca-Royes (2011). La autora atribuye una comprensin de lo concebible, que explicita una
consecuencia de este tipo, a Yablo (1993, p. 29). Observa la autora en Yablo un caso de lo que ella
denomina (siguiendo a Worley 2003, p. 17). epistemic conceivability-based account (lo concebible
fundado epistmicamente), en contraste con casos del tipo no epistmico (non epistemic conceivability-
based account). La diferencia central es que, en el caso fundado epistmicamente, lo que un sujeto
S conoce o cree determina lo que es concebible. El caso del tipo no epistmico, comprende como
concebible lo que es verdadero en al menos un mundo posible. De lo concebible al Yablo afirma la
autora: The Greeks, according to Yablo, could conceiveY (N.A: Y indica que es lo concebible tal y
como lo comprende Yablo) of water being other than H2O (due to their lack of chemical concepts
and their lack of knowledge that water is H2O). However, water is not H2O is not conceivableY for
a contemporary subject who knows that water is H2O (the idea is that that would require conceiving
of a contradiction: H2O not being H2O). (ROCA-ROYES, 2011, p. 24).
222 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
i) Agua es efectivamente H2O y
ii) H2O es una propiedad que se aplica a un y slo un objeto, o clase.
Efectivamente, 2) es la caracterstica central que distingue una descripcin
definida rgida de facto, de una descripcin definida simpliciter (y de una descripcin
rigidificada con el operador de actualidad). El cuestionar el experimento mental
es slo un caso de una crtica ms profunda: el si la nocin de lo concebible
(conceivable) es una va adecuada para el conocimiento de posibilidades de re, si
es una va para establecer como vlida la modalidad de re. Kripke asume el acceso
epistmico a verdades necesarias de re, y para ello acepta que se puede predicar,
de objetos y clases, propiedades modales. La intuicin bsica es que hay hechos
contingentes, como que Aristteles fue el discpulo de Platn, y hechos necesarios,
como que Aristteles es idntico a s mismo. Si un enunciado de identidad terica
expresa un hecho como el segundo (y al ser un enunciado de identidad no parece
ser de otro modo, ver nota 2), se puede aseverar que la necesidad a posteriori est
correctamente fundamentada, slo en esencialismo trivial. Es una consecuencia
ulterior el que esta identidad consigo mismo (self identity) permita sostener la
distincin entre accidental esencial.
Recientemente, Sonia Roca-Royes (2011, p. 22-49) ha puesto en duda el
rol de lo concebible en la determinacin de lo posible.15 Anteriormente, Putnam
realiza una crtica similar, al sostener que:
[] we can perfectly well imagine having experiences that would convince
us (an that would make it rational to believe that) water isnt H2O. In
that sense, it is conceivable that water isnt H2O. It is conceivable but isnt
logically possible! Conceivability is no proof of logical possibilityhuman
intuition has not privileged access to metaphysical necessity. (PUTNAM,
1975b, p. 233).
Esto es importante, pues permite observar cmo un experimento mental
puede permitir descartar que casos como Agua es XYZ, por el slo hecho de ser
concebibles, constituyen situaciones contrafcticas posibles. El ejemplo presentado
por la autora es el siguiente:
(1) Zombiesphysical duplicates of human beings that lack any phenomenal
experienceare conceivable.
15
El objetivo central de la autora es cuestionar que lo concebible sea una va para establecer qu es
posible. Esto sigue la lnea enunciada por Gendler & Hawthorne (2002, p. 33): [] the necessary a
posteriori seems to guarantee that there will be cases of conceivability without possibility.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 223
ROJAS, R. M.
(2) If p is conceivable, then p is possible. Therefore,
(3) Zombies are possible. (ROCA-ROYES, 2011, p. 25).
Considerando explictamente el caso de Agua, afirma la autora: []
someone who does not know that water is H2O can conceiveY of water being
other than H2O, despite the fact that this is (metaphysically) impossible.
(ROCA-ROYES, 2011, p. 25).
Analogar el caso de Zombie con H2O muestra cmo lo concebible no
debiese ser comprendido como un criterio que determine lo posible, al menos no
en todos los casos (BEALER, 2002, p. 76)16. Si as fuese, en el supuesto de que un
sujeto S no tiene cierta informacin emprica, sera correcto dar el paso de:
iii) Sostener que es concebible que Agua es XYZ a
iv) Sostener que es posible que Agua es XYZ.
Pero este paso es cuestionable. A esta carencia de informacin emprica
Sonia Roca - Royes (2011, p. 27) lo denomina lack of knowledge. Afirma la autora:
The Greeks could find it conceivable that Hesperus and Phosphorus occupy
different positions in the sky because of their lack of knowledge that Hesperus
is Phosphorus.
Un punto importante es que, acorde con la carencia de conocimiento, un
sujeto S no debiese conocer que es verdadero el enunciado Hspero es Fsforo.
De all la relevancia de la carencia de conocimiento. De modo anlogo, slo sera
concebible que Agua no es H2O, si no se conoce que es verdadero Agua es
16
Sostiene el autor que una equivalencia absoluta entre concebibilidad y posibilidad es implausible,
pues exige comprometerse con la siguiente tesis: it is posible that p iff it is conceivable that p Es
implausible, pues las intuiciones que fundamentan lo que un sujeto S entiende por concebible, son
falibles. Ms importante para este escrito, casos como el de la tierra gemela exigen que, an si p es
concebible, p sea estrictamente imposible. Ulteriormente, Bealer (2002, p. 80) destaca la distincin
entre posibilidad epistmica y metafsica, tal que an si el caso de la tierra gemela se comprende
como posible, esta posibilidad es de carcter epistmico, no metafsico. Es lo que el autor denomina
could of-qualitative-evidential-neutrality. Ulteriormente, Bealer (2002, p. 107) defiende que el vaco
modal (modal gap) que se presenta en los casos de enunciados de identidad terica es solucionado va
intuiciones que no presenten el problema de estar mal informadas (misreported). El caso de agua es
paradigmtico, y si bien el autor observa una dependencia evidencial en el experimento mental, es
correcto sostener que ese rol es dependiente de la informacin emprica que permite afirmar como mal
informados casos como el de la tierra gemela. Finalmente, Bealer defiende un tipo de confiabilismo
modal (modal reliabilism), que depende en gran medida de una estabilidad semntica fundada en la
extensin de los trminos de clase: [] if a simple of a given purely compositional stuff has such
and- such composition, then, necessarily, all other samples of that purely compositional stuff also have
that composition. (BEALER, 2002, p. 107.).
224 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
H2O. Kripke (1980, p. 103) defiende una postura cercana al sostener:
[] theres one sense in which things might turn out either way, in which its
clear that that doesnt imply that the way it finally turns out isnt necessary
Obviously, the might here is purely epistemic it merely expresses our
present state of ignorance, or uncertainty.
Lo que intenta el experimento mental de la tierra gemela es precisamente
establecer que, aunque concebible, es falso que Agua es XYZ. Se puede objetar,
no obstante, que contradicciones de este tipo se presentan en otros casos, en los
que el rechazo de la posibilidad parecera contraintuitivo. Considrese el siguiente
condicional:
(a) q;
(b) if q then b p. (ROCA-ROYES, 2011, p. 27).
Si se entiende q por Agua es H2O y p por Agua es XYZ, lo que
sostiene el condicional es que la verdad de q establece como necesariamente
falso el enunciado p. La autora critica este condicional, basada en la nocin de
pretense17, con el objetivo de cuestionar las implicancias esencialistas que tendran
condicionales de este tipo. Sin tal compromiso, Roca - Royes sostiene que se
sobre generaliza (overgeneralize) la aplicacin de este condicional, a casos como:
If I am sitting, I am necessarily not standing. (ROCA-ROYES, 2011, p. 32).
Debiese cuestionarse, no obstante, cmo la nocin de pretense permite rechazar el
antecedente del condicional como verdadero, pues precisamente lo que se exige es
que se pretenda que q es verdadero. No es lo que ocurre en los casos de identidad
terica, cuya informacin emprica permite sostener no slo que se pretende que
Agua es H2O es verdadero, sino que es verdadero simpliciter. Si Kripke (1970,
p. 102) tuvo en consideracin una tesis esencialista al sostener que
PYbP
P
___________
bP
17
Ver Roca-Royes (2011, p. 28): [] we first pretend that Oa,b,c and see whether, under the
scope of that pretense, we find it conceivable that Oa,d,e. La esencialidad que est cuestionando
aqu la autora es la esencialidad de origen (EO). Oa es el objeto, y en el primer caso es originado
por b y c, mientras que en el segundo lo es por d y e. Lo importante es observar que la nocin
de pretense permite cuestionar que Oa,d,e es inconcebible. Esto ser explicitado, sin discutir la
plausibilidad de la esencialidad de origen, en el texto principal.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 225
ROJAS, R. M.
Es indiscutible que no es un caso de pretense (pues est fundado en
informacin emprica, a posteriori). Ms importante, es plausible sostener que:
v) La esencialidad no trivial es una consecuencia de informacin emprica
que descarta ciertas proposiciones como expresando una posibilidad de re, en este
caso P (y b P).
Nuevamente, se observa cmo la tesis esencialista es consecuencia, no base
de lo necesario a posteriori. Considerando el anlisis previo, puede afirmarse del
experimento mental que:
vi) El experimento no cumple un rol evidencial a favor de la tesis kripkeana
de lo necesario a posteriori. No es la base de la necesidad a posteriori, y su rol es
de carcter heurstico.
En efecto, la base epistmica de un experimento mental es a priori. Si
bien se apoya en la informacin emprica disponible, no entrega nuevos datos, y
su importancia (al menos en el caso de la tierra gemela) reside en el nfasis en la
distincin (y separacin) del nexo concebible posible.
3.2 Dry Earth
Un experimento mental puede ser modificado. Es lo que realiza Besson
(2012), siguiendo a Boghossian (1997) y Segal (2000). Debido a que tal escenario
contrafctico descansa en un supuesto similar al cuestionado lneas arriba,
conviene considerar las consecuencias que puede tener el asumir como correcto
que el experimento mental propuesto por Putnam (1975) es un fundamento de
enunciados de identidad terica18. El experimento mental de la tierra seca tiene
por objetivo cuestionar cmo el externalismo puede dar razn del significado de
trminos de clase, si es el caso que dicha clase es vaca. Esto es ambiguo, pues una
clase C, tal como acepta Besson (2012, p. 406) puede ser vaca de dos modos:
(i) An empty natural kind term is a term that fails to apply to any sample.
(ii) An empty natural kind term is a term that fails to refer to any natural
kind!.
18
Ver Besson (2012, p. 403 404): Externalists and internalists disagree about whether the meanings
of natural kind terms are partly individuated by what exists in the external physical environment of
the speakers using these terms. El experimento mental de la tierra seca tiene por objetivo cuestionar
la tesis externalista. Pero si se sostiene, como se intenta en este escrito, que el experimento mental no
cumple sino un rol heurstico, no es viable establecer una crtica a la tesis externalista bajo el supuesto
de que el experimento mental justifica esta tesis inicial.
226 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
Besson (2012, p. 406, n. 7) sostiene que comprende los trminos de clase
natural como trminos generales, no singulares. Por razones discutidas en otro
escrito (MIRANDA, 2012) esto parece implausible. Es correcto, como observa
Besson, que los trminos de clase natural cumplen el rol predicativo: [] general
terms are syntactically words that can form noun-phrases, be preceded in English
by (in)definite articles, quantifiers and attributive adjectives. (BESSON, 2012,
p. 406).
Pero en tales casos, el trmino de clase natural no cumple el rol referencial,
sino el que denomina el autor de aplicarse a (applying to). Una de las razones
principales por las que un trmino de clase debe ser comprendido en su rol
referencial como singular, es debido a que de este modo es viable cumpla el rol de
trmino rgido de jure, tesis que comparte Besson (2010). Tal vez ms importante
para este escrito, si no se sostiene que un trmino de clase natural es singular, no se
comprende como afirmar (ii), pues habra una dependencia del rol referencial con
el rol predicativo: Natural kind terms have two sorts of basic semantic functions:
referring to kinds and, because they are general terms, applying to, or being
true of, the samples of the kinds they refer to. (BESSON, 2012, p. 406)
Besson es explcito, por tanto, en que el nico modo en qu un trmino
general (como lo es un trmino de clase natural segn el autor) refiera, es que
tenga casos (samples) a los que se aplique. Pero, si esto es correcto, la distincin de
modos de ser vaco es inviable, pues dicha distincin supone una independencia de
ambos roles. Especficamente, (i) sera inviable, pues: Qu trmino de clase T no
cumplira el rol predicativo, si es este rol el que determina que sea un trmino de
clase? Respecto al caso (ii), cabe considerar las consecuencias del experimento de la
tierra seca, particularmente ante la siguiente cuestin: Requiere este experimento
que la clase C sea vaca
a) en el mundo actual
o
b) slo en un mundo posible?
Tanto en a) y b) (considerados por separado), (ii) no se cumple: la clase no
es estrictamente vaca. Intuitivamente, slo se cumple si es vaca en ambos casos.
Sin embargo, esto no es lo que supone el experimento de la tierra seca, sino que
asume (pues no puede ser negado a partir de la informacin a posteriori del mundo
actual) que agua es una clase vaca en un mundo posible, no en el mundo actual.19
19
Ver Besson (2012, p. 408): In a Dry-Earth scenario, we compare Earth, where water refers to
water, and Dry-Earth, where (apparently at least) water refers to nothing whatsoeverwhere there is
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 227
ROJAS, R. M.
Anlogo al experimento mental de la tierra gemela, el objetivo aqu es cuestionar
si el significado del trmino agua cambia, si su extensin cambia.20 Sin embargo,
esto supone que la extensin determina el significado de los trminos de clase
natural, tesis implausible, entre otras razones, por exigir que la relacin uno uno
(designacin) dependa de la relacin uno muchos (denotacin).21
4 A posteriori y esencialismo cientfico
(apparently) no natural kind that water refers to.
20
Especficamente, si el tmino agua refiere otra clase de lquido distinta, pero con similar estereotipo:
the issue is whether water would mean something different, if it referred to a different liquid with
the same stereotype (on Twin-Earth) from that which it actually refers to (on Earth). (BESSON,
2012, p. 408). En ltima instancia, esto deriva en el problema de la trivializacin de la rigidez, como
destaca Haukioja (2012, p. 401): [] general terms designate their extensions, but combining this
assumption with Kripkes definition (Nota de quin escribe: la definicin de rigidez) will clearly not
do. We would then be claiming that rigid general terms have the same extension across possible worlds,
and it is easy to see the problem. On this view, most general terms, including natural kind terms,
would come out non-rigid. For example, there could be more or fewer cats than there actually are.
El problema de la trivializacin de la rigidez ser desarrollado en otro escrito. Baste enfatizar aqu que
es uno de los motivos por los que Besson (2010, p. 25) defiende la rigidez de jure en los trminos de
clase natural: natural kind terms come out as rigid, but so do all other general terms, and in particular
all descriptive general terms. La trivializacin sera un argumento contra la utilidad de la nocin
de rigidez como criterio diferenciador de enunciados necesarios a posteriori. Junto con esta nocin
de trivializacin se encuentra la denominada sobre generalizacin (overgeneralization). Usualmente
comprendidas como el mismo problema, lo cierto es que la sobre generalizacin no tiene las mismas
consecuencias epistmicas y metafsicas que las que se atribuyen a los casos de trivializacin. El uso
indiferenciado de estas nociones es un error: es viable admitir sobre generalizacin sin derivar en
trivializacin de la rigidez. Esto es particularmente importante, si se tiene en consideracin la tesis
intuitivamente correcta de que los denominados enunciados de identidad terica, en tanto enunciados
de identidad, no debiesen ser comprendidos como un caso especial de estos. En otras palabras, la sobre
generalizacin de la rigidez admitira casos de enunciados de identidad terica que hasta el momento
seran rechazados, al entenderlos como un caso de trivializacin.
21
Este punto es discutido en detalle en Miranda (por venir). El punto central es que la determinacin
del significado de trminos de clase natural no requiere de casos (samples) en todo (ni cada uno)
mundo posible: la tierra seca no es un problema para la determinacin del trmino de clase natural
agua, si se asume que en el mundo actual si tiene casos. Un problema ulterior es si en el mundo actual
no hay casos de agua. Sobre este punto, Besson (2010, p. 423) sostiene: [] suppose water is empty
on Earth [in the sense of (i*) or (ii)]. Do we really have the intuition that water would then mean
something different than it actually does? At least the intuition is not as clear cut as in the Twin-Earth
case: you might think that water would be meaningful, but perhaps not that its meaning would be
different. If so, it seems that the intuition of difference of meaning in the standard Twin-Earth case
depends crucially on the different sorts of samples that we find on Earth and Twin-Earththey have
different molecular structures. Esto es otorgarle un rol evidencial al experimento mental de la tierra
gemela, pues asume que esta clase Twater (cuya composicin sera XYZ) entrega un dato emprico, lo
que es contraintuitivo. Puede observarse lo complejo que resulta sostener que los enunciados necesarios
a posteriori dependan del experimento mental.
228 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
Se ha explicitado anteriormente cmo la exigencia de a posterioridad
debiese recaer en los trminos de la derecha del enunciado de identidad en cuestin.
Beebee y Nigel Sabbarton-Leary (2010, 162) aceptan como una caracterstica de
de estos trminos el ser rgidos de facto Qu diferencia a un trmino rgido de
facto de un descriptor? Tal vez ms importante: Es un trmino rgido de facto
un caso de lo que se denominan Strongly Rigid Designator? Estas preguntas son
centrales, pues la crtica de los autores a estos trminos es que, a fin de cuentas,
no hay un criterio que impida descartar la tesis de que son trminos estipulados,
con la consecuencia de que, de este modo, no seran enunciados necesarios a
posteriori, sino a priori. Los autores sostienen:
[] it might be that the relevant rigid designator on the left of our
theoretical identification is introduced as a matter of stipulative definition,
just as a bachelor is defined to be an unmarried man. Or it might be that it is
what we shall call a descriptor: a designator that has descriptive content that
uniquely identifies the kind in question. Either way, the truth in question
will be necessary but knowable a priori. (BEEBEE; SABBARTON-LEARY,
2010, p. 161).
La caracterstica principal de ambas alternativas enunciadas es que no
cumplen con la exigencia de a posterioridad. Definiciones del tipo soltero es
definido como hombre no casado son plausiblemente comprendidas como a
priori. Y de ello los autores observan que: [] the essence of the kind is not
simply the meaning of the kind term. (BEEBEE; SABBARTON-LEARY, 2010,
p. 161). La intuicin de fondo en esta afirmacin es que si este fuese el caso, si la
esencia fuese el significado del trmino de la izquierda, sera a priori. No obstante,
esto es errado, pues precisamente uno de los objetivos de la extensin de la rigidez
a los trminos de clase natural es establecer el significado de estos trminos, sin
que esto derive en la tesis fuerte de que la determinacin de propiedades esenciales
exige estipulacin a priori, ni que sea tampoco lo que establezca la necesidad de los
enunciados necesarios a posteriori. Como se ha observado al inicio de este escrito,
uno de los objetivos esencialistas kripkeanos es permitir que los enunciados
necesarios a posteriori fundamenten este esencialismo. Conviene recordar qu
entiende Kripke por un trmino rgido de facto: [] de facto rigidity [] a
description the x such that Px happens to use a predicate P that in each possible
world is true of one and the same unique object (e.g., the smallest prime rigidly
designates the number two). (KRIPKE, 1980, p. 21, n.21).
Parece correcto sostener que la principal diferencia entre un descriptor y
un trmino rgido de facto es que el primero permite estipulaciones descriptivas
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 229
ROJAS, R. M.
de clases (u objetos) no descubiertos, de modo tal que efectivamente el criterio de
a posterioridad sera vulnerado. El ejemplo de los autores es el de ununbium, un
caso paradigmtico de estipulacin descriptiva a priori: ununbium is the element
with atomic number 112 (BEEBEE; SABBARTON-LEARY, 2010, p. 161).
Los autores proponen que casos como ste, determinados por una estipulacin
definida por la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) son
analticos Por qu no ocurre lo mismo con oro es el elemento cuyo nmero
atmico es 79? Porque el nmero atmico de ununbium es una determinacin
a priori de una clase meramente estipulada. Por contraparte, no parece un asunto
de mera estipulacin el que el predicado el menor primo designe rgidamente el
nmero 2, o ms importante, que oro es el elemento con nmero atmico 79
no requiera de cierta informacin emprica que justifique (y no que slo estipule)
que el enunciado es verdadero.
Por su parte, el esencialismo cientfico (Scientific Essentialism) defendido
por Brian Ellis (2001) sostiene que las leyes naturales se comprenden como
metafsicamente necesarias, y cognoscibles slo a posteriori. Esto sera una
consecuencia de sostener que hay necesidad de re en enunciados que incluyen
trminos que designan clases naturales. Coincide tambin con la comprensin
que tiene Kripke (1980) de los enunciados de identidad terica, al afirmar que son
metafsicamente necesarios. Esto se observa ya en su primera conferencia:
[] if something is false, its obviously not necessarily true. If it is true,
might it have been otherwise? Is it possible that, in this respect, the world
should have been different from the way it is? If the answer is no, then this
fact about the world is a necessary one. If the answer is yes, then this fact
about the world is a contingent one. This in and of itself has nothing to do
with anyones knowledge of anything. (KRIPKE, 1980, p. 38).
La admisin de hechos necesarios es fundamental para la ulterior
afirmacin de que los enunciados de identidad son necesarios de re. Si bien es
cierto el objetivo central de Ellis es sostener que las denominadas disposiciones
corresponde a la esencia de las clases naturales en discusin, y de este modo derivar
necesidad natural de la denominada necesidad metafsica22, este es un paso allende
22
Ver Beebee; Sabbarton-Leary (2010, p. 171). Los autores sostienen que para Ellis (2001, p. 248):
[] natural necessities are grounded in the world. Ver tambin LE GALL (2013, p. 137), quien
defiende un nexo entre disposicionalismo microestructuralismo: [] podemos identificar la
propiedad disposicional (ser venenoso) con la micro-estructura (bioqumica) correspondiente. Solo
necesitamos saber que existe una frmula qumica dada para traducir en qu consiste lo venenoso.
Una tesis de este tipo exige un compromiso con propiedades que supervienen (supervene).
230 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
los objetivos de este escrito. Para efectos de este escrito basta considerar en qu
medida el esencialismo propuesto por Ellis descansa en condiciones de carcter a
priori (ELLIS, 2001, p.19-21).23 De este modo, no afecta la comprensin de lo
necesario a posteriori, pero s permite su defensa ulterior. Como se ha dicho, Brian
Ellis (2001) defiende un esencialismo disposicional, esto es una consecuencia
de su propuesta de clases naturales disposicionales (dynamics kinds). Aqu
se rescata otro aspecto del esencialismo cientfico propuesto por Ellis: El nexo
entre clase sustancial clase propiedad. Independiente de la plausibilidad del
disposicionalismo, la distincin clase sustancial clase propiedad permite sostener
que los enunciados de identidad terica son la expresin de la relacin entre estas
dos clases:
Clase sustancial trmino rgido de jure
Clase propiedad trmino rgido de facto.
Como observa acertadamente Bealer (2002, p. 108), se requiere el criterio
de unicidad entre estas dos clases para descartar identidades contingentes, o co
referencialidad simpliciter, a diferencia de co-referencialidad rgida. Esto permite
sostener, como ha intentado este escrito, que las condiciones esencialistas no
triviales no fundamentan los enunciados necesarios a posteriori.
5 Conclusin
Los enunciados de identidad terica son un caso de enunciados de
identidad. La exigencia de self identity parece ser la condicin que estos enunciados
deben cumplir. Del mismo modo, la co referencialidad rgida permite sostener
las condiciones semnticas que estos enunciados deben cumplir. Por otra parte,
el experimento mental de la tierra gemela no exige un compromiso ontolgico
con el nexo concebible posible, motivo por el que se sostiene el rol heurstico
responde de mejor modo al objetivo central de dicho experimento mental. De
este modo, se evita la crtica que fundamenta el abuso enunciado por Beebee
y Nigel Sabbarton-Leary (2010). Finalmente, se sostuvo como el esencialismo
23
All, el autor enuncia las condiciones para ser una clase natural K, a saber: (1) be objective (i.e.
mind-independent); (2) be categorically distinct, having no ontologically vague boundaries ; (3) be
demarcated from all other kinds via its intrinsic properties; (4) allow for species variation, where,
for instance, two isotopes are members of the same element-kind in virtue of possessing the relevant
essence (atomic number), while nevertheless differing from one another intrinsically by having a
distinct atomic mass.; (5) form a species-to-genus hierarchy in cases where a particular is a member
of two (or more) natural kinds; (6) have an (intrinsic) essence that is both necessary and sufficient for
kind membership.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 231
ROJAS, R. M.
cientfico, al descansar en tesis de carcter a priori, no afectan la fundamentacin
de lo necesario a posteriori.
ROJAS, Rafael Miranda. On the abuse of the necessary a posteriori. Tans/form/ao, Marlia,
v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017.
Abstract: This paper discusses how the so-called abuse of the necessary a posteriori, proposed by
Beebee and Sabbarton-Leary (2010), erroneously assumes that: a) necessary a posteriori statements
require a metaphysical commitment to a non-trivial essentialism, and b) the thought experiment of
the twin earth fulfills an evidential role in determining the necessary a posteriori. Against a), it is argued
that the necessary a posteriori does not require a non-trivial essentialist commitment; at most, non-
trivial essentialism is a consequence of the necessary a posteriori. Contra b), it is stated how the thought
experiment of the twin earth fulfills a subsidiary, explanatory, and non-evidential role. This prevents an
ontological commitment to the conceivable-possible connection. It is then discussed how the notion
of rigid coreferentiality (de jure-de facto) is a way of solving the non-trivial essentialism requirement.
Finally, we consider how Brian Ellis scientific essentialism, in stating a priori conditions of satisfaction,
does not affect the necessary a posteriori justification.
Keywords: Necessity. A posteriori. A priori. Essentialism. Thought experiment.
Referncias
BEALER, G. Modal epistemology and the rationalist renaissance. In: GENDLER, T. S.;
HAWTHORNE, J. (Ed.). Conceivability and possibility. Oxford: Oxford University Press,
2002. p. 71-125.
BEEBEE, H.; SABBARTON-LEARY, N. On the abuse of the necessary a posteriori.
In: ______.; ______. (Ed.). The semantics and metaphysics of natural kinds. New York:
Routledge, 2010. p. 159-179.
BOGHOSSIAN, P.; PEACOCKE, C. (Ed.). New essays on the a priori. Oxford:
Clarendon, 2000.
BROWN, J.; FEHIGE, Y. Thought experiments. In: The Stanford encyclopedia of
philosophy. Stanford: Stanford University, 2011. Disponvel em: <https://plato.stanford.
edu/entries/thought-experiment/>. Acesso em: 10 out. 2016.
CASULLO, A. A Priori justification. Oxford: Oxford University Press, 2003.
CHANG, H. Is water H2O? Evidence, realism and pluralism. Dordrecht: Springer, 2012.
CONNELLY, N. G. et al. Nomenclature of inorganic chemistry: IUPAC recommendations
2005. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2005.
DELLA ROCCA, M. Essentialism versus essentialism. In: GENDLER, T. S.;
HAWTHORNE, J. (Ed.). Conceivability and possibility. New York; Oxford: Clarendon;
232 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
Sobre El Abuso Artigos / Articles
Oxford University Press, 2002. p. 223-252.
ELLIS, B. Scientific essentialism. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
GENDLER, T. S.; HAWTHORNE, J. (Ed.). Conceivability and possibility. New York;
Oxford: Clarendon; Oxford University Press, 2002.
GLER, K.; PAGIN, P. General terms and relational modality. Nos, v. 46, n. 1, p.159-
199, 2012.
KANT, I. Critique of pure reason. Traduo de Norman Kemp Smith. New York: St.
Martin, 1965.
KRIPKE, S. Identity and necessity. In: MUNITZ, M. K. (Ed.). Identity and
individuation. New York: New York University Press, 1971. p. 135-164.
KRIPKE, S. Naming and necessity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
LE GALL, S. Trminos de clases naturales y entes posibles: algunos problemas de
accesibilidad referencial. Discusiones Filosficas, v. 14, n. 23, p. 135-153, 2013.
MCLEOD, S. Rationalism and modal knowledge. Crtica, v. 41, n. 122, p. 29-42, 2009.
MIRANDA, R. Rigidez, esencialismo y actualismo en los trminos referenciales para
clases naturales. Discusiones Filosficas, Manizales, Colombia: Universidad de Caldas, ao
12, n. 19, p. 181-198, 2011.
______. Rigidez de jure y de facto en los trminos generales para clases naturales. Aret, v.
XXIV, n. 1, p. 57-90, 2012.
______. Enunciados de identidad, invariabilidad proposicional y estipulacin contextual.
Discusiones Filosficas, v. 14, n. 23, p. 105-133, 2013.
______. Enunciados necesarios a posteriori, necesidad dbil y racionalismo. Ideas y Valores,
Bogot, Colombia, v. 65, n. 160, p. 49-74, abr. 2016.
PERCIVAL, P. Theoretical terms: meaning and reference. In: NEWTON-SMITH, W. H.
(Ed.). A companion to the philosophy of science, 2001. p. 495-514.
POPPER, K. On the use and misuse of imaginary experiments, especially in quantum
theory. In: ______. The logic of scientific discovery. Londres: Hutchinson, 1959. p. 442
456.
PUTNAM, H. Meaning and reference. Journal of Philosophy, v. 70, n. 19, p. 699-711,
1973.
ROCA-ROYES, S Conceivability and De Re modal knowledge. Nos, v. 45, n. 1, p.22-
49, 2011.
WORLEY, S. Conceivability, possibility and physicalism. Analysis, v. 63, n. 1, p. 15-23,
2003.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017 233
ROJAS, R. M.
YABLO, S. Is conceivability a guide to possibility? Philosophy and Phenomenological
Research, v. 53, n. 1, p. 1-42, 1993.
Recebido em 13/09/2016
Aceito em 21/12/2016
234 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 211-234, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
O Contrato de Glucon
Luiz Maurcio Bentim da Rocha Menezes1
Resumo: O Livro II da Repblica de Plato se inicia com um desafio de Glucon para Scrates, onde
este deve provar que o homem justo , de toda maneira, melhor do que o injusto. Para isso, pedir
que Scrates defenda a justia por si mesma e censure a injustia. O discurso de Glucon pode ser
dividido em trs partes, sendo a primeira dedicada origem e natureza da justia; a segunda ir
indicar a justia como algo necessrio, mas no como um bem; e a terceira, na qual ele ir tentar provar
que a vida do injusto melhor do que a do justo. Neste trabalho, iremos nos centrar em seu primeiro
argumento e de que maneira Glucon defende a justia atravs de um contrato.
Palavras-Chave: Repblica de Plato. Desafio de Glucon. Justia. Contratualismo. Filosofia Poltica.
Filosofia Antiga.
No Livro II da Repblica de Plato, Glucon pedir que Scrates defenda
a justia por si mesma e censure a injustia, pois diz se sentir em apora ao ouvir
Trasmaco e milhares de outros [ ] falarem que a vida do injusto
melhor do que a do justo, ao passo que falar a favor da justia, como sendo
superior a injustia, ainda no ouviu ningum falar, como sua vontade. Por isso,
ir reafirmar seu desafio a Scrates de ouvir o elogio da justia .
No intuito de retomar Trasmaco, ir, dessa forma, dividir o seu discurso em trs
partes, as quais pretenderemos seguir em nosso trabalho:
,
,
, .
primeiro falarei o que dizem ser a justia e sua origem, segundo que todos aqueles
que a praticam, praticam por necessidade, mas no como um bem, terceiro que
naturalmente procedem assim, porquanto, afinal de contas, a vida do injusto
muito melhor do que a do justo, no dizer deles. (Rep., 358c1-5).
No entanto, antes de iniciar sua exposio, Glucon ir classificar o bem
[] em trs tipos diferentes (Rep., 357b4-d2):
1 Professor de Filosofia Antiga e Filosofia Poltica da Universidade do Estado do Amap (UEAP).
Doutorando em Filosofia pelo PPGLM/UFRJ. E-mail: lmbrmenezes@yahoo.com.br
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 235
MENEZES, L. M. B. R.
(i) O primeiro tipo de bem aquele que desejamos, no por suas
consequncias [], mas por o estimarmos por si mesmo [
], como o que agradvel [ ] e os prazeres inofensivos [
], dos quais nada resulta depois, no tempo, seno o agrado
de os possuirmos [
].
(ii) O segundo tipo de bem aquele de que gostamos por ser agradvel em
si mesmo e pelas suas consequncias, como a sensatez, a viso e a sade [
,
].
(iii) O terceiro tipo de bem do tipo penoso, mas til, e no aceitaramos a
sua posse por amor a ele, mas sim devido s recompensas e a outras consequncias
que dele derivam [ , ,
,
]. Como exemplos deste, temos a ginstica, o
tratamento de doenas, a prtica mdica e outras maneiras de se obter dinheiro.
Scrates ir colocar a justia no segundo tipo de bem, enquanto Glucon
vai dizer que, de acordo com o parecer da maioria [ ], no
esse o tipo no qual a justia se encaixa, porm, que pertence espcie penosa [
], a qual se pratica por causa das recompensas, da reputao e
das aparncias, contudo, que por si mesma se deve evitar, como sendo dificultosa.
Sendo o problema dos bens o da relao entre ser em si e a aparncia (dxa),
Glucon continuar seu argumento por uma defesa da relao da justia apenas
com a aparncia.
Seu primeiro argumento (Rep., 358e2-359b5) tem o intuito de demonstrar
a natureza da justia, assim como sua origem, segundo o lgos dos pollo [
... , ] (Rep., 359b6-7).
Ser sobre isso que iremos tratar, neste artigo, no intuito de fundamentar as bases
que consagram o argumento de Glucon como sendo do tipo contratualista. Nossa
hiptese que o contrato proposto por Glucon contribuir para a sua tentativa de
defender o governo injusto, ao atrelar a este a dxa da justia, enfatizado quando
ele diz que o suprassumo da injustia [...] parecer justo sem o ser [
] (Rep., 361a5). Nisso consiste o poder da tirania, governo
este que, apesar de no ser citado por Glucon, aparece implicitamente em seu
argumento. Em nosso trabalho, utilizaremos fontes clssicas e contemporneas,
para fundamentar nossa hiptese.
236 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
I
Dizem os pollo que por natureza cometer injustia um bem, e sofrer
injustia um mal [ ,
]. Logo no comeo do argumento, podemos notar uma
primeira dificuldade, que nos impede de prosseguir. A que tipo de bem estaria
Glucon aqui se referindo? Depois, ele usa o termo kakn (mal) por oposio a
agathn (bem). Que tipo de relao esse novo termo estabelece com a classificao
dos bens? Se tomarmos o ato de se cometer injustia como um bem de primeiro
tipo, teramos que admitir que o prprio ato transmite prazer, ao ser feito. Todavia,
se interpretarmos dessa maneira, tal ato injusto estaria ligado perversidade,
gerando prazer em se praticar injustias apenas pelo ato em si, o que no parece
ser o caso, j que a aquisio de algo posterior ao ato est em vista, ao se praticar
injustia. Ao analisarmos a classificao dos bens, poderemos concluir que o bem
de terceiro tipo aquele que se pratica por causa da aparncia (dxa), se este assim
a tiver, e em vista das recompensas e/ou da reputao, mas que por si mesmo
se deve evitar, como sendo dificultoso. Normalmente, assume-se que a injustia
possui uma aparncia, e esta ruim.2
No entanto, a aparncia de injustia s ser julgada ruim depois da
formao das leis e do nascimento da justia, pois sero estas que daro as penas
daquela. Na natureza, o homem que age pela injustia no age pela dxa, mas por
considerar a injustia til para atingir os bens que tem em vista. nesse sentido
que Trasmaco parece colocar a injustia como qualquer coisa de proveitoso e
conveniente a si prprio [ ]
(Rep., 344c). Entretanto, apesar de lhe ser til agir dessa maneira, tambm
penoso, porque trabalhoso conseguir seu objetivo. Pensando assim, colocaramos
o ato de cometer injustia como, por natureza, um bem de terceiro tipo, sendo
por si mesmo penoso para se praticar, mas til, pois permite que se consigam as
recompensas que tem em vista.
Quanto ao termo kakn, podemos justificar seu uso referente pena sofrida
pelo paciente da ao de se sofrer injustia, que nada mais do que algo prejudicial
e no til, por oposio a qualquer um dos bens. Dessa forma, o que se chama de
mal aqui no escolhido em hiptese alguma, no sendo desejado pelos homens.
Sofrer injustia ultrapassa como um mal maior o bem que h em cometer
injustia [ ]
2 Os exemplos de punio devido dxa da injustia podem ser vistos nas passagens 361e-362a; e
363d-e, onde se alude a com relao injustia.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 237
MENEZES, L. M. B. R.
(Rep., 358e5-6). Essa distino no quantitativa, mas qualitativa, pois, para um
homem, no h prazer suficiente em se cometer injustia que seja melhor do que o
desprazer que h em sofrer algum tipo de injustia. Por isso, depois que os homens
cometem e sofrem injustias uns com os outros, e ambas so experimentadas,
parece vantajoso aos menos capazes de evitar uma e alcanar outra estabelecerem
um contrato mtuo, para no cometerem nem sofrerem injustias [
,
] (Rep., 358e6-359a2). Aqui podemos
notar que h um clculo feito por esses homens que lhes permite medir o que
vale mais a pena. Como os homens no conseguiam apenas o prazer de cometer
injustias e nem conseguiam evitar o desprazer de sofrer injustias e, percebendo
que este era muito pior do que o bem que aquele proporcionava, eles optaram pelo
contrato, para se evitar sofrerem injustia, mesmo que tambm no pudessem,
com isso, continuar a cometer injustia.
A partir do contrato se formariam leis, assim como a designao do que
legal e justo [ ] (Rep., 359a4). Esta seria a gnese e a essncia
da justia, sendo intermediria entre o melhor ser, no pagar a pena das injustias
cometidas, e o pior, ser incapaz de se vingar de uma injustia sofrida [
,
, , ,
] (Rep., 359a4-7). Nessa parte, podemos verificar que
Glucon atinge o primeiro propsito de seu argumento, que demonstrar qual
a gnese da justia. Por uma espcie de medida, os homens conseguiram pesar
o que valia mais a pena e acabaram optando por um intermedirio, o qual os
poupasse das agruras da injustia. Ser a partir dessa formao que poderemos
supor a distino entre justo e injusto e de suas respectivas aparncias. Com a
determinao das leis e o surgimento da justia, a injustia torna-se, alm de
penosa, tambm prejudicial, j que cometer injustia implica agora uma punio
da lei.
Estando a justia no meio de ambos, no desejada como um bem, mas se
honra na debilidade de se cometer injustia [
,
] (Rep., 359a7-b2). Aqui, pela segunda vez, Glucon, assumindo a voz
dos pollo, afirma que a justia no um bem [ ]3. A passagem
3 Na passagem 358c3-4, afirmado que a justia necessria, mas no um bem [
].
238 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
parece contrastar com a passagem 358a4-6, onde os pollo incluem a justia no
terceiro tipo de bem. Tal diferena faria com que ou a justia, na viso dos pollo,
no fizesse parte de nenhum tipo de bem, ou o terceiro tipo no fosse considerado
por eles um bem. Qualquer uma das suposies poria em risco a tripartio dos
bens.
Para resolver o problema, temos de analisar o uso dos termos junto ao
contexto. Primeiramente, no nos parece que Glucon est colocando a justia
como sendo um mal do mesmo modo que sofrer injustia o , mas que a justia
no vista pelos pollo como um bem, apesar de ser em si mesma um tipo de
bem, o que, por si s, j difere de um mal. Depois, se tomarmos o que nos fala
a classificao dos bens unicamente para cada tipo em si mesmo, veremos que o
primeiro tipo de bem se refere s coisas que, em si mesmas, nos so bem-vindas
[ ]; o segundo tipo de bem se refere s coisas que
em si mesmas ns desejamos [ ]; e o terceiro
tipo de bem fala das coisas que em si mesmas no aceitamos ou no escolhemos ter
[ ], pois so penosas, embora
teis [ , ]. Entendendo o que um
bem em si mesmo, em cada um dos tipos, retomemos o que Glucon fala da
justia, dentro de seu argumento. Ele diz que a justia se encontra entre o melhor
(riston), que seria cometer injustia sem ter que pagar por isso, e o pior (kkiston),
que seria sofrer uma injustia sem poder se vingar disso, dando a entender que
a justia tem utilidade, embora em si mesma no seja desejada como um bem
[ ]. Queremos reforar aqui o sentido de meio termo
da justia, porque, ao ser colocada numa posio central, permite medir e pesar
as aes dos homens, dando-lhes o que lhes devido. Entendemos, desse modo,
que o que Glucon quer dizer em seu argumento que a justia no um bem de
primeiro tipo, pois em si mesma no agradvel, nem bem-vinda, e pelo mesmo
motivo no pode ser colocada no segundo tipo, no entanto, mesmo no sendo
escolhida por si mesma por ser penosa, a justia tem sua utilidade, porque evita
que injustias sejam cometidas e sofridas, o que faz dela uma necessidade entre os
homens. Sendo, assim, a justia se encontraria no terceiro tipo de bem.
Contudo, continuar Glucon, em seu argumento, dizem que aquele
que for capaz de fazer injustias, e que seja um verdadeiro homem, no aceitaria
o contrato de no cometer nem sofrer injustias, pois seria loucura [
] (Rep., 359b2-5).
Nessa exposio que fizemos, fica clara a oposio entre dynmenos e m
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 239
MENEZES, L. M. B. R.
dynmenos. O dynmenos aquele capaz de romper com o contrato, sem sofrer
consequncias negativas por isso. Mas a pergunta que nos fica que homem, por
mais forte que seja, capaz de romper com o contrato? Para melhor esclarecer
detalhes do argumento, levantaremos aqui algumas hipteses.
Se supusssemos que as pessoas vivessem numa plis antes do contrato,
teramos que aceitar que a plis no teria nenhum tipo de acordo ou contrato,
sendo, dessa forma, a injustia livre entre os homens, o que faz tudo ser permitido.
A plis o que une os homens de maneira permanente, do contrrio, no viveriam
juntos nesta. Porm, dentro desta, todos cometem injustias uns com os outros.
Cometer injustia um bem, mas sofrer injustia um mal, e tudo que lhes faz mal
os homens querem afastar de si. Supondo que X, Y e Z so homens que vivem
nessa plis, tomemos que X comete injustia com Y; Y comete injustia com Z;
Z comete injustia com X; ora, teremos decorrente disso que Y se afasta de X; Z
se afasta de Y; X se afasta de Z. Isso pode ser repetido entre os demais elementos
do conjunto, de maneira aleatria. Se sofrer injustia um mal maior do que
o bem que h em cometer injustia, os homens acabam ficando afastados uns
dos outros. Assim, podemos concluir que no h nada na plis capaz de unir os
homens que seja mais forte do que o poder de afastamento que h em se sofrer
injustia. Logo, os homens iro se afastar uns dos outros e no vivero numa
plis, j que o motivo de esta existir unir os homens de alguma forma. Mesmo
que pudssemos considerar a vingana, ao invs do afastamento, isso no seria
suficiente para supor uma plis antes do contrato. Portanto, as pessoas no vivem
numa plis antes do contrato. Seguindo essa linha de pensamento, os homens,
anteriormente ao contrato, nada tm no mundo que os una de forma permanente.
Ao se encontrarem, os homens cometem, assim como sofrem, injustias uns com
os outros, no entanto, sofrer injustia um mal maior do que o bem que h em
cometer injustia, no sendo esta capaz de criar concrdia entre os homens, como
bem nos lembra Scrates, em seu dilogo com Trasmaco, no Livro I:
,
, ,
;
, .
; ;
.
, ,
, . ;
, , .
240 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
, .
, ,
;
.
- [...] parece-te que uma plis ou um exrcito, piratas, ladres ou qualquer outra
classe, poderiam executar o plano injusto que empreenderam em comum, se no
observassem a justia uns com os outros?
- Certamente que no respondeu.
- E se a observassem? No seria melhor?
- Absolutamente.
- Decerto, Trasmaco, porque a injustia produz nuns e noutros as revoltas, os
dios, as contendas; ao passo que a justia gera a concrdia e a amizade. No
assim?
- Seja respondeu , s para no discutir contigo.
- Fazes bem, meu excelente amigo. Mas diz-me o seguinte: se, portanto, este
o resultado da injustia causar o dio onde quer que surja quando ela se
formar entre homens livres e escravos, no far tambm com que se odeiem uns
aos outros, com que se revoltem e fiquem incapazes de empreender qualquer coisa
em comum?
- Precisamente. (Rep., 351c7-e3).
Trasmaco julga que a injustia por sua prpria fora desptica pode
tomar todos os bens que deseja e fazer seu possuidor feliz. No entanto, Scrates
demonstra que, se o rgon da injustia causar o dio onde quer que surja, fazendo
com que aqueles que a possuem fiquem incapazes de empreender qualquer coisa
em comum [ ] (Rep., 351d-e),
ento a injustia no pode ser boa para aquele que a possui. Se considerarmos
somente a injustia entre os homens, estes viveriam em lutas e desavenas, sem
nunca chegarem a um acordo. Tal efeito impossibilita qualquer tentativa de se
estabelecer uma plis. O que Glucon pretende retomar Trasmaco, seguindo
outro caminho, j que o apresentado por este foi refutado por Scrates. Ir, pois,
supor uma natureza humana que busca cometer injustia como um bem, por
oposio formao da lei e da justia, que so a medida encontrada para evitar
que o homem cometa injustia, o que faz com que estas se originem junto ao
contrato, nascendo, assim, a plis. Logo, Glucon narra a gnese da justia como
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 241
MENEZES, L. M. B. R.
a gnese da plis e menospreza sua ao sobre a alma.
Segundo Romilly (2002, p.1), a lei era entre os gregos o suporte e a garantia
de toda sua vida poltica. Para explicar isso, ela ir traar o caminho conceitual
desenvolvido pelos gregos, para se chegar ao que eles entendiam por lei. Com a
organizao das cidades, no sc. VIII a.C., e o progressivo desaparecimento das
monarquias, na Grcia, os direitos e as funes de cada um, em nome de um
interesse comum, comeam a se fixar e, assim, [...] quando a lei surgiu, de uma
forma ou de outra, os cidados tiveram acesso a vida poltica (ROMILLY, 2002,
p. 10-11). Todavia, ser na Atenas democrtica que a lei se destacar e se tornar
clebre.
Com a apario da democracia, a lei teve em Atenas o sentido que destacaria
sua originalidade no pensamento grego. Melhor que qualquer princpio
geral fixado em nome de uma revelao divina, melhor que as simples
regras prticas que regulam a punio de certos crimes, as leis, no regime
democrtico, definiam, com o acordo de todos, os diversos aspectos da vida
comum; e sua autoridade devia, assim, substituir a toda soberania de um
indivduo ou de um grupo, sentida como um insulto. (ROMILLY, 2002,
p. 12-13).
Ser na Atenas clssica, a qual surge das reformas de Clistenes, que a
lei, fundamento e expresso da democracia, se torna lei poltica, se torna nmos
(ROMILLY, 2002, p. 13). De acordo com Romilly, [...] a palavra nmos, que
designa a lei em grego, somente se aplicaria ao domnio poltico a partir desta
poca. (ROMILLY, p. 13). Para isso, ela se baseia na tradio, que utiliza a
palavra para mltiplos sentidos, mas no a usa no sentido poltico (ROMILLY,
2002, p. 13-14). A palavra anterior empregada para denominar lei era thesms, a
qual relativa thmis, que designa a justia, sob seu aspecto primitivo e divino
(ROMILLY, 2002, p. 14, nota 6), e que foi progressivamente sendo substituda
por nmos. Slon mesmo parece se utilizar de thesmo, para aludir s leis da cidade,
e no parece empregar o nmos, no sentido de lei de uma cidade (ROMILLY,
2002, 14-15). Como a palavra thesms desaparece na mesma poca, Romilly
se sente autorizado a pensar que o surgimento do nmos como lei poltica est
ligado ao advento da democracia, e ir se apoiar na obra de Ostwald para afirmar
que a palavra nmos, junto com a palavra isonoma, teria sido trazida para a vida
poltica ateniense por Clistenes, em 506-507 (ROMILLY, 2002, p. 17). A lei,
assim associada, ser smbolo da oposio do ideal democrtico contra a tirania,
e tambm do ideal de uma vida poltica contra os brbaros (ROMILLY, 2002,
p. 18). Se entendermos o nmos, nesses termos, teremos que pensar, ao que
242 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
parece, o surgimento da plis narrada por Glucon como o surgimento de uma
plis democrtica, a qual teria leis comuns que garantiriam uma justia igualitria
para todos. No entanto, Glucon parece entender o contrato de outra maneira,
mais perspicaz em seu modo de pensar, que resultaria exatamente no contrrio da
defesa comum que se faz da lei como garantia da liberdade por oposio tirania,
conforme poderemos ver, no decorrer deste trabalho.
II
A teoria do contrato supe uma noo de natureza humana, entendida
como um princpio de insegurana em que os homens no esto livres de sofrerem
os males da injustia, e este princpio s resolvido pela instaurao de um governo
que tem seu poder legitimado no contrato. A proposta de Glucon dialoga com a
sofstica do sc. V a.C., que investigava se a moralidade seria matria da conveno
(nmos) ou da natureza (phsis), o que levanta questes sobre o indivduo e a
plis. Essa oposio entre a lei e a natureza foi reforada pelos ensinamentos
daquele sculo (ROMILLY, 2002, p. 97-111), no que se refere ao entendimento
que se faz sobre a natureza humana e as convenes da lei, o que aumentou a
ocorrncia da terminologia empregada pela sofstica para caracterizar uma crise
da lei (ROMILLY, 2002, p. 95). De acordo com Kerferd, a anttese nmos e phsis
[...] sempre envolveu um reconhecimento da phsis como uma fonte de valores
e, portanto, em si mesma, de alguma maneira prescritiva. (KERFERD, 2003, p.
194). No perodo sofista, o apelo no para qualquer tipo de natureza, mas para
a natureza do homem, em vista das demandas que brotam da prpria natureza
reforando seu carter prescritivo.
Seguindo as teses de Charles Kahn, as teorias do contrato foram
primeiramente formuladas por volta da segunda metade do sculo V, como uma
variante das primeiras declaraes sobre a origem da vida civilizada em sociedade,
fontes estas que apresentam uma teoria geral de como o cosmos, as coisas vivas e os
seres humanos originalmente vieram a existir (KAHN, 1981, p. 92). No entanto,
os textos da primeira metade do sculo V no tratam claramente sobre um contrato
ou acordo. Nesse ponto, o sofista Antifonte parece ter sido o precursor da questo,
argumentando que nmos e phsis so opostos um ao outro, e que seguir o que
determinado pelo nmos entraria em conflito com a phsis, prejudicando, com
isso, o indivduo (CURD, 2001, p. 150), como podemos ver em seu fragmento:
[...] [] <> [] []
[]
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 243
MENEZES, L. M. B. R.
[] []
[] ,
[], [] []
[] [], [ ], [ ]
[, ] ,
, ,
,
, ,
, ,
. ,
[] [][]
[] [] [] []
, ,
,
,
.
[], [][],
[]. ,
,
.
, .
[] ,
[].
A justia consiste em no violar as leis da plis constituda de cidados. Um
homem poderia empregar a justia, sobretudo, para sua prpria convenincia,
se, diante de testemunhas, aplicasse as leis em profuso, mas, na ausncia de
testemunhas, seguisse as prescries da natureza. Pois as prescries das leis so
institudas, enquanto as da natureza so necessrias; o acordo das leis no
natural, ao passo que as prescries da natureza so naturais, no acordadas.
Assim, quando algum transgredir as leis, a vergonha e a punio no o
acometero, se ele escapar aos olhos dos partcipes daquele acordo; mas no se no
estiver oculto. Mas se, contrrio ao possvel, algum violasse alguma das coisas
que so prprias por natureza, o mal no ser menor se ningum perceb-lo e
nem maior se todos o observassem, pois no prejudicado pela aparncia, mas
pela verdade. Este todo o propsito de se considerar estas coisas que so justas por
causa da lei de uma maneira e que so contrrias natureza; pois so dispostas
por lei aos olhos as coisas que devem ver e as que no devem; e aos ouvidos, as
que devem ouvir e as que no devem; e lngua, as que ela deve dizer e as que
no deve; e s mos, as que devem fazer e as que no devem, e aos ps para onde
devem ir e para onde no devem, e ao esprito, as coisas que deve desejar e as
que no deve. Com efeito, no so para a natureza em nada mais afins nem
mais prprias as coisas das quais as leis dissuadem os homens do que aquelas dos
244 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
quais persuade. Por outro lado, o viver e o morrer so da natureza e, para eles,
o viver uma das coisas convenientes e o morrer uma das no-convenientes. As
coisas convenientes fixadas pelas leis, por seu turno, so grilhes da natureza, as
fixadas pela natureza, livres. De fato, as coisas que produzem sofrimento, por
uma correta razo, no so proveitosas natureza mais do que as agradveis;
no seriam, portanto, em nada mais convenientes as coisas dolorosas do que as
prazerosas. Pois as coisas convenientes, segundo a verdade, no devem prejudicar,
mas serem teis.4
Antifonte introduz a tese de que a justia um acordo []
que regula os nmoi da plis. A convenincia [] consiste em seguir
a lei, quando se est sendo observado, mas se for possvel ficar oculto aos demais
e escapar do acordo, ser conveniente que ele assim o faa, porque as prescries
da natureza so prazerosas e necessrias [], ao passo que seguir as leis
penoso para o indivduo. A noo de acordo, utilizada por Antifonte atravs da
palavra , relacionada sempre com as leis, pois o acordo s possvel pelo
estabelecimento de leis entre os homens, sendo totalmente excludo da natureza
humana. Para Antifonte, a justia repousa sobre um aparato legal: ele se recusa a
aceitar que a lei possui alguma raiz natural, pelo contrrio, [...] o procedimento
legal viola a necessidade material em todos os sentidos (HAVELOCK, 1957, p.
259).
No entanto, no pensamos que Antifonte est defendendo uma transgresso
da lei por princpio, mas que ele est demonstrando que o justo garantido pela
lei, e que esta preserva a vida em comum dentro da plis, apesar de que o seu
oposto, que a prpria natureza, considerada vantajosa e deve ser seguida, se
assim for possvel, j que transmite prazer quele que a pratica. O fato de ser visto
ou no e da maneira como se visto faz toda a diferena dentro do pensamento de
Antifonte. A transgresso da lei no um problema para o agente, mas somente se
este for visto em seu ato, e essa acuidade de viso est ligada verdade [],
pois, segundo Antifonte, pela aparncia [ ] se capaz de ocultar as
transgresses da lei e impedir a observncia da mesma. A verdade colocada como
sendo a nica capaz de trazer prejuzo [] ao agente da ao, visto que
um mal [] pode ser por ele ocultado da percepo dos demais, atravs da
dxa. Mas nem tudo que phsis conveniente para Antifonte, pois a morte,
por exemplo, natural e no-conveniente [ ]. Por isso, ele ir
4 ANTIFONTE. I. Oxyrh. Pap. XI n. 1364, ed. Grenfell and Hunt, linhas 6-121. A
nossa traduo baseada na traduo de Grenfell e Hunt. Tambm consultamos a traduo de Lus
Felipe Bellintani Ribeiro, Antifonte. So Paulo: Loyola, 2008, p. 72-75.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 245
MENEZES, L. M. B. R.
estabelecer um outro critrio, de acordo com o qual certo e errado se identificam
com utilidade e prejuzo:
o que til5 ao homem e a sua natureza que est sendo tratado como
bem, e argumenta-se que as provises das leis e normas da sociedade no
favorecem a natureza mas, ao contrrio, so grilhes e cadeias impostas a
ela que impedem, em vez de favorecer, a sua realizao. Isso deixa aberta
a questo de saber se, excepcionalmente, algumas leis podem favorecer a
natureza. (KERFERD, 2003, 198-199).
Saber, em Antifonte, se as leis, em alguns momentos, podem favorecer a
natureza uma questo ainda sem resposta, conforme Kerferd ressalta acima. Mas
no podemos deixar de pensar que essa a questo que gira em torno das relaes
entre justo e injusto, da maneira como so colocadas por Glucon, o qual traz esses
importantes conceitos para o debate nmos-phsis, j bastante conhecido na poca
de Plato. Muito do que enfatizado por Antifonte por Glucon empregado,
mas, em seu argumento, ele coloca o ato de se cometer injustia como um bem
que naturalmente desejado pelo homem e a justia , por oposio, determinada
pelas leis impostas pelo contrato. Antes de darmos seguimento anlise disso,
em nosso trabalho, queremos atentar para o fato de que Antifonte ainda no usa
a palavra , que ir denominar o contrato no argumento de Glucon, j
que essa palavra, de acordo com Kahn, s ser empregada pela primeira vez para
caracterizar uma relao contratual entre cidados no Criton de Plato6, o que j
pode ser um indcio de que a noo de contrato j fosse suficientemente familiar,
no incio do sculo IV (KAHN, 1981, p. 94-95).
Entretanto, uma referncia a uma primeira noo de natureza humana
e estabelecimento de uma plis atrelada ao contrato ir aparecer somente com o
discurso proferido por Glucon, no Livro II da Repblica. Nele, podemos perceber
que o homem, de maneira geral, m dynmenos e no pode, nesse momento
pr-contratual, evitar sofrer injustia de algum modo. Parece-nos mais provvel,
e coerente com o argumento de Glucon, que todos os homens so suscetveis a
sofrerem injustias. Antes do contrato, a fragilidade est nos prprios homens,
incapazes de cometerem injustia sem que sofram tambm com elas. Aps a
5 Trocamos aqui benefcio, utilizado por Kerferd, por utilidade, para que o termo entre de acordo
com a nossa traduo para a palavra grega .
6 Principalmente em 52d2 (Ed. Burnet), onde podemos perceber que, logo aps a palavra ,
inserida a palavra , sendo uma semelhana com o fragmento citado de Antifonte, alm de
reforar a ideia de conveno.
246 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
formao do contrato, o risco est num tipo especfico: o dynmenos, pois este,
e somente este, que consegue recusar o contrato, por ter fora suficiente para
continuar a fazer injustias, sem ser punido por isso. Se tomarmos o sentido de
como sendo um princpio de ao que tem como consequncia imediata
a produo de um rgon (AUGUSTO, 1996, p. 32-33), poderemos entender que
dynmenos, de acordo com o contexto estabelecido por Glucon, todo aquele
que consegue, mesmo que por uma s vez, cometer injustia. Feito isso, temos
ainda duas observaes a serem feitas.
Primeiramente, dito por Glucon que todos os homens experimentam
tanto cometer como sofrer injustias, o que nos parece mais do que suficiente
para entender que nenhum homem pode ser sempre dynmenos, pois no h
homem, por mais forte que seja, capaz de cometer injustia, numa situao
pr-contratual, que no seja tambm alvo da injustia. Seguindo essa linha de
pensamento, poderamos considerar que os homens podem ser ora dynmenoi,
ora m dynmenoi, ou seja, conseguem algumas vezes cometer injustia e outras
no, sofrendo desta tambm. Desse modo, no existiria dynmenos de maneira
duradoura, mas somente circunstancial.
Para esclarecer o segundo motivo, vamos supor que, entre os homens,
um deles fosse maior em dnamis do que os outros, e que este, com sua fora,
conseguisse cometer injustia livremente, sem sofrer desta. Se os homens, ao
criarem o contrato para evitar sofrerem injustias, conseguissem tambm evitar
que esse homem atuasse injustamente, ento ele no seria, estritamente falando,
sempre dynmenos; caso contrrio, se ele continuasse a cometer injustia, sem
ser punido pelo contrato que instituiu a justia, o contrato seria intil em seu
fim, porque a injustia continuaria a ser cometida por ele. Dessa maneira, ou
o dynmenos se demonstra como insuficiente para no aceitar o contrato, ou o
contrato se demonstra insuficiente para evitar que injustias sejam cometidas e
sofridas. O verdadeiro dynmenos aquele que pode burlar o contrato, no o
aceitando de forma alguma, pois a ele este no pode afetar. Mas um homem assim,
que fosse sempre dynmenos em suas aes, no pode existir antes do contrato,
porque a formao deste em nada evitaria a ao daquele.
Por isso, a hiptese da existncia do dynmenos contnuo antes do contrato,
aquele que nunca falha em suas aes injustas e tambm no afetado pela
injustia, no nos parece consistente com a razo de o contrato existir, isto , evitar
injustias. Poder-se-ia ainda levantar a hiptese de que o contrato s foi institudo
para evitar a injustia entre os m dynmenoi, mas isso s levaria concluso de
que o contrato j nasce fraco por princpio, e no parece este, a nosso ver, uma
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 247
MENEZES, L. M. B. R.
boa noo contratual. O contrato surge, porque mais forte do que qualquer
homem, uma vez que, atravs da instituio das leis e da justia, capaz de evitar
que homens cometam e sofram injustias uns com os outros. Por outro lado,
justamente depois de consumada tal estrutura contratual que o verdadeiro homem
[ ] (Rep., 359b3) aparece como sendo algum capaz de burlar
tal estrutura, pois, para se consagrar como aquele que sempre consegue cometer a
injustia, sem ser alvo da mesma, precisa do contrato. Sendo assim, o contrato
uma fora dbia que tanto impede os homens de cometerem e sofrerem injustia,
como tambm permite ao verdadeiro dynmenos cometer injustia, porque o
contrato, atravs da sua fora, que possibilita a impunidade daquele. Poderemos,
assim, distinguir terminologicamente o dynmenos, aquele que consegue por vezes
cometer uma ao injusta, do verdadeiro dynmenos, que aquele que sempre
consegue cometer uma ao injusta, atravs do uso do contrato a seu favor. E esse
caminho s ser possvel para aquele que, de alguma forma, consiga se assenhorear
do governo e usar o contrato a seu favor. Ser esse caminho que Glucon parece
expor, com seu argumento para se atingir a tirania.
A retomada do lgos de Trasmaco por Glucon (Rep., 358b8-c1)
no poderia deixar de passar pela tirania. Apesar de esta no ser mencionada
textualmente por Glucon, ela est implicitamente colocada no seu discurso. O
verdadeiro governante [ ] (Rep., 343b5) seria aquele em
que a pleonexa o leva a ser um grande dynmenos (Rep., 344a1), sendo este o
verdadeiro homem [ ] (Rep., 359b3), capaz de negar o contrato
para si e, assim, arrebatar os bens dos governados e faz-los escravos de seu
governo. A colocao de Glucon do contrato para marcar o surgimento das leis
e da justia, com o intuito de impedir que se possa cometer injustia, permite
que, da mesma maneira que o pastor e a ovelha de Trasmaco, o governante, que
deveria preservar o contrato para proteger seus governados, na verdade se utilize
deste para tirar proveito prprio, fazendo com que as leis, determinadas pelo
contrato, o beneficiem acima dos demais. A diferena consiste em que Glucon,
ao supor uma dxa que possibilita ao governante agir injustamente, demonstra
como o injusto poderia agir pela injustia, ao se passar por justo, ao contrrio de
Trasmaco, o qual no capaz de dar essa resposta a Scrates (Rep., 351c7-e3).
Ao que parece, o tipo de governo que caberia dentro do quadro pintado pelo
lgos dos pollo seria a tirania, que seria a mais completa injustia (Rep., 344a4) e
que por eles tida como aquela que conduz melhor forma de vida, devido aos
bens que proporciona ao indivduo e, por isso, consideram o tirano feliz e bem-
aventurado [ ] (Rep., 344b7-c1). O mito do anel de
Gyges (Rep., 359d-360b) parece apontar para o grande desafio existente dentro
248 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
do campo tico-poltico. Irwin nos chama ateno para o problema que Glucon
coloca, logo no comeo do Livro II, onde ele diz querer ver demonstrado que
de qualquer maneira [ ] melhor ser justo do que injusto (IRWIN,
1999, p. 174-175).7 Se tomarmos isto como parte do desafio de Glucon imposto
a Scrates, teremos que admitir que at mesmo em situaes contrafactuais, nas
quais a injustia parece ser extremamente vantajosa, como o exemplo de Gyges, a
justia deve ser escolhida por ser superior injustia.
Pois este desafio , no limite, um desafio ao filsofo, convidado a refazer,
de um certo modo, o percurso de Gyges. Porque a questo da tirania e a
questo da justia no se colocam apenas no mbito das relaes entre os
homens na sua melhor ordenao, mas tambm no mbito das relaes da
alma consigo mesma e na harmonia desejvel entre suas partes. Poltica e
filosofia se entrelaam, reproduzindo na tenso entre o saber e a cidade, a
tenso entre o inteligvel e o sensvel. (SCHALCHER, 1988, p. 108).
O desafio imposto pelo anel de Gyges parece-nos ainda muito pouco
observado pelos estudiosos da Repblica, e aqueles que dele falam, sequer
examinam a tirania implicitamente colocada por seu autor passagem estudada.
O Etymologicum Gudianum, 537.26 (STURTZ, 1818), assim define o
termo :
[...] ,
,
.
[...] de Gyges, que de Trras, cidade da Lcia, a qual, primeiro governou com
tirania. Assim se falava na memria de Arquloco.
E tambm no Etymologicum Magnum, 771.54 (SYLBURG, 1816):
[...] , 8
. ,
-. , -,
.
[...] de Gyges, que de Trras, cidade da Ldia, a qual, primeiro governou com
tirania; outros a partir de (deteriorar), (estirar), ;
7 A passagem da Repblica a 357b1.
8 Correo de em nota a 771, linha 55.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 249
MENEZES, L. M. B. R.
e pela transposio do e pelo pleonasmo do , temos (tirano).
Os antigos tambm chamavam de tirano o rei, assim como rainha tambm era
chamada tirano.9
A tradio lrica10 tem em conta a figura de Gyges como sendo um tirano,
rico em ouro, senhor de homens que se iguala a um deus, em seus atos e desejo
de poder. Ser completamente injusto ser tirano e, para que isso possa se realizar,
o injusto deve agir no limite de sua dnamis, sabendo separar o que ele pode do
que no pode fazer. A dnamis do anel que o torna invisvel o que permite a
Gyges agir como um tirano, pois o torna capaz de ocultar seus atos injustos dos
demais. Se um homem pudesse separar adequadamente o que pode do que no
pode fazer e soubesse o que deve ocultar, em suas aes, dentro das habilidades que
competem ao verdadeiro injusto, ento tal homem poderia atingir a tirania como
a forma de governo que compete a tal homem e teria uma vida feliz. O fato de
poder estar visvel e invisvel, quando quiser, faz da tirania o governo do injusto, o
qual comete suas injustias ocultamente, para obter aquilo que seu desejo indica
como um bem; e parece justo quando visvel est, enganando todos os demais que
por ele so governados de que seu governo bom e justo. Tal fato faz de Gyges o
tirano por excelncia, o que em muito contribui para o desenvolvimento do mito
da tirania formulado por Plato.
MENEZES, Luiz Maurcio Bentim da Rocha. Glaucons contract. Tans/form/ao, Marlia,
v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017.
Abstract: Book II of Platos Republic opens with Glaucons challenge to Socrates, where the latter
must prove that the just man is in all ways possible better than the unjust one. Glaucon asks Socrates
to advocate justice for its own sake and to censor injustice. Glaucons discourse can be divided into
three parts. The first is dedicated to the origin and nature of justice; the second argues that justice is
something necessary, but is not a good. In the third part, he tries to prove that the unjust life is better
than the just one. This work focuses on the first speech and on how Glaucon defends justice by means
of a contract.
Keywords: Platos Republic. Glaucons challenge. Justice. Contractualism. Political philosophy.
Ancient philosophy.
9 Ambas as tradues do texto grego citado so nossas.
10
Para essa tradio, ver: ARQULOCO, Fr. 19W; ALCMAN, Greek Anthology, VII.709.1-6;
MIMNERMO, Fr. 13W; HIPPONAX, Fr. 42W; ANACREONTE, Fr. 8W; SEMNIDES, Fr. 7W.
Para o argumento completo sobre tal tradio, ver: MENEZES, 2012, 2013, 2014.
250 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
O Contrato de Glucon Artigos / Articles
Referncias
ADAM, J. The republic of Plato. Edio de J. Adam. Cambridge: Cambridge University
Press, 1979. 2v.
ANNAS, J. An introduction to Platos republic. Oxford: Oxford University Press, 1981.
AUGUSTO, M. G. M. O visvel e o invisvel nos argumentos do livro 2 da repblica.
Textos de Cultura Clssica, n. 19, p. 19-42, 1996.
BLOOM, A. The republic of Plato. Traduo de Allan Bloom. New York: Basic Books,
1991 (1. ed. 1968).
CURD, P. Why Democritus was not a skepic. In: PREUS, A. (Org.). Before Plato.
Albany: State University of New York Press, 2001. p. 149-169.
GRENFELL, B. P.; HUNT, A. S. The Oxyrhynchus Papyri. V. XI. Edited with translated
and notes by B. P. Grenfell and B. P. Hunt. London: Oxford University Press, 1915.
HAVELOCK, E. A. The liberal temper in greek politics. London: The Camelot, 1957.
IRWIN, T. H. Republic 2: questions about justice. In: FINE, G. Plato2. New York;
Oxford: Oxford University Press, 1999. p. 164-185.
KAHN, C. H. The Origins of social contract theory. Hermes, v. 44, p. 92-108, 1981.
KERFERD, G. B. O movimento sofista. So Paulo: Loyola, 2003.
MENEZES, L. M. B. R. Nova interpretao da passagem 359d da repblica de Plato.
Kriterion, v. 53, n. 125, p. 29-39, 2012.
______. Poderia a narrativa do Gyges de Plato ser uma fico baseada em Herdoto?
Transformao, v. 36, n. 3, p. 9-22, 2013.
______. O lgos dos pollo no argumento de Glucon. Filosofia Unisinos, v. 15, n. 1, p.
1-19, 2014.
OSTWALD, M. Nomos and the beginning of the Athenian Democracy. Oxford: Oxford
University Press, 1969.
PEREIRA, M. H. R. A repblica. Traduo de Maria Helena da Rocha Pereira. 9. ed.
Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2001.
RIBEIRO, L. F. B. Antifonte. Traduo de Lus Felipe Bellintani Ribeiro. So Paulo:
Loyola, 2008.
ROMILLY, J. La Loi dans la pense grecque. Paris: Les Belles Lettres, 2002.
SCHALCHER, M. G. F. F. O anel de Giges: um quiasma Platnico. Revista Filosfica
Brasileira, v. 4, n. 3, p. 105-109, 1988.
SLINGS, S. R. Platonis rempvblicam, recognovit brevique adnotatione critica instrvxit: S.
R. Slings. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017 251
MENEZES, L. M. B. R.
STURTZ, F. G. Etymologicum graecae lynguae gudianum: qvas digessit et vna cvm svis
edidit F. G. Stvrtzivs. Lipsiae: Literis, 1818.
SYLBURG, F. Etymologicon Magnum: opera Friderici Sylbvrgii veterani. Lipsiae: Editio
Nova Correctior, 1816.
VEGETTI, M. Platone. La repubblica. Traduzione e commento a cura di Mario Vegetti.
Napoli: Bibliopolis, 1998. V. 1-2.
Recebido em 02/03/2016
Aceito em 21/06/2016
252 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 235-252, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
Discursos Duplos (Dissoi Logoi),
Traduo Anotada
Joseane Mara Prezotto1
Resumo: Traduo anotada do tratado annimo sofstico datado do comeo do sc. IV a.C., Dissoi
Logoi, ou Discursos Duplos. A apresentao do texto traz informaes bsicas sobre transmisso
do texto, autoria, datao e uma pequena discusso sobre a caracterizao das teses nele presentes. As
notas da traduo analisam passagens e conceitos importantes, sugerem questes e inter-relaes com
outras obras, buscando traar um panorama possvel de interpretao do texto. O tratado, incompleto,
compe-se de nove pequenos captulos que versam sobre temas importantes durante o perodo de
atuao do movimento sofista e pode ser considerado um exemplar das tcnicas retricas ensinadas
por esses pensadores.
Palavras-chave: Discursos Duplos. Sofstica. Retrica. Antilogia. Relativismo.
Introduo
O Dissoi Logoi (doravante DL) um tratado annimo cujos
manuscritos foram transmitidos com obras de Sexto Emprico.2 Foi publicado
pela primeira vez por Stephanus, em 1570, com o ttulo Dialexeis (discusses,
conversas)3, como apndice a sua edio de Digenes Larcio.4 A edio-
1 Doutora em Letras pela Universidade Federal do Paran com a tese (indita)Sexto Emprico: Contra
os Gramticos. Traduo, introduo e notas. Foi professora de Lngua e Literatura Grega nessa
mesma instituio (2014-2016).Recentemente, participou das tradues deAristteles ou o vampiro
do teatro ocidental, de Florence Dupont, eAntstenes: o discurso prprio, de Aldo Brancacci, ambos no
prelo.E-mail: joseane.prezotto@gmail.com
2 No se sabe por que o texto foi atribudo a Sexto Emprico. Fabricius, em sua edio do tratado, em
1724, afirma que isso ocorreu devido a uma confuso, e o autor seria, na verdade, Sexto de Queronea,
um antictico. A hiptese, contudo, no foi aceita. Na opinio de Dueso (1996), [...] a associao
do tratado com Sexto Emprico deve-se a motivaes tericas: com efeito, os Dissoi Logoi seriam uma
boa confirmao do princpio (arkhe) do sistema ctico, a saber, que a cada proposio se ope uma
proposio equivalente (S.E. P. 1. 12). Vale lembrar que o DL no necessariamente se compromete
com a afirmao de que os dois discursos apresentados sejam equivalentes. Segundo Floridi (2002), o
DL est presente em vinte e dois dos cinquenta e quatro manuscritos gregos de Sexto Emprico.
3 O ttulo pelo qual conhecido atualmente, Dissoi Logoi, so as palavras inicias do texto. Robinson
(1979, p. 78) observa que esse ttulo pode ser infeliz, j que meramente uma frase de efeito baseada
nas palavras iniciais do texto que chegou at ns, refletindo apenas a estrutura dos cinco primeiros
captulos, e no do texto como um todo.
4 Isso leva a crer que no considerasse Sexto Emprico o autor do texto, mas tambm no o atribui a
Digenes Larcio.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 253
PREZOTTO, J. M.
padro, atualmente, costuma ser a de Diels e Kranz, Fragmente der Vorsokratiker
(1903 -1912). No entanto, o texto-base de minha traduo o proposto
por Robinson (1979), pois, comparado ao de Diels e Kranz, ele seria menos
drstico nas emendas, adies e supresses.
Acerca de sua datao, considera-se legtima a interpretao da
passagem 1.8: Na guerra (e falarei primeiro sobre os acontecimentos mais
recentes), a vitria dos lacedemnios sobre os atenienses e seus aliados [...],
como uma meno ao fim da guerra do Peloponeso, que ocorreu em 404
a.C., concluindo-se que a data de composio do tratado deva situar-se por
volta de 404-390 a.C.5 Corrobora essa datao o fato de todas as aluses e
citaes serem de autores e personagens anteriores a esse perodo, assim como
os acontecimentos a que se refere. A evidncia mais favorvel a essa data , no
entanto, o prprio contedo do tratado: ambientado mise-en-scne do fim
do sc. V a.C., ele apresenta questes tpicas dos debates pr-platnicos e,
certamente, de debates estimulados pelo movimento sofista.
Por outro lado, no possvel estabelecer com segurana a natureza
e, principalmente, o propsito do tratado. Estruturalmente, ele poderia ser
classificado de vrias formas: esboo de um discurso sofstico; anotaes
feitas a partir de leituras ou aulas (cursos); uma tarefa escolar incompleta;
apontamentos para uma aula, um manual ou uma fala; anotaes para uso
privado; um tratado com topoi retricos que ficou incompleto ou teve partes
perdidas; compilao de excertos de outros tratados sofsticos; resumo de um
debate real ou escolar... Aparentemente, no era destinado publicao ou, ao
menos, ainda no estava pronto para tal.
Tem-se especulado muito acerca da autoria do tratado, o qual, nos
Mss., anunciado como de um annimo (anonumou tinos). Nenhuma
hiptese, porm, foi ainda largamente aceita. No havendo informaes
externas disponveis, a matria depende inteiramente da leitura do texto, que
5 Provavelmente, no perodo entre o fim da Guerra do Peloponeso e o comeo da Guerra Corntia,
a qual durou de 394-387 a.C., j que esta guerra, na qual Corinto se juntou a Atenas, Tebas e Argos
contra Esparta, no mencionada. Mazzarino (1966 apud ROBINSON, 1979, p. 34) o nico que
sugere uma data anterior, entre 457 e 429 a.C. Contra ele, manifestaram-se Untersteiner (1996) e
Robinson (1979). Conley (1985 apud DUESO, 1996, p. 133) argumentou que as evidncias internas
apenas sugerem um terminus a quo; tambm Kerferd (2003, p. 94) sustenta essa posio, sustentando
que a passagem coloca em relao temporal apenas as guerras citadas, mas no o momento em que o
texto escrito. De qualquer forma, as demais evidncias no so, com isso, descaracterizadas: o prprio
Kerferd sugere o comeo do sculo IV a.C.
254 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
no oferece muitos dados confiveis. Assim, as tentativas de atribuir-lhe um
autor, a grande parte delas construda de suposio em suposio, so bastante
questionveis.6
O tratado est escrito em um drico com caractersticas ocidentais;
no um drico puro, nem mesmo uma forma atribuda com preciso a alguma
localidade especfica7, mas um drico com significativas interferncias do
jnico. Pela ausncia de regularidades, talvez, a sugesto de Robinson (1979,
p. 51) de que o autor tenha tentado escrever num dialeto que no era o seu, no
intuito de dirigir-se a alguma comunidade drica, soe interessante. Convm
lembrar que os sofistas foram, em geral, itinerantes.
A busca pelas influncias filosficas do texto tem suscitado as mais
diversas opinies. Untersteiner (1996, p. 463-474) defende sua origem
pitagrica,8 acrescentando que h uma influncia sofstica proveniente de
Hpias,9 e que o tratado escrito contra Grgias. Duprel (1980, p. 190-
200) aprofunda a argumentao a favor da influncia de Hpias: ele compara
os captulos 8 e 9 do DL com os dilogos Hpias Maior e Hpias Menor, de
Plato, e conclui que devam ser entendidos, respectivamente, como um elogio
ao conhecimento enciclopdico (polimatia) e um elogio mnemotcnica.
Ele tambm atribui a Hpias o papel de iniciador de debates em forma de
pergunta e resposta (uma posio que os testemunhos tradicionais dificilmente
sustentariam). Para Untersteiner e Duprel, o DL basicamente composto de
uma srie de teses (relativistas) gorginicas, e uma srie de antteses (absolutas),
maneira de Hpias (ROBINSON, 1979, p. 59).
6 Para um estudo completo (at sua poca) acerca das tentativas de atribuir autoria ao tratado e
estabelecer suas influncias filosficas, incluindo as de seus editores dos scs. XVII, XVIII e XIX, ver
Robinson, (1979, p. 41-73).
7 As formas do particpio dativo plural, tais como poleunti (os que vendem), astheneunti (os
que adoecem, mistharneonti (os que obtm lucro), por exemplo, no so reconhecidas como
caractersticas de nenhuma cidade. Para Robinson (1979), elas so um erro: [...] a troca eo > eu
comum a muitos dialetos dricos, e teriam assumido erroneamente que, porque a terceira pessoa
plural do presente em drico termina em onti, o dativo masculino plural do presente particpio teria
(como em tico e jnico) um final idntico.
8 Trieber (1892 apud DUESO, 1996) afirma que [...] j na Antiguidade se acreditava que somente os
pitagricos haviam escrito em drico e que, sem este erro, os DL teriam compartilhado o triste destino
de outros textos sofsticos. A preferncia da Idade Mdia por textos pitagricos e msticos justificaria
sua transmisso. Contra a leitura de Rostagni, ver tambm Aguiar (2006, p. 40-46).
9 A relao do tratado com Hpias foi apontada j em 1889 por Dmmler. Trieber (1892) sugeriu
que o autor seria o prprio Hpias ou um de seus seguidores, o mesmo pensou Pohlenz (1913)
(ROBINSON, 1979).
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 255
PREZOTTO, J. M.
Relacionar o DL com Hpias deve-se, a princpio, leitura do captulo
9, que trata da memria. Hpias ficou famoso por valorizar sobremaneira
a mnemotcnica e foi considerado, inclusive, seu inventor,10 mas isso no
significa que ele possa ser considerado o nico detentor e/ou incentivador
dessa tcnica quela poca. O captulo 8 de interpretao mais difcil, e
relacion-lo com Hpias parece dever-se a um acmulo de suposies feitas a
partir de informaes transmitidas por Plato, as quais no esto confirmadas
por outras fontes.
Gomperz (1965, p. 138-179) encontrou influncias de Protgoras
(principalmente), Hpias, Grgias e do crculo socrtico. Para ele, a estrutura
antilgica do tratado est relacionada ao mtodo protagrico. Kranz (1976, p.
640) acredita que o autor do DL est igualmente influenciado por doutrinas
sofsticas e socrticas. Taylor (1911, p. 93) sugere que o DL esteja influenciado
pelo eleatismo: [...] temos no dissoi logoi um exemplar de erstica antiga que
exibe ao mesmo tempo marcas de origem eletica e de considervel influncia
socrtica. Para ele, [...] o escritor d claras indicaes de pertencer classe
de pensadores semi-eleticos representados para ns no crculo socrtico por
Euclides e seus companheiros megricos. (KRANZ, 1976, p. 640). Levi
(1940) refutou as posies destes trs ltimos autores: [...] todas as tentativas
de explicar as diferenas de composio do texto e de determinar sua estrutura
introduzem nele elementos que ele prprio no contm [...] melhor admitir
[...] que a obra um conglomerado de partes desconexas. Segundo esse
autor, possvel encontrar no tratado influncias de Protgoras, Demcrito,
Herclito, Hpias, Grgias, Zeno de Elia e Scrates.
Robinson (1979, p. 54-73), aps discutir as proposies levantadas
por seus antecessores, conclui que mais provvel que a principal influncia
sobre o autor do DL tenha sido Protgoras, com alguma influncia menor
de Hpias, e ainda menor de Grgias, e a possibilidade de alguma influncia
socrtica. Dueso (1996), por sua vez, conclui que o DL [...] oferece, no
fundamental e em esboo, duas filosofias antagnicas [...], que correspondem
a dois personagens chaves no ltimo tero do sc. V, a saber, Protgoras e
Scrates.
Dueso alude a duas filosofias antagnicas, porque, no tratado, as
afirmaes em primeira pessoa so contraditrias: - a favor da tese: (1. 2); (2.
2 e 20); (3. 1 e 7); (4.1); - a favor da anttese: (1. 11 e 17); (2. 26); (3. 15);
10
XENOFONTE, Smp. 4. 62; PLATO, Hp.Ma. 285e, Hp.Mi. 368d.
256 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
(5. 6 e 11). Tal situao levou alguns comentadores a considerar o autor sem
talento (DIELS; KRANZ, 1960, p. 405; BARNES, 1979, p. 215), incapaz de
perceber a diferena entre as teses,11 o que , talvez, a principal responsvel pela
disparidade de opinies acerca da(s) doutrina(s) filosfica(s) que influencia(m)
o autor.
importante observar como as teses so formuladas e apresentar a
problemtica que envolve sua compreenso. A caracterizao de tese e anttese
beneficia-se da seguinte anlise:
- no enunciado geral, os pares de conceitos em questo so apresentados
com artigo:
peri to agatho kai to kako; peri to kalo kai to aiskhro; peri to dikaio kai
to adiko;
- no resumo da tese, esses termos aparecem sempre sem artigo:
to auto esti [agathon kai kakon]12; touto kalon kai aiskhron; touto
dikaion kai adikon;
- e, no resumo da anttese, sempre com artigo:
allo to agathon, allo to kakon; allo to kalon, allo to aiskhron; allo to
dikaion, allo to adikon.
A sintaxe grega , de fato, ambgua entre x y, e y x, porm, as
evidncias de uso indicam que a regra geral que sujeito ser o termo definido
com o uso do artigo. Assim, na tese, os termos agathon e kakon (bom e ruim)
seriam, ao que tudo indica, predicados de to auto (definido com o artigo)
(forma contrata: touto ou touton); assim, teramos: a mesma coisa (to auto
= sujeito) boa e ruim (termos predicados); e no: o bem e o mal (termos
como sujeitos) so a mesma coisa (to auto = predicado).
Essa posio evidencia-se tambm nos exemplos oferecidos como
argumentos da tese (1. 1-10), (2. 2-20), (3. 2-12), em que os termos agathon
e kakon (bom e ruim) so sempre predicativos. A anttese, todavia, parece
11
Para Nestle (1940, p. 439 apud DUESO, 1996, p. 136), o autor se encontra completamente
desamparado em sua opo entre as duas teses opostas, e refuta a tese protagrica da relatividade dos
valores de uma forma torpe e infantil.
12
Os termos no aparecem nessa sentena, mas as sentenas seguintes, exemplificativas, expressam
justamente esse uso.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 257
PREZOTTO, J. M.
interpretar diferentemente esse enunciado, supondo que a tese se comprometa
com a identidade dos termos bem e mal, pois sua rplica ser: uma coisa
o bem, outra distinta o mal; os adjetivos (bom, ruim) aparecem, ento,
substantivados (com artigo), no neutro singular, referindo-se, suponho, ao
valor abstrato da propriedade (o bem, o mal), sua caracterstica substantiva e
no adjetiva, e so sujeitos da orao.
A maioria dos tradutores13 enuncia a tese tal como a interpreta a
anttese (supondo a identidade de bem e mal), o que parece ser uma traduo
cristalizada. Indcio disso a traduo da passagem 5. 4: touton ara kai
kouphoteron kai baruteron. Se seguissem um padro, esperar-se-ia: mais leve
e mais pesado so o mesmo. Mas Sprague (1968), por exemplo, traduz por:
therefore the same thing is both heavier and lighter, e Sousa e Pinto (2005) por:
o mesmo talento14 , portanto, simultaneamente mais leve e mais pesado.
Em 2.21, o enunciado explcito: to auto pragma aiskhron kai kalon estin
a mesma coisa (ou ao) bela e feia. E tambm em 4.1: ton auton [logon
pseustan kai alathe], aqui, ton auton masculino e s pode concordar com
logon: o mesmo discurso verdadeiro e falso. Ainda assim, alguns intrpretes
repetem tambm aqui o equvoco possvel apontado acima, como o caso de
Aguiar (2006): defendem [...] que o verdadeiro e o falso so idnticos.
O uso aparentemente indiscriminado das duas formulaes, com
13
Gomperz (1912): die Andern aber, beides sei dasselbe (1); Die Einen erklren sie fr identisch
(2); die andere [erklren sie] fr identisch (3). Untersteiner (1961): Altri, invece, (affermano) che
(il bene e il male) coincidono (1,1); Altri, invece, sostengono che bello e turpe sono identici (2.
1); altri, invece, (affermano) che il giusto e lingiusto sidentificano (3. 1). Sprague (1968): but
others say that they are the same (1. 1); and others say that the seemly and disgraceful are the same
(2. 1); and others that the just and the unjust are the same (3. 1). Dumont (1969): Mais pour
dautres, honorable e rprhensible sont identiques (2. 1); Les autres que le juste et linjuste sont
identiques(3. 1). Piqu (1985): segue os mesmos padres. Sousa e Pinto (2005): outros dizem que
so o mesmo (1. 1); Outros, pelo contrrio, dizem que decente e vergonhoso so o mesmo. (2. 1);
outros dizem que justo e injusto so o mesmo. (3. 1). Dessas tradues, por mim foram consultadas:
Gomperz (1912), Sprague (1968), Sousa e Pinto (2005), as outras so citadas por Dueso, 1996, p.
179. Tradutores que, como eu, evidenciam a diferena entre as teses, distinguindo-as pelo uso ou no
do artigo definido, so: Robinson (1979): Other say that the same thing is both seemly and shameful
(2. 1); Others that the same thing is just and unjust (3. 1); Gagarin e Woodruff (1995): while others
say that the same thing can be both (1. 1); others say that the same thing is proper and shameful
(2. 1); the same thing is right and wrong (3. 1); Dueso (1996): Otros mantienen que la misma cosa
es bella y fea (2. 1); Otros, por el contrario, afirman que la misma cosa es justa e injusta. (3. 1);
Mittmann, Ribeiro e Targa (2008): outros dizem que a mesma coisa boa e m (1, 1); outros dizem
que o mesmo belo e feio (2. 1); outros, que o mesmo justo e injusto (3. 1).
14
De fato, talento, uma moeda grega, o objeto em questo na frase anterior, mas essa frase
tem a mesma estrutura lingustica das que so traduzidas como identificando os predicados. O
simultaneamente a soluo das autoras para kai ... kai....
258 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
e sem artigo, est frequentemente presente na anttese. Algumas vezes, ela
explicitamente formula as expresses, como se o que a tese afirmasse fosse a
coincidncia dos conceitos: em 1.12 e 16; 2. 21. Na maioria das vezes (1.14,
15, 16 e 17; 2.22 e 24; 3, 13 - duas vezes - e 15), porm, retoma-as tal como
formuladas, com os conceitos como predicados, sem artigo. Esse aparente livre
intercmbio das proposies na anttese, que sugeriria a equipolncia delas,
pode, na verdade, possuir valor argumentativo, indicando um jogo retrico.
Tambm seria possvel entender a oposio com ou sem artigo como
uma oposio entre definido versus indefinido. A ausncia de artigo definido
pode ser traduzida com o indefinido, assim: a mesma coisa (to auto = sujeito)
[um] bem e [um] mal. De qualquer forma, o sujeito permanece sendo
marcado pelo artigo. Para essa opo, h ainda a possibilidade de traduo: a
mesma coisa (o mesmo) (to auto = sujeito) uma coisa boa e uma coisa ruim,
que estaria de acordo com os exemplos, onde os adjetivos se mantm no neutro
singular, mesmo quando o que qualificam um substantivo simples de outro
gnero ou nmero (1. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10),15 e no uma orao infinitiva
(como na grande maioria dos exemplos): por ex.: 1. 3 nosos (substantivo
masculino) toinun tois men astheneunti kakon, tois de iatrois agathon (adjetivo
neutro) a doena uma coisa ruim para os que esto doentes, mas uma
coisa boa para os mdicos. Contudo, tambm assim se fala de uma mesma
coisa, que ora boa, ora ruim.
O entendimento da distino das proposies modifica essencialmente
a leitura do texto e converte-se em questo fundamental para o reconhecimento
do problema abordado no tratado. A interpretao que sugere que tese e
anttese tratem, respectivamente, da identidade e diferena das propriedades
como conceitos (bem e mal), soluo da maioria dos tradutores, no pode,
do meu ponto de vista, estar presente seno como uma ambiguidade latente
- no evidente na tese (2.20): Disse que demonstraria que as mesmas coisas
so feias e bonitas, e demonstrei em todos estes casos., mas pressuposta pela
anttese (1. 17): e no digo o que o bem (to agathon), mas procuro mostrar
que a mesma coisa no seria boa e ruim. Alar essa opo possvel categoria
de matria em debate empobrece o texto e contamina-o com uma indesejvel e
inexata unicidade. Em princpio, a diferena entre os dois tipos de proposio
facilmente perceptvel, por isso, a necessidade de, ao invs de modificar
15
Mas 2.20: panta kairoi men kala enti, en akairia daiskhra todas as coisas so bonitas no momento
certo, mas so feias no momento errado; e: tauta aiskhra kai kala eonta as mesmas coisas so feias
e bonitas, em que os adjetivos esto concordando em gnero e nmero (neutro plural) com o sujeito.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 259
PREZOTTO, J. M.
substancialmente o texto, consertando na traduo as ambiguidades que ele
apresenta, procurar mant-las e, assim, incentivar o questionamento acerca da
presena delas.
260 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
Traduo
Discursos Duplos1, 2
1. Sobre bom e ruim
(1) Duplos discursos sobre o bom e o ruim3 so proferidos na Grcia4 pelos pensadores5.
Pois uns dizem que o bom uma coisa, e o ruim, outra6; enquanto outros, que a mesma
coisa7: ela pode ser8 boa para uns, mas ruim para outros, e para a mesma pessoa ora boa,
ora ruim.9
(2) Eu10 mesmo tomo o partido11 destes ltimos, e irei expor o raciocnio, comeando
pela vida humana, cujas preocupaes so a comida, a bebida e o sexo. Pois essas coisas,
por um lado, so ruins12 para os que esto doentes, mas, por outro, so boas para os que
esto saudveis e delas tm necessidade. (3) E o excesso dessas coisas certamente ruim
para aqueles que se excedem, no entanto, para os que as vendem e obtm lucro, bom. Da
mesma forma, a doena ruim para os que adoecem, e boa para os mdicos. At mesmo
a morte, ruim para os que morrem, boa para os que vendem servios funerrios e para os
fabricantes de caixes. (4) Para os agricultores bom quando o cultivo da terra proporciona
uma colheita farta, mas para os comerciantes ruim. Que os cargueiros colidam e se
quebrem certamente ruim para seus proprietrios, mas bom para os construtores de
barcos.
(5) Alm disso, uma ferramenta corroer-se, perder o fio ou quebrar ruim para os outros,
mas para o ferreiro bom; que os potes se quebrem ruim para os outros, bom para
o ceramista; as sandlias se desgastam ou arrebentam, ruim para os outros, bom para o
sapateiro.13 (6) Certamente, nas disputas esportivas, artsticas ou blicas (na corrida14, por
exemplo), a vitria boa para os que vencem, e ruim para os vencidos. (7) E assim com
lutadores, pugilistas e com todos os artistas: a competio de ctara, por exemplo, por um
lado, bom para os que vencem, por outro, ruim para os que so vencidos. (8) Na guerra
(e falarei primeiro sobre os acontecimentos mais recentes15), a vitria dos lacedemnios
sobre os atenienses e aliados foi boa para os lacedemnios, mas foi ruim para os atenienses
e aliados16; e a vitria que os gregos obtiveram sobre o rei persa foi boa para os gregos, e,
ao mesmo tempo, ruim para os brbaros.17 (9) Sem dvida, a tomada de Troia foi boa
para os aqueus, mas para os troianos foi ruim. E o mesmo em relao ao que passaram
tebanos e argivos.18 (10) A batalha entre centauros e lpitas foi boa para os lpitas e ruim
para os centauros.19 Ademais, no combate ocorrido, segundo se narra, entre os deuses e os
Gigantes, a vitria obtida foi uma coisa boa para os deuses, porm, ruim para os Gigantes.20
(11) Um outro raciocnio21 sustenta que o bom seria distinto do ruim, e da mesma forma
que o nome diferente, assim tambm a coisa.22 Eu prprio distingo23 desse modo. Parece-
me que no ficaria claro que coisa boa e que coisa ruim, se fossem o mesmo e no um
diferente do outro24; de fato, isso seria surpreendente.25 (12) Creio que aquele que diz essas
coisas no saberia responder ao que lhe perguntasse: Diga-me, voc j fez alguma coisa
boa para os seus pais?26, e diria: Muitas e importantes. Ora, ento, deveria fazer aos
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 261
PREZOTTO, J. M.
pais coisas ruins, muitas, se o bom e o ruim so o mesmo.27 (13) E para os seus parentes,
voc j fez alguma coisa boa? Logo, o que voc fazia para eles era algo ruim. E para os seus
inimigos, voc j fez alguma coisa ruim? Ento voc fez muitas coisas boas para eles, as
maiores. (14) Vamos l, responda-me tambm isso: se a mesma coisa boa e ruim, voc
lamenta os pobres por terem muitas coisas ruins e, ao mesmo tempo, considera-os felizes
por desfrutarem de tantas coisas boas? (15) E nada impede que o grande rei persa esteja
em situao semelhante aos pobres. Pois as inmeras e valiosas coisas boas que possui so
todas ruins, se a mesma coisa boa e ruim. E o mesmo deve ser dito sobre tudo. (16)
Considerarei, no entanto, cada caso, comeando pelo beber, pelo comer e pelo sexo. Pois
a mesma coisa para os que esto doentes, fazer essas coisas bom para eles, se a mesma
coisa boa e ruim. E para os que adoecem, adoecer bom e tambm ruim, se o bom a
mesma coisa que o ruim. (17) E assim com todas as outras coisas que esto ditas no discurso
anterior. E no digo o que o bom28, mas tento explicar que a mesma coisa no seria boa e
ruim, mas que um diferente do outro.29, 30
2. Sobre bonito e feio31
(1) Sobre o bonito e o feio tambm so proferidos dois discursos opostos. Uns dizem que
o bonito seria uma coisa, e o feio, outra, diferente de fato32, tal como no nome. J outros
dizem que a mesma coisa bonita e feia. (2) Eu tentarei explicar esse argumento da seguinte
forma: bonito, por exemplo, que um menino na flor da idade seja favorvel a um homem
valoroso que est enamorado dele, mas feio que o faa a um homem belo que no o ame.33
(3) E para as mulheres bonito banhar-se dentro de casa, e feio faz-lo na palestra; mas
para os homens, tanto na palestra quanto no ginsio bonito. (4) E ter relaes sexuais
com o marido em lugar tranquilo, onde se est protegida por paredes, bonito; mas
feio faz-lo ao ar livre, onde algum possa ver.34 (5) Alm disso, ter relaes sexuais com o
prprio marido bonito, mas com o marido de outra muito feio. E, claro, tambm para
o homem bonito que se deite com sua mulher, e feio que o faa com a de outro.35 (6)
Enfeitar-se, maquiar-se ou usar joias feio para o homem, mas bonito para a mulher.
(7) Fazer bem ao amigo bonito, ao inimigo feio. Correr dos inimigos de guerra feio,
mas dos competidores na pista de corrida bonito. (8) Assassinar amigos e concidados
feio, mas matar inimigos bonito. E o mesmo em todos os casos. (9) Falarei, agora, sobre
as coisas que as cidades e os povos consideram feias.36 Por exemplo, para os lacedemnios,
bonito que as meninas se exercitem com os braos nus e andem sem tnicas, enquanto,
para os jnios, isso feio. (10) E bonito que os meninos no aprendam nem artes nem
letras37, mas, para os jnios, feio no saber todas essas coisas. (11) Para os tesslios,
bonito que eles prprios domem os cavalos e mulas que tiram da manada, e que matem,
esfolem e cortem seu boi eles mesmos; na Siclia, isso feio, e tarefa de escravos.38 (12)
Para os macednios, parece bonito que as meninas, antes do casamento, se apaixonem e
tenham relaes sexuais com outro homem; porm, depois que se casam, feio. Para os
gregos, nos dois casos feio. (13) Para os trcios, um ornamento as meninas tatuarem-se;
para os outros povos, no entanto, a tatuagem um castigo para os criminosos. Os citas
consideram bonito que o homem que assassina algum arranque seu couro cabeludo e leve
262 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
o escalpo diante de seu cavalo e que, aps ter recoberto de ouro ou prata o crnio da vtima,
beba nele e faa libaes aos deuses; entre os gregos, ningum iria querer ficar sob o mesmo
teto que uma pessoa que tivesse cometido tais atos.39 (14) Os massagetas cortam seus pais
em pedaos e comem-nos, e ser enterrado em seus filhos parece-lhes a mais bela sepultura;
entre os gregos, se algum fizesse isso, morreria miseravelmente, expulso da Grcia, por
ter cometido coisas to feias e terrveis.40 (15) Os persas acham bonito que os homens se
maquiem como as mulheres, e que tenham relaes sexuais com as filhas, mes e irms;
para os gregos, isso feio e contrrio lei.41 (16) J os ldios consideram bonito que as
jovens se prostituam, faam dinheiro e assim se casem; entre os gregos, ningum desejaria
desposar tal mulher.42 (17) Os egpcios tambm no consideram bonitas as mesmas coisas
que os outros. Pois aqui bonito que as mulheres team e faam trabalhos manuais, mas l,
que os homens o faam, e que as mulheres faam aquelas coisas que aqui so para homens.
Amassar a argila com as mos e o trigo com os ps para eles bonito, mas para ns, o certo
o contrrio. (18) Penso que, se algum mandar todos os homens reunirem em um s lugar
as coisas que cada um considera feias e, ento, pegarem dentre estas coisas a juntadas as
que cada um tem por bonitas, nada seria deixado para trs, mas tudo seria levado por eles.43
Pois no tm todos as mesmas opinies. (19) Apresentarei tambm um poema: Encontrars
outra lei entre os mortais, se distinguires44 desta maneira: nada definitivamente bonito nem
feio, mas o momento45 que torna as mesmas coisas feias e bonitas, transformando-as.46
(20) Diz-se, em geral, que todas as coisas so bonitas no momento certo, e feias no
momento errado. O que obtive, ento? Disse que demonstraria que as mesmas coisas so
feias e bonitas, e demonstrei em todos esses casos.
(21) Sobre o bonito e o feio tambm se diz que seriam um diferente do outro. Pois,
se algum perguntasse queles que sustentam que a mesma coisa47 bonita e feia se eles
alguma vez fizeram algo bonito, eles tero de admitir que o que fizeram foi feio, se o
bonito e o feio forem o mesmo. 48 (22) E, se conhecem um homem bonito, esse mesmo
homem feio; se for branco, tambm negro. Se for bonito honrar os deuses, ento
feio honrar os deuses, se a mesma coisa bonita e feia. (23) E o mesmo deve ser dito por
mim em todos os casos; torno, porm, ao que eles dizem. (24) Se a mesma coisa bonita
e feia e bonito que a mulher se enfeite, ento tambm feio que a mulher se enfeite. E
isso se aplica nos demais casos. (25) Na Lacedemnia, bonito que as meninas pratiquem
ginstica; na Lacedemnia, feio que as meninas pratiquem ginstica; e assim por diante.
(26) Dizem que, se reunissem tudo que considerado feio pelos povos de todas as partes e,
em seguida, eles fossem chamados para levar dali o que consideram bonito, todas as coisas
seriam levadas embora como bonitas. Eu me espanto que, reunidas as coisas feias, elas
venham a ser bonitas, uma vez que no chegaram assim. (27) Ao menos se tivessem trazido
cavalos, bois, ovelhas ou homens, com certeza no tirariam algo diferente; nem trazendo
ouro, levariam ferro; e nem se trouxessem prata, teriam levado chumbo. (28) Levariam
realmente coisas bonitas no lugar das feias? Vejamos: se algum trouxesse um homem feio,
poderia lev-lo de volta bonito? Tomam por testemunhas os poetas, mas o propsito de suas
obras o prazer e no a verdade.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 263
PREZOTTO, J. M.
3. Sobre justo e injusto
(1) Duplos discursos so proferidos tambm sobre o justo e o injusto. Para uns, uma coisa
seria o justo e outra o injusto. Para outros, a mesma coisa justa e injusta. Eu tentarei
defender esta ltima posio.49 (2) E, em primeiro lugar, direi que justo mentir e enganar.
Pode-se afirmar que fazer isso com os inimigos feio e baixo, mas com os mais prximos
no, com os pais, por exemplo. Se o pai ou a me precisa tomar um remdio que no quer,
no justo coloc-lo em sua bebida ou comida e no contar que est ali?50 (3) Portanto,
mentir para os pais e engan-los realmente justo, e tambm roubar o que do amigo
e usar a fora contra os mais queridos. (4) Por exemplo, se um familiar transtornado e
abatido com algo estiver prestes a se suicidar com um punhal, corda, ou outro instrumento
qualquer, justo roub-lo, se for possvel? Ou, se se chegar tarde e ele j o tiver em mos,
no justo usar a fora para arranc-lo dele? (5) E por que no seria justo escravizar os
inimigos, se fosse possvel capturar toda uma cidade e vend-la? E parece justo arrombar
prdios pblicos. Pois, se nosso pai, condenado morte, estivesse preso, tendo sido pego
por inimigos polticos, por acaso no seria justo invadir, tomar-lhes o pai e assim salv-lo?
(6) E quanto ao perjrio: se algum, capturado por inimigos, jurasse que, ao ser libertado,
trairia sua cidade, acaso faria a coisa certa, mantendo sua palavra? (7) Eu acho que no, o
melhor perjurar e salvar a cidade, os amigos e os templos ptrios. Ento, na verdade, o
perjrio justo. E tambm pilhar templos (8) deixo de lado os bens de cada cidade, e falo
do que comum a toda a Grcia, como os tesouros de Delfos e Olmpia. Se a captura da
Grcia pelo brbaro for iminente e a salvao estiver nestas riquezas, no justo tom-las
e utiliz-las para a guerra? (9) E matar os mais prximos justo, como fizeram Orestes e
Alcmeo51; e o deus revelou que era justo que eles agissem assim.
(10) Tratarei agora das artes e das obras dos poetas. De fato, na composio de tragdias e
na pintura, o melhor aquele que mais engana, criando coisas semelhantes s verdadeiras.
(11) Quero acrescentar o testemunho de antigos poemas. De Cleobulina: Vi um homem
roubando e enganando com violncia, e agir com violncia, isso era o mais justo. (12) Esses
versos so muito antigos, os seguintes so de squilo: De um engano justo, deus no est
longe; s vezes, um deus honra o momento de dizer mentiras.
(13) Um discurso oposto52 sustenta que uma coisa o justo e outra o injusto, diferente na
realidade assim como no nome. Pois, se algum perguntasse aos que dizem que a mesma
coisa justa e injusta, se j realizaram algo justo para com seus pais, eles concordariam.
Logo, seria tambm algo injusto, pois afirmam que a mesma coisa pode ser justa e injusta.
(14) E ainda: se se conhece um homem justo, esse mesmo homem , ento, injusto (e, com
efeito, seguindo o mesmo raciocnio, ele tambm grande e pequeno). E os que cometem
muitas aes injustas devem morrer53. (15) Sobre essas coisas j o bastante. Considero
ento o que eles dizem, acreditando demonstrar que a mesma coisa tanto justa quanto
injusta. (16) Pois, o fato de ser justo roubar o que do inimigo demonstra que a mesma
coisa tambm injusta, se o discurso deles for verdadeiro; e o mesmo vale para as outras
afirmaes. (17) Citam as artes, mas nelas no h o justo e o injusto. Os poetas certamente
no escrevem seus poemas buscando a verdade, mas para proporcionar prazer aos homens.
264 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
4. Sobre verdade e falsidade54, 55
(1) Discursos duplos so proferidos tambm acerca do falso e do verdadeiro. Uns dizem
que o discurso verdadeiro diferente do falso. Outros, pelo contrrio, afirmam que so o
mesmo discurso. (2) Isso o que tambm eu afirmo: primeiro, porque so ditos com as
mesmas palavras; depois, porque, quando o discurso proferido, se o que diz aconteceu
tal como dito, esse discurso verdadeiro; se no aconteceu, esse mesmo discurso falso.
(3) Por exemplo, o discurso que acusa algum de pilhar um templo: se a ao56 ocorreu, o
discurso verdadeiro; se no ocorreu, falso. E assim tambm, certamente, com o discurso
de defesa. Ao menos os tribunais julgam o mesmo discurso tanto falso quanto verdadeiro.
(4) Se estivssemos sentados e dissssemos, um depois do outro: sou um iniciado, todos
diramos o mesmo, mas somente eu diria a verdade, uma vez que o sou. (5) evidente,
portanto, que o mesmo discurso, quando nele est presente o falso, falso, e, quando nele
est presente o verdadeiro, verdadeiro (do mesmo modo que uma pessoa a mesma,
quando criana, jovem, adulta ou velha).
(6) Diz-se tambm que o discurso falso seria distinto do verdadeiro - diferindo em nome,
<e assim tambm na realidade>. Pois, se algum perguntasse queles que dizem que o
mesmo discurso falso e verdadeiro, qual dos dois o discurso deles e a resposta fosse:
falso, ficaria claro que seriam dois57; se dissessem: verdadeiro, o mesmo discurso seria
falso58. E se, alguma vez, disse algo verdadeiro, ou testemunhou que algo fosse verdade,
isso tudo falso. Se ele conhece um homem verdadeiro, o mesmo homem falso. (7) De
acordo com sua tese, eles dizem que o discurso verdadeiro, se o acontecimento ocorre, e
que falso, se no ocorre. Portanto, h diferena59. (8) E, em relao aos juzes, que julgam
<o mesmo discurso verdadeiro e falso> (porque no presenciam os fatos),60 (9) eles mesmos
concordam que falso o discurso no qual se mistura o falso, e verdadeiro aquele em que se
mistura o verdadeiro.61 E isso faz toda a diferena.62, 63
5. (1) Os loucos e os sensatos, os sbios e os ignorantes dizem e fazem as mesmas coisas.
(2) Em primeiro lugar, eles usam os mesmos nomes: terra, homem, cavalo, fogo e todos os
outros. Tambm fazem as mesmas coisas: sentam-se, comem, bebem, dormem, e tudo o
mais do mesmo jeito. (3) E, alm disso, a mesma coisa64 tanto maior quanto menor, mais
e menos, mais pesada e mais leve. Dessa forma, as mesmas coisas so tudo.65 (4) O talento
mais pesado que a mina, e mais leve que dois talentos: portanto, a mesma coisa mais leve
e mais pesada. (5) O mesmo homem vive e no vive, e as mesmas coisas so e no so: pois
as coisas que esto66 aqui no esto na Lbia, e aquilo que est na Lbia no est no Chipre.
E todo o resto conforme o mesmo raciocnio. Consequentemente, as coisas so e no so.67
(6) Os que dizem isto - que os loucos, os sbios e os ignorantes dizem e fazem as mesmas
coisas, e outras coisas que seguem esse raciocnio - no falam corretamente. (7) Pois, se
algum perguntasse a eles se a loucura difere da sensatez e a sabedoria da ignorncia, diriam:
sim. (8) Pois bem, evidente que eles concordaro que cada um age de acordo com o que
. Ento, se fazem as mesmas coisas, os sbios so loucos, e os loucos so sbios, e todas as
coisas assim misturadas confundem-se. (9) Deve-se tambm levantar a questo sobre quem
fala quando convm, os sensatos ou os loucos. Pois afirmam, quando algum pergunta, que
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 265
PREZOTTO, J. M.
falam as mesmas coisas, porm, os sbios quando convm, e os loucos quando no convm.
(10) Dizendo isso, pensam que acrescentar quando convm e quando no convm
irrelevante para, desse modo, no ser mais a mesma coisa. (11) Mas eu penso que as coisas
mudam no s com tais acrscimos, mas tambm quando os acentos so alterados68: como
Glaukos (Glauco) e glaukos (branco); Ksantos (Xanto) e ksantos (amarelo); Ksuthos (Xuto) e
ksuthos (dourado)69. (12) Essas so diferentes em relao mudana no acento, as seguintes
por serem pronunciadas com a vogal longa ou breve: Turos (Tiro) e turos (queijo); sakos
(escudo) e sakos (estbulo)70; e h as que diferem por deslocamento de letras: kartos (fora)
e kratos (da cabea); onos (asno) e noos (intelecto). (13) Portanto, havendo tal diferena sem
retirarmos nada, o que diremos se algum acrescenta ou tira algo? Mostrarei como isso se
d. (14) Se algum tirasse um de dez, j no seria mais nem dez e nem um; e com as outras
coisas tambm assim.71,72 (15) E, sobre o mesmo homem ser e no ser, pergunto: Ele em
algum aspecto ou em sentido absoluto? Certamente, se algum afirma que no , mente ao
responder em sentido absoluto. Logo, essas coisas so tudo [apenas] em sentido relativo.73
6. Sobre a sabedoria e a excelncia74, se podem ser ensinadas75.
(1) H tambm um discurso, nem verdadeiro nem novo, que diz que sabedoria e excelncia
no poderiam ser ensinadas nem aprendidas. Os que dizem isso se apoiam nas seguintes
provas: (2) No possvel preservar consigo o que voc transmite a algum. Uma prova
essa. (3) Outra prova que, se fosse possvel ensinar sabedoria e excelncia, haveria
professores conhecidos como tais, como os h de msica. (4) A terceira que os homens na
Grcia que se tornaram sbios teriam ensinado seus prprios filhos e amigos. (5) A quarta
que h pessoas que j frequentaram os sofistas e no tiraram disso proveito algum. (6) A
quinta que muitos que no se associaram aos sofistas tornaram-se notveis. (7) Mas eu
considero esse discurso demasiado simplista, pois sei que os professores que ensinam letras
conhecem-nas tambm eles prprios, e que os professores de ctara tocam ctara. Quanto
segunda prova, que diz no haver professores de sabedoria e excelncia conhecidos como
tais: o que ensinam os sofistas seno justamente sabedoria e excelncia? (8) E que foram os
anaxagricos e pitagricos? Quanto terceira, Policleto ensinou seu filho a fazer esttuas.
(9) E, se algum no ensinou, isso no prova nada; porm, se um ensinou, isso prova que
possvel ensinar.76 (10) E a quarta, se, junto aos sofistas sbios, alguns no se tornam sbios,
tambm muitos, quando estudantes, sequer aprenderam as letras. (11) Existe, tambm,
certa disposio natural, graas qual algum que no estudou com um sofista se torna
capaz, por ser de boa ndole, de compreender facilmente a maioria dos assuntos, aps ter
aprendido um pouco junto queles com quem aprendemos tambm a lngua77; parte desta,
na verdade, aprendemos (uns mais, outros menos), um com o pai, outro com a me. (12) E
se algum no acredita que aprendemos a lngua, mas que j nascemos sabendo, convena-
se a partir disto: se se enviasse uma criana recm-nascida para a Prsia e ali ela fosse criada,
sem ouvir a lngua grega, ela falaria persa; e, se se trouxesse uma criana de l para c, ela iria
falar grego. Assim, aprendemos a lngua e no sabemos quem foram nossos professores.78,79
(13) Desse modo, concluo meu discurso: sua disposio, comeo, fim e meio; e no estou
dizendo que sabedoria e excelncia podem ser ensinadas, mas que considero aquelas provas
266 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
insuficientes.
7. (1) Alguns oradores dizem que os cargos pblicos devem ser atribudos por sorteio, mas
essa no a melhor maneira de ver as coisas. (2) Deveramos perguntar a quem fala isso:
Por que voc no distribui as tarefas de seus criados por sorteio - de forma que o condutor
de bois, caso seja sorteado cozinheiro, cozinhar; enquanto o cozinheiro conduzir os bois;
e assim por diante? (3) E por que no reunimos os ferreiros, os carpinteiros e os ourives e
decidimos, por sorteio, o que devem fazer, obrigando-os a cumprir o ofcio sorteado e no
aquele que conhecem? (4) Podemos fazer o mesmo tambm nas competies musicais -
decidimos por sorteio tanto os competidores quanto a modalidade em que cada um ir
competir - o flautista talvez toque ctara, e o citarista, flauta. Na guerra, arqueiros e hoplitas
cavalgaro, cavaleiros tornar-se-o arqueiros; assim, todos faro aquilo que no sabem nem
so capazes de fazer. (5) Dizem tambm que isso seria bom e inteiramente democrtico. J
eu penso que no nada democrtico. Pois, nas cidades, h homens inimigos da populao
que, caso a fava80 por sorte os designasse, arruinariam o povo. (6) necessrio, pelo
contrrio, que o prprio povo observe e escolha todos aqueles que lhe so favorveis: os que
so aptos para comandar o exrcito, outros para guardar as leis e os demais.
8. (1) Considero ser prprio do <mesmo> homem e da mesma arte81 ser capaz de tratar
um assunto com brevidade82, conhecer a verdade das coisas83, advogar corretamente, ser
capaz de falar em pblico, conhecer as tcnicas dos discursos, e, sobre a natureza de todas as
coisas84, sem exceo, ensinar como e como veio a ser.85,86 (2) Em primeiro lugar, quem tem
conhecimento acerca da natureza de todas as coisas, como no ser capaz tambm de agir
corretamente em todas as situaes? (3) Alm disso, quem tem conhecimento das tcnicas
dos discursos saber tambm falar corretamente87 sobre tudo. (4) Pois quem pretende falar
corretamente precisa88 falar sobre o que conhece. Portanto, conhecer89 todas as coisas. (5)
Pois conhece as tcnicas de todos os discursos, e todos os discursos so sobre todas as coisas
<existentes>. (6) Quem pretende falar corretamente precisa conhecer aquilo sobre o que
falaria <...>90, e ensinar a cidade, corretamente, a realizar coisas boas e evitar as ruins. (7)
Tendo o conhecimento dessas coisas, conhecer tambm as coisas diferentes dessas, pois ir
conhecer tudo. Porque essas coisas fazem parte de todas as coisas e, em vista do mesmo,
aquilo que preciso ser feito, se necessrio.91 (8) Caso no92 saiba tocar flauta, sempre ter
a capacidade de tocar, se for preciso fazer isso. (9) Quem hbil nas contendas judiciais
precisa ter conhecimento correto do justo, pois as causas tratam disso.93 Conhecendo isso,
conhecer tambm seu contrrio e as coisas que lhe so diferentes. (10) Precisa tambm
conhecer todas as leis; claro que se no vier a conhecer as coisas94, no conhecer suas
leis. (11) Pois, quem conhece a lei95 da msica? Justamente o que conhece msica. Quem
no conhece msica, tampouco conhece sua lei. (12) Sem dvida, quem conhece a verdade
das coisas conhece todas as coisas; o argumento simples. (13) Este <capaz de tratar uma
questo> com brevidade deve, quando perguntado, dar respostas96 sobre qualquer assunto.
Portanto, precisa conhecer todas as coisas.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 267
PREZOTTO, J. M.
9. (1) A maior e melhor descoberta j feita a memria97, til para a vida e para todas as
coisas, tanto para a busca intelectual98 quanto para a sabedoria.99,100, 101 (2) Isso possvel, se
voc prestar ateno, <pois>, seguindo esse caminho102, a mente ir perceber mais como um
todo o que voc aprendeu.103 (3) Segundo, preciso praticar toda vez que ouvir algo. Pois,
ao ouvir e repetir muitas vezes as mesmas coisas, elas ficam na memria. (4) Em terceiro
lugar, relacionar104 o que se escuta com o que j se sabe, como no seguinte exemplo: se
preciso memorizar Crisipo, relaciona-o com khrusos (ouro) e hippos (cavalo). (5) Outro
exemplo: relacionar Pirilampo com pur (fogo) e lampein (brilhar). Procede-se assim em
relao a nomes. (6) J com as coisas105, faz-se desta forma: o que diz respeito coragem,
relaciona-se a Ares e Aquiles; a arte do ferreiro, com Hefesto; a covardia, com Epeios...106
268 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
Notas da Traduo
(Endnotes)
1
Tomo por base o texto grego proposto por Robinson (1979). Possveis divergncias esto
indicadas em nota.
2
Opto pela traduo cannica, para facilitar o reconhecimento do texto; creio que o
entendimento de dissoi deva ser invertido, inverso, ainda assim complementar. Entre
outras ocorrncias, cf. Eurpides, Hiplito, v. 385 e ss.: [...] e mesmo coisas vergonhosas,
que apresentam duas facetas (dissai deisin): uma delas no m, a outra o aniquilamento
das famlias, (se a diferena se tornasse clara a tempo, coisas opostas no teriam um s
nome). (grifo meu) (Trad. Kury, 2001); Eurpides, Fr. 189: Em todos os casos, se a pessoa
for inteligente no falar, poderia estabelecer um debate de argumentos duplos (disson logon)
(Trad. Kerferd, 1990); e Protgoras DK80 A1: Sobre todas as coisas h dois discursos
opostos um ao outro. Nos cinco primeiros captulos, a estrutura mais claramente
antilgica.
3
Os estudiosos divergem acerca de como interpretar e traduzir o adjetivo neutro singular
substantivado: neste captulo, to agathon e to kakon. Para Dueso (1996, p. 179), essa forma
expressa o valor abstrato de uma propriedade, o no-aplicado; todavia, sua traduo lo
bueno y lo malo, e no el bien y el mal, embora deixe claro que a interpretao deva ser
esta ltima. Esse autor acrescenta que, para aplicaes concretas dessa propriedade, para
se referir ao conjunto, a forma seria o neutro plural: ta agatha, as coisas boas. Assim, a
afirmao allo to agathon, allo to kakon (na anttese), mais frente, realmente referir-se-ia
propriedade abstrata, ao bem e ao mal: [...] o bem diferente do mal. Essa afirmao
deve-se, de acordo com esse autor, ao fato de a anttese acreditar que, na tese, os termos so
usados tambm dessa forma, tendo afirmado assim que o bem e o mal so idnticos; ou,
ao menos, por supor que essa seria uma operao efetuvel, uma consequncia do que a tese
prope. Porm, o discurso da tese to auto estin [kakon kai agathon], no h substantivao
(substantificao) dos termos, seu uso parece ser em sentido aplicado, como adjetivos, e,
portanto, estaria assim constatando a possibilidade de se atribuir diferentes predicados a
uma mesma coisa: a mesma coisa boa e ruim. De fato, a tese em momento algum
usa os termos substantivados, apenas a anttese que a retoma dessa forma. Os contra-
argumentos da anttese, nesse caso, reduzem ao absurdo uma tese que no foi proposta,
logo, segundo Dueso, os discursos, graas ao equvoco dos defensores da anttese, no
compartilham da mesma linguagem, e a tese no refutada. Robinson (1979, p. 151), por
sua vez, acredita que o adjetivo neutro singular substantivado se refira tanto ao universal
quanto ao particular; essa ambiguidade seria, ento, responsvel pelo dissdio. A anttese
atribui (propositalmente ou equivocadamente?) tese a afirmao to agathon kai to kakon
to auto esti, em sentido universal: tudo que bom e tudo que ruim igual, o que a
tornaria, no limite, identitria. No entanto, caso a tese tivesse proposto esse enunciado, s
poderia, conforme os exemplos apresentados por ela, t-lo afirmado em sentido particular:
o que bom e o que ruim idntico <em relao a certos aspectos>. Segundo essa
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 269
PREZOTTO, J. M.
interpretao, as duas posies estariam falando sobre a coisa, sobre algo concreto a que se
aplica uma dada propriedade, e o conflito dar-se-ia entre atribuio particular (individual)
e universal (em conjunto). Enquanto a tese estaria propondo que, em alguns casos, uma
coisa pode ser boa e ruim, a anttese estaria interpretando isso como: as coisas boas e as
coisas ruins so todas iguais, logo, d tudo na mesma. Por isso, a anttese investe contra
as consequncias, que julga absurdas, dessa suposio, procurando salvaguardar a diferena:
as coisas so ou isso ou aquilo. De minha parte, concordo com Dueso (op. cit., p. 179), a
opo de Robinson, conquanto possvel, mascara a questo da possvel transformao da
propriedade em conceito. O uso dos adjetivos neutros substantivados marca, justamente,
a possibilidade de se alar a discusso da realidade concreta para a abstrata: [...] temos a
abstrao quando o elemento universal, por meio do artigo e de sua fora indicativa e
demonstrativa, colocado como algo determinado, tornando-se, assim, portador de um
nome [...] e, portanto, objeto do pensamento (SNELL, 2001, p. 234). Tal processo, que
permite [...] ver a realidade distncia e de cima (SOLMSEN, 1975, p. 124), comum
em Tucdides e outros pensadores, durante a segunda metade do sc. V a.C. (cf. SNELL,
op. cit., p. 229 e ss. e SOLMSEN, op. cit., p. 83 e ss.). Soma-se a essa a questo de a sintaxe
grega ser ambgua entre x e y o mesmo e a mesma coisa x e y, que d margem
interpretao equvoca da tese pela anttese, como mencionei na apresentao do texto.
Tendo em vista os exemplos expostos, Robinson (op. cit., p. 162) observa que a tese pode
ser chamada contextualista: [...] um e o mesmo evento/ao/estado de coisas ir variar de
colorao moral de acordo com o contexto. Assim, os proponentes da suposta contra-tese
[] parecem estar atacando um boneco de palha [strawman], j que eles (deliberadamente
ou no) interpretam a proposio touton kalon kai aiskhron como identitria quando ambas
as evidncias, a prpria sintaxe da sentena e os argumentos de 2. 2-20, deixam claro que
ela meramente predicativa. Dueso, e tambm Robinson, como eu, diferenciam o sujeito
pelo uso do artigo: termos substantivados = sujeitos, o que evidencia a leitura da tese como
predicativa. Robinson (op. cit., p. 163) possivelmente est correto, ao afirmar que o leitor
ou ouvinte perspicaz repararia facilmente que as duas posies no se contradizem. H,
contudo, tradutores, como expomos antes, que acreditam que tese e anttese versem ambas
sobre a qualidade abstrata: to auto estin [_ kakon kai _ agathon] = o bem e o mal so o
mesmo; allo to agathon, allo to kakon = o bem e o mal so diferentes, de forma que,
desse ponto de vista, a tese realmente proporia a identificao dos conceitos e a anttese
seria de fato uma contra-tese. O mais provvel, no entanto, que, em maior ou menor
medida, os gregos convivessem com as ambiguidades mencionadas, com a possibilidade
delas consciente ou inconscientemente. Por isso, minha opo foi procurar artimanhas
para manter, sempre que possvel e quando for o caso, a questo em aberto; tentei produzir
um texto em portugus que apresentasse um nvel de complexidade parecido com o do
texto grego, isto , que permitisse que os mesmos questionamentos fossem levantados.
Obviamente, a inteno no assegura que o objetivo tenha sido atingido. Um exemplo:
em portugus, o adjetivo bom e o substantivo bem so diferentes (em ingls, ambos
podem ser good), isso significa que traduzir por o bem e o mal ou por o que bom e o
que ruim privaria o leitor da ambiguidade, direcionando a forma para o uso ou abstrato
ou aplicado. Por isso, tomei a liberdade de usar o adjetivo bom substantivado, tentando
com isso sugerir as duas acepes: o bom, a qualidade abstrata, e o que bom, a coisa.
Tambm levei em considerao a traduo corrente de to kalon por o belo, e no a
270 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
beleza, embora esse termo tenha uma longa histria interpretativa e possa soar j terico.
Outra informao interessante que Plato parece ter sentido a necessidade de criar uma
expresso para se referir forma (Forma) e no ao concreto, e evitar a ambiguidade: auto to
kalon, o belo mesmo, o belo em si.
4
A meno Grcia pode ser um indcio da magnitude da polmica. Alm disso, o fato de,
nesse caso, no serem mencionados argumentos da Academia ou do Liceu refora a datao
do tratado para a passagem do sc. V para o IV a.C.
5
Literalmente, pelos que filosofam; embora a questo seja incerta, tem-se preferido a
acepo ampla: o termo (e apenas ele, no necessariamente a prtica), a essa poca, ainda
no teria adquirido o sentido tcnico que foi institudo mais tarde, a partir das discusses
propostas por Plato. Em favor da acepo ampla, tambm se diz que vises semelhantes
s encontradas no DL esto presentes nas obras de homens como Eurpides e Herdoto,
entre outros no-filsofos.
6
Provavelmente, entre esses poderia estar Scrates, por preocupar-se com a definio
individual de conceitos morais, como o bem e o mal, apesar de talvez a prtica socrtica ter
efetuado ainda uma outra operao possvel, mas no necessariamente manifesta, no DL.
7
Dada a sentena anterior, poder-se-ia supor que a frase completa aqui seria: toi de legousin
hos <to agathon kai to kakon> to auto estin dizem que o bom e o ruim so a mesma
coisa. No entanto, a frase seguinte e os exemplos de 1.2-10 comprovam que essa posio
se compromete apenas com os termos como adjetivos: to auto estin <_ agathon kai _ kakon>.
Como sugere Robinson (op. cit., p. 150), poderia haver interesse no efeito paradoxal da
ambiguidade acima mencionada entre x e y so o mesmo e a mesma coisa x e y.
Conquanto seus argumentos deixem claro a proposio predicativa, a tese ainda permitiria,
sintaticamente, a possibilidade da ambiguidade. Cf. Aristteles, Metaph., 1062b 15, em
que a sentena predicativa (to auto... kakon kai agathon) se refere consequncia relativista
da doutrina do homem medida de Protgoras, que resultaria, para o estagirita, na negao
do princpio de no-contradio. Mais frente, Aristteles dir (1063a 10): [...] devemos
questionar a verdade com base nas coisas que sempre se conservam do mesmo modo e no
que sofrem alguma mudana. (grifo meu) Como se posicionou Aguiar (2006): [...] os DL
no querem solucionar a confuso entre o que essencial e acidental. O caminho tomado
pela argumentao do texto annimo o do muitas vezes e no o caminho do sempre. Ao
se enveredar por uma senda que no busca chegar essncia das coisas, mas ao melhor
uso argumentativo, pragmtico, do logos, ele opta por trabalhar acidentalmente, o que
primordial para que possa relativizar suas asseres. E isso feito sem um juzo de valor
ontolgico ou normativo.
8
O uso do optativo frequente em lugares onde poderamos esperar um indicativo
depois do verbo principal, cf. 1.11; 1.17; 2. 21; 4.6. Robinson (1979, p. 154) observa
que a inteno do autor pode ser aparentar neutralidade. Poderia ainda ser a de atenuar
a afirmao, colocando-a no nvel do potencial. Porm, devido constncia do uso, isso
tambm pode simplesmente indicar um vcio de linguagem, por parte do autor.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 271
PREZOTTO, J. M.
9
Essa afirmao confirma que a tese est usando os termos kalon e aiskhron de forma
predicativa. Assim, o argumento seria que, baseando-se na experincia, diferentes valoraes
podem ser dadas para a mesma coisa, de acordo com diferentes situaes e perspectivas,
em diferentes tempos e lugares.
10
Acerca dos enunciados em primeira pessoa, Dueso (1996, p. 136) acredita que tese e
anttese reflitam as posies de dois oradores rivais, como numa disputa oratria. Nesse
caso, a forma antilgica de influncia protgorica estaria refletida apenas na construo a
mesma coisa x e o contrrio de x, presente na tese. Robinson (1979, p. 74) sugere que as
afirmaes em primeira pessoa poderiam ser um elemento retrico caracterstico deste tipo
de escrito antilgico. Dessa forma, ento, a antilogia seria o princpio norteador do texto
como um todo e se provaria pela complementaridade das posies.
11
potitithemai: associar-se com, estar a favor de, estar ao lado de, tomar partido de,
contrasta com a construo mais branda usada em 2.2 e 3.1: peiraomai, tentar.
12
Os adjetivos esto, em geral, no neutro singular, de sorte que eles no mudam a forma,
concordando com o sujeito: uma traduo literal seria, portanto, x uma coisa boa ou
x um bem, mas optei por x bom, e por sempre concordar adjetivo com sujeito.
Alm disso, importante destacar que optei por traduzir os adjetivos repetidos sempre
que possvel pela mesma palavra, isto , agathon, por exemplo, sempre bom; quando,
na verdade, eu teria disposio outras vrias acepes possveis. Usar uma palavra para
cada contexto comprometeria o carter reiterativo do texto, que joga, justamente, com os
diversos sentidos, com as diferentes aplicaes de um mesmo termo. A opo por manter
essa caracterstica do texto produz por vezes passagens canhestras em portugus, porque
dificilmente o termo escolhido d conta de todos os usos do termo grego.
13
Cf. Protgoras, 334a-c: algo variado e multiforme o bem. Depois da fala de Protgoras,
o pblico aplaude, como se tivesse sido exposta uma doutrina original e importante.
(DUESO, 1996). Uma interpretao dessa passagem pode ser: A doutrina de Protgoras
que o bem no um objeto nem uma qualidade, mas uma relao. [...] As condutas boas
e ms no formam para todos e para sempre classes necessariamente disjuntas. (ibidem).
Na competio do estdio: medida de distncia equivalente a 125 ps, ou 206,25
14
metros.
15
Essa a passagem que sugere a datao do texto ou, ao menos, seu terminus a quo.
16
A derrota dos atenienses e aliados deu-se na batalha de Egosptamos, em 405/404 a.C.
17
As Guerras Persas ocorreram entre 490-479 a.C. Duas batalhas importantes deram a
vitria aos gregos, no ano de 479 a.C. a de Plateia e a de Mcale.
18
Talvez uma referncia expedio mtica conhecida como os Sete contra Tebas.
19
Os centauros, convidados do casamento do rei dos Lpitas, Peirtoos, tentaram raptar
a noiva, Hipodmia, e outras mulheres de seus anfitries. Na batalha que se seguiu, os
272 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
centauros foram derrotados e expulsos do monte Plion.t19
20
Os Gigantes, segundo se narra, rebelaram-se contra os deuses, mas foram derrotados e
aprisionados nas profundezas da terra.
Aqui tem incio a anttese, o discurso oposto. Segundo a interpretao de Dueso, j
21
mencionada, aps a exposio da tese, um outro debatedor tomaria agora a palavra.
22
Pragma, em sentido geral, remete tanto a coisa, fato, ao, evento como circunstncia,
situao e, por isso, realidade (como uso em 4.6): o conjunto das coisas reais (concretas)
em oposio aos seus nomes. A relao entre onoma/pragma como nome/coisa (ou,
algumas vezes, ergon, ao), paralela anttese nomos/physis (conveno/natureza), foi
um tpico muito recorrente e de extrema importncia para os gregos antigos. O
entendimento dessa relao reflete o pensamento sobre o vnculo linguagem e realidade,
bem como, em determinado momento, a questo da significao dos nomes. Cf. Eurpides,
Fencias, v. 499 e ss.: Se, para todos, a mesma coisa fosse, por natureza, ao mesmo tempo,
boa e sbia, no existiria entre os homens a discrdia de ambgua linguagem. Mas no existe
nada idntico ou semelhante com exceo dos nomes (onomasin); a coisa (ergon) no
assim. E Aristteles, Metaph., 1006b 22: Mas o ponto em discusso no saber se o
mesmo ente pode a um tempo ser e no ser um homem quanto ao nome (onoma), e sim
quanto ao fato (pragma). Ora, se homem e no-homem no diferem na significao,
evidentemente no ser homem outra coisa no significar seno ser homem; de modo que
ser homem equivaler a no ser homem, pois tudo ser uma coisa s. (Trad. Vallandro,
1969, p. 95). A concepo arcaica parece ter reconhecido no nome, considerando a
experincia do rito, sua funo (in)vocativa, capaz de manifestar ou introduzir o ser. Essa
valorao da palavra pode ser encontrada atualmente tanto na poesia quanto no folclore
popular (crendices e tabus) e em prticas supersticiosas e/ou religiosas (invocaes,
maldies, entre outras). Aceito como uma propriedade do ser que nomeia, possuiria o
poder de instaur-lo (cf. Hes. Teog. 149). Onoma, em Homero, diz-se para o nome prprio
(cf. Il. 9.515; 10.68; 18.449), a nica unidade lingustica isolvel equivalente a nossa
palavra, aparecendo em oposio a ergon e pragma, entendidos, nesse ambiente,
primordialmente como ao guerreira; ou oposto pessoa mesmo. A explicao etimolgico-
semntica dos onomata, principalmente dos deuses, desde muito cedo, tornou-se parte da
tcnica potica, sendo um recurso utilizado por rapsodos, poetas lricos e trgicos. Quando
os poemas picos se tornaram algo como textos morais para os gregos, a exegese dos nomes
foi um recurso empregado na tentativa de explicar o que no era facilmente compreendido,
j que os textos apresentavam alguma dificuldade de interpretao, dada a disparidade entre
a concepo presente neles e a vigente poca, e mesmo por conta do desconhecimento do
vocabulrio. A crtica e a elucidao desses textos passou a integrar a prpria recitao dos
mesmos, e a nfase na explicao das palavras dever-se-ia crena numa verdade oculta
nelas, a anlise desvelava ao pblico seu sentido profundo e verdadeiro, no nome subjaziam
informaes sobre a coisa. Onoma passa logo a designar, ento, qualquer nome (substantivo),
sem perder, no entanto, sua caracterstica primeira, impregnando o pensamento sobre a
linguagem com a ideia de que qualquer nome prprio. A necessidade de explicaes
racionalistas encontrou na etimologia e na alegoria um modo de proceder sem questionar ou
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 273
PREZOTTO, J. M.
afrontar a tradio. Procedimentos exegticos baseados na anlise do onoma forneciam
respostas e, por isso, foram alados categoria de ferramentas de reflexo. As possibilidades
de relaes de cunho cognitivo, ontolgico e moral, reveladas na anlise do nome, instauram
uma forma de investigao da realidade que tem na linguagem uma via de conhecimento.
A concepo de que sob cada onoma subjaz a coisa e seu logos (ou explicao) chegar at
Aristteles e mais alm. (ELICEGUI, 1977, p. 10). Herclito teria unido essa concepo
de linguagem prtica filosfica. O vnculo palavra-coisa levado a outro nvel por ele: a
importncia da polissemia dos termos usada como argumento para o constante devir do
universo e a distino estabelecida por ele entre o nvel comum da linguagem (logos),
presente no discurso cotidiano, e o nvel profundo (Logos), transmissor e manifestante da
sabedoria ligada organizao do universo, deixa entrever a importncia que Herclito
conferiu linguagem como desveladora das relaes profundas da realidade. Parmnides
tambm parece ter dado grande importncia linguagem, na medida em que estava
relacionada ao pensar e ao ser. O que dito deveria se referir ao que , assim no poderia
existir um significado que fosse diferente da realidade. Os nomes seriam expresses do ser
e, ainda que contraditrios, no poderiam ser ilusrios. A linguagem comum teria se
tornado defeituosa e polissmica, por causa das falsas percepes humanas; apesar disso, ou
contra isso, o ser e a verdade deveriam sobrepor-se linguagem. A crena no vnculo entre
realidade e linguagem e a convico de que h um nvel subjacente linguagem, o qual
permite a explicao da realidade, i.., conhecer o nome conhecer a coisa, parece provocar
uma necessidade de ajuste. Delinea-se, desde ento, a disposio de manipular, controlar a
linguagem, de maneira a revelar mais prontamente relaes verdadeiras com/sobre o real.
O nome fala a verdade sobre as coisas: onoma ornis - o nomen um omen [o nome um
sinal, agouro ou pressgio]. (WOODBURY, 1958, p. 155). A ideia de que o onoma
guarda o logos de uma coisa sugere que o logos de uma coisa corresponda a seu onoma, de
sorte que onoma equivaler expresso que o explica - e assim diferenciar onoma de pragma
tambm diferenciar uma expresso daquilo (da coisa) a que se refere: expresses diferentes
indicam coisas diferentes, so onomata diferentes. Verifica-se, ento, um vnculo onoma/
pragma - linguagem/realidade. Supondo que essa ideia de vnculo estivesse subjacente ao
argumento em questo, uma interpretao possvel da passagem do DL poderia ser: o
onoma da coisa que boa to agathon (o bom, o bem), porque agathon seu logos; e o
onoma da coisa que ruim to kakon. To agathon e to kakon so onomata diferentes, referem-
se a (indicam) coisas diferentes no mundo (o nome diferente, assim tambm a realidade);
to agathon e to kakon no so e no podem ser nomes para a mesma coisa, porque ento ela
teria dois logoi opostos, e no saberamos mais qual o logos de cada coisa (o que ela : o que
bom e o que ruim). O que j supe, no mnimo, uma operao: agathon Y to agathon,
do logos ao onoma; esse clculo possibilitaria novas operaes: da, e de novo, do onoma ao
logos (a pergunta pelo logos de to agathon) Y abstrao, ideia Y conceito Y Forma; e vrias
escolhas: 1. veracidade do vnculo s h um logos verdadeiro para cada coisa: impossvel
contradizer; 2. descrdito do vnculo: exerccio da contradio; 3. quebra do vnculo:
inevitvel contradizer; 4. imposio do vnculo: no se deve contradizer; e assim por diante.
Alm disso, e por outro lado, no sculo V a.C., a racionalizao crescente, a consolidao
do alfabeto, a difuso da literatura escrita, entre outros fatores histricos, propiciaram que
aos poucos surgisse um novo entendimento da linguagem. Passvel de ser decomposta em
elementos (letras e slabas) sem significado, e de ser analisada em seu valor prprio - uma
274 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
concepo materialista que foi ligada figura de Demcrito. Demcrito teria considerado
a linguagem arbitrria e fruto de conveno ou instituio. Posies assim influenciaram
alguns pensadores a desvicularem-na da realidade, atendo-se, portanto, a questes e
potencialidades meramente lingusticas (discursivas, sonoras), movimento que acaba,
porm, por evidenciar ainda mais problemas epistemolgicos. A questo da orthotes
onomaton (correo dos nomes) , nos sofistas, ao que tudo indica, uma discusso acerca
da definio para a correta aplicao pragmtica das palavras comparao, distino e
escolha do vocbulo mais apropriado ao uso pretendido, orientando a melhor escolha, a
mais adequada situao (ainda que possa ter sido, em Prdico, por exemplo, a procura do
logos de cada onoma). Mas parece tornar-se, novamente, em Plato, uma indagao acerca
da adequao da linguagem realidade, de como a primeira pode representar verdadeiramente
a segunda. Em vista de tantos desajustes manifestos, Plato teria acabado desqualificando a
linguagem comum como caminho seguro para se conhecer o real.
23
O verbo diaireuomai, cf. Herclito, B 1 DK (diaireon) e Prdico, A 14, A 16, A 17
DK. Prdico era conhecido por sua insistncia em distinguir os nomes (diairein ton
onomaton), analisando matizes semnticos dos vocbulos aparentemente sinnimos.
Alguns viram nesse procedimento um antecedente do mtodo de diviso socrtico, que tem
papel decisivo na dialtica platnica. Contudo, ao que tudo indica, o interesse de Prdico
estava relacionado ao uso correto da linguagem, tal como expresso em nota anterior, e no
visava a inquirir a essncia correspondente a um determinado nome e dividir cada noo,
dicotomicamente, em subespcies, mas demonstrar que no eram sinnimos os termos
vulgarmente considerados como tal (cf. SOUSA; PINTO, 2005, p. 155-156). De qualquer
forma, bastante provvel que seu mtodo tenha exercido grande influncia sobre Scrates.
Voltando ao nosso texto, a anttese afirma que h dois nomes distintos, to agathon e to
kakon, e que h duas coisas distintas todavia, no o que especfico de ser to agathon ou
to kakon (a essncia, ou seja, uma definio do conceito) que se busca, no ser dito o que
to agathon e o que to kakon, mas que so diferentes (1.17). O argumento seguinte, no
entanto, sugere que a diferena entre to agathon e to kakon necessria, para que uma coisa
seja entendida como agathon ou kakon.
24
Na traduo de Dueso (op. cit., p. 153), hekateron, nessa frase, se refere no a agathon
e kakon da frase anterior, mas sim a tagathon e to kakon do incio de 1.11: Me parece, en
efecto, que no sera evidente cules son las cosas buenas y cules las malas, sino uno y otro
(el bien y el mal) fueran lo mismo y no distintos. O mesmo para Robinson (op. cit., p.
161): [...] pois hekateron (um e outro) mais naturalmente cada um dos dois componentes
da identidade to agathon e to kakon(cf. 2.21), enquanto a frase imediatamente anterior ,
claro, meramente predicativa. A suposta contradio no de fato uma contradio. Uma
coisa a igualdade entre ekeino ho esti kalon e ekeino ho esti aiskhron (aquilo que bom e
aquilo que ruim) (mesma coisa, e julgamentos opostos, dependendo de quem (e quando
e como)); outra, a diferena entre to agathon e to kakon. Se se tratam de duas coisas, dois
assuntos, no h contradio o conflito seria aparente, parece sugerir Robinson, as vises
so complementares no entanto, a tenso permanece como efeito da manipulao da
linguagem.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 275
PREZOTTO, J. M.
25
Dillon e Gergel (2003, p. 405) afirmam que [...] este argumento revela um descuido
primitivo com a diferena entre absoluto e relativo, e lembra o tipo de argumento retratado
por Plato como tendo sido alardeado por uma figura tal como Eutidemo. (grifo meu)
Acredito que seja isso mesmo, revelar, demonstrar possibilidades argumentativas, porm, de
como o descuido pode ser utilizado: a suposta falta de cuidado, apenas, no nos comprova
que os sofistas no percebiam a diferena, ao contrrio, pode indicar que a valorizaram
somente no que tinha de mais palpvel: como uma diferena nas maneiras de dizer.
26
O texto apresentado por Diels : , ;
- [...] diga-me, seus pais j lhe fizeram alguma coisa boa?. Robinson (1979), que seguimos,
diz manter a verso dos Mss., onde o sentido seria: [...] ilgico restringir as atitudes para
com os pais a atitudes boas, j que atitudes de natureza contrria, isto , ruins, seriam
igualmente boas.
27
Para Kranz (1937) e Ramage (1961, apud ROBINSON, op. cit., p. 156), de 1.12 a 1.17
teramos o fragmento de um dilogo genuinamente socrtico, ainda que primitivo e mal
elaborado.
28
Uma tpica preocupao socrtica era a busca pela definio dos termos, principalmente
morais, cf. Aristteles, Metaph., 987b 1-5. Como j mencionado anteriormente, esse
interesse socrtico foi inclusive suposto como um desdobramento do mtodo de distino
de sinnimos aparentes de Prdico.
29
A anttese no chega a defender sua posio, explicando por que, ou como, o bom
diferente do ruim (o bem do mal), apenas produz uma rplica posio anterior,
evidenciando problemas a implicados. Essa uma ttica comum tambm aos dilogos
socrticos de Plato: as asseres refutadas so concluses do prprio Scrates acerca de
doutrinas de seus adversrios.
30
Percebam-se os movimentos da anttese, vejam-se1.16 e 2.1 e se comparem com o modo
como a anttese passa de uma sentena de identidade (1.12) a uma sentena predicativa
(1.14), usa os dois tipos na mesma seo (1.16) e termina com uma sentena predicativa
explcita e uma de identidade encoberta (1.17). O mesmo em 2. 20, 21, 22 e 24, como se
no houvesse diferena entre os dois tipos de sentena. Poderia ser ingenuidade do autor,
mas, como supomos, um propsito propedutico no deve ser descartado. A inteno
poderia ser evidenciar aos alunos os problemas envolvidos numa argumentao desse tipo:
em que operaes ela se apoia. Mais que supor que essa argumentao realmente refute a
tese, instruir na deteco de raciocnios falaciosos (ROBINSON, op. cit., p. 77, 150, 151).
Isso reforaria a afirmao tantas vezes feita em defesa dos sofistas, contra Plato, de que eles
estavam conscientes dos limites (do alcance) das estratgias discursivas que propunham.
31
O sentido, de acordo com os contextos apresentados, seria: decente e vergonhoso
ou adequado e inconveniente, isto , moral e/ou socialmente aceito e no. Peri kalou
significa, letra, sobre o belo, mas o vocbulo grego kalos tem tambm a conotao
valorativa, no plano moral, do que bom, e aiskhros tem o significado pejorativo de vil,
indecoroso. Tambm se usa, na linguagem vulgar, a oposio bonito/feio, num sentido
276 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
prximo deste indicado (cf. SOUSA; PINTO, op. cit., p. 288).
32
De fato traduz to soma (corpo). Aqui a oposio onoma/pragma substituda por
onoma/soma, o que refora a existncia de uma contraparte objetiva do nome como um
argumento para a distino, tal como existiria a pessoa a quem se refere seu nome. Taylor
(1911, p. 103) menciona a aproximao de soma com idea (eidos ou idee), ambas ao lado
de physis, em oposio a onoma e nomos, um sentido que persistiria, segundo o autor, em
Plato e Aristteles.
33
Cf. Plato, Phaedr. 230e ss. e Symp. 183d.
34
Cf. Herdoto, 1. 203; 3. 101; Xenofonte, Anab. 5. 4. 33; Plato, Hipp. Mai. 299a.
35
Para o homem feio, mas para a mulher muito feio: o grau superlativo do adjetivo
certamente no usado toa.
36
Algumas afirmaes etnolgicas dadas pelo autor coincidem com passagens de Herdoto,
no entanto, detalhes e at mesmo informaes gerais que aparecem no DL no se encontram
no historiador. Isso poderia sugerir que ambos tenham trabalhado com fontes mais antigas.
Em nota, indico algumas passagens que podem ser comparadas.
37
grammata.
38
Cf. Eurpides, Electra 815 ss.
39
Cf. Hdt. 4. 65, 66.
40
Cf. Hdt. 1. 216; 4. 26; 3. 38.
41
Cf. Hdt. 3.31; Xenofonte, Mem. 4. 4. 20.
42
Cf. Hdt. 1.93.
43
Cf. Hdt. 3. 38, 7. 152.
44
O verbo diaireo, cf. nota 25.
45
ho kairos.
46
Estes versos costumam ser atribudos a Eurpides, cf. Robinson, op. cit., nota ad loc.
47
Enunciado explcito: to auto pragma.
48
Perceba-se a reformulao do enunciado, transformando os termos predicados em
sujeitos da orao.
49
Tambm sobre o tema, cf. [Plato sp.], Peri dikaou; Xenofonte, Cyrop. 1.6.26 ss.; Plato,
Res. 331b-d, Leg. 860 c-e;
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 277
PREZOTTO, J. M.
50
A correspondncia, inclusive literal, entre passagens deste captulo e o dilogo de Scrates
e Eutidemo, retratado por Xenofonte, Memorab. 4. 2. 14 ss., tem instigado a busca de sua
fonte primeira: Scrates; o prprio autor do DL; ou outro pensador mais antigo. A questo
incerta, cf. Robinson, op. cit., nota ad. loc. com bibliografia mencionada.
51
Ambos mataram a prpria me para vingar o pai.
52
antios logos.
Passagem complicada. Diels prope: <> ,
53
< >. Se fosse dito: que morra aquele
que cometer muitas injustias, que morra tambm o que fez muitas coisas justas.
54
Pseudeos genitivo do substantivo pseudos e no do adjetivo pseudes, cujo neutro singular
no encontrado em escritos mais antigos, cf. LSJ9, s.v. Alatheias pode ser genitivo do
substantivo alatheia (drico para aletheia), mas tambm uma variante para to alathes, cf.
Robinson, op. cit., p. 190. Para to pseudos oposto a to alathes, ver adiante 4.5, e Plato,
Euthyd. 272b, Gorg. 505e, Resp. 382d., entre outros.
55
Cf. Plato, Euthyd., 283a e ss. (acerca de qualquer enunciado ser verdadeiro); Aristteles,
Soph. El., 178b 24 e ss. (acerca de uma proposio ser falsa e verdadeira), Cat. 4a 23 - b 13
(acerca de asseres e opinies admitirem os contrrios).
56
ergon. A retomada desta afirmao pela anttese em 4. 7 usa o termo pragma, traduzido
ento por acontecimento.
Se dissessem que falsa sua afirmao de que o discurso verdadeiro e o falso so o
57
mesmo, ento, o discurso verdadeiro e o falso no seriam o mesmo, seriam diferentes.
58
Para o argumento da autorrefutao, peritrope, empregado desde a antiguidade contra
afirmaes relativistas atribudas aos sofistas, ver Plato, Euthyd. 286c, Theae. 171;
Demcrito, DK 68 A114.
59
As sees 7 e 8 so complicadas e podem estar corrompidas ou apresentar lacunas; sigo o
texto proposto por Blass, conforme Dueso (op. cit., p. 138 e 191). A passagem seria uma
rplica ao proposto pela tese em 4.3, que fala de um mesmo discurso e cita a prtica dos
tribunais. A anttese pretende demonstrar (4.7) que do prprio argumento deles se segue
que so dois discursos distintos, um falso e outro verdadeiro.
60
Uma das interpretaes dessa passagem poderia ser que a anttese deturpa o que a tese diz
em 4.3, acreditando que despreze os fatosm 4.3, como se eles desprezassem o julgamento
dos jus ou suprimires alguma cois, tornar-se-las modifica o julgamento dos juzes: j que
eles no presenciam os fatos, no podem dizer se h correspondncia. Mas a tese parece
simplesmente afirmar que um mesmo discurso, expresso com as mesmas palavras, ser
ora verdadeiro, ora falso, a depender dos eventos, o que seria comprovado pela prtica dos
tribunais.
278 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
61
Tambm os juzes reconheceriam que so dois discursos diferentes. Isso, alm de reforar
a anttese, poderia ter sido dito no intuito de salvaguardar a prtica jurdica (cf. nota
anterior).
62
Cf. Plato, Alc. i, 109b; Leg. 944c.
63
Com base nesse captulo, e como leitura do tratado mesmo, apresento duas posies: 1)
Kneale e Kneale, acerca da reflexo sobre problemas de lgica formal antes de Aristteles:
[O DL] obviamente parte de um prolongado debate sobre a possibilidade de falsidade e
contradio. Como o fragmento est mutilado impossvel saber bem de que se trata, mas
parece que o autor defende que possvel no s fazer afirmaes contraditrias (antilegein)
mas mesmo sustentar em diversos contextos, duas teses plausveis que se contradizem uma
outra. Para provar desenvolve uma srie de antinomias, cada uma com uma tese e uma
anttese. De interesse especial a quarta antinomia na qual o autor mostra que possvel
sustentar ambos os lados de uma contradio sobre verdade e falsidade. Na tese ele tenta
mostrar que a verdade e a falsidade so idnticas [sic] citando o exemplo de uma forma
verbal, e.g., Sou um iniciado que verdadeira quando dita por A e falsa, quando dita
por B. Deste argumento , no entanto, possvel tirar a concluso de que no a expresso
verbal (a frase) que pode ser verdadeira ou falsa. Esses predicados tm que ser aplicados
quilo que expresso pela frase, i. ., a afirmao ou a proposio. Podemos ter aqui a
origem da distino estoica entre phone e lekton. Esse argumento estabelece o mesmo
princpio acerca das noes de verdadeiro e de falso que o argumento do Eutidemo acerca
de validade, nomeadamente que essas noes no podem ser ligadas a simples esquemas
verbais. (KNEALE; KNEALE, 1972). 2) E Rossetti, abordando o que chama de relativismo
fenomenolgico de Protgoras, do DL e de outros textos sofsticos, diferenciando esse
relativismo de um pessimismo epistemolgico, por evidenciar-lhe o desacordo respeitoso,
o qual reconhece a dignidade das opinies que no partilhamos, sobretudo a dignidade dos
julgamentos descritivos e das opinies que se apoiam sobre experincias pessoais diretas e
imediatas, e que no se estende a opinies que no se sustentam - por exemplo, opinies
intencionalmente caluniosas que inventam e falsificam dados existentes, considerar
o DL exemplar da souplesse desse relativismo: [...] a anlise [no DL] enriquecida pela
possibilidade de se estabelecer a falsidade de um julgamento descritivo quando o fato a
descrever , em geral, inequvoco. Mas o autor do DL contempla outros recursos tambm,
e, se nos trs primeiros captulos ele adere manifestamente [sic] ao relativismo da verdade,
em outro, no quinto, ele nos assegurar que h casos em que o julgamento bem pode ser
manifestamente falso: por exemplo, no podemos reivindicar que o homem normalmente
(convencionalmente) sentado est de p, ou que onos seja a mesma coisa que noos. A
flexibilidade deste relativismo me parece ento notvel. (ROSSETTI, 1986).
64
O enunciado explicto: to auto pragma.
65
A julgar pelos exemplos dados, essa afirmao resumiria as possibilidades de se atribuir
diferentes predicados a uma mesma coisa, isto , todos eles seriam possveis: essa coisa
potencialmente qualquer coisa. O enunciado, no entanto, contm a j mencionada
ambiguidade entre x y e y x, tendo sido, por conta disso, traduzido muitas vezes por
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 279
PREZOTTO, J. M.
tudo o mesmo que, na verdade, a consequncia inversa que a anttese imputa tese
para assim poder refut-la.
66
Ser, estar, existir e haver pode ser dito com o mesmo verbo em grego, por isso, esse
exemplo serve para confirmar a afirmao imediatamente anterior.
67
As coisas (fsicas) = ta pragmata so/esto/existem e no so/no esto/no existem (em
algum lugar ou de alguma forma). A confuso provm da ambiguidade gerada pelo duplo
sentido do verbo ser: ser-existencial e ser-predicativo, entre ser absolutamente e ser em algum
aspecto. A considerar os exemplos, a afirmao se daria em sentido relativo, no entanto, sua
forma ambgua e d margem falcia conhecida como a dicto secundum quid ad dictum
simpliciter, que assim explicada por Aristteles: [...] ocorre quando o que se predica em
parte tomado como se fosse predicado de forma absoluta, [...] pois no o mesmo ser
alguma coisa (ti) e ser absolutamente [ou simplesmente] (aplos). (Soph. El. 166b 38-167a
3). Cf. nota 27.
68
Temos, no mnimo, duas leituras interessantes para a conexo entre as passagens 5.10
e 5.11, com diferentes resultados: Sousa e Pinto (op. cit., p. 295), Robinson (op. cit.,
129 e notas ad loc.) e Sprague (1968, p. 163) apresentam, aproximadamente, a seguinte
interpretao: eles acrescentam quando convm e quando no convm, mas as coisas
no se alteram com isso; as coisas se alteram quando se muda o acento, se trocam as letras
(etc.). Robinson (idem) acredita num equvoco: para a tese, o quando convm e quando
no convm (o contexto: ex. falar vaca para vaca - convm, e vaca para cavalo no
convm) indicaria se quem fala (a mesma coisa: vaca) louco ou sensato. Porm, a anttese
supe que o acrscimo estaria pressupondo uma mudana no significado, por isso, sustentar
que somente uma modificao na palavra poderia alter-lo, somente outra palavra indica
outra coisa (vaca dito quando no convm no significa cavalo). Tambm Desbordes
(1987, p. 40-42) apoia sua argumentao em interpretao semelhante a essa, com uma
diferena no tom: o contexto poderia fazer crer que no mais a mesma coisa (a mesma
palavra), mas, em matria de linguagem, a mudana tem que se dar na palavra: [...] duas
palavras so diferentes no porque se referem a coisas diferentes, mas porque possuem
sentidos diferentes, e essa diferena est marcada na matria mesma das palavras por uma
diferena concreta, quo pequena for. [...] Tratando-se de linguagem, a resposta questo
o mesmo ou o outro inteiramente interna e desligada de toda relao com o mundo
exterior. (ibidem, p. 41, grifos meus). Semelhante s leituras de Mittman, Ribeiro e Targa
(2008, p. 28) e Gagarin e Woodruff (1995, p. 305), eu sugiro a seguinte interpretao:
eles acrescentam quando convm e quando no convm e isso muda a coisa; as coisas
se alteram, sim, no s assim, mas tambm quando se muda o acento, se trocam as letras
(etc.); logo, os loucos e os sensatos no falam a mesma coisa. Na minha opinio, essa
leitura est de acordo com a argumentao da anttese em 4.6, 4.7 e 4.9, quando conclui,
utilizando as prprias colocaes da tese, que o enunciado verdadeiro diferente do falso, e
tambm est de acordo com a colocao da anttese, em 5.13: acrescer ou retirar algo muda
a coisa. Parece-me o mesmo argumento de 4.9, algo como: de acordo com sua tese, eles
dizem que os sensatos falam quando convm, e os loucos quando no convm; portanto,
h diferena. Em 2.23, a anttese sustentou que [...] se a mesma coisa bonita e feia,
280 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
ento, na Lacedemnia bonito que as meninas pratiquem ginstica, e na Lacedemnia
feio que as meninas pratiquem ginstica, de sorte que a manuteno do complemento
na Lacedemnia parece fazer parte de seu argumento de que assim se fala da mesma coisa.
A tenso permanece entre a viso relativista, perspectivista, ou contextualista, da tese e a
leitura em bloco da anttese.
69
Todos os exemplos mencionam palavras iguais, porm, com acentos recaindo, ora na
primeira, ora na segunda slaba.
70
Como o autor menciona, a diferena, no marcada na transliterao, est na presena das
mesmas vogais, ora longas, ora breves.
71
Cf. Plato, Crtilo, 432a-b: Crtilo: Mas tu percebes muito bem, Scrates, que quando
atribumos aos nomes, de acordo com a gramtica, as letras a e b, ou qualquer outra letra, se
acrescentarmos ou subtrairmos ou deslocarmos uma, no poderemos dizer que escrevemos
o nome, embora incorretamente; no escrevemos de jeito nenhum, pois o que nessa mesma
hora surgiu foi outro nome, uma vez introduzidas todas aquelas modificaes. Scrates:
preciso ver, Crtilo, se no estamos considerando o assunto por um prisma errado.
Crt.: Como assim? Sc.: bem possvel que se passe conforme dizes com o que s existe
necessariamente, ou no existe, por meio de nmeros. O nmero dez, por exemplo, ou
outro qualquer que te aprouver: se acrescentares ou suprimires alguma coisa, tornar-se-
imediatamente outro nmero; [...]. (Trad. Nunes, 1980, p. 182).
72
Desbordes (op. cit., p. 41) chama a ateno para a antiguidade dessa quadripartio
mutao (acentos, durao), mettese (ordem das letras), adio e subtrao , atribuda
geralmente aos estoicos.
73
Rplica a 5.3. A interpretao de Dueso e Robinson que a anttese aceita que as
mesmas coisas sejam tudo, mas apenas de maneira relativa (pei), secundum quid, e no
de maneira absoluta (ta panta), simpliciter. Cf. nota 67. O que acaba por ser, por fim,
a explicitao do argumento que estava na base de suas colocaes at agora. O fato, j
mencionado muitas vezes, que a tese, devido aos exemplos utilizados, no se compromete
com afirmaes em sentido absoluto.
74
Costuma-se traduzir arete por virtude, termo que evitei usar, por crer que transmite um
conceito cristo de castidade e/ou correo moral. Na discusso apresentada no Protgoras
de Plato, acerca da possibilidade ou no do ensino de arete, discusso esta que se assemelha
em muitos pontos do DL, o que est em jogo, pela viso sofstica, a possibilidade de,
atravs do ensino, tornar um homem influente, capaz de tomar decises adequadas e ser
honrado pelos demais, recebendo distino e reconhecimento pblico, bem como posio
de destaque no governo da cidade; e, pela viso socrtica, a desconfiana de que o ensino
que vem de fora no pode incutir qualidades superiores num homem, caso ele j no as
possua. A traduo por virtude, parece-me, poderia vir a desmerecer o debate. O ponto
de contato dar-se-ia entre o entendimento socrtico-platnico de arete como virtude da
alma, essencialmente moral, e o uso que indica a competncia e, ento virtude, nas artes e
em poltica. A traduo por excelncia, ainda que no d conta de todas as ocorrncias, tenta
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 281
PREZOTTO, J. M.
manter a ligao com aristos (o melhor, superlativo de agathos) e a relao com o domnio de
uma tekhne, um saber fazer, e segue Cassin (2005, p. 336).
75
O ttulo aparece em Diels e Kranz.
76
Nesta seo (6.9), sigo o texto de Diels e Kranz. A proposta de Diels e Kranz simplifica
a colocao do autor e parece estar de acordo com construes presentes em 6.10 e 6.12.
De qualquer forma, tal como a de Robinson, uma conjectura no totalmente corroborada
pelos Mss. e pode ser criticada. Tambm Dueso (1996), aqui, segue Diels e Kranz, sem,
contudo, mencionar que o faz.
77
Ta onumata (lit. os nomes, as palavras). Duas ocorrncias na seo seguinte: 6.12.
78
Cf. Plato, Protagoras, 327e - 328a: Agora, voc age com desdm, caro Scrates, porque
todos, cada qual na medida dos seus prprios meios, so professores de excelncia, embora
ningum, a seus olhos, se encontre em condies de ensin-la. Ou ainda, como se voc
procurasse por algum capaz de ensinar a falar o grego, pois tambm no lhe pareceria que
s existe um mestre [...]. (Trad. Cassin, 2005, p. 345)
79
Desbordes (op. cit., p. 36) assim interpreta esta passagem: Reconhece-se uma prova banal
da conveno que rege a linguagem [...]. Mas nosso autor faz melhor [...]: a linguagem no
uma emanao das coisas, mas [tambm] no mais uma propriedade da raa e do sangue
- no se fala espontaneamente [...], mas por imitao do entorno, qual for. A linguagem
uma propriedade difundida por toda uma comunidade, ela a mesma para todos e no
se pode atribui-la a ningum. um fenmeno autnomo, independente das coisas, mas
independente tambm da pessoa que a emite, que no mais que um suporte temporrio.
80
O sorteio era feito usando-se favas.
81
Dueso (1996) prope: Siguiendo el critrio de las propias tcnicas, considero que un
hombre experto se define por su capacidade para... Segundo esse autor (1996, p. 196),
kata tas autas tekhnas est presente em todos os Mss., tendo sido alterado por Blass. A
traduo que ele fornece, no entanto, me parece inapropriada. Mesmo assim, o texto
original permanece incerto e parece pouco adequado concluir, com base apenas nessa
passagem, algo definitivo sobre o captulo, tal como sustentar que se defenda a a polimatia.
Creio que da interpretao dessa frase, at o momento insatisfatria, dependeria um melhor
entendimento do propsito deste captulo.
82
No original: dialegesthai kata brakhu - fica a dvida acerca da necessidade de aproximar
essa habilidade com o procedimento geralmente adotado por Scrates, nos chamados
dilogos socrticos de Plato. Dueso (op. cit., p. 197): [...] dialogar con preguntas y respuestas
breves; e Robinson (op. cit., p. 137): [...] to converse in brief questions and answers. Numa
breve consulta traduo do Protgoras de Plato, feita por Lombardo e Bell (1997, p. 746-
790), dilogo em que o modo de tratar um assunto se torna motivo de debate, percebe-se
que as ocorrncias dos compostos do verbo dialegomai so preferivelmente traduzidas por
compostos do verbo to discuss, sem qualificao (assim, em 337a, 335d, 347e, 348b, por
282 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
exemplo). Em 336c, onde se evidencia o procedimento socrtico em comparao longa
exposio feita por Protgoras, prefere-se uma traduo qualificada: dialectical discussion; e
apenas o enunciado explcito dialegestho eroton te kai apokrinomenos ento traduzido por
let him engage in a question-and-answer dialogue. Ver adiante 8. 13.
83
pragmata.
84
hapanta.
85
Dueso (op. cit., p. 171-176) e Taylor (1911, p. 127) acreditam que o captulo defenda
posies socrticas acerca das qualidades do poltico; Robinson (op. cit., p. 77, 80 e 81)
descreve o captulo como uma listagem das qualidades de um poltico-orador exemplar, e
sugere um propsito propedutico sofstico, por trs da aparncia paradoxal das asseres
a apresentadas, as quais se assemelham s apresentadas no Eutidemo de Plato. Observe-
se que, no decorrer do captulo, as competncias listadas na primeira seo so tratadas
aparentemente em sequncia inversa.
86
Cf. Plato, Euthyd. 293-297 (Eutidemo e Dionisodoro lanam mo de diversos sofismas,
para demonstrar a Scrates que todos conhecem todas as coisas, se conhecerem apenas
uma); Gorg. 456-459 (Grgias discorre sobre o poder da retrica e menciona que o orador
capaz de falar sobre todas as questes); Soph. 232b e ss. (discusso acerca da capacidade
do sofista de discutir e conhecer qualquer assunto), sugere-se comparar principalmente as
seguintes passagens: Soph. 232d 1-2 e DL 8.6, 8.9, 8.10; Soph. 232c 8-10 e DL 8.1 (fim);
Soph. 232b 11-12, 232e 3-4 e DL 8.1, 8.3, 8.5, 8.13, (in.); Soph. 234c 4 e DL 8.1, 8.12; e
Soph. 232c 4-5 e DL 8.1, 8.2.
87
O advrbio grego orthos contm a mesma ambiguidade que o portugus corretamente - falar
apropriadamente ou falar com exatido, com veracidade. Dentro do ambiente sofstico,
falar ou advogar corretamente pode exprimir tambm a ideia de falar persuasivamente,
obtendo xito na causa.
88
Possivelmente h interesse na ambiguidade do termo, podendo funcionar como
argumento falacioso ligado seo anterior: para falar corretamente, preciso conhecer
o assunto sobre o qual se fala; quem tem o conhecimento das tcnicas discursivas fala
corretamente sobre tudo; logo, conhece tudo. Aparece tambm em 8.6, 8.9, 8.10 e 8.13.
89
Dueso (op. cit., p. 197) d a traduo: En efecto, tratar de conocer todas las cosas: pois
acredita ser um futuro expressando uma necessidade mais que um fato, tambm em 8.7.
Discordo.
90
Segundo Robinson (op. cit., p. 230), os Mss. indicam uma lacuna de 4 ou 5 linhas aqui.
91
Esta passagem uma das mais difceis do tratado, pois no h certeza acerca do texto
correto, muito menos de como deva ser interpretado, e os resultados so os mais dspares
possveis: Dueso (op. cit., p. 198): ,
- Pues todos los seres humanos llevan a cabo los mismos actos, pero
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 283
PREZOTTO, J. M.
es preciso hacer aquello que es conveniente en relacin com un mismo acto.; Robinson (op. cit.,
p. 138-139): , ,
. - For these <objects of knowledge> are part of all <objects of knowledge>, and the
exigency of the situation will, if need be, provide him with those <other objects>, so as to achieve
the same end; Diels e Kranz (1960, p. 416): , <>
, - Estas coisas so as mesmas em todos os casos. E
ele far o que deve, diante do mesmo caso, se for preciso. (Trad. MITTMAN; RIBEIRO;
TARGA, 2008). Eu sigo o texto proposto por Robinson, porm, mantenho ,
presente nos Mss. (conforme informao constante nas trs edies mencionadas). Uma
traduo semelhante minha dada por Gagarin e Woodruff (1995, p. 308): For these
things belong to all things and, if necessary, he will accomplish the other things that need to be
done. Para a interpretao dada pelos autores citados, ver notas ad loc.
92
A negao est presente em todos os Mss., porm, foi eliminada na edio de Diels
(DUESO, op. cit., p. 198).
93
Dueso substitui por pues con esto tienen que ver las acciones
justas. que, segundo ele, est em todos os manuscritos. Sua leitura que o conhecimento
da justia (to dikaion) a condio para conhecer as aes justas (ta dikaia): O duplo
nvel justia-aes justas ou beleza-coisas belas uma exigncia tipicamente platnica.
(DUESO, op. cit., p. 176).
94
pragmata.
95
nomos pode significar tambm melodia.
96
Cf. Plato, Gorg. 449b: Sc. Grgias, estarias disposto a continuar conversando como
estamos fazendo agora, perguntando umas vezes e respondendo outras? [...] queira responder
com brevidade s perguntas. Grg. [...] tentarei responder com a mxima brevidade. [...]
ningum seria capaz de dizer as mesmas coisas em menos palavras que eu. (Trad. minha,
com base em CALONGE, 1999).
97
O autor parece se referir, de acordo com as sees seguintes, mais propriamente arte da
memria (mnemotcnica ou mnemnica) que faculdade de memorizao. Uma memria
treinada era de vital importncia para os oradores na antiguidade e tornou-se parte do
estudo formal de retrica: cf. Ad Herennium (tratado annimo composto em I a.C.), III,
28-40, inclusive esta passagem, dedicada memria, inicia-se com um elogio parecido
quele do DL: Passemos agora ao tesouro das coisas inventadas e guardi de todas as
partes da retrica: a memria. (Trad. FARIA; SEABRA, 2005, p. 181). Esta obra, descrita
por Yates (1984, p. 5) como a principal e nica fonte completa para o estudo da arte da
memria, tanto no mundo grego quanto latino, voltar a ser citada, pois sua discusso
sobre memria de coisas e memria de palavras, papis dados a lugares e imagens, esclarece
detalhes deste pequeno captulo do DL.
98
es philosophan, cf. nota 6. A traduo de Robinson (1979, p. 141) para a frase : for
both general education and practical wisdom. Cf. lio Aristides (DK 79 1): [...] filosofia
284 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
designava uma espcie de amor pelo belo e um estudo relativo aos discursos, no nesta
orientao atual, mas como uma educao em geral. (grifo meu) (Trad. SOUSA; PINTO,
2005, p. 52).
99
A meno sabedoria , para Dueso (op. cit., p. 199), prova de que este captulo faa
parte da estrutura conceitual dos quatro ltimos, que, segundo ele, tratam do conceito
de cincia, sendo, em conjunto, a parte positiva do que chama tese B, a anttese, cuja
influncia seria nomeadamente Scrates.
100
Este o captulo que se pode mais facilmente relacionar com Hpias, a quem foi atribuda
uma memria invulgar, entre muitas outras habilidades, bem como o desenvolvimento
de tcnicas mnemnicas especficas que constituam matria de ensino, cf. Plato (Hipp.
Min. 368d 6-7 e Hipp. Mai. 285e), Filostrato (V. Soph. 1.11.1) e Xenofonte (Symp. 4.62).
Contudo, no mnimo questionvel que ele fosse o nico a possuir e ensinar essas tcnicas.
Para uma leitura que v neste captulo uma abordagem inovadora da memria no ambiente
tico-poltico, traando seu caminho desde a obra dos antigos poetas sua valorao
dentro da paideia sofstica, ver AGUIAR, 2006, p. 87-93 e DETIENNE, 1988, passim.
oportuno lembrar que Ccero (I a.C.), no seu De oratore, apresenta um relato de como o
poeta Simnides (sc. VI-V a.C.) teria inventado a arte da memria.
101
Desbordes (1998) cita este captulo como um exemplo do interesse do autor do DL
pela linguagem: [...] trata-se de tornar consciente o processo da memria que est na
base mesmo da competncia lingustica: a linguagem no uma justaposio ao infinito
de palavras isoladas, irredutveis umas s outras; pode-se estabelecer entre elas relaes,
comear a esboar uma rede, um sistema. E um sistema baseado nas propriedades materiais
das palavras, aquelas que se pode manipular vontade. (ibidem, p. 36).
Robinson (1979, p. 141 e 239) traduz por following this course, i.., o curso de
102
memorizao que estaria descrito nas sees seguintes.
103
A ordem de algumas palavras entre as sees 2 e 3 aqui est alterada em comparao com
o texto proposto por Diels e Kranz.
104
O verbo katatithemi: relacionar ou associar, no entanto, considerando o que os
tratados remanescentes mais antigos nos dizem sobre a arte da memria, a traduo literal
por colocar tambm estaria adequada. De fato, a mnemnica descrita pelos romanos
como a tcnica de organizar arquitetonicamente lugares (loci) na memria, e dispor, ento,
ordenadamente, nesse espao mental, as imagens (imagines) daquilo a ser lembrado: A
memria artificial constitui-se de lugares e imagens. [...] Por exemplo, se queremos guardar
na memria um cavalo, um leo ou uma guia, ser preciso dispor suas imagens em lugares
determinados. (Ad Herennium, III, 29. Trad. FARIA; SEABRA, 2005, p. 183).
105
Novamente a distino onoma/pragma, cf. nota 22. Aqui os exemplos parecem opor
nomes prprios a substantivos comuns, no entanto, a distino possivelmente se d entre
memorizao de palavras, nomes (onomata) e memorizao de coisas (pragmata). Essa
diviso aparece exposta nos tratados posteriores que versam mais longamente sobre a arte da
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 285
PREZOTTO, J. M.
memria, tal como o annimo Ad Herennium, e as obras De oratore, de Ccero, e Institutio
oratoria, de Quintiliano. No Ad Herennium (III, 33), dito que h dois tipos de imagens,
uma para coisas (res), outra para palavras (verba): coisas so os prprios casos, um assunto
inteiro, o tema do discurso, que deve resumir-se em imagens; palavras so sequncias
ordenadas de palavras (uma poesia, por exemplo), e o mtodo parece sugerir a semelhana
sonora para construo da imagem. Minha traduo de peri andreias, nesta seo, por o
que diz respeito coragem (da mesma forma, em elipse, e deixando margem para alguma
ambiguidade, com peri khalkeias - arte do ferreiro - e peri deilias - covardia) pode ter (re)
forado a comparao entre os tratados, de sorte que coisas no seriam os substantivos
apresentados (coragem, arte do ferreiro, covardia), mas teriam o sentido ampliado do que
relativo a. Desbordes (op. cit., p. 36) acredita que essa diviso, entre memria de palavras
e memria de coisas, testemunhe o desejo de fazer da linguagem um objeto autnomo.
106
A indicao de que o texto prossegue alm deste ponto dada pelos Mss. No se sabe,
todavia, quanto foi perdido.
PREZOTTO, Joseane Mara. Annotated translation of the Twofold Arguments
(Dissoi Logoi). Tans/form/ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar.,
2017.
Abstract: This article is a translation, followed by notes, of the anonymous
Sophist treatise from the 4th century b.c., Dissoi Logoi (Twofold Arguments).
The introduction provides basic information about text transmission,
authorship, and date of composition, as well as a brief discussion of the works
content. Important passages and concepts are analyzed in the notes to the
translation. In addition, questions about the work and its interrelations with
other works are discussed, and a reading of the text is developed. The treatise
was transmitted in an incomplete form and contains nine small chapters on
the central themes of the Sophist movement. It can be considered an example
of the rhetorical techniques taught by those thinkers.
Keywords: Twofold arguments. Sophists. Rhetoric. Antilogy. Relativism.
Referncias
AGUIAR, G. Ambivalncia e relativismo nos Disso lgoi. 2006. 130f. Dissertao (Mestrado
em Filosofia) - Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas, UFMG, Belo Horizonte, 2006.
BLASS, F. Eine schrift des Simmias von Theben? Jahrbcher fr Classische Philologie, v. 123,
p. 739-740, 1881.
286 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Discursos Duplos Artigos / Articles
CASSIN, B. O Efeito sofstico. So Paulo: Ed. 34, 2005.
CCERO. Retrica a Hernio. Trauo de A.P.C. Faria e A. Seabra. So Paulo: Hedra, 2005.
CONLEY, T. M. Dating the so-called Dissoi logoi: a cautionary note. Ancient Philosophy,
v. 5, n. 1, p. 59-65, 1985.
DESBORDES, F. Aux origines de la linguistique: lexemple des Dissoi logoi. In: MELLET,
S. (Org.). tudes de linguistique generale et de linguistique latine: offertes en homage a Guy
Serbat. Paris: La Socit pour Linformation Grammaticale, 1987. p. 33-43.
DETIENNE, M. Os mestres da verdade na Grcia Arcaica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1988.
DIELS, H.; KRANZ, W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin: Weidmannche
VerlagsBuchhandlung, 1960. V. 2.
DILLON, J.; GERGEL, T. L. The greek sophists. London: Penguin, 2003.
DUESO, J. S. (Ed.) Protagoras de Abdera. Dissoi logoi: textos relativistas. Madrid: Akal,
1995.
DUPREL, E. Les sophistes: Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias. Neuchtel: ditions
du Griffon, 1980.
GAGARIN, M.; WOODRUFF, P. Early Greek political thought from Homer to the sophists.
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995.
GANTUIA, E. et al. Introduccin a la lexicografa griega. Madrid: Instituto Antonio de
Nebrija, 1977.
GOMPERZ, H. Sophistik und Rhetorik: das Bildungs ideal des eu legein in seinem
Verhaltniss zur Philosophie des 5. Jahrhundert. Stuttgart: Teubner, 1965 (1912).
KERFERD, G. B. O movimento sofista. So Paulo: Loyola, 1990.
KNEALE, W.; KNEALE, M. O desenvolvimento da lgica. Lisboa: Fundao Calouste
Gulbenkian, 1972.
KRANZ, W. Vorsokratisches IV: die sogennanten Disso lgoi. In: CLASSEN, C. J. (Org.).
Sophistik. Darmstadt: Wiss Buch, 1976.
LEVI, A. J. On two-fold statements. American Journal of Philology, n.61, p. 292-306, 1940.
MAZZARINO, S. Il pensiero storico classico I. Bari: Laterza, 1966.
MITTMAN, A.; RIBEIRO, L. F. B.; TARGA D. C. Discursos duplos: traduo. 2008.
Submetido a publicao.
PLATO. Crtilo. Traduo de Carlos Alberto Nunes. Belm: Universidade Federal do
Par, 1980.
______. Protagoras. Traduo Stanley Lombardo and Karen Bell. In: COOPER, J. M.
(Ed.). Plato: complete works. Indianapolis; Cambridge: Hackett, 1997. p. 746-790.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017 287
PREZOTTO, J. M.
PLATN. Gorgias. Traduo de J. Colange Ruiz. In: ______. Dilogos II. Madrid: Gredos,
1999. p. 9-145.
POHLENZ, M. Aus Platos werdezeit. Berlin: 1913.
RAMAGE, E. S. An early trace of socratic dialogue. American Journal of Philology, v. 82, n.
4, p. 418-424, oct.1961.
ROBINSON, T. M. Contrasting arguments: an edition of the dissoi logoi. New York: Arno,
1979.
ROSSETTI, L. La certitude subjective inbranlable. In: CASSIN, B. (Ed.) Positions de la
sophistique. Paris: J. Vrin, 1986.
ROSTAGNI, A. Un nuovo capitolo della retrica e della sofistica. Studi Italiani di Filologia
Clssica, Florena, n. 2, p. 148-201, 1922.
SOLMSEN, F. Intellectual experiments of the greek enlightenment. Princeton: Princeton
University Press, 1975.
SOUSA, A. A. A.; PINTO, M. J. V. Sofistas: testemunhos e fragmentos. Lisboa: Imprensa
Nacional; Casa da Moeda, 2005.
SNELL, B. A cultura grega e as origens do pensamento europeu. So Paulo: Perspectiva, 2001.
SPRAGUE, R. K. Dissoi logoi or dialexeis: two-fold arguments. Mind, v. 77, n.306, p.
155-167, apr. 1968.
TAYLOR, A. E. Varia socratica: First Series. Oxford: James Parker & Co., 1911.
TRIEBER, C. Die Dialkseis. Hermes, n. 27, p. 210-248, 1892.
UNTERSTEINER, M. Sofisti: testimonianze e frammenti III. Florencia: La Nuova Italia,
1961.
______. I Sofisti. Milano: Bruno Mondadori, 1996.
WOODBURY, L. Parmenides on Names. In: ANTON, J.P.; KUSTAS, G.L. (Ed.). Essays
in ancient greek philosophy. New York: New York Press, 1958. p. 145-160.
YATES, F. The art of memory. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Recebido em 10/06/2016
Aceito em 17/12/2016
288 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 253-288, Jan./Mar., 2017
Normas para apresentao de originais
NORMAS PARA APRESENTAO
DOS ORIGINAIS
1) Originalidade (sem dados que identifiquem o autor), via ho-
Trans/Form/Ao publica textos originais na mepage da revista, em verso do Word (.doc) ou
forma de artigos, alm de entrevistas, tradues formato RTF (.rtf ). So aceitos trabalhos redi-
de ensaios filosficos de reconhecida relevncia, gidos em portugus, espanhol, italiano, francs
e resenhas de obras filosficas. O autor, ensas- e ingls, e editados com fonte Time News Ro-
ta, resenhista ou tradutor que publicar na revis- man, tamanho 12, espaamento 1,5 e extenso
ta precisa aguardar dois anos, isto , seis fasccu- mdia de 20 pginas. O texto deve observar a
los, para poder apresentar uma nova proposta. seguinte seqncia: ttulo, resumo (mnimo de
100 e mximo de 200 palavras), palavras-chave
2) Tema (mximo de cinco itens), texto, agradecimen-
Os temas tratados devem ser da rea de Filo- tos (quando houver), abstract (verso para o
sofia ou ter uma abordagem filosfica inter- ingls do resumo), keywords (traduo para o
disciplinar, os quais podem ser resultados de ingls das palavras-chave) e bibliografia (de re-
pesquisa ou ter carter meramente informativo. ferncia quando trabalhos citados no texto, e,
As tradues precisam ser de textos clssicos de opcionalmente, de apoio as obras consultadas
Filosofia e as resenhas de livros publicados, h ou recomendadas, mas no referenciadas no
menos de dois anos. texto). O resumo e as palavras-chave que prece-
dem o texto devem estar no idioma do texto. O
3) Parecer abstract (resumo) e keywords (palavras-chave),
O manuscrito, seja no formato de artigo, seja aps o texto, devem estar em ingls ou em por-
traduo de algum texto filosfico ou ainda tugus quando o texto for editado em ingls.
resenha de livros filosficos, submetido ao As notas devem aparecer no rodap da pgina
exame cego de dois pareceristas. Este pro- e as referncias bibliogrficas no final do traba-
cedimento apenas no tomado para com os lho. Os trabalhos j no formato de avaliao
ensaios dos nmeros temticos, quando o(a) cega sero direcionados para um avaliador da
autor(a), de notrio conhecimento e produ- rea de Filosofia, que comumente ser o editor
o em relao ao tema, convidado pelo(a) ou eventualmente algum membro do Conselho
editor(a) da revista a escrever o texto. Os pare- Editorial, a fim de checar a pertinncia de sua
ceristas so, preferencialmente, professores vin- possvel publicao na Trans/Form/Ao, bem
culados a Programas de Ps-graduao em Filo- como a adequao de seu formato, para pos-
sofia. As modificaes e/ou correes sugeridas teriormente ser encaminhado aos pareceristas.
pelos pareceristas quanto redao (clareza do
texto, gramtica ou novas normas ortogrficas), 5) Preparao dos originais
ou em relao ao contedo das contribuies Referncias: devem ser dispostas em ordem
so repassadas aos respectivos autores, que tero alfabtica pelo sobrenome do primeiro autor
um prazo delimitado para efetuarem as altera- e seguir a norma NBR 6023/2002 da ABNT.
es requeridas. Os ttulos de peridicos devero ser escritos por
extenso, conforme especificao a seguir.
4) Informaes gerais
Os manuscritos submetidos para publicao a) Livros e outras monografias
devem ser encaminhados on-line pela platafor- CHAU, Marilena. A nervura do real. So Pau-
mado SEER, j no formato de avaliao cega lo: Companhia das Letras, 1999.
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 289-292, Jan./Mar., 2017 289
b) Captulos de livros no p das pginas. As remisses para o rodap
- quando a autoria do captulo for a mesma do devem ser feitas por nmeros consecutivos, na
livro no todo: entrelinha superior.
MOURA, Carlos A. R. de. Hobbes, Locke e
a medida do direito. In: ______.Racionalidade g) Anexos e/ou Apndices
e crise. So Paulo: Discurso Editorial, 2001.p. Devem ser includos apenas quando imprescin-
43-61. dveis compreenso do texto.
- quando a autoria do captulo for diferente do h) Autoria
livro no todo: Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos,
ARRUDA, Antonio T. M. Determinismo, bem como a exatido das referncias biblio-
responsabilidade e sentimentos morais. In: grficas, so de inteira responsabilidade dos
GONZALEZ, Maria E. Q.; BROENS, Maria- autores. Os trabalhos que no se enquadram
na C.; MARTINS, Cllia A. (Org.). Informa- nas normas acima sero devolvidos aos auto-
o, conhecimento e ao tica. Marlia: Oficina res indicando as adaptaes a serem realizadas.
Universitria; So Paulo: Cultura Acadmica, Os arquivos devem ser encaminhados necessa-
2012. p. 21-36. riamente atravs da homepage da revista. Toda
identificao e dados do autor sero obtidos via
c) Dissertaes e teses cadastro no sistema, e no pelo texto. O pre-
FORTES, Luiz R. S. Rousseau da teoria prti- enchimento incorreto de dados, assim a ausn-
ca. 1973. 157 f. Tese cia dos mesmos e eventuais problemas em seu
(Doutorado em Filosofia) Faculdade de Filo- cadastro, pode invalidar sua submisso. im-
sofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade portante frisar que a revista no tem a tradio
de So Paulo, So Paulo, 1973. de aceitar trabalhos de estudantes, geralmente
negando textos enviados por no doutores,
d) Artigos de peridicos porm, reserva-se o direito de exceo se assim
WERLE, Marco A. A angstia, o nada e a mor- julgar razovel.
te em Heidegger. Trans/Form/Ao, Marlia,
v.26, n.1, p.97-113, 2003.
Formas de acesso on-line:
e) Citao no texto Homepage:
Em citao indireta o autor deve ser citado http://www.scielo.br/trans
entre parnteses, pelo sobrenome, separado http://www.marilia.unesp.br/revistas/transfor-
por vrgula da data da publicao e nova vr- macao/index.php
gula para o nmero de pgina precedido de http://www.unesp.br/prope/revcientifica/indi-
p. (MOURA, 2001, p. 55). Quando no for ce.php
necessrio especificar pgina, basta exclu-la
(SOUZA, 2002). Em citao direta, indica-se E-mail da revista:
apenas a data entre parnteses: Moura (2001) transformao@marilia.unesp.br
assinala....
As citaes de diversas obras do mesmo autor e E-mail do editor da revista:
com mesma data devem ser discriminadas aps paulo.rodrigues@marilia.unesp.br
a data, sem espaamento, por letras minsculas,
obedecendo a ordem alfabtica (MRQUES, Endereo:
2003a), (MRQUES, 2003b). Departamento de Filosofia/Programa de Ps-
Quando a obra tiver dois autores, ambos so -graduao em Filosofia
indicados, ligados por ;(BROENS; GON- Faculdade de Filosofia e Cincias
ZLES, 2005), e quando tiver trs ou mais, UNESP Campus de Marlia
indica-se o primeiro seguido de et al. (HASE- Av. HyginoMuzzi Filho, 737 Cidade Univer-
LAGER et al, 1999). sitria
17525-900 Marlia SP.
f)
Notas
Devem ser reduzidas ao mnimo e colocadas
290 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 289-292, Jan./Mar., 2017
Normas para apresentao de originais
SUBMISSION GUIDELINES
The journal TRANS/FORM/AO publishes nally, backing references, i.e., works consulted
original articles in form of regular essays, trans- or recommended but not quoted in the main
lations, reviews and interviews. The writer who text). The abstract and keywords, which come
publishes paper at this journal must wait at least before the main text, must bein the original
four numbers (two years) to submit another ap- language. They are also to be translated into
preciation. English and included after the main text, or
presented in Portuguese after the main text
Theme when the original manuscript is submitted in
The themes dealt with must pertain to the field English. Remarks should be included in foo-
of philosophy or present a philosophical appro- tnotes and the bibliographical references (Bi-
ach. They may derive from research work or be bliography) at the end ofthe main text.
informative in nature. Translations must be of The manuscripts already in blind mode will
philosophical classical texts. Reviews, only of be evaluated by a peer of equal to or higher
books published for less than two years. academic level than that of the author. The
evaluator may or may not be a referee.
Reviews from Referees
Referees are preferably professors of Postgra- Manuscript Preparation
duate Programs of Philosophy. Modifications References: They must beorganized in alpha-
and/or corrections suggested by the referees betical order of the first authors last name
regarding the manuscript (concerning the com- and follow the ABNT (number 6023/2002)
prehension of the text or grammar issues) or the guidelines. The titles of periodicals must be
content of its contributions shall be forwarded written in full.
to the respective authors, who will be allowed a
short period of time to make the proposed mo- Books and other monographs
difications. CHAUI, Marilena. A nervura do real. So
Paulo:Companhia das Letras, 1999.
General information
Works submitted for publication must be sent Book chapters
on-line using the homepage of Trans/Form/ - When authorship of the chapter is the same
Ao, preferably in blind mode (lacking any of the whole book:
data which could identify the author, these in- MOURA, Carlos A. R. de. Hobbes, Locke e a
formation should be available in the system in medida do direito. In: ______.Racionalidade
order to submit the article, but not in the text), e crise. So Paulo: Discurso Editorial, 2001.p.
and as Word (.doc) or RTF (.rtf ) files. Papers 43-61.
are accepted in Portuguese, Spanish, French, En-
glish or Italian. The text must be in font Times - When the authorship of the chapter is differ-
New Roman 12 - points size, with 1.5 spacing, ent of the whole book:
and average length of 20 pages. ARRUDA, Antonio T. M. Determinismo,
The following sequence should be observed: Ti- responsabilidade e sentimentos morais. In:
tle, abstract (minimum of 100 and maximum of GONZALEZ, Maria E. Q.; BROENS, Ma-
250 words), keywords (maximum of five terms), riana C.; MARTINS, Cllia A. (Org.). In-
main text, acknowledgements (whenever desi- formao, conhecimento e ao tica. Marlia:
red), abstract translated into English, keywords Oficina Universitria; So Paulo: Cultura Aca-
translated into English, and bibliography (refe- dmica, 2012. p. 21-36.
rence papers cited in the main text and, optio-
Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 289-292, Jan./Mar., 2017 291
Dissertations and theses generally accepting only texts from doctors.
FORTES, Luiz R.S. Rousseau da teoria pr- That being said, it is important to mention that
tica,1973. 157 f. Thesis (Doctorate in Philos- the Journal can accept some works outside the-
ophy) Faculty of Philosophy, Literature and se conditions in character of exception, if consi-
Human Sciences, University of So Paulo, So ders it reasonable.
Paulo, 1973.
Articles from journals E-mail (Journal):
LEBRUN, G. La speculation travestie. Trans/ transformacao@marilia.unesp.br
Form/Ao, Marlia, v. 1, p. 49-70, 1974.
Citations in text: In an indirect citation, the E-mail (Editor):
author must be quoted in parentheses by sur- paulo.rodrigues@marilia.unesp.br
name and separated from the year of publica-
tion by a coma; an additional coma is to be Homepage (Trans/Form/Ao):
used before the page number anteceded by p. http://www.marilia.unesp.br/revistas/transfor-
(e.g.MOURA, 2001, p.55). Whenever the page macao/index.php
number is irrelevant it should be excluded (e.g. Faculdade de Filosofia e Cincias da Unesp,
Souza, 2002). In a direct citation, only the year campus de Marlia
is placed in parentheses: Moura (2001) points Av. Hygino Muzzi Filho, 737 - Cidade Univer-
out.... Several works of the same author in sitria
the same year are to be differentiated by small 17525-900 - Marlia/SP - Brasil
letters added after the year without spacing
(Mrques, 2003a), (Mrques, 2003b). In works
with two authors, both names are separated by;
(BROENS; GONZLES, 2005). In the case of
three or more authors, the form et al. is used
after first authors name (HASELAGER et al.,
1999). Notes: must be reduced to a minimum
and placed in footnotes. Footnote cross-refe-
rences should be designated with consecutive
numbers in the upperline spacing.
Annexes and/or supplements: should be inclu-
ded only when vital for the understanding of
the text.
Authorship
The data and concepts presented in the works
as well as the preciseness of bibliographical cita-
tions are the entire responsibility of the authors.
Manuscripts that do not follow to the previou-
sly mentioned guidelines will return to the
authors with comments on the required alte-
rations.
Sending of manuscripts
The proposals of essays, translations and reviews
for publication must be sent on-line using the
official homepage. The author must inform all
pertinent information requested in the system
(Institution, affiliation, address, telephone, e-
-mail). Lacking of any relevant information on
the system may invalidate your submission. It is
important to let it clear that Trans/Form/Ao
doesnt publish texts from graduate students,
292 Trans/Form/Ao, Marlia, v. 40, n. 1, p. 289-292, Jan./Mar., 2017
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Labeditorial,+Transformacao, V.43,+n.1,+2020+ +00+ +completo Corrigido+1+CompletoDokument313 SeitenLabeditorial,+Transformacao, V.43,+n.1,+2020+ +00+ +completo Corrigido+1+CompletoPedro OrlandaNoch keine Bewertungen
- Transformacao,V.44,+n.2,+2021+ +00+ +CompletoDokument388 SeitenTransformacao,V.44,+n.2,+2021+ +00+ +Completojonatas.2021803062Noch keine Bewertungen
- Filosofias do Sul entre África e América LatinaDokument468 SeitenFilosofias do Sul entre África e América LatinaFábio RibeiroNoch keine Bewertungen
- Transformacao, V 45,+n 4,+2022+-+00+-+completaDokument276 SeitenTransformacao, V 45,+n 4,+2022+-+00+-+completaSavina Priscila Rodrigues PessoaNoch keine Bewertungen
- Revista UNESP de ExtensãoDokument18 SeitenRevista UNESP de ExtensãoPaula CalilNoch keine Bewertungen
- 265 73 PB PDFDokument193 Seiten265 73 PB PDFEudenia MagalhãesNoch keine Bewertungen
- Kant e A Concepção Do Homem Como "Cidadão de Dois Mundos" REVISTA-EMPÓRIO-V.04-2012Dokument70 SeitenKant e A Concepção Do Homem Como "Cidadão de Dois Mundos" REVISTA-EMPÓRIO-V.04-2012Luciano Carlos UtteichNoch keine Bewertungen
- Discurso e Web As Múltiplas Faces Do FacebookDokument314 SeitenDiscurso e Web As Múltiplas Faces Do FacebookLuisaNoch keine Bewertungen
- Unid 1Dokument45 SeitenUnid 1Johnny DantasNoch keine Bewertungen
- Ebook Afeto & ComumDokument371 SeitenEbook Afeto & ComumgabrielaNoch keine Bewertungen
- O Duplo Nas Visoes de Mundo Do Pos-Morte PDFDokument206 SeitenO Duplo Nas Visoes de Mundo Do Pos-Morte PDFAnna TuttoilmondoNoch keine Bewertungen
- Cadernos de Ética e BiopolíticaDokument282 SeitenCadernos de Ética e Biopolíticasoane ruasNoch keine Bewertungen
- Aletheia Ed 41Dokument215 SeitenAletheia Ed 41Laura Decurgez SiciliaNoch keine Bewertungen
- Heidegger PDFDokument278 SeitenHeidegger PDFsousawfabioNoch keine Bewertungen
- ENFA & ENIF 2020Dokument132 SeitenENFA & ENIF 2020Mariane FariasNoch keine Bewertungen
- Unid 1Dokument48 SeitenUnid 1Leonardo BarrosNoch keine Bewertungen
- Emoções e ÉticaDokument438 SeitenEmoções e ÉticaRenata C. L. Andrade100% (3)
- Abstrats Filsofical Analytic BrasilDokument128 SeitenAbstrats Filsofical Analytic BrasilLuiz S.Noch keine Bewertungen
- Livro-Texto - Unidade I METODOLOGIA DE ARTE E MOVIMENTO CORPOREIDADEDokument50 SeitenLivro-Texto - Unidade I METODOLOGIA DE ARTE E MOVIMENTO CORPOREIDADEJacqueline Tavares100% (2)
- Sade, Volume Dedicado A. Cadernos de Ética e Filosofia Política PDFDokument257 SeitenSade, Volume Dedicado A. Cadernos de Ética e Filosofia Política PDFTarcisio GreggioNoch keine Bewertungen
- Revista Asephallus 11 PDFDokument240 SeitenRevista Asephallus 11 PDFAlexandre PsiNoch keine Bewertungen
- Livro Texto - Unidade I AristótelesDokument46 SeitenLivro Texto - Unidade I AristótelesNando BonfimNoch keine Bewertungen
- Livro Pensar em Movimento Pensadores Americanos para A Sala de AulaDokument52 SeitenLivro Pensar em Movimento Pensadores Americanos para A Sala de AulaMaga MendesNoch keine Bewertungen
- Lousada & Rocha (Orgs) - 2018 - Gêneros Textuais No EnsinoDokument306 SeitenLousada & Rocha (Orgs) - 2018 - Gêneros Textuais No EnsinoPauliane Godoy100% (3)
- Anais Do Segundo Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia Da UFPA - 2013Dokument230 SeitenAnais Do Segundo Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia Da UFPA - 2013Anderson CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Interpretando A EtnografiaVvisual - Versão Completa - Carlos ReynaDokument291 SeitenInterpretando A EtnografiaVvisual - Versão Completa - Carlos ReynaCarlos ReynaNoch keine Bewertungen
- Sociologia e Antropologia UFRJDokument286 SeitenSociologia e Antropologia UFRJJader gonçalvesNoch keine Bewertungen
- Livro Texto - Unidade IDokument39 SeitenLivro Texto - Unidade ICharles TeixeiraNoch keine Bewertungen
- Ebook Educacao Multiplas Linguagens e Estudos Contemporaneos. Vol. 2Dokument442 SeitenEbook Educacao Multiplas Linguagens e Estudos Contemporaneos. Vol. 2Luzia Araujo100% (1)
- Filosofia Da Religião - Livro-Texto - Unidades I, II e IIIDokument206 SeitenFilosofia Da Religião - Livro-Texto - Unidades I, II e IIIThiago NorbimNoch keine Bewertungen
- Livro Texto Filosofia Da Religião IDokument75 SeitenLivro Texto Filosofia Da Religião ILucas MeloNoch keine Bewertungen
- BAKHTIN REVSITA ALEPHDokument278 SeitenBAKHTIN REVSITA ALEPHérika KohleNoch keine Bewertungen
- Saberes Interdisc v1Dokument137 SeitenSaberes Interdisc v1Paulo PintoNoch keine Bewertungen
- Anais Do I Coloquio Internacional de EpiDokument702 SeitenAnais Do I Coloquio Internacional de EpiJaqueline MolonNoch keine Bewertungen
- Ivo Assad Ibri - Semiótica e Pragmatismo - Interfaces TeóricasDokument265 SeitenIvo Assad Ibri - Semiótica e Pragmatismo - Interfaces TeóricasOtávioNoch keine Bewertungen
- Revista analisa imigração em diversas perspectivasDokument256 SeitenRevista analisa imigração em diversas perspectivasAlex da Costa SilvaNoch keine Bewertungen
- Caderno de resumosEstudosMedievaisDokument44 SeitenCaderno de resumosEstudosMedievaisJuan Pablo Martín100% (1)
- 1 PBDokument8 Seiten1 PBWendel CintraNoch keine Bewertungen
- Revista Anansi 1Dokument231 SeitenRevista Anansi 1João RochaNoch keine Bewertungen
- Calendario AmbientalDokument329 SeitenCalendario AmbientalSusan Marcos BernalNoch keine Bewertungen
- Antropologia - Desafios ContemporâneosDokument106 SeitenAntropologia - Desafios ContemporâneosMarcos Alexandre SalesNoch keine Bewertungen
- Livro-Texto - Unidade I PDFDokument66 SeitenLivro-Texto - Unidade I PDFJonathan LopesNoch keine Bewertungen
- Psicologia Social - Aspectos Teóricos, Metodológicos e PráticosDokument292 SeitenPsicologia Social - Aspectos Teóricos, Metodológicos e PráticosCarmen Gonçalves100% (3)
- Historia e Perspectiva Thompsom COMPLETADokument444 SeitenHistoria e Perspectiva Thompsom COMPLETADouglas FáveroNoch keine Bewertungen
- Homero Santiago LDDokument143 SeitenHomero Santiago LDRenata OlliverNoch keine Bewertungen
- Congresso Construir Caminhos Ensinar AprenderDokument30 SeitenCongresso Construir Caminhos Ensinar AprenderDeyve RedysonNoch keine Bewertungen
- Anais Congresso Feno2013Dokument187 SeitenAnais Congresso Feno2013Leandro Ranieri100% (1)
- Slides História Da Filosofia UnipDokument112 SeitenSlides História Da Filosofia UnipRobertoCarlosFernandesdeOliveiraNoch keine Bewertungen
- Anais I Cong Intern Pessoa Comunidade 2014 PDFDokument849 SeitenAnais I Cong Intern Pessoa Comunidade 2014 PDFGutojasbSantyDúBóisNoch keine Bewertungen
- Anais Congresso 2015Dokument500 SeitenAnais Congresso 2015Geovania AlmeidaNoch keine Bewertungen
- Unidade IDokument62 SeitenUnidade IapzandonadiNoch keine Bewertungen
- Livro-Texto - Unidade IDokument71 SeitenLivro-Texto - Unidade IMaria Clara MoraesNoch keine Bewertungen
- Ensino de língua portuguesa e tecnologiasDokument291 SeitenEnsino de língua portuguesa e tecnologiasPatrícia Simone GrandoNoch keine Bewertungen
- Crime - Loucura Sergio Carrara PDFDokument230 SeitenCrime - Loucura Sergio Carrara PDFLeandro Inácio WalterNoch keine Bewertungen
- Foucault e o ethos críticoDokument305 SeitenFoucault e o ethos críticofstranger8105Noch keine Bewertungen
- Psicologia do esporte, desenvolvimento humano e tecnologias: o que e como estudarVon EverandPsicologia do esporte, desenvolvimento humano e tecnologias: o que e como estudarNoch keine Bewertungen
- EMANCIPAÇÃO DA VIDA E BARBÁRIE NO CONTEXTO AMBIENTALVon EverandEMANCIPAÇÃO DA VIDA E BARBÁRIE NO CONTEXTO AMBIENTALNoch keine Bewertungen
- Alice Alves RezendeDokument1 SeiteAlice Alves RezendeeudumalNoch keine Bewertungen
- 48 D 206Dokument296 Seiten48 D 206Vagner Boni100% (3)
- Débora (27.05.18)Dokument1 SeiteDébora (27.05.18)eudumalNoch keine Bewertungen
- ArizinhoDokument20 SeitenArizinhoeudumalNoch keine Bewertungen
- ParenteDokument2 SeitenParenteeudumalNoch keine Bewertungen
- Revistadramatica PDFDokument53 SeitenRevistadramatica PDFeudumalNoch keine Bewertungen
- 2019 (ANUAL) URA Espanhol 1 Rodolfo Bocardo Palis Técnico em Administração Integrado Ao EM (1º Ano - Turma D) (1º Período) Aluno DataDokument2 Seiten2019 (ANUAL) URA Espanhol 1 Rodolfo Bocardo Palis Técnico em Administração Integrado Ao EM (1º Ano - Turma D) (1º Período) Aluno DataeudumalNoch keine Bewertungen
- TCC Joao Gabriel Da Costa - A NATUREZA ENQUANTO COOPERAÇÃO - O Lugar de Kropotkin Na Biologia EvolutivaDokument53 SeitenTCC Joao Gabriel Da Costa - A NATUREZA ENQUANTO COOPERAÇÃO - O Lugar de Kropotkin Na Biologia EvolutivaeudumalNoch keine Bewertungen
- Hegel - Principios Da Filosofia Do DireitoDokument249 SeitenHegel - Principios Da Filosofia Do DireitoThiago LuísNoch keine Bewertungen
- Em Defesa Da Associação Brasileira de FilosofiaDokument1 SeiteEm Defesa Da Associação Brasileira de FilosofiaeudumalNoch keine Bewertungen
- Program PósDokument2 SeitenProgram PóseudumalNoch keine Bewertungen
- Documento para Baixar Coisas No ScribdDokument1 SeiteDocumento para Baixar Coisas No ScribdeudumalNoch keine Bewertungen
- HUME (Trechos)Dokument2 SeitenHUME (Trechos)eudumalNoch keine Bewertungen
- ParenteDokument2 SeitenParenteeudumalNoch keine Bewertungen
- MestraadoDokument14 SeitenMestraadoRicael Spirandeli RochaNoch keine Bewertungen
- Relatório Final (DH) CompletoDokument34 SeitenRelatório Final (DH) CompletoeudumalNoch keine Bewertungen
- LM - A Arte de EnsinarDokument14 SeitenLM - A Arte de EnsinareudumalNoch keine Bewertungen
- Calendario 2019 PDFDokument12 SeitenCalendario 2019 PDFeudumalNoch keine Bewertungen
- LM - Justiça e Força em TrasímacoDokument22 SeitenLM - Justiça e Força em TrasímacoeudumalNoch keine Bewertungen
- O mito do andrógino e a busca pela unidade do ser humanoDokument12 SeitenO mito do andrógino e a busca pela unidade do ser humanoeudumalNoch keine Bewertungen
- LM - Justiça e Força em TrasímacoDokument22 SeitenLM - Justiça e Força em TrasímacoeudumalNoch keine Bewertungen
- Verbete Estado Contemporaneo PDFDokument7 SeitenVerbete Estado Contemporaneo PDFPatricia SouzaNoch keine Bewertungen
- AUAUAUDokument1 SeiteAUAUAURafaelNoch keine Bewertungen
- LM - Justiça e Força em TrasímacoDokument22 SeitenLM - Justiça e Força em TrasímacoeudumalNoch keine Bewertungen
- Prova de Física - Instituto Federal de Educação do Triângulo MineiroDokument2 SeitenProva de Física - Instituto Federal de Educação do Triângulo MineiroeudumalNoch keine Bewertungen
- Jacques BidetDokument2 SeitenJacques BideteudumalNoch keine Bewertungen
- Relatorio Plano EnsinoDokument3 SeitenRelatorio Plano EnsinoeudumalNoch keine Bewertungen
- Leviathan - IntroduçãoDokument1 SeiteLeviathan - IntroduçãoeudumalNoch keine Bewertungen
- RelatórioDokument1 SeiteRelatórioeudumalNoch keine Bewertungen
- Artigoexemplo BRDokument6 SeitenArtigoexemplo BReudumalNoch keine Bewertungen
- A Indução Na Filosofia - Lógica E Psicologia em Hume E A Crítica de PopperDokument6 SeitenA Indução Na Filosofia - Lógica E Psicologia em Hume E A Crítica de PopperJoão Paulo SilveiraNoch keine Bewertungen
- Formas de Produzir Conhecimento CientíficoDokument2 SeitenFormas de Produzir Conhecimento CientíficoGustavo MoraesNoch keine Bewertungen
- Paradigma MecanicistaDokument6 SeitenParadigma MecanicistaGustavo GutoNoch keine Bewertungen
- Cartografia de controvérsias em estudos de administraçãoDokument7 SeitenCartografia de controvérsias em estudos de administraçãoRegina Helena Alves SilvaNoch keine Bewertungen
- Senso ComumDokument21 SeitenSenso ComumNayaraRégisFranzNoch keine Bewertungen
- Resumos do XIV Simpósio Internacional de Cognição e Artes MusicaisDokument121 SeitenResumos do XIV Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicaisbill billNoch keine Bewertungen
- Apostila de Metodologia Científica - TCCDokument26 SeitenApostila de Metodologia Científica - TCCRegina HelenaNoch keine Bewertungen
- Pistas Do Método Da Cartografia 2Dokument14 SeitenPistas Do Método Da Cartografia 2Malu Magalhães SanchesNoch keine Bewertungen
- Manual de Investigacao em Ciencias Sociais CompletoDokument164 SeitenManual de Investigacao em Ciencias Sociais CompletoRita De Cassia Da Silveira Cordeiro50% (2)
- Tipos de Pesquisa Científica PDFDokument16 SeitenTipos de Pesquisa Científica PDFEmerson C S FerrasiNoch keine Bewertungen
- Nem Tudo É Relativo - Hilton JapiassuDokument63 SeitenNem Tudo É Relativo - Hilton Japiassunelson_santos3779100% (1)
- Hume vs Descartes teorias conhecimentoDokument2 SeitenHume vs Descartes teorias conhecimentoaluzsoares50% (2)
- GTC - Fichamento 1 - Marcelo CunhaDokument7 SeitenGTC - Fichamento 1 - Marcelo Cunhamscunha2009Noch keine Bewertungen
- Metodologia da pesquisa científicaDokument26 SeitenMetodologia da pesquisa científicaDiego OliveiraNoch keine Bewertungen
- SEMANA PEDAGÓGICA: INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA ORIENTADORES DE TCCDokument50 SeitenSEMANA PEDAGÓGICA: INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA ORIENTADORES DE TCCErica Andreia Cortez MonteiroNoch keine Bewertungen
- Inatismo vs Empirismo: teorias sobre a origem do conhecimentoDokument5 SeitenInatismo vs Empirismo: teorias sobre a origem do conhecimentoLucasNoch keine Bewertungen
- Artigo Gerard Fourez in Memoriam PDFDokument8 SeitenArtigo Gerard Fourez in Memoriam PDFAfonso VieiraNoch keine Bewertungen
- Resumo Metodologia Pesquisa CientíficaDokument5 SeitenResumo Metodologia Pesquisa CientíficaRoger Mascarenhas100% (1)
- Para Todos Os CursosDokument48 SeitenPara Todos Os CursosMaknetNoch keine Bewertungen
- Artigos científicos: estrutura e tiposDokument5 SeitenArtigos científicos: estrutura e tiposjosias33Noch keine Bewertungen
- Conhecimento Científico x Senso ComumDokument18 SeitenConhecimento Científico x Senso ComumdanimarqNoch keine Bewertungen
- Convergência Vygotsky PiagetDokument6 SeitenConvergência Vygotsky Piagetapi-26019392Noch keine Bewertungen
- Manual Revisao.Dokument63 SeitenManual Revisao.Janaiana UchoaNoch keine Bewertungen
- A HIPÓTESE E A EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Na EducaçãoDokument21 SeitenA HIPÓTESE E A EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Na EducaçãoWil BilNoch keine Bewertungen
- Estudo de CasoDokument6 SeitenEstudo de CasoMateus VieiraNoch keine Bewertungen
- Teoria e Prática Ergonômica - Seus Limites e PossibilidadesDokument10 SeitenTeoria e Prática Ergonômica - Seus Limites e PossibilidadesEletronicArticleNoch keine Bewertungen
- TPC Bases Epistemológicas Da PsicologiaDokument4 SeitenTPC Bases Epistemológicas Da PsicologiaEusebio Bernardo FortunatoNoch keine Bewertungen
- Pesquisa Científica: Métodos e EtapasDokument130 SeitenPesquisa Científica: Métodos e EtapasFlávio DutraNoch keine Bewertungen
- Como escrever uma monografia: guia passo a passo para elaboração de trabalhos acadêmicosDokument74 SeitenComo escrever uma monografia: guia passo a passo para elaboração de trabalhos acadêmicosDayane SoaresNoch keine Bewertungen
- MIC-Metodologias de Investigação CientíficaDokument110 SeitenMIC-Metodologias de Investigação CientíficaHelena Caldeira Franco GomesNoch keine Bewertungen