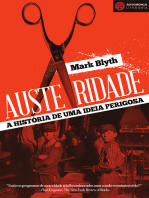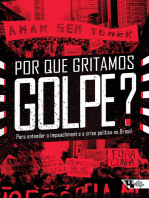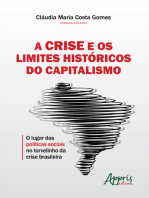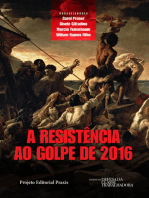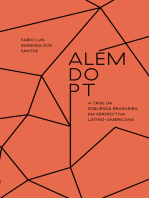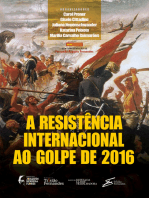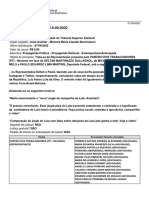Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Resenha Do Livro Anatomia de Um Desastre
Hochgeladen von
RenataRamosOriginalbeschreibung:
Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Resenha Do Livro Anatomia de Um Desastre
Hochgeladen von
RenataRamosCopyright:
Verfügbare Formate
SAFATLE, Cláudia; BORGES, João e OLIVEIRA, Ribamar.
Anatomia de um
desastre: os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão de
sua história. São Paulo: Portfolio Penguin, 2016.
A CEGUEIRA ILUSTRADA
“O leitor nunca mais olhará a presidente afastada do mesmo modo.
Tampouco o Brasil”, alerta-nos o editor da indispensável obra Anatomia de um desastre:
os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão de sua história,
de Cláudia Safatle, João Borges e Ribamar Oliveira, recém-lançada pela Porfolio
Penguin. Eis aí o texto obrigatório para o estudo da ascensão e do declínio da epopeia
petista, e para a compreensão da terra arrasada causada por suas aventuras
megalomaníacas.
No país em que o fim da verdade há muito foi decretado por toda sorte de
especialistas engajados, a obra se destaca pelo profundo compromisso com os fatos.
Armínio Fraga, em excelente prefácio, manifesta generosa ironia ao anunciar o impacto
do relato sobre a vida intelectual do leitor, e sobre o debate público nacional: “se o texto
que vem a seguir em algum momento lhe parecer ficção, a culpa é dos fatos, não dos
autores, três dos mais renomados jornalistas do país” (p. 13).
O livro de 325 páginas encontra-se dividido em 21 capítulos habilmente
amarrados por uma narrativa envolvente e fluida, amparada na pesquisa arquivística de
jornalistas sofisticados. Ribamar Oliveira, grande especialista em temas fiscais do país,
consolida, de modo decisivo, a reputação que desfruta no cenário jornalístico ao cunhar o
termo mais pronunciada no debate público dos últimos anos: as famosas pedaladas
fiscais. Por sua vez, a articulista do Valor Econômico, Cláudia Safatle, concede ao leitor
importantes memórias, a exemplo da entrevista de Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da
Casa Civil em meados de 2013: “os empresários pediram câmbio, redução de tarifa de
energia, corte de juros. Tudo que eles pediram o governo deu, mas eles não fizeram nada,
não investiram” (p. 102).
De modo inadvertido, Gleisi Hoffmann confirmou o sequestro absoluto do
Estado em benefício de burocratas inescrupulosos, e de “empresários” criados e
manutenidos por toda espécie de favor estatal. O Estado de Direito, na qualidade de
medula da Grande Sociedade, aprofundou suas deformações nos últimos 13 anos. Com
efeito, a ausência de isonomia, confiança e previsibilidade acentuou o hospício
patrimonialista que é o quadro institucional do país, conduzido por arbitrariedades e
autoritarismos de Marias Antonietas desgovernadas. Nas palavras de um assessor da área
econômica à época do governo do PT, a respeito das desonerações fiscais arbitrárias: “A
romaria de empresários ao Ministério da Fazenda para pedir inclusão de seu setor na lista
dos beneficiados com a medida continuou nos meses seguintes. Não havia critérios para a
decisão. ‘Quem pedia levava’” (p. 197).
O quadro A parábola dos cegos, do pintor Pieter Bruegel, retrata um estado
de carnificina moldado desde a cegueira literal. A metáfora da cegueira é frequente na
Filosofia e na Literatura no sentido de fazer remissão à barbárie oportunizada pela
ausência de um olhar inteligente, e também sensível, sobre a realidade. Certa
intelligentsia visualiza no senso comum a cegueira essencial. O não esclarecimento
engajado do senso comum jamais foi tolerado pelos luminares de nossa espécie, e
arquitetar a reforma total da condição humana, pelas mãos de um planejador esclarecido,
e não apenas trabalhar para a clarificação das intuições primitivas do senso comum,
tomá-las como ponto de partida para o exame social maior, é a essência do autoritarismo
coletivista que desumaniza indivíduos em benefício de utopias redentoras. A questão que
remanesce, nesse contexto, é perquirir se os danos causados por eventuais truculências do
senso comum, ou de indivíduos incautos, conseguem suplantar a cegueira ilustrada
quando convicta de que possui a certeza última sobre a condução dos assuntos humanos:
a megalomania arrogante dos que enxergam a sociedade como uma organização
hierarquizada a ser comandada por vontades implacáveis rumo a um propósito único.
No momento em que os engenheiros sociais fracassam em seus planos
mirabolantes, nos deparamos com as mais cruciais indagações de cunho moral: será que
os indivíduos que afirmam “pensar”, realmente pensam? Será que os indivíduos que
dizem “enxergar”, realmente enxergam? Será que o senso comum é apenas um amontado
de células fascistas a ser disciplinado por cérebros privilegiados? Será que mentes
perturbadas e desorganizadas, ao tentarem racionalizar o próprio caos, não causam mais
tumulto à sociedade do que mentes meramente incautas? Será que o novo mundo vendido
desde sedutoras confeitarias ideológicas não é somente mais um castelo de cartas
apartado de qualquer conexão com a verdade dos fatos?
Cláudia Safatle, João Borges e Ribamar Oliveira, na qualidade de bons
Virgílios do jornalismo, nos informam, desde os primeiros capítulos, o modo como a
bomba-relógio que explodiria em 2013 foi armada pelos engenheiros sociais petistas já
no início do governo Lula. Segundo narram, Guido Mantega era contra a política de
elevação da taxa de juros a partir do primeiro mandato de Lula: “pelo que conheço do
Banco Central, acho que ele vai elevar a taxa de juros, que seja em 0,5%, para seguir o
modelinho” (p. 41). Mantega se equivocou ao fazer remissão ao modelo criado por Ilan
Goldfajn, diretor de política econômica. Com efeito, “os modelos do Banco Central, com
base em experiências de outros países, foram desenvolvidos pela diretoria do Banco em
1999, antes da chegada de Ilan”. E continuou Guido Mantega, sem nos permitir inferir se
falava sobre o modelo econométrico, ou sobre si próprio: “Talvez por esse modelinho, a
taxa de juros tenha que subir um pouco. Mas não nos esqueçamos que o modelinho
econométrico é burro”. Na exposição dos Autores: “Foi preciso que o Ilan desse uma aula
ao Mantega para explicar que a política monetária funcionava e que a inflação iria cair”
(p. 41).
A tragédia petista não foi obra exclusiva da crise de 2008, ou mesmo de
mandatos anteriores que “plantavam inflação para colherem juros”, nas palavras de
Dilma Rousseff, mas sim consequência lógica de práticas atrapalhadas que desde o início
do governo Lula lançaram os alicerces intelectuais e morais rumo ao desastre recente.
Consoante apontam os Autores: “A vitória dos desenvolvimentistas sobre os ‘neoliberais’
foi construída ao longo de meses na política monetária, e uma das armas utilizadas por
eles foi envenenar o Palácio do Planalto com a versão de que o Banco Central trabalhava
com uma meta oculta de inflação, abaixo da oficial fixada pelo Conselho Monetário e
chancelada pelo Presidente da República. Portanto, uma espécie de traição, cujo preço era
manter elevada a taxa de juros. A prova desse crime de traição seria a própria inflação,
que em 2006 havia caído para 3,14%, abaixo da meta de 4,5%”. Nas palavras do
charlatão econômico Guido Mantega: “neoliberal tem medo de crescimento” (p. 53).
Armínio Fraga ofereceu um sumário notável da obra, e dos fatos noticiados
no país. Ao prefaciá-la, disse do “crédito eterno a Lula” pela nomeação de Antônio
Palocci para o Ministério da Fazenda. Com Palocci “a inflação foi posta nos trilhos, a
agenda de reformas prosseguiu e, com ajuda de um boom no preço das commodities que
duraria os oito anos de Lula na Presidência o Brasil voltou a crescer” (p. 14). Os trágicos
sinais que Guido Mantega já oferecia desde o início do primeiro mandato de Lula,
tornaram-se fatos arrepiantes quando Dilma Rousseff qualificou de “rudimentar” a
proposta de reordenamento das finanças públicas do país, ao argumento de que “gasto
corrente é vida”. Com o desembarque de Palocci do governo, a era petista iniciou sua
segunda fase marcada por “política econômica intervencionista e pouco transparente,
forte presença do Estado na Economia direta: setores bancário, energético e de petróleo e
indireta: proteção contra a concorrência externa, subsídios e desonerações tributárias” (p.
14-15).
O desastre era flagrante na terceira fase do governo do PT, caracterizada por
inflação acima da meta e perda da disciplina e transparência das contas pública no que
toca à macroeconomia. Na micro, o abismo apenas se aprofundava desde a pirotecnia
nominada Nova Matriz [1]: “queda de quase 10% do PIB per capita em apenas três anos e
aumento de 5 pontos percentuais do desemprego ‘nos anos Dilma o crescimento ficou
cerca de 3% ao ano abaixo da média regional’. O baixo crescimento, juros altos e déficit
primário faz com que a dívida pública cresça bem mais rápido do que o PIB, ‘um
processo perigoso e insustentável’” (p. 15).
O “processo perigoso e insustentável” detectado por Armínio Fraga, também
a partir da leitura do texto de Safatle, Borges e Oliveira, culminou na maior tragédia
econômica desde a década de 30 do século passado, fomentada e aprofundada por toda
espécie de aventureiro político, como Dilma Rousseff, por líderes inescrupulosos como
Lula, e por charlatães econômicos da estirpe de Guido Mantega e Arno Augustin. Os
índices de popularidade de Lula, e sua reeleição, foram possíveis em razão do tripé
macroeconômico, e de reformas microeconômicas, fomentadas ainda sob a presidência de
Fernando Henrique Cardoso, e mantidas pela caneta de Palocci. Em 2006 “a inflação caiu
para seu patamar mais baixo desde o início do regime de metas, ficando em 3,14%, o PIB
cresceu 4%, a taxa básica de juros foi cortada pela metade, com a Selic em 13,25% ao
ano, e o desemprego, embora ainda elevado, caiu para 10%. Na área fiscal, as contas
públicas estavam razoavelmente arrumadas, com superávit primário de 3,15 do PIB em
2016” (p. 44). O cenário profundamente favorável, e a factual queda das desigualdades
econômicas também pelo advento do Bolsa Família, deram fôlego às aventuras
desastradas de Lula, que arrogantemente sentenciou em 2006: “agora estamos vivendo
um momento de muita tranquilidade. Penso que não devemos fazer mais sacrifício,
reduzindo a meta. Gostaria que pensássemos politicamente que não temos mais o direito
de fazer novo arrocho” (p. 49).
Quando um burocrata exterioriza a missão de “pensar politicamente”, a
cantilena que a sucede é bem conhecida pelos “neoliberais que têm medo de
crescimento”: o abandono de ortodoxias funcionais, e do Estado de Direito, em prol de
projetos pirotécnicos orientados a satisfazer tanto a massa cativa de eleitores quanto os
empresários responsáveis por financiar as festas da democracia. Cláudia Safatle, João
Borges e Ribamar Oliveira noticiam que mesmo após as medidas emergenciais para
atravessar a crise de 2008, os projetos megalomaníacos de estímulo à economia foram
mantidos. “A rapidez com que o Brasil saiu da recessão encorajou o governo a
aprofundar o modelo desenvolvimentista da equipe liderada por Guido Mantega e
respaldada no Palácio do Planalto pelo Presidente Lula e pela ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff”. Conforme explicam: “os bancos públicos, por determinação do
Planalto, passaram a expandir e a reduzir o custo do crédito para estimular o consumo e o
investimento. Desde o início eram fortes os sinais de intervenção, com ordens diretas da
Presidência da República atropelando critérios de gestão” (p. 65). Mais de 500 bilhões
emprestados via BNDES, a maior parte ainda no governo Lula. “Empresários como Jorge
Gerdau, do grupo Gerdau, Paulo Godoy, da Associação Brasileira da Infraestrutura e
Indústrias de Base, Humberto Barbato, da Associação Brasileira de Indústria Elétrica e
Eletrônica, aplaudiram a liberação de mais crédito barato (p. 134). A JBS Friboi, que em
2002 não aparecia entre as quatrocentas maiores empresas do Brasil, em 2009, com
faturamento de 29 bilhões de dólares, já figurava entre as primeiras. “Com empréstimos
de 7,5 bilhões de reais do BNDES, o JBS comprou frigoríficos no Brasil, nos Estados
Unidos, na Argentina e na Austrália (p. 138).
É importante que o leitor tenha em mente o quanto foi prejudicial ao país o
atropelo dos critérios de gestão dos Bancos e empresas públicas, bem como o abandono
de regras isonômicas em benefício dos caprichos arbitrários de Lula e de Dilma Rousseff.
A algazarra institucional estrangulou ainda mais o já esquálido Estado de Direito, e
produziu um cenário desolador em termos de incertezas e de desconfianças. “Em
setembro de 2013 a revista The Economist circulou com nova matéria de capa sobre o
Brasil, intitulada ‘has Brazil blown up?’ [O Brasil estragou tudo?]. O Cristo Redentor,
que na edição de 2009 decolava rumo ao céu, agora despencava em direção ao solo” (p.
89).
Os burocratas petistas não foram poupados por suas imposturas morais, e os
Autores nos oferecem declarações surpreendentes como a de um ex-ministro do governo
do PT sobre uma fala de Dilma Rousseff, que por muito tempo seguiu paparicada pelo
establishment político e cultural sob o mito de gestora eficiente que varreria a corrupção
do país: “‘não deu certo, seguro o preço da gasolina; não deu certo, corto o preço da
energia; não deu certo, aumento o gasto público’. A presidente passou dois anos testando
alternativas para fazer a economia crescer e a inflação cair, até ceder às evidências. Só
em abril de 2013 os juros começaram a subir” (p. 89).
O capítulo 17 Um trotskista no comando do Tesouro provoca arrepios em
qualquer leitor honesto. Arno Augustin era descrito pelos funcionários do Tesouro como
centralizador, autoritário e profundamente comprometido com a ideologia padrão da
esquerda, e com os estudos do político e economista marxista Ernest Mandel. “Falava
mal do FMI e dos Bancos e costumava criticar economistas ligados ao PSDB” (p. 235).
Ao ser exposto à trajetória insustentável da dívida em 2013, a partir de apresentação dos
técnicos do Tesouro, Arno “lembrou aos subordinados que a política econômica é
definida por quem tem votos e que, naquela sala, nenhum dos técnicos havia sido eleito”,
(p. 239), tornando clara a posição antagônica ao equilíbrio fiscal como condição para o
crescimento econômico.
Em 2012 os técnicos do Tesouro sabiam que não bastava apenas aumentar o
pagamento do PAC para resolver até mesmo a meta reduzida. Faltava ainda muito
dinheiro para atingir o superávit primário, a fim de alcançar a meta para o setor público.
Nesse momento entrou em cena a equipe de Arno Augustin, e a pirotecnia nominada
operação quadrangular, procedimento que envolvia quatro organizações estatais:
Tesouro, BNDES, Fundo Soberano do Brasil e Caixa Econômica Federal. “Ao todo, a
presidente Dilma Rousseff se viu obrigada, mesmo contra a sua vontade, a editar uma
medida provisória e três decretos – um deles numerado – para autorizar o conjunto dessas
transações” (p. 110). À época Mantega e Barbosa terminaram convencendo Dilma a
assinar, pois a alternativa era não cumprir a meta fiscal prevista em lei, o que resultaria
em crime de responsabilidade fiscal.
Com a operação quadrangular, a equipe econômica perdeu
credibilidade, pois ficou evidente que o superávit primário estava sendo
fabricado nos gabinetes do Ministério da Fazenda por meio de truques e
arranjos tirados do arsenal da “contabilidade criativa”. A lição que
todos aprenderam foi que o governo podia produzir receitas atípicas por
um passe de mágica e, com isso, cumprir a meta fiscal. Uma das
práticas amplamente utilizadas foi a transformação de empréstimos do
Tesouro aos bancos públicos – ou seja, operações financeiras – em
receitas primárias, que ingressavam nos cofres públicos sob a forma de
dividendos (p. 113).
Apesar das falácias generalizadas, e dos truques contábeis que destruíram as
contas do país, João Santana reelegeu Dilma em 2014. Lula, à época, pediu por mudanças
na equipe econômica e pelo retorno de Henrique Meirelles, mas Dilma manteve-se
implacável “primeiro por estar cada vez mais distante de Lula. Segundo, porque Mantega
e sua equipe haviam se ajustado disciplinadamente às determinações da presidente na
área econômica. A rigor, a ministra da Fazenda era Dilma” (p. 299). A cegueira ilustrada
de Dilma Rousseff respondeu por seu impedimento em 2016, mesmo que os
propagandistas do fim da verdade gritem “golpe”, “ruína constitucional”, e o mais do
mesmo em termos de marketing totalitário.
Muito embora o Brasil nunca tenha experimentado a barbárie do Estado total,
a perversão do intervencionismo imprudente nas esferas econômicas e sociais, e a
ausência de um Estado genuinamente liberal com regras impessoais e válidas de modo
igual para todos, responde por uma arquitetura que tende ao totalitarismo institucional. O
inflacionismo, o controle sobre as esferas privadas, os privilégios corporativistas, os
monopólios estatais e o desequilíbrio das contas públicas confirmam o ambiente
inescrupuloso em que direitos são vendidos como vantagens. O Leviatã manifesta-se
somente no âmbito tributário no país, e autoriza que a lei do mais forte abandone os
indivíduos à própria sorte naquilo que toca aos serviços primordiais do governo:
segurança e justiça. O sofisma de que todos os problemas sociais dependem de vontade
política enérgica nos coloca de joelhos nas mãos de homens desprezíveis, e
completamente incapazes de organizar seus próprios pensamentos.
No indispensável O caminho da servidão, Hayek explicou por que somente
os piores chegam ao poder nos regimes totalitários, ou nos regimes de intervencionismo
irrestrito como o Brasil. Muitos incautos acreditam que a tomada do poder por psicopatas
como Hitler, Stálin ou Fidel Castro, foi apenas um acidente no percurso solar rumo à
transformação total da condição humana via organização política. Enganam-se, não
obstante, uma vez a assunção do governo por bandidos e por canalhas desponta como
consequência lógica da destruição dos sentimentos de liberdade e de moralidade
individual pelo autoritarismo coletivista. É bastante simplório pensar que “pessoas
certas” fariam funcionar um regime planificado, ou extremamente intervencionista como
o brasileiro, direcionado para fins homogêneos como a erradicação da desigualdade, ou
ordem e progresso, apenas por vontade política.
O curso lento e trabalhoso dos processos democráticos antagoniza com a ação
rápida e enérgica que os regimes intervencionistas necessitam, razão por que apenas
homens implacáveis e arrogantes, que enxergam seres humanos como meios à
consecução de projetos megalomaníacos, se prestam ao papel de líderes messiânicos
nesses cenários. Nas palavras de Hayek:
O estadista democrata que se propõe a planejar a vida econômica não
tardará a defrontar-se com o dilema de assumir poderes ditatoriais ou
abandonar seu plano, também o ditador totalitário logo teria que
escolher entre o fracasso e o desprezo à moral comum. É por essa razão
que homens inescrupulosos têm mais probabilidade de êxito numa
sociedade que tende ao totalitarismo. Quem não percebe essa verdade
ainda não mediu toda a vastidão do abismo que separa o totalitarismo
dos regimes liberais, a profunda diferença entre a atmosfera moral do
coletivismo e da civilização ocidental, essencialmente individualista
[140].
Ao planejar todos os aspectos da vida econômica do Brasil, Dilma Rousseff
abriu mão do Estado de Direito, e se colocou a rasgar leis orçamentárias e de
responsabilidade fiscal em benefício da moralidade coletivista do petismo, a exemplo do
financiamento de ditaduras parceiras como Cuba e Venezuela. Consoante Hayek, no
momento em que os indivíduos deixam de apostar no curso lento e trabalhoso do
processo democrático para a arquitetura institucional progressiva, costurada desde o
aperfeiçoamento individual na edificação da cidadania, acabam por se render a projetos
coletivistas de homens autoritários e arrogantes aptos a “fazerem as coisas funcionarem”,
personificados por Lula de braços dados com Eike Batista na tentativa de vender a ideia
de que o Brasil “vivia um momento mágico”, a partir da megalomania das Olimpíadas, da
Copa do Mundo e de sucessivos PACs.
Hayek analisou, com enorme perspicácia, os motivos que levam os piores a
chegar ao poder em ambientes de intervenção irrestrita como o Brasil. Em primeiro lugar,
“quanto mais elevada a educação e a inteligência dos indivíduos, tanto mais se
diferenciam os seus gostos e opiniões e menor é a possibilidade de concordarem sobre
determinada hierarquia de valores”. De acordo com Hayek, a concordância da maioria em
relação a uma determinada hierarquia de valores “não significa que a maioria do povo
tenha padrões morais baixos; significa apenas que o grupo mais amplo cujos valores são
semelhantes é constituído por indivíduos que possuem padrões inferiores”. Uma
hierarquia de valores somente consegue ser imposta a um grande grupo caso seus
integrantes sejam pouco originais e pouco independentes. Na hipótese, a falta de
originalidade e de independência do brasileiro, que normalmente compartilha das
mesmas perspectivas intervencionistas, consoante destacou Alberto Carlos de Almeida,
no livro A cabeça do brasileiro, contribui para que permaneça sequestrado por narrativas
populistas e demagógicas.
O segundo motivo oferecido por Hayek para que “os piores cheguem ao
poder”, é o comportamento do homem massa, tipicamente dócil e simplório, que
prontamente aceita sistema de valores elaborados por indivíduos mais perspicazes.
Consoante defendeu Hayek: “Serão, assim, aqueles cujas ideias vagas e imperfeitas se
deixam influenciar com facilidade, cujas paixões e emoções não é difícil despertar, que
engrossarão as fileiras do partido totalitário”. As narrativas irracionalistas, muito comuns
em países como o Brasil, em que o apego às emoções sufoca a possibilidade do emprego
da argumentação racional para a arquitetura institucional mais desejável, orientam até
mesmo indivíduos que “pensam que pensam”, e possuem a marca do dogmatismo, do
anti-cientificismo, da ordem imposta apenas por organizações hierárquicas, e da aversão
à economia de mercado.
A despeito do incremento dessas duas condições, Hayek advertiu que um
sistema totalitário somente se dará quando o líder obtiver êxito na manipulação das
massas desde um programa negativo. Para o Autor é quase que uma “lei da natureza” o
fato de os homens aderirem mais facilmente a um programa negativo – como ódio aos
judeus – do que a um plano propositivo. “A antítese ‘nós’ e ‘eles’, a luta comum contra
os que se acham fora do grupo, parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia
capaz de unir solidamente um grupo visando à ação comum. Por essa razão, é sempre
utilizada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a
fidelidade irrestrita de grandes massas”. Nesse particular, o programa do Partido dos
Trabalhadores sempre foi marcado pelo vitimismo e pelo ressentimento, ao contrário de
elementos propositivos de construção da cidadania via liberdade individual. A expressão
mais fiel da antítese nós X eles, descrita por Hayek no estudo dos movimentos
totalitários, era a marca distintiva de prosélitos como Lula e Dilma, porquanto
manipulavam as massas com o programa negativo de ódio às elites desde toda espécie de
vitimização, e de ressentimento.
Por tudo isso, a narrativa elaborada por Cláudia Safatle, João Borges e
Ribamar Oliveira ratifica, de modo empírico, os princípios elaborados por Hayek em O
caminho da servidão. Ao apostar no modelo de crescimento econômico baseado na
expansão do crédito bancário, com a posterior tentativa de substitui-lo pelo aumento do
investimento, via dinheiro barato do BNDES, a cegueira ilustrada dos engenheiros sociais
do PT promoveu um verdadeiro golpe nas instituições do país, e deixou uma conta
bilionária de subsídios para ser quitada pelas próximas gerações. Contudo, o maior golpe
ainda se encontra em curso: o aprofundamento da servidão moral pela filosofia do
estatismo imprudente.
O grande trabalho no Brasil, não apenas intelectual, mas sobretudo moral,
consiste em desarmar a bomba-relógio que nos coloca na lanterna do mundo em termos
de cidadania e de arquitetura institucional, e o livro de Cláudia Safatle, João Borges e
Ribamar Oliveira se consolida como um dos principais roteiros a evitar novos e possíveis
desastres a aprofundar nosso abismo civilizacional.
***
[1] A expressão nova matriz macroeconômica apareceu pela primeira vez em
um papel oficial do governo no início de dezembro de 2012. No texto “Economia
brasileira em perspectiva”, um documento que a Fazenda divulgava mensalmente, o
então secretário de Política Econômica, Márcio Holland, escreveu: “O Brasil apresenta
uma nova matriz macroeconômica, ímpar na história do país, muito promissora para o
investimento, a produção e o emprego, com taxas de juros baixas, custos financeiros
reduzidos para empresas e famílias, taxa de câmbio mais competitiva e sólidos resultados
fiscais. Pouco tempo depois Holland usou a mesma expressão – que ficaria identificada
com o período Guido Mantega no governo – numa entrevista. Por diversas vezes se havia
discutido no gabinete de Mantega a criação de um selo para marcar a passagem daquele
que viria a ser o mis longevo ministro da Fazenda da história. Um assessor sugeriu
“nacional desenvolvimentismo”, outro defendeu “social desenvolvimentismo”. Em uma
dessas discussões, o secretário executivo Nelson Barbosa, em tom crítico, comentou:
“cuidado, o nacional-desenvolvimentismo (de Hitler, na Alemanha) não terminou bem”
(p. 93).
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Guerrilha: o combate ao neoliberalismo e ao fascismo, em 6 anos de crônicas. Com detalhes das ações coletivas dos empregados da Petrobras (Repouso Remunerado e RMNR) e dos retrocessos no Plano de Cargos da empresa e na PetrosVon EverandGuerrilha: o combate ao neoliberalismo e ao fascismo, em 6 anos de crônicas. Com detalhes das ações coletivas dos empregados da Petrobras (Repouso Remunerado e RMNR) e dos retrocessos no Plano de Cargos da empresa e na PetrosNoch keine Bewertungen
- Mentiras que contam sobre a economia brasileira: textos contra a desinformação e em defesa de políticas novas e velhas pró-crescimentoVon EverandMentiras que contam sobre a economia brasileira: textos contra a desinformação e em defesa de políticas novas e velhas pró-crescimentoNoch keine Bewertungen
- A volta do Estado planejador: neoliberalismo em xequeVon EverandA volta do Estado planejador: neoliberalismo em xequeNoch keine Bewertungen
- Por que gritamos Golpe?: Para entender o impeachment e a crise política no BrasilVon EverandPor que gritamos Golpe?: Para entender o impeachment e a crise política no BrasilNoch keine Bewertungen
- Descolonizar o imaginário: Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimentoVon EverandDescolonizar o imaginário: Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimentoBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Do Estado Social Ao Estado PenalDokument17 SeitenDo Estado Social Ao Estado PenalTâniaMertenNoch keine Bewertungen
- Retórica e Farsa: 30 Anos de Neoliberalismo no BrasilVon EverandRetórica e Farsa: 30 Anos de Neoliberalismo no BrasilBewertung: 2.5 von 5 Sternen2.5/5 (2)
- LOPES de SOUZA Contextualizando o Golpe de 2016Dokument9 SeitenLOPES de SOUZA Contextualizando o Golpe de 2016Washington Phillip Spanhol CarneiroNoch keine Bewertungen
- TEXTO - Do Estado Social Ao Estado Penal - Invertendo o Discurso Da OrdemDokument28 SeitenTEXTO - Do Estado Social Ao Estado Penal - Invertendo o Discurso Da OrdemJosé Mauro Garboza JuniorNoch keine Bewertungen
- A crise permanente: O poder crescente da oligarquia financeira e o fracasso da democraciaVon EverandA crise permanente: O poder crescente da oligarquia financeira e o fracasso da democraciaNoch keine Bewertungen
- A grande regressão: um debate internacional sobre os novos populismos — e como enfrentá-losVon EverandA grande regressão: um debate internacional sobre os novos populismos — e como enfrentá-losBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)
- GRUN Roberto. Decifra-Me Ou Te Devoro As Finanas e A Sociedade Brasileira.Dokument30 SeitenGRUN Roberto. Decifra-Me Ou Te Devoro As Finanas e A Sociedade Brasileira.PauloFilho1989Noch keine Bewertungen
- A Crise e os Limites Históricos do Capitalismo:: O Lugar das Políticas Sociais no Torvelinho Potencial da Crise BrasileiraVon EverandA Crise e os Limites Históricos do Capitalismo:: O Lugar das Políticas Sociais no Torvelinho Potencial da Crise BrasileiraNoch keine Bewertungen
- La Deudas Abiertas de America LatinaDokument404 SeitenLa Deudas Abiertas de America LatinaDimitrinusNoch keine Bewertungen
- Destruição dos direitos trabalhistas no governo TemerDokument4 SeitenDestruição dos direitos trabalhistas no governo TemerFernandoGranadaNoch keine Bewertungen
- A queda do governo Bolsonaro: hipóteses sobre os motivosDokument14 SeitenA queda do governo Bolsonaro: hipóteses sobre os motivosElson CostaNoch keine Bewertungen
- Capitalismo em quarentena: notas sobre a crise globalVon EverandCapitalismo em quarentena: notas sobre a crise globalBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- A mão invisível por trás do extremismo: por que o liberalismo econômico é, na prática, um instrumento de dominação, o que isso tem a ver com a ascensão do bolsonarismo, e seus impactos do ponto de vista da Economia Política InternacionalVon EverandA mão invisível por trás do extremismo: por que o liberalismo econômico é, na prática, um instrumento de dominação, o que isso tem a ver com a ascensão do bolsonarismo, e seus impactos do ponto de vista da Economia Política InternacionalNoch keine Bewertungen
- O Processo de Globalização e A Sua Influência No Direito Interno - Frank Larrúbia Shih (Artigo)Dokument11 SeitenO Processo de Globalização e A Sua Influência No Direito Interno - Frank Larrúbia Shih (Artigo)Thiago FernandesNoch keine Bewertungen
- No gramado em que a luta o aguarda: Antifascismo e a disputa pela democracia no PalmeirasVon EverandNo gramado em que a luta o aguarda: Antifascismo e a disputa pela democracia no PalmeirasBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Mil Agree Cono Segundo Im Prensa AlterDokument10 SeitenMil Agree Cono Segundo Im Prensa AlterMatheus MoroNoch keine Bewertungen
- O desemprego e as políticas de emprego, trabalho e renda no Brasil contemporâneoVon EverandO desemprego e as políticas de emprego, trabalho e renda no Brasil contemporâneoNoch keine Bewertungen
- Livro A Década Dos Mitos - Marcio PochmannDokument128 SeitenLivro A Década Dos Mitos - Marcio PochmannLuísFelipeLiraNoch keine Bewertungen
- Modernizações Do Moderno - Brasil Um Sonho Intenso para Sentir A Auto-EstimaDokument4 SeitenModernizações Do Moderno - Brasil Um Sonho Intenso para Sentir A Auto-EstimaFlavio CarvalhoNoch keine Bewertungen
- A Pseudodemocracia Representativa e As PDokument11 SeitenA Pseudodemocracia Representativa e As PMerces TorresNoch keine Bewertungen
- As reformas de base de João GoulartDokument358 SeitenAs reformas de base de João GoulartMaximomrNoch keine Bewertungen
- Processo Industrial BrasileiroDokument10 SeitenProcesso Industrial BrasileiroVítorMacedo0% (1)
- Os saqueadores: o fracasso do populismo e a mediocridade no governo brasileiroDokument4 SeitenOs saqueadores: o fracasso do populismo e a mediocridade no governo brasileiroJeffery HessNoch keine Bewertungen
- Celso Furtado e o desenvolvimento brasileiro em época de criseDokument8 SeitenCelso Furtado e o desenvolvimento brasileiro em época de criserenataptrochaNoch keine Bewertungen
- A Ditadura Brasileira: Governando para as ElitesDokument18 SeitenA Ditadura Brasileira: Governando para as ElitesKiyoko HaeaNoch keine Bewertungen
- Além do PT: A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americanaVon EverandAlém do PT: A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americanaNoch keine Bewertungen
- A gestão da barbárie pelo PT e os limites de um governo de esquerda na crise do capitalismoDokument19 SeitenA gestão da barbárie pelo PT e os limites de um governo de esquerda na crise do capitalismoFernandaNoch keine Bewertungen
- Governo Bolsonaro e declínio social no BrasilDokument10 SeitenGoverno Bolsonaro e declínio social no Brasildebora ferreiraNoch keine Bewertungen
- Da Cultura do Patrimonialismo à Praga da Corrupção: revisitando a história luso-brasileiraVon EverandDa Cultura do Patrimonialismo à Praga da Corrupção: revisitando a história luso-brasileiraNoch keine Bewertungen
- 05 - Brasil 2021Dokument199 Seiten05 - Brasil 2021Madson RodriguesNoch keine Bewertungen
- O golpe de 2016 e a corrosão da democracia no BrasilVon EverandO golpe de 2016 e a corrosão da democracia no BrasilNoch keine Bewertungen
- A política brasileira no século XXI: uma opinião outraVon EverandA política brasileira no século XXI: uma opinião outraNoch keine Bewertungen
- 1964: A conquista do Estado resenhaDokument5 Seiten1964: A conquista do Estado resenhaTarcy MagalhaesNoch keine Bewertungen
- Resenha do documentário Encontro com Milton SantosDokument3 SeitenResenha do documentário Encontro com Milton SantosGiovanny MarcosNoch keine Bewertungen
- TRABALHO TUBALDINI A Crise Do Nacional Populismo 1961 1964Dokument9 SeitenTRABALHO TUBALDINI A Crise Do Nacional Populismo 1961 1964crcncrcnNoch keine Bewertungen
- O colapso da democracia no BrasilDokument218 SeitenO colapso da democracia no Brasilfelipe senaNoch keine Bewertungen
- Democracia, Covid-19 e Neoliberalismo: o mundo social no pós- pandemiaVon EverandDemocracia, Covid-19 e Neoliberalismo: o mundo social no pós- pandemiaNoch keine Bewertungen
- O Regime Militar e a Projeção Internacional do Brasil: Autonomia nacional, desenvolvimento econômico e potência média/1964-1985Von EverandO Regime Militar e a Projeção Internacional do Brasil: Autonomia nacional, desenvolvimento econômico e potência média/1964-1985Noch keine Bewertungen
- Cultura e Política - o Jovem Nietzsche e Jakob BurckhardtDokument26 SeitenCultura e Política - o Jovem Nietzsche e Jakob Burckhardtfabio_tmasudaNoch keine Bewertungen
- Direito Natural e História - Leo Strauss PDFDokument164 SeitenDireito Natural e História - Leo Strauss PDFRenataRamos100% (4)
- Resenha Milton Friedman Livre para EscolherDokument2 SeitenResenha Milton Friedman Livre para EscolherRenataRamosNoch keine Bewertungen
- 366 5272 1 PBDokument14 Seiten366 5272 1 PBRenataRamosNoch keine Bewertungen
- Estado de Minas 08.02.2023Dokument20 SeitenEstado de Minas 08.02.2023Oliveira JuniorNoch keine Bewertungen
- Queiroz circula por Brasília e mantém contato com Bolsonaro apesar de preocupações com candidaturaDokument55 SeitenQueiroz circula por Brasília e mantém contato com Bolsonaro apesar de preocupações com candidaturaJefferson HidekiNoch keine Bewertungen
- Dieta tributária para o governoDokument11 SeitenDieta tributária para o governoLuciene AraújoNoch keine Bewertungen
- SP O Estado de S Paulo 270623Dokument40 SeitenSP O Estado de S Paulo 270623André Rodrigues de MatosNoch keine Bewertungen
- GRASSI, J.M. (2018) - O Desenvolvimento Nuclear de Argentina e Brasil e A Cooperação BilateralDokument24 SeitenGRASSI, J.M. (2018) - O Desenvolvimento Nuclear de Argentina e Brasil e A Cooperação BilateralBarbara PfluckNoch keine Bewertungen
- Amanha Vai Ser Maior PDFDokument378 SeitenAmanha Vai Ser Maior PDFMarcus FrançaNoch keine Bewertungen
- A Hora e A História Demétrio MagnoliDokument4 SeitenA Hora e A História Demétrio MagnoliPereiraNoch keine Bewertungen
- 2 Fazer Do Psol SementeDokument173 Seiten2 Fazer Do Psol Sementevastuk.yuriNoch keine Bewertungen
- Neoliberalismo No Brasil - Texto de Boito JuniorDokument19 SeitenNeoliberalismo No Brasil - Texto de Boito JuniorRafael CavalcanteNoch keine Bewertungen
- Ricardo Antunes - O Privilegio Da Servidao (Resenha)Dokument6 SeitenRicardo Antunes - O Privilegio Da Servidao (Resenha)Andre PereiraNoch keine Bewertungen
- Decisão Maria Claudia BucchianeriDokument10 SeitenDecisão Maria Claudia BucchianeriManoela AlcântaraNoch keine Bewertungen
- Constituicao Do Estado EgipcioDokument9 SeitenConstituicao Do Estado Egipcioquim_cassi100% (1)
- Ensino Fundamental sobre a História do Brasil ColôniaDokument54 SeitenEnsino Fundamental sobre a História do Brasil ColôniaAthila Humberto100% (1)
- Culturas Populares no Brasil e América do SulDokument116 SeitenCulturas Populares no Brasil e América do SulVictor Gargiulo100% (1)
- Ebook Fraturas Expostas Pela PandemiaDokument324 SeitenEbook Fraturas Expostas Pela PandemiaTairex boNoch keine Bewertungen
- Comprovante - Direito de Resposta - Bolsonaro - 15.09 - 0601140-45.2022.6.00.0000Dokument26 SeitenComprovante - Direito de Resposta - Bolsonaro - 15.09 - 0601140-45.2022.6.00.0000MetropolesNoch keine Bewertungen
- SodapdfDokument157 SeitenSodapdfFabricio JoséNoch keine Bewertungen
- Língua EnroladaDokument5 SeitenLíngua Enroladaanailuj_25Noch keine Bewertungen
- Jornal A UNIAO PB 07-04-22Dokument30 SeitenJornal A UNIAO PB 07-04-22dickricNoch keine Bewertungen
- Olavo de Carvalho - Artigos - 2004 - Comentários Da SemanaDokument248 SeitenOlavo de Carvalho - Artigos - 2004 - Comentários Da SemanacontatadNoch keine Bewertungen
- SP Folha de S Paulo 040324Dokument30 SeitenSP Folha de S Paulo 040324Rosa DuarteNoch keine Bewertungen
- O Governo Lula e A Reforma Conservadora Do Neoliberalismo No Brasil - Armando Boito JRDokument12 SeitenO Governo Lula e A Reforma Conservadora Do Neoliberalismo No Brasil - Armando Boito JRNatan JuniorNoch keine Bewertungen
- O Presidencialismo de Coalizão Sob Pressão: Da Formação de Maiorias Democráticas À Formação Democrática de MaioriasDokument34 SeitenO Presidencialismo de Coalizão Sob Pressão: Da Formação de Maiorias Democráticas À Formação Democrática de MaioriasBruno P. W. ReisNoch keine Bewertungen
- Pública Análise Política Nacional Humanização SUSDokument202 SeitenPública Análise Política Nacional Humanização SUSMárcia Oliveira de AlmeidaNoch keine Bewertungen
- Janela de Overton e Engenharia SocialDokument8 SeitenJanela de Overton e Engenharia SocialfriendbrasilshuNoch keine Bewertungen
- Jornalismo e Política na Eleição de 2014Dokument164 SeitenJornalismo e Política na Eleição de 2014Lurian LimaNoch keine Bewertungen
- Estudos de Politica ExternaDokument160 SeitenEstudos de Politica ExternamarcelaNoch keine Bewertungen
- Olavo de Carvalho - Artigos - 2007 - Comentários Da SemanaDokument489 SeitenOlavo de Carvalho - Artigos - 2007 - Comentários Da Semanacontatad100% (1)
- Folha de S 227 o Paulo - 26 08 2020Dokument40 SeitenFolha de S 227 o Paulo - 26 08 2020Boki VaskeNoch keine Bewertungen
- 02 06 15Dokument28 Seiten02 06 15Camilo AlbuquerqueNoch keine Bewertungen