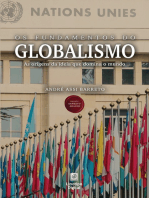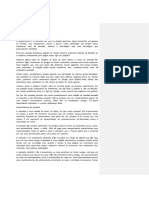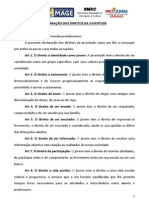Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
André Barata
Hochgeladen von
Anabela Rosa Rosa0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
51 Ansichten4 SeitenEste documento discute a aceleração do tempo na sociedade moderna e seus efeitos. A aceleração levou a uma indistinção entre trabalho e vida, com o tempo de lazer desaparecendo. Também criou um "presente expandido" sem futuro ou passado distintos. Além disso, as redes sociais transformaram o espaço público em um local de confronto ao invés de debate racional, ameaçando a democracia.
Originalbeschreibung:
Originaltitel
André Barata.docx
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
DOCX, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenEste documento discute a aceleração do tempo na sociedade moderna e seus efeitos. A aceleração levou a uma indistinção entre trabalho e vida, com o tempo de lazer desaparecendo. Também criou um "presente expandido" sem futuro ou passado distintos. Além disso, as redes sociais transformaram o espaço público em um local de confronto ao invés de debate racional, ameaçando a democracia.
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
51 Ansichten4 SeitenAndré Barata
Hochgeladen von
Anabela Rosa RosaEste documento discute a aceleração do tempo na sociedade moderna e seus efeitos. A aceleração levou a uma indistinção entre trabalho e vida, com o tempo de lazer desaparecendo. Também criou um "presente expandido" sem futuro ou passado distintos. Além disso, as redes sociais transformaram o espaço público em um local de confronto ao invés de debate racional, ameaçando a democracia.
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 4
UM TEMPO SEM TRAVÃO
Professor na Universidade da Beira Interior, André Barata dá-nos conta, com este
livro, dos problemas que se colocam à volta de uma das questões maiores do nosso tempo:
a aceleração do tempo. Evitando os protocolos da escrita académica, as múltiplas
dimensões deste problema são devolvidas ao espaço público.
Quem comparar a produção teórica dos diversos departamentos portugueses de
filosofia com os seus congéneres de outras latitudes – e não é preciso ir muito longe –
verifica que, no meio de trabalhos mais ou menos meritórios de história da filosofia, teses
de doutoramento sem trabalho de edição que se transformam rapidamente em livro e a
mera junção de artigos díspares em colectâneas, há uma atenção ao actual que pura e
simplesmente não existe. O actual, claro, não é equivalente à actualidade, às aflições de
alma mensais, semanais ou mesmo diárias que tomam de assalto os meios de
comunicação ou as famosas redes sociais; também não significa que não se deva
interrogar e combater essa “injunção” que nos obriga a ter opinião sobre todo e qualquer
assunto ou que não se pode ser profundamente intempestivo fazendo apelo a outros
tempos e lugares – bem pelo contrário, há bastante de actual em certos gestos de recusa.
Significa, no entanto, que há um certo conjunto de questões – do antropoceno à
aceleração, da museificação das cidades contemporâneas ao pós-humano – que permitem
interrogar o nosso tempo mas cujo eco, nos diversos departamentos de filosofia, é
bastante escasso, senão mesmo inexistente.
Passando por uma série de assuntos que, de forma mais ou menos mediática, se
encontram na ordem do dia – da eutanásia às noções equívocas de pós-verdade e pós-
democracia, do rendimento básico incondicional ao impacto das redes sociais –, o recente
livro de André Barata, professor de filosofia da Universidade da Beira Interior – «E se
parássemos de sobreviver? Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo»
– vem contribuir para que um muito discutido tópico, a aceleração do tempo, não fique
confinado a discussões e publicações académicas – retirando-lhe o jargão e os protocolos
de escrita académica e devolvendo-o à cidade, onde deve ser discutido.
Tal como um recente livro editado entre nós, e hoje já um clássico – «24/7. O
Capitalismo Tardio e os fins do sono», de Jonathan Crary –, também este livro de André
Barata encontra nos efeitos do capitalismo sobre a temporalidade um dos momentos em
que aquele demonstra todo a sua capacidade de penetrar nos mais ínfimos pormenores da
vida comum e privada.
«São três as conformações impostas ao tempo. Uma concepção do tempo
sócio-económico como uma continuidade férrea e sem falhas, materializada
por uma juridificação das nossas relações com o passado e com o futuro. Uma
aceleração da vivência do tempo para a qual somos compelidos. (...) Uma
concepção do tempo de vida como mercadoria, que faz da actividade social e
individualmente realizadora que o trabalho deveria ser para as pessoas uma
redução delas à categoria abstracta de seres mais ou menos produtivos»
Se a aceleração do tempo não é um tópico novo, tendo-se tornado uma marca de
água da modernidade – e poderíamos juntar, para estabelecer uma espécie de estado da
arte sobre o assunto, os trabalhos de Harmut Rosa, sociólogo alemão, e um famoso
manifesto aceleracionista, escrito por Alex Williams e Nick Srnicek, que pretendia
combater o capitalismo com mais capitalismo –, parece relativamente consensual, no
entanto, que esta aceleração vertiginosa encontrou, nos últimos anos, um novo patamar
de penetração no tecido da vida. De facto, como defende André Barata – não se
distinguindo nisso de Crary e outros teóricos –, a aceleração não significa que os relógios
começaram a andar mais rapidamente, mas que a nossa relação ao tempo, que não é
natural, mas técnica, social e politicamente construída, se transformou de tal forma nos
últimos decénios que, actualmente, «medimos muito mais o que nos acontece, que
tornámos tudo mais contável, mais objectivamente mensurável e, por isso, também mais
comunicável». Há, digamos assim, uma subsunção do tempo a uma lógica extrativa, em
que cada segundo sente a pressão para se tornar produtivo e em que aqueles momentos
singulares, irredutíveis a uma lógica produtiva – o pensamento, prodigioso na arte de
perder tempo, surge como um dos exemplos maiores –, se tornam cada vez mais
marginais.
No entanto, esta aceleração facilmente constatável – uma pequena correcção a
André Barata: um estudo efectuado pela Deutsche Grammaphon defende que as
interpretações de Bach estão, efectivamente, mais rápidas – não é politicamente neutra.
Pelo contrário, é devedora de uma lógica em que tempo social, tempo da vida e trabalho
se tornam quase indiscerníveis.
«o tempo livre dispõe-se a tornar-se tempo produtivo, como se a contrapartida
fosse o tempo de trabalho ser tempo de lazer e como se a mobilização dos
tempos todos da pessoa fosse a demonstração do seu empenho no
cumprimento das metas antes acordadas, dos objectivos que o próprio há-de
auto-avaliar, responsabilizando-se por qualquer fracasso.»
Não é difícil perceber, de facto, que o tempo de lazer, claramente separado do
trabalho até determinada altura, tem vindo a desaparecer sem deixar rasto, substituído por
um tempo, ainda biológico, em que o que se encontra em causa é a mera recuperação de
energia laboral. Ou, por outro lado, é o próprio trabalho que se torna imanente ao tempo
de lazer e os gestos mais banais – vestir, comer – estão desde logo mobilizados para uma
lógica de produção de lucro, tornando a vida, nos seus mais ínfimos detalhes, um
empreendimento comercial.
Mas não é apenas nesta indistinção entre trabalho e vida que a «aceleração do tempo
social» se deixa ler. Acarretando consequências relativamente aos marcadores temporais
– passado, presente e futuro – que coordenam a vida, a aceleração transforma o passado
ou em objecto de museu ou em conteúdo traumático – a discussão em torno do passado
colonial português não tem escapado a este dilema –, cria representações do futuro
desprovidas de qualquer desejo, de qualquer criação de possíveis, e cria, naquilo que o
historiador francês François Hartog chamou de «presentismo», isto é, um modo de
compreensão do tempo em que o presente impera, um «presente expandido» cujo
contraponto é o imaginário contemporâneo da catástrofe – segundo a conhecida frase do
teórico americano Frederic Jameson, «é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim
do capitalismo».
«Não será um futuro de desejo, projecto e esperanças depositadas, em que
aguardamos a nossa própria realização e nos tornamos de alguma maneira
melhores, mais felizes, em suma, um futuro de fins, mas, diversamente, um
de causas e efeitos, tomado como material manipulável ao serviço de uma
construção (...). O imperativo deste futuro imediato, na certeza de uma cadeia
causal produtiva, por ordem de um tempo que mostre resultados, é na verdade
um futuro que não é futuro, mas presente expandido»
Mas esta aceleração do tempo social, segundo André Barata, não se limita a esbater
a distinção entre passado, presente e futuro num mesmo imaginário, ou a estabelecer um
limiar de indistinção entre trabalho e vida. Na sua declinação nas redes sociais – como
defende Jonathan Crary, actualmente não nos desligamos, no máximo entramos em
«modo pausa» –, é a própria democracia que se encontra em causa. De facto, aquelas
obedecem a uma «discussão de trincheiras, schmittiana, de amigo versus inimigo» e o
espaço público, reconfigurado a partir delas como indistinto do espaço privado, perde o
seu lugar como espaço de concretização do projecto democrático.
«A discussão pública baseada em razões que servia, até então, de modelo de
comunicação nas democracias maduras é substituída nas redes sociais por
uma discussão de trincheiras, schmittiana, de amigo versus inimigo. Uma
comunicação intimidatória, que mais se assemelha a condutas de bullying,
impõe-se, sem filtro, à discussão estruturada argumentativamente a partir de
uma base comunicacional de civilidade»
Seria preciso interrogar demoradamente esta ideia de espaço público no que ela
pressupõe relativamente à linguagem – que terá de ser transparente, cheia de boa vontade,
segundo protocolos de escrita e de elocução que nada têm de natural –, mas também
enquanto mecanismo de exclusão que, nas suas concretizações históricas, nunca deixou
de o ser. Em todo o caso, esta república avançada dos espíritos parece ter demasiada
pressa em recobrir com um manto de civilidade as dissensões tantas vezes violentas que
se fazem ouvir.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensVon EverandDiscurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (219)
- NBR14712 - Fls. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - Arquivo para ImpressãoDokument20 SeitenNBR14712 - Fls. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - Arquivo para Impressãocatiroba100% (1)
- Guia EFT Básico AutoaplicaçãoDokument36 SeitenGuia EFT Básico AutoaplicaçãoOzânia Silva Santos100% (2)
- Pactos emocionais: reflexões em torno da moral, da ética e da deontologiaVon EverandPactos emocionais: reflexões em torno da moral, da ética e da deontologiaNoch keine Bewertungen
- Os fundamentos do globalismo: As origens da ideia que domina o mundoVon EverandOs fundamentos do globalismo: As origens da ideia que domina o mundoNoch keine Bewertungen
- A evolução da discussão sobre sexualidade desde a pílula anticoncepcionalDokument4 SeitenA evolução da discussão sobre sexualidade desde a pílula anticoncepcionalTiago A.Noch keine Bewertungen
- A arte da oratória de VieiraDokument7 SeitenA arte da oratória de VieiraAna CastroNoch keine Bewertungen
- Mais alguma antropologia: Ensaios de geografia do pensamento antropológicoVon EverandMais alguma antropologia: Ensaios de geografia do pensamento antropológicoNoch keine Bewertungen
- RUDIGER, Francisco. Critica Da Razao Antimoderna PDFDokument161 SeitenRUDIGER, Francisco. Critica Da Razao Antimoderna PDFEverton Otazú100% (1)
- Teixeira e Frederico - Marx No Seculo XXIDokument149 SeitenTeixeira e Frederico - Marx No Seculo XXIJoseane BorbaNoch keine Bewertungen
- Atencao Primaria em FisioterapiaDokument52 SeitenAtencao Primaria em FisioterapiaAndrei Cuzuioc100% (1)
- O Espectro do Caos: nos passos da arte urbana paulistana entre 1970 e 1990Von EverandO Espectro do Caos: nos passos da arte urbana paulistana entre 1970 e 1990Noch keine Bewertungen
- Tempo, história e memória na era da superabundância de informaçãoDokument21 SeitenTempo, história e memória na era da superabundância de informaçãothiagoferreira21Noch keine Bewertungen
- Aeekm217 Ava Inter 2.solDokument8 SeitenAeekm217 Ava Inter 2.solLuis SilvaNoch keine Bewertungen
- Resumo Do Livro Imaginação SociológicaDokument5 SeitenResumo Do Livro Imaginação SociológicaHeliane Rodrigues50% (2)
- François Hartog - Regime de HistoricidadeDokument15 SeitenFrançois Hartog - Regime de HistoricidadeMarcus ViniciusNoch keine Bewertungen
- Han sobre a crise temporal e a necessidade da vida contemplativaDokument7 SeitenHan sobre a crise temporal e a necessidade da vida contemplativaAna MagnaniNoch keine Bewertungen
- Aroma Do Tempo ResenhaDokument7 SeitenAroma Do Tempo ResenhaBoris MorenoNoch keine Bewertungen
- O Sujeito e a Norma na Sociedade BurguesaDokument15 SeitenO Sujeito e a Norma na Sociedade BurguesaBruno Abilio Galvão100% (1)
- Regime de historicidade: o presente onipresenteDokument13 SeitenRegime de historicidade: o presente onipresenteDanielRequiaNoch keine Bewertungen
- 1 - História Da Filosofia ContemporâneaDokument20 Seiten1 - História Da Filosofia Contemporâneadooart1982Noch keine Bewertungen
- A Temporalidade Na Cultura Contemporânea - A TERRA É REDONDADokument20 SeitenA Temporalidade Na Cultura Contemporânea - A TERRA É REDONDALuís AndréNoch keine Bewertungen
- Educação, ética e pós-modernidade em Habermas e LyotardDokument4 SeitenEducação, ética e pós-modernidade em Habermas e LyotardMarcos BealNoch keine Bewertungen
- A ascensão do indivíduo autônomo na modernidadeDokument10 SeitenA ascensão do indivíduo autônomo na modernidadeHenry JekyllNoch keine Bewertungen
- AF Tema5 CEEDokument8 SeitenAF Tema5 CEESophie PhiloNoch keine Bewertungen
- Tempo Mythos e Praxis PDFDokument266 SeitenTempo Mythos e Praxis PDFRafael AlverneNoch keine Bewertungen
- Diálogo sobre objetivismo e subjetivismoDokument9 SeitenDiálogo sobre objetivismo e subjetivismoWilliam Amaral100% (1)
- 1138-Texto Del Artículo-3245-1-10-20121130Dokument10 Seiten1138-Texto Del Artículo-3245-1-10-20121130rafael fróes'Noch keine Bewertungen
- O Relativismo na Antropologia e a Questão dos Valores na Sociedade ContemporâneaDokument11 SeitenO Relativismo na Antropologia e a Questão dos Valores na Sociedade ContemporâneajoaninhacamposNoch keine Bewertungen
- Bauman Comunidade Líquida PDFDokument3 SeitenBauman Comunidade Líquida PDFMagkampusNoch keine Bewertungen
- Pos Modernidade, Etica e EducaçaoDokument9 SeitenPos Modernidade, Etica e EducaçaoMarcelo GroheNoch keine Bewertungen
- Micro e macro: escalas na história globalDokument12 SeitenMicro e macro: escalas na história globalReginaldo Alves d'AraújoNoch keine Bewertungen
- Christine GreinerDokument11 SeitenChristine GreinerAlina Ruiz FoliniNoch keine Bewertungen
- Sequel To HistoryDokument50 SeitenSequel To HistoryCamilo VenturiNoch keine Bewertungen
- HBUESCU-Cap 2 Grande AngularDokument6 SeitenHBUESCU-Cap 2 Grande Angularhugo.costacccNoch keine Bewertungen
- Walter Benjamin entre moda acadêmica e Avant-gardeDokument16 SeitenWalter Benjamin entre moda acadêmica e Avant-gardeLuiz FelipeNoch keine Bewertungen
- A coleção Sentimento da Dialética e sua organizaçãoDokument55 SeitenA coleção Sentimento da Dialética e sua organizaçãoAna GoesNoch keine Bewertungen
- O conceito de geração nas teorias sobre juventudeDokument20 SeitenO conceito de geração nas teorias sobre juventudeFabrício M. PereiraNoch keine Bewertungen
- Claudine Haroche - Entrevista - A Construção Do SentidoDokument7 SeitenClaudine Haroche - Entrevista - A Construção Do SentidoElbrujo TavaresNoch keine Bewertungen
- Atividade Sociologia IDokument6 SeitenAtividade Sociologia Ifranmayy09Noch keine Bewertungen
- Civilidade, cidadania e direitos na teoria políticaDokument15 SeitenCivilidade, cidadania e direitos na teoria políticaGuilherme VarguesNoch keine Bewertungen
- Simetria, Reversibilidade e Reflexividade na AntropologiaDokument8 SeitenSimetria, Reversibilidade e Reflexividade na AntropologiajulibazzoNoch keine Bewertungen
- Filosofia, Ação e Filosofia Política, Renato Janine RibeiroDokument7 SeitenFilosofia, Ação e Filosofia Política, Renato Janine RibeirogustavotoutNoch keine Bewertungen
- A psicanálise e os desafios da subjetividade contemporâneaDokument5 SeitenA psicanálise e os desafios da subjetividade contemporâneaf_abnerNoch keine Bewertungen
- BOURDIEU, P, Et CHARTIER, Roger - Gente Com História, Gente Sem HistóriaDokument9 SeitenBOURDIEU, P, Et CHARTIER, Roger - Gente Com História, Gente Sem HistóriaCarlos CarretoNoch keine Bewertungen
- 5508Dokument12 Seiten5508Jose Miguel MarianoNoch keine Bewertungen
- Marcos MucheroniDokument18 SeitenMarcos MucheroniClaudia NevesNoch keine Bewertungen
- Pos ModernoDokument3 SeitenPos ModernoGuilherme TeixeiraNoch keine Bewertungen
- Bauman sobre modernidade líquidaDokument4 SeitenBauman sobre modernidade líquidaManuela Eguiberto AgostinhoNoch keine Bewertungen
- Um historiador sobre teoria e metodologiaDokument7 SeitenUm historiador sobre teoria e metodologiaLídio CabralNoch keine Bewertungen
- Sociedade de controle globalDokument13 SeitenSociedade de controle globalEduardoNoch keine Bewertungen
- Tempos ModernosDokument19 SeitenTempos ModernosMarcelo GomesNoch keine Bewertungen
- outDokument9 SeitenoutJtech RodriguesNoch keine Bewertungen
- JoaoBosco ContribuiçõesFilosofia HeideggerDokument4 SeitenJoaoBosco ContribuiçõesFilosofia HeideggerWander SidartaNoch keine Bewertungen
- A Crítica Da Epistemologia Na Sociologia Do Conhecimento de Karl MannheimDokument19 SeitenA Crítica Da Epistemologia Na Sociologia Do Conhecimento de Karl MannheimCleNoch keine Bewertungen
- 02 TaniaDokument16 Seiten02 TaniaThiciara MattiazziNoch keine Bewertungen
- Uma Aproximação de Kant À Sociedade Civil - o Discurso CríticoDokument20 SeitenUma Aproximação de Kant À Sociedade Civil - o Discurso CríticoRiso SérioNoch keine Bewertungen
- A Consciência de ClasseDokument26 SeitenA Consciência de ClasseMarcus CastanholaNoch keine Bewertungen
- Ascensão e Colapso Da Razão Instrumental NeoliberalDokument28 SeitenAscensão e Colapso Da Razão Instrumental NeoliberalSamira ÁvilaNoch keine Bewertungen
- Resenha do livro Condição Pós-Moderna de David HarveyDokument6 SeitenResenha do livro Condição Pós-Moderna de David HarveyEl GregoNoch keine Bewertungen
- Revistas para Que Por QueDokument22 SeitenRevistas para Que Por QueFred TavaresNoch keine Bewertungen
- Vida Alternativa 1985 Fernando GabeiraDokument36 SeitenVida Alternativa 1985 Fernando Gabeirapatriciaaso100% (1)
- F. A. Von Hayek e o conhecimento tácitoDokument20 SeitenF. A. Von Hayek e o conhecimento tácitoAnonymous 8zlMz9ZHNoch keine Bewertungen
- Apresentação Do Rosto Permaneceu Marginalmente Acessível para Os Poucos Que, PorDokument4 SeitenApresentação Do Rosto Permaneceu Marginalmente Acessível para Os Poucos Que, PorAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Philippe PetitDokument4 SeitenPhilippe PetitAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Cabinet. JPSDokument3 SeitenCabinet. JPSAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Thomas WolfeDokument3 SeitenThomas WolfeAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Rui Nunes. o Anjo CamponêsDokument4 SeitenRui Nunes. o Anjo CamponêsAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Fuck The PolisDokument5 SeitenFuck The PolisAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- MexiaDokument4 SeitenMexiaAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Viagem ao fim da narrativaDokument4 SeitenViagem ao fim da narrativaAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Caderno de Campo PoéticoDokument4 SeitenCaderno de Campo PoéticoAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Bruno de CarvalhoDokument4 SeitenBruno de CarvalhoAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Rui Nunes. o Anjo CamponêsDokument4 SeitenRui Nunes. o Anjo CamponêsAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Trabalho FinalDokument24 SeitenTrabalho FinalAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Philippe PetitDokument4 SeitenPhilippe PetitAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Olafur EliassonDokument3 SeitenOlafur EliassonDiogo Vaz PintoNoch keine Bewertungen
- Isabel Lucas, turista da LiteraturaDokument3 SeitenIsabel Lucas, turista da LiteraturaAnabela Rosa RosaNoch keine Bewertungen
- Mapa - Prática Pedagógica Vivência Profissional - 53-2023Dokument2 SeitenMapa - Prática Pedagógica Vivência Profissional - 53-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaNoch keine Bewertungen
- pdf_04628_ingles-8-ordm-ano-2024-professor-webDokument33 Seitenpdf_04628_ingles-8-ordm-ano-2024-professor-webmabyg2017Noch keine Bewertungen
- As nuances da amizade e do amorDokument4 SeitenAs nuances da amizade e do amorMarcus Vinicios P da Silva100% (1)
- Áreas funcionais do córtex cerebral e correlações clínicasDokument2 SeitenÁreas funcionais do córtex cerebral e correlações clínicasJaqueline DamaschiNoch keine Bewertungen
- A poesia de resistência de Sophia no Livro SextoDokument14 SeitenA poesia de resistência de Sophia no Livro Sextocatia_517265641Noch keine Bewertungen
- Direitos Juventude 18 artigosDokument2 SeitenDireitos Juventude 18 artigosIsaViEnzoNoch keine Bewertungen
- Template TCC 2015 - Fabiana Provasi SilvaDokument50 SeitenTemplate TCC 2015 - Fabiana Provasi Silvaapi-259573165Noch keine Bewertungen
- Quadrinhos e Ideologia (Para Efraim RodriguesDokument2 SeitenQuadrinhos e Ideologia (Para Efraim Rodriguesmistermagoo2Noch keine Bewertungen
- Plano de Comunicação Terceiro SetorDokument54 SeitenPlano de Comunicação Terceiro SetorIsis Santana100% (1)
- A Arte Perdida Da EscutaDokument2 SeitenA Arte Perdida Da EscutaGabriel Moreira Dos SantosNoch keine Bewertungen
- Questionário Unidade Iv - Gestão Estratégica de Recursos Humanos Unip EadDokument8 SeitenQuestionário Unidade Iv - Gestão Estratégica de Recursos Humanos Unip EadGuilherme BarbozaNoch keine Bewertungen
- Corpo construído culturalmenteDokument2 SeitenCorpo construído culturalmenteGraziella SouzaNoch keine Bewertungen
- Astrologia não fundamenta decisão em processo seletivoDokument2 SeitenAstrologia não fundamenta decisão em processo seletivoAlícia MariaNoch keine Bewertungen
- Angela Maria RodriguesDokument16 SeitenAngela Maria RodriguesSamara MoraesNoch keine Bewertungen
- TRCellDokument2 SeitenTRCellandersonamaralNoch keine Bewertungen
- Mestre Caldeira e a Corrente Indiana do EspaçoDokument283 SeitenMestre Caldeira e a Corrente Indiana do EspaçoDulce Miranda100% (1)
- Gestão Comunicação Projetos - Aula 5Dokument16 SeitenGestão Comunicação Projetos - Aula 5Paulo Gabriel CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Queda Livre-4Dokument6 SeitenQueda Livre-4Yuca GoesNoch keine Bewertungen
- Avaliação de imóveis: discussões sobre credenciamento e períciasDokument11 SeitenAvaliação de imóveis: discussões sobre credenciamento e períciasMateus ManhaniNoch keine Bewertungen
- Documento Orientador - CIP - Novas Orientações Fundação CasaDokument110 SeitenDocumento Orientador - CIP - Novas Orientações Fundação CasaRoberta Luz100% (3)
- A Caminho Do Mundo-Luz Celestial: o Areruya e Os Profetismos Kapon e PemonDokument167 SeitenA Caminho Do Mundo-Luz Celestial: o Areruya e Os Profetismos Kapon e PemonVirgíniaNoch keine Bewertungen
- Operações Unitárias II - Lista de ExercíciosDokument3 SeitenOperações Unitárias II - Lista de ExercíciosRicardo AbraãoNoch keine Bewertungen
- Desempenho Operacional de Um Subsolador em Função de Diferentes Espaçamentos Entre Hastes e Velocidades de DeslocamentoDokument4 SeitenDesempenho Operacional de Um Subsolador em Função de Diferentes Espaçamentos Entre Hastes e Velocidades de DeslocamentoTiago Rodrigo FrancettoNoch keine Bewertungen
- Gerar boletos bancários com o componente FreeBoleto para DelphiDokument9 SeitenGerar boletos bancários com o componente FreeBoleto para DelphiSandoval JoseNoch keine Bewertungen