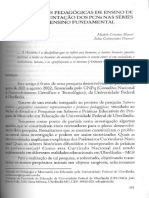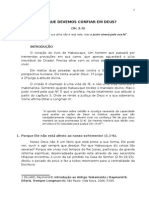Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Entrevista Chartier
Hochgeladen von
Lenita RodriguesOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Entrevista Chartier
Hochgeladen von
Lenita RodriguesCopyright:
Verfügbare Formate
<!
--[PAGINA_ANTERIOR]
[/PAGINA_ANTERIOR]-->1
entrevista HISTRIA
Conversa com Roger Chartier
Por Isabel Lustosa
<!--[IMAGEM]
[IMG-LEGENDA] [IMG-CREDITO]
[/IMAGEM]-->
"No posso aceitar a idia que est identificada com o ps -modernismo de que todos os discursos so possveis porque remetem sempre posio de quem o enuncia e nunca ao objeto", afirma o historiador em entrevista exclusiva
Encontrei Roger Chartier no hall da Casa de Rui Barbosa no dia anterior a essa entrevista. Ele voltava do almoo com Sandra Pesavento, sua amiga e organizadora do Seminrio de Histria Cultural, do qual estava participando. Sandra j lhe havia falado de mim e dito do meu interess e em conver sar com ele, de modo que quando nos vimos de longe ela me acenou. Imediatamente, o professor Chartier veio ao meio encontro com aquele sorriso simptico que uma de suas car actersticas. Pois Roger Chartier, a par de ser uma cel ebridade do mund o acadmico, extremamente simples, af vel, quase carioca na maneira natural e bem -humorada de se aproximar das pessoas, de deix-l as vontade. M arcamos a entrevista par a a manh do dia seguinte (16/09/2004), no Hotel Glria, onde o historiador gosta de se hospedar no Rio de Janeiro. Sabendo o quanto Chartier tem sido entrevistado por historiadores e jornalistas e seguindo o meu pendor natural para conhecer a vida das pessoas, orientei minhas primeiras perguntas no sentido de conhecer um pouco da biografi a do entrevistado. Chartier resistiu bravamente a se tornar ele mesmo objeto de estudo, mas no exerccio legtimo desta resistncia nos proporciona aqui uma interessante reflexo sobre a questo biogrfica. Entrevistado que facilita o trabalho do entrevis tador, pois reage aos temas com clareza, vivacidade e erudio, o que ressalta do discurso de Chartier o seu permanente interesse pelos temas relacionados ao seu trabalho. A maneira articulada e inteligente como as suas respostas brotam denunciam o intel ectu al em que trabalho e vida se confundem, tal como na proposio de Wright Mills: "A erudio uma escolha de como viver e ao mesmo tempo uma escolha de carreira; quer o sabia ou no, o trabalhador intelectu al forma seu prprio eu medida que se aproxi ma da perfeio de seu ofcio". Diretor na Escola de Altos Estudos em Cincias Sociais, em Paris, e professor especializado em histria das prticas culturais e histria da leitura, Roger Chartier um dos mais conhecidos historiadores da atualidade, com o bras publicadas em vrios pases do mundo. Sua reflexo terica inovadora abriu novas possibilidades para os estudos em histria cultural e estimula a permanente renovao nas maneiras de ler e fazer a histria.
Chartier foi professor convidado de numerosas universidades estr angeiras (Princeton, Montreal, Yale, Cornell, John Hopkins, Chicago, Pensilvnia, Berkeley etc) e publicou no Brasil os seguintes livros: Histria da vida privada, vol. 3: da Renascena ao Sculo das Luzes (Companhia das Letr as) ; Cultura escrita, literatura e histria (Artmed), Formas do sentido - Cultura escrita: entre distino e apropriao (Mercado de Letras), Os desafios da escrita (ed. da Unesp), A aventura do livro (Unesp), A beira da falsia (Editora da Universidade), Do Palco Pgina (Casa da Palavra), A ordem dos livros (UnB), Histria da leitura no mundo ocidental (tica), Prticas da leitura (Estao Liberdade), O poder das bibliotecas: a memria dos livros no Ocidente ( sob a direo de M. Bar atin e C. Jacob, Ed. UFRJ) e Leituras e leitores na Frana do Antigo Regime (Unesp).
Quem Roger Chartier? Como a sua obra se relaciona com a sua histria de vida? Roger Chartier: Tenho sempre uma certa prudnci a com questes pes so ai s. Acho que, quando a gente fal a de si , constri al go i mposs vel de ser sincero, uma representao de si para os que vo l er ou para si mesmo. Gostari a de l embrar, a este propsi to, o texto de Pi erre Bourdi eu sobre a iluso biogrfi ca ou a iluso autob iogrfi ca. Bourdi eu cri ti ca este ti po de narrati va em que uma vi da tratada como uma trajetri a de coernci a, como um fio ni co, quando sabemos que, na exi stnci a de qualquer pessoa, mul ti pli cam -se os azar es, as causali dades, as oportunidades. Outro aspecto da iluso biogrfi ca ou autobiogrfi ca pensar que as coi sas so mui to originai s, si ngul ares, pesso ai s, quando so, na verdade, freqentemente, experi nci as col eti vas, compartilhadas com as pessoas pertencentes a uma mesma gerao. Ao fazer um rel ato a utobiogrfi co quase i mposs vel evi tar cai r nesta dupl a iluso: ou a iluso da singul aridade das pessoas frente s experi nci as compartilhadas ou a iluso da coernci a perfei ta numa trajetri a de vida. Penso que esse ti po de rel ato s tem sentido quando p odemos rel acionar um detalhe, al go que seri a puramente anedti co, com o mundo soci al ou acadmi co em que se vive. Pi erre Nora l anou a idi a de ego -hi stri a numa col etnea de ensaios onde esto reunidas oi to autobiografi as: George Duby, Jacques Le Goff, Pi erre Duby, dentre outros. Eram autores conheci dos fal ando sobre sua trajetri a pessoal ou rel acionando -a com a escolha de deter minado perodo ou campo hi stri co. Mas pessoal mente considero mui to dif cil evi tar o anedti co ou o demasi ado pessoal nesse ti p o de rel ato. Como pensar em si , objeti vando entender seu prprio destino soci al ? Acho que preci so pri mei ro si tuar -se dentro do mundo soci al e da fazer um esforo de di ssoci ao da personagem: a personagem que fal a e a personagem sobre a qual se fal a, qu e o mesmo i ndi v duo. Isto posto, podemos entrar, com uma certa cautel a, na resposta sua pergunta. Nasci em Lyon e perteno a um estr ato soci al fora do mundo dos dominantes, sem tr adi o no meio acadmi co. Minha trajetri a escolar e uni versi tri a foi co nseqnci a desta origem. Na Fr ana, o trao dominante era a reproduo: o si stema escol ar e universi trio l evava a que os filhos reproduzi ssem as mesmas posi es soci ai s dos pai s. Pi erre Bordi eu e Jean Cl aude Passeron tratar am desse tema em doi s livros. O pri mei ro, publicado em 1964, chamava -se Os herdeiros e o segundo, de 1970, A reproduo. Natural mente que h espao para que as pessoas que vm de outro hori zonte soci al
possam dri bl ar essa tendnci a. A minha prpri a trajetri a pertence a esta exceo. Para entend -l a preci so um certo conheci mento da realidade soci al do ps -guerra na Frana, entre os anos 1950 e 60, quando predominava o si stema de reproduo, mas onde havi a tambm al guma possibilidade de ascenso para gente de outra origem soci al . Acho, no entanto, que quando h este ti po de tenso entre uma forma dominante de escol a e uma indi vidualidade de ori gem diferente que consegue furar este si stema sempr e se mantm al go dessa tenso, dessa difi culdade.
O historiador ingls, Richard Hoggart, em seu livro The uses of literacy, reflete sobre a sua prpria trajetria de estudante bolsista oriundo de uma famlia de operrios. Esta filiao ao lugar de origem, essa relao entre a autobiografia e objeto de estudo, foi extremamente proveitosa no caso de Hoggart, no lhe parece? Chartier: Traduzi do para o francs como La cul ture du pauvre, o li vro de Hoggart real mente mar avilhoso, poi s consegue articul ar el ementos biogrfi cos com uma refl exo profunda sobre a mdi a vol tada par a as cl asses popul are s, neste caso a cl asse operri a i ngl esa dos anos 1940 e 50. O princi pal propsi to desse li vro questionar a idi a segundo a qual todos os l ei tores ou ouvi ntes das produes dessa i ndstri a cul tural acredi tavam pi amente em suas mensagens. Vi veri am sob uma forma de ali enao, submeti dos aos modelos soci ai s que as mensagens dos mass medi a do tempo -rdio, cinema e revi stas - i mpunham. Hoggart queri a mostrar que havi a uma relao mui to mai s compl exa, ambi val ente, entre crer e no crer, acei tar a fi co e, ao mesmo tempo, ter a consci nci a de que se trata de um mundo irreal , um mundo de fbul a, de fico. A oposi o entre ns e os outros era um el emento mui to cl aro no livro de Hoggart, e a manei ra como estabel ece a rel ao entre hi stri a pessoal e di scusso sociolgi ca me par ece mui to justa e adequada. Em Lyon, no entanto, no ramos uma cl asse operri a no mesmo senti do de Hoggart. Vi v amos num mundo de artesos que trabal havam de uma manei ra ou de outra na ati vidade domi nante da ci dade que a seda. Havi a al go como o que descr eve Hoggart na rel ao com os horscopos, com os di rios de grande ti ragem e as canes. Mas no havi a apenas a ci rcul ao dos produtos culturai s que descreve Hoggart, havi a tambm um certo gosto por uma parte da cul tura dominante. A pera, por exemplo, era mui to popul ar. Na Lyon da mi nha infnci a i a -se pera como se i a ao cinema, duas, trs vezes por semana. Era uma apropri ao mui to popular no de todo o repertrio da pera, mas princi pal mente da pera i tali ana, de Verdi , dos franceses. Meu pai viu Carmen 25 vezes. Essa rel ao mudou entre os anos 1960 e 1970, quando este mundo dos artesos foi gradati vamente desaparecendo e, em seu l ugar, surgiu uma fratura mais profunda entre o mundo dos que vo pera e o dos que gostam de outra for ma de di verso.
Um aspecto que me pareceu interessante no livro de Hoggart a importncia que a literatura teve para a sua formao. Imagino que na Frana, onde a tradio literria to forte, uma formao baseada nessas leitura s de mocidade deve influ ir na possibilidade de romper com o sistema da reproduo.
Voc no acha? Chartier: De fato, na Frana, a li teratura tinha mui ta i mportnci a na escol a. Principal mente porque o curr culo da escola pri mri a utili zava para di versos exerc cios pedaggi cos frag mentos dos cl ssi cos, de Vi ctor Hugo, dos noveli stas do scul o 19, como Al phonse Daudet. Dessa manei ra, como a escol a obrigatri a, cada um, at a idade de 14 anos, inclusi ve a gente das camadas mai s popul ares, tinha uma rel ao di reta, ai nda que fragment ri a, com esse corpus literrio que define a li teratura francesa. Para os alunos dos liceus, havi a tambm todo o repertrio da literatura cl ssi ca do sculo 17: Corneille, Moli re, Raci ne. Havia uma i mpregnao mui to forte daquilo que, numa defini o cann i ca, chamam de literatura. No sei se i sso ai nda assi m hoje em di a, porque a escol a pri mri a ou secundria se desprendeu um pouco desse corpus canni co de textos e se abriu a autores contemporneos. A m di a tambm mudou mui to. Recordo que nos anos 1960 h avi a somente uma rede de tel evi so que sa a do ar s oi to e mei a da noi te e onde se li a Corneill e. Apresentar numa rede pblica, com uma programao ni ca para todos, s oi to e mei a, um texto cl ssi co, algo i mpensvel hoje. Sal vo nos canai s parti cul ares desti nados a um certo pblico. O mundo mudou profundamente no final dos anos 1960. 1968 foi um marco da ruptura cul tural , no necessari amente no senti do que usual mente se pensa: de uma abertura, da quebra da autoridade, de formas mai s abertas de comportame nto. Mas o que tambm houve a parti r de 68 foi o agravamento desse esp ri to de comerci ali zao, com a destrui o da di menso cul tural , por exemplo, da tel evi so. Destrui o no senti do de que no h apen as a possi bilidade compartilhada por toda a gente de v er ou desligar a tel evi so. Agora h uma fragmentao infinita, h os canai s para os que gostam de pop, para os que gostam de rock, da msi ca cl ssi ca. uma forma de fragmentao cul tural que tambm se pode ver como uma forma de liberdade e de di versifi cao. Mas ao mesmo tempo, 68 marca tambm o desapar eci mento de uma cul tura compartilhada e arrai gada numa ref ernci a como a literatura naci onal e universal . A minha gerao foi, no Brasil, talvez a ltima em que a leitura dos clssicos da literatura universal era um hbito. Acho que isso criou um universo de referncia para a nossa gerao que diferente dos jovens de hoje. De que maneira esse universo de referncias culturais originadas da leitura dos clssicos e st na base da viso de mundo do hist oriador de hoje em dia? Por outro lado, de que maneira esse universo de refe rncia cultural mais amplia do contribuiu para a aceitao de abordagens interdisciplinares? Chartier: No devemos pensar que o passado era necessari amente mel hor. H autores que se especi ali zaram nesse ti po de di agnsti co pessi mi sta. Acho, ao contrri o, que hoje se l mai s do que nos anos 1950. Inclusi ve porque o computador no apenas um novo ve culo para i magens ou jogos. El e responsvel tambm pel a mul ti pli cao da presena do escri tor nas soci edades contemporneas. No computador tanto se pode l os cl ssi cos como publicaes acadmi cas e revi stas em ger al . Podem no ser necessari amente l ei turas fundamentai s, enri quecedoras, mas so l ei turas. <No se pode di zer, portanto, que e stejamos assi stindo ao desapareci mento da cultura
escri ta. O probl ema qual cul tura escrita persi ste. di f cil entender a arti cul ao sempre instvel entre as novas formas cul turai s, as novas pref ernci as dos jovens e o que se mantm como uma ref ernci a fundamental . O fato de que os textos li dos pelos adol escentes no computador, suas l ei turas predil etas, no pertenam quel e repertrio definido como literrio no necessari amente al go rui m. O probl ema est numa certa di screpnci a entre essa nova cul tura e os model os de refernci a que, a nosso ver, seri am mai s consi stentes e forneceri am mai s recursos para a compreenso do mundo soci al , a compreenso de si mesmo e a representao do outro. Para i sto no tenho resposta, mas me par ece que h duas posi es que se deve evi tar. Uma a que consi dera que essa presena da literatura na realidade coti di ana pertence a um mundo defini ti vamente desapareci do. No me parece um di agnsti co adequado, poi s h, na atualidade, um esforo dentro da escol a e fora da escol a para preservar a cul tura literri a. O que torna di f cil identificar esse esforo que, se antes el e era evi dente e se concentrava em al gumas ativi dades, hoje el e se di versi fi ca atravs, por exempl o, dos novos e vari ados meios de comuni cao. A outra posi o a dos que pensam que no h nada de provei toso, til ou fundamental nesse novo mundo. Postura que me par ece mui to inadequada quando pensamos nas possi bilidades educati vas cr i adas pel as novas tecnologi as, nas di versas experi nci as para a al fabeti zao, par a a transmi sso do saber di stnci a. Acho que responsabilidade dos intel ectuai s, dos mei os de comuni cao, dos edi tores, assegurar a transmi sso de um saber sobre o mundo, atravs de projetos que vinculem a di menso estti ca ou a di menso ci entfica com a exi stnci a coti di ana. Para que as pessoas no sejam total mente submeti das s l ei s do mercado, incerteza ou inqui etude, o essenci al dar a cada um instrumentos que lhe permi ta deci frar o mundo em que vi ve e a su a prpri a si tuao neste mundo. Esse s aber que pode vi r da sociologi a, da li teratura, da hi stri a, possibilitari a a resi stnci a s i mposi es dominantes que vm de todas as partes: dos di scursos ideolgi cos, das mensagens dos ve culos de comuni cao, da cul tura de massa etc. O que Hoggart descr evi a em seu mar avilhoso li vro era a manei ra como tambm podemos nos pl asmar, nos construir atravs do conheci mento. Trata -se de uma experi nci a densa e forte que se pode obter atr avs dos textos li terri os, do presente ou do passado, uma perspecti va que e nvolve tanto a transmi sso da bel eza, mas tambm uma di menso cr ti ca. Mas me parece que, se h um caminho no li terrio para se adqui rir saber sobre o mundo social , por que procurar os instrumentos mai s vulnervei s para deci frar esse mundo?
Apesar da valorizao terica que a moderna historiografia tem promovido da narrativa sempre vejo os historiadores a trabalharem ainda com um certo pudor, acompanhando cada fato narrado de uma anlise minuciosa daquele aspecto ou ento recorrendo ao chamado argumento d e autoridade. Parece-me que isso prejudica o resultado do ponto de vista da narrativa, pois, em geral, a torna fragmentada e desinteressante. O que voc acha? Chartier: Entre os anos 1950 e 60, os hi stori adores buscavam uma forma de saber control ado, apoi a do sobre tcni cas de investi gao, de medi das estat sti cas, concei tos teri cos etc. Acredi tavam que o saber inerente hi stri a devi a se sobrepor narrativa, poi s achavam que o mundo da narrati va er a o mundo da fi co, do i maginrio, da fbul a. Desta per specti va os hi stori adores rechaaram a narrati va e desprezaram os
hi stori adores profi ssionai s que segui am escrevendo biografi as, hi stri a factual e tudo i sso. A tradi o francesa dos Annal es foi uma das que l evou mai s longe essa tendnci a. Hoje, no entanto, a si tuao tornou -se mui to mai s compli cada. Uma das razes que autores como Hayden Whi te e Paul Ri coeur mostraram que, mesmo quando os hi stori adores utili zam estat sti cas ou qual quer outro mtodo estruturali sta, produzem uma narrati va. Quer di zer: quand o di zem que tal coi sa conseqnci a ou causa de outra, estabel ecem uma ordem seqenci al, se val em de uma concepo da temporalidade, que a mesma de uma novel a e de um rel ato hi storiogrfi co. Ao mesmo tempo, enti dades abstr atas, como cl asses, valores e c oncei tos, atuam no di scurso dos hi stori adores quase como personagens, havendo toda uma forma de personifi cao das enti dades col eti vas ou abstratas. D essa forma o hi stori ador no pode evi tar a narrao, incl usi ve quando a rechaa consci entemente. Poi s a es cri ta da hi stri a por si mesma, pel a manei ra de arti cul ar dos eventos, pel a utili zao da noo de causalidade, trabal hari a sempre com as mesmas estruturas e com as mesmas fi guras de uma narrati va de fi co. a partir desse parentesco entre a narrati va de fi co e a narrati va hi stri ca que se coloca a questo: onde est a diferena? Al guns cr ti cos ps -modernos adotaram um rel ati vi smo radi cal e deci diram que no havi a diferena e que a hi stri a era fi ccional no apenas no senti do da forma. Ou seja: no di z i am que no h verdade na hi stri a, mas que a verdade do saber hi stri co era absolutamente semel hante verdade de uma novel a. Outros hi stori adores, dentre os quai s eu me insi ro, acredi tam que h al go espec fico no di scurso hi stri co, poi s este construdo a partir de tcni cas espec fi cas. Pode ser uma hi stri a de eventos pol ti cos ou a descri o de uma soci edade ou uma prti ca de hi stri a cul tural , para produzi -l a o hi stori ador deve l er os documentos, organi zar suas fontes, manejar tcni cas de an li se, ut ili zar cri trios de prova. Coi sas com as quai s um noveli sta no deve se preocupar. Portanto, se preci so adotar essas tcni cas em parti cul ar, porque h uma i nteno di ferente no fazer hi stri a: que restabelecer a verdade entre o rel ato e o que o objeto deste rel ato. O hi stori ador hoje preci sa achar uma forma de atender a essa exi gnci a de ci entifi ci dade que supe o aprendi zado da tcni ca, a busca de provas parti cul ares, sabendo que seja qual for a sua forma de escri ta esta pertencer sempr e categor i a dos rel atos, da narrati va. Al guns hi stori adores deci diram ento que no vali a pena lutar contra algo inevi tvel e passar am a utili zar -se dos recursos mai s persuasi vos da narrati va a servi o de uma demonstrao hi stri ca. Adotaram formas de narrati va q ue permi ti am assegurar, di gamos assi m, a mi se -en-scne da prova. Hi stori adores como Carlo Ginzburg utili zam tcni cas de narrao que so at mesmo mai s cinematogrfi cas do que propri amente novel escas. Outros entrecruzam di versas hi stri as de vi da. Acho que a si tuao atual no a de uma oposi o absoluta entre a narrati va como fi co e a hi stri a como saber, mas de um saber que se escr eve atr avs da narrati va e da ser necessri a uma refl exo sobre que ti po de narrati va adotar. Uma narrati va onde se respei te o di scurso do saber, mas que, ao mesmo tempo, seja atrati va par a um pbli co de l ei tores. No uma taref a fcil, mas h exemplos que demonstram que pode ser fei to.
Talvez aqui se possa colocar tambm a questo do talento do narrador. Alguns livros de histria, como os de Robert Darnton, Nathalie Zemon Davies e Michel Volvelle, so bem escritos, agradveis de ler... Chartier: uma questo de tal ento, si m, mas tambm do campo de investi gao. Penso que h formas de saber nas ci nci as humanas e soci ai s que so absolutamente fundamentai s, mas que no podem se apresentar atr avs de manei ras to sedutoras ou mesmo que no pretendem necessari amen te encontrar um grande pbli co. Se al gum trabalha, por exemplo, sobre tcni cas arqueolgi cas na Mesopotmi a antiga ou sobre al gum tema da hi stri a econmi ca mai s dif cil, evi dentemente os cri tri os de ci entifi cidade exi gidos para a reali zao do trabalho o afastam de um formato mai s sedutor e fcil para os l ei tores. Se al gum trabal ha, por exempl o, sobre a filologi a grega, estabel ecendo o texto de uma tragdi a de Sfocl es, uma contri bui o fundamental para o conheci mento, mas no vamos pensar que v vender 100 mil exempl ares. Di go i sso porque me par ece que na Frana, parti cul armente, aps o sucesso de livros como o Montaillou, de Le Roy Laduri e, fixou -se a i di a de que toda a obra de hi stri a deveri a necessari amente atr ai r um grande pbli co. A parti r da as edi toras passar am a pri vil egi ar os li vros que tratavam de temas que esti vessem na moda, adotando uma ati tude d e desprezo para com trabal hos mai s modestos ou dif cei s. Por um l ado muito bom pensar que o hi stori ador no deve permanecer em sua torre de marfi m, que assi m est fazendo algo til ao fornecer um instrumento cr ti co ao pblico para pensar seu passado col eti vo e seu mundo contemporneo. Mas i sto se torna peri goso quando a busca pel o xi to afasta o hi stori ador dos objetos ou cri trios prprios da prti ca ci entfi ca. O i mportante estabel ecer formas de medi ao. Atual mente, junto com Mi chll e Perrot e Jacqu es Le Goff, ocupo-me de um programa de rdio em Pari s, Les mati ns de France cul ture, onde di scuti mos livros que difi cilmente podem encontrar um grande pbli co. Mas, se h a medi ao, o pblico pode ter i di a do progresso do saber. Isso um exempl o do qu e considero uma forma medi ati zada de conheci mento.
H algum tempo fiz a resenha de um livro de ensaios do antroplogo James Cliffo rd. Tive uma certa sensao de desconforto diante de leitura ps -moderna e desconstrutivista que ele faz da tradio etnogrf ica. A etnografia foi um instrumento criado pela cultura ocidental para entender pessoas de outras culturas, no significando que aquelas pessoas tivessem a mesma nsia de nos entender ou de entenderem a si mesmas, ou, ainda, que achassem que a etnografia seria a ferramenta adequada para isto. Cada cultura tem os seus prprios meios de se relacionar com o mundo. A meu ver, sempre se parte de uma base histrica, ideolgica ou cultural para fa zer alguma coisa, para pen sar ou para agir. O ps-modernismo foi u m exerccio de desconstruo da cultura ocidental, e nossa base o universo de informaes que compem a cultura ocidental. Ela que nos fornece os instrumentos e a motivao para pensarmos sobre ns e sobre o mundo. E at para fazer a crtica dessa manei ra de pensar. Chartier: Penso que, em certo senti do, o trabalho de James Clifford est em par al elo ao de Hayden Whi te. Acho que algo l egi ti mo fazer hi stori adores e antroplogos refl etirem sobre a prpri a escri ta. Durante mui to tempo a escri ta foi vi sta c omo um
mei o neutro para fal ar sobre o passado ou para descr ever o outro. Da ter si do fundamental fazer del a um objeto de refl exo, tal como fez Whi te, ao pensar sobre o papel , na escri ta do hi stori ador, de el ementos como a retri ca e as fi guras que se man ejam par a escrever sobre o passado. O mesmo fez J ames Clifford com rel ao aos di sposi ti vos que os antroplogos utili zam em seu trabalho. Outra contribui o fundamental dessa corrente foi a i di a de que h uma descontinuidade necessri a entre o presente e o passado, ou entre o antroplogo e o outro, a qual no pode ser anul ada pel a idi a de uni versali dade e de compreenso de si prprio. Tal concepo se api a sobre o concei to de desconti nuidade de Foucaul t, que demonstrou que exi ste ruptura em concei tos com o de loucura, medi cina, clnica e sexuali dade. Essa ati tude proporciona uma consci nci a dos limi tes da utili zao de tcni cas de investi gao ou de observao. Supe tambm uma forma de ti ca na investi gao, no encontro com o outro, do passado ou de hoje. Mas tanto no texto de Whi te quanto no de Clifford h um rel ati vi smo absol uto. No posso acei tar a i di a que est identi fi cada com o ps -moderni smo de que todos os di scursos so poss vei s porque remetem sempre posi o de quem o enunci a e nunca ao objeto. De acordo com essa vi so, o discurso sempre autoproduzi do: no di z nada sobre o objeto e di z tudo sobre quem o escreveu. Parece-me uma concluso equi vocada, a parti r de premi ssas interessantes, porque, tanto no caso da hi stri a quanto no da antropologi a , uma produo de saber poss vel e necessri a. tambm uma per specti va que se val e dos argumentos do poli ti camente correto, assumi ndo -se como a forma de respei tar o outro, aquel e que est absolutamente desconheci do, conservando -lhe a identi dade prpri a. Esta justaposi o de si tuaes hi stri cas ou si tuaes antropolgi cas onde no exi ste nenhuma comuni cao, nenhum intercmbio, nem sequer de saberes, parece uma forma terri vel mente reduci oni sta daquilo que poderi a ser um projeto de conheci mento compartilh ado. Razo pel a qual estou compl etamente em desacordo com essa postura ps-moderna, essa i di a de que no h nenhuma possi bilidade de conheci mento. <!--[XBIO] [ diferente di zer que esse conheci mento sempre esteve organi zado a parti r dos esquemas de per cepo, de cl assi fi cao e compreenso do observador. E que, se exi stem formas de desconti nuidade cul turai s, preci so, assi m mesmo, fazer um esforo para entender o passado e o outro. Pois foi a parti r dessa dupl a perspecti va que se construiu um saber, e me par ece que os trabal hos fundamentai s da hi stria e da antropologi a demonstram que este saber no s poss vel como tambm pode ser ofereci do ao outro para con heci mento de si mesmo -par a fazer com que o objeto do saber possa transformar -se em seu prprio manufator, no dependendo apenas do conheci mento produzi do pelo antroplogo ou hi stori ador. Parece-me que, assi m, temos a ci rcul ao da fora cr ti ca do saber. Se i sso for destru do, cai -se num rel ati vi smo absoluto. O que me parece seri a uma concl uso trgi ca e ao mesmo tempo mui to ideolgi ca.
Neste momento temos a sensao de que tudo se tornou possvel: prtica s que haviam sido banidas por um conjunto de acord os internacionais no ps-guerra vm sendo implementadas pelos EUA na guerra no Iraque ou ao manterem
pessoas presas sem julgamento em Guantnamo. Ao mesmo tempo, ocorre a perda de fora de organismos internacionais, como a ONU. Na medida em que sabemos que as grandes idias so filt radas e incorporadas agenda do senso comum, a perspectiva radicalmente relativista do ps -moderno no teria infludo de alguma forma nesse tipo de poltica, esvaziando a confiana em algumas conquistas do humanismo e da cultura do Ocidente? Chartier: O maior paradoxo do ps -moderni smo que nasce de uma perspecti va cr ti ca das autori dades, das hi erarqui as e dos el ementos dominantes, mas, com a introduo da di menso epi stemol gi ca do rel ati vi smo, a anli se fi ca sem nenhum recurso para fundamentar esta postura crti ca. Poi s, se tudo poss vel , todos os di scursos podem ser di ferentes por sua competnci a retri ca, por sua arte de expr esso, mas em termos de saber e como instrumento cr ti co no h diferena entre el es. Cri a-se uma tenso fundamental . Hayden Whi te, por exempl o, um humanista que compartilha os valores morai s do humani smo. Mas a apli cao de sua perspecti va no d hi stri a instrumentos para produzi r um conheci mento cr ti co, desmen tir as fal sifi caes e estabel ecer u m saber verdadei ro. Porque, se no h nenhum cri trio para estabel ecer diferenas entre os di scursos dos hi stori adores, torna-se mui to dif cil cri ti car os di scursos enganosos, as fal sifi caes e as tentati vas de reescri ta do passado. Este , me parece, o g rande limi te do ps -moderni smo: a contradi o entre sua i nteno e a sua epi stemologi a.
Em seu livro O grande massacre dos gatos, Robert Darnton adota as idias e os mtodos de Clifford Gert z, dando tratamento etnogrfico a um objeto de estudo histrico. Esse foco ampliado sobre um detalhe me parece produzir uma viso distorcida do objeto. De que forma voc v esse tipo de investigao? Chartier: Houve um grande debate depoi s da publicao do livro de Darnton. Uma das cr ti cas mai s fortes fei tas a el e tem a ver com a sua i dentifi cao com as i di as de Geertz e de sua tendnci a textuali zao das estruturas, das prti cas ri tuai s e de toda a cul tura. O ponto de parti da de Darnton, utilizando a i di a de Geertz de que um ri to pode ser lido como um t exto, er a que se podi a pensar as prti cas soci ai s como se fossem textos. Em O grande massacre dos gatos as fontes de que Darnton se val e so, sobretudo, textuai s. Os hi stori adores que trabal ham com textos desenvol vem, em pri mei ro lugar, uma anli se cr ti ca do texto. No entanto, Darnton quase no avana nessa di reo. Para tratar o ri to como texto h como que uma supresso do texto em que o ri to est narrado. Quando se anali sa meti culosamente aquel e trabal ho surge um probl ema: no se pode di zer se a matan a i maginri a ou real , se teri a ocorrido real mente. El e menci ona o texto de um arteso, mas no lhe d maior i mportnci a, porque pretende se colocar i medi atamente na si tuao de um espectador do massacre. Como Geertz em Bali. No podemos pensar que h uma i dentidade necessri a entre a l gica propri amente textual e as estr atgi as das prti cas. Foucaul t estudou em seus li vros a tenso entre as sri es di scursi vas e os si stemas no-di scursi vos. Mi chel de Certeau pl asmou i sto na tenso entre as estratgi as di sc ursi vas e as tti cas de apropri ao. Bourdi eu refl etiu sobre as razes escol sti cas e o senti do prti co. Nesses tr s casos de vocabul rios teri cos diferentes o que h em comum a diferenci ao entre a lgi ca da produo textual ou da deci frao de um tex to utili zando as escri tas e as prti cas ou estratgias
de outras formas de construo, que so as prti cas cotidi anas, habi tuai s etc. Isto est em oposi o i di a de Geertz que par ece querer ver todas as prti cas do mundo soci al como se fossem textos deci frvei s. O mai s complicado para o hi stori ador que essas prti cas no -textuai s, em ger al , se encontram atr avs de textos. O desafio fundamental para o hi stori ador entender a rel ao entre os textos di spon vei s e as prti cas que estes textos probem, prescrevem, condenam, representam, desi gnam, cri ti cam etc. O essenci al pensar a i rreduti bilidade entre a lgi ca da prti ca e a lgica do discurso que, tal como di zi a Bourdi eu, no se podem confundir. As prti cas do passado so acess vei s a ns, em geral , at ravs de textos escri tos. E o hi stori ador escreve sobre essas prti cas. Ao descrev -l as o hi stori ador tem que ter cl aro que a operao da escri ta no cri a uma forma de rel ao parti cul ar com essas prti cas, que se tornaram conhec vei s atravs de sua medi a o. O desafio fundamental pensar concei tual e metodologi camente a arti cul ao e a di stnci a entre as prti cas e os di scursos e evi tar a repeti o daquel e momento, entre os anos 1950 -60, em que a metfora do texto se apli cava a tudo: aos ri tos, soci edad e etc. Era mui to cmodo.
Ento qualquer documento que no seja escrito, que no seja texto, coloca para o historiador esse tipo de proble ma. Tal o caso dos que trabalham com imagens -objeto que no possvel enfrentar atravs de mtodos ou regras muito esquemticos, no lhe parece? Chartier: A i magem um exemplo magnfi co para pensar o que di ssemos, poi s no uma prti ca di ssemi nada, sil enciosa, no sequer um texto. Crei o que querer anali s-l a como texto uma perspecti va teori camente equi vocada, porque a lgi ca de construo da i magem ou de decifrao da i magem no a mesma do texto. Parece me que a lgi ca grfi ca e a lgi ca textual no se i dentifi cam. A lgi ca textual necessari amente uma l gi ca linear, a escri ta se descr eve atr avs de ordem seqenci al . E a l ei tura, inclusi ve quando se vai de um fragmento a outro, uma l ei tura seqenci al . A observao de um quadro no est organi zada segundo esta ordem seqenci al . al go com uma lgi ca prpri a e que no se i dentifi ca com a l gica textual . H um a questo de di ferentes pl anos, de di ferentes entradas. Para resti tuir a lgi ca na decifrao da i magem, o hi stori ador necessari amente deve manejar a ordem seqenci al ou linear da escri ta. O resul tado desse esforo uma tenso. O que no si gnifica ser ess a uma taref a i mposs vel , mas que preci so estar consci ente de suas difi culdades. Meu ami go Loui s Marin, cuja obra admi ro, construiu uma argumentao a propsi to de como fazer textos com i magens. El e ci ta como exempl o Os sales, arti go em que Di derot tra nsforma um quadro em texto para cri ti c-lo. E toda a cr ti ca estti ca supe essa operao de fazer textos com i magens. O contrri o di sto, fazer i magens a parti r de textos, o princ pio de toda a i conografia cri st. Textos se tr ansformam em i magens, e vi ce -ver sa, mas nunca so i dnti cos entre si , poi s h toda uma sri e de interpretaes, medi aes, apropri aes. possvel utilizar a metfora da i magem como texto, ou da observao como l ei tura. Porm deve-se ter consci nci a de que apenas uma forma de fal a r, que no h uma adequao lgi co -teri ca entre os doi s documentos e que nunca se di ssol ve a irredutibilidade da diferena. Uma demonstrao perfei ta desta i rreduti bilidade veri fi cou -se quando al guns poetas
tentaram romper com essa lgi ca linear e seqenc i al e apresentaram o texto escri to como se fosse um grafi smo, com uma forma em que se podi a entrar no texto de manei ra di versa, sem a i mposi o da ordem linear da escri ta. Foi um esforo para fazer com que a escri ta fosse mai s i dentifi cada pel a sua forma g rfi ca do que por seu contedo semnti co. A meu ver as questes rel ati vas a i magens estar o sempre trafegando entre o espao que vai da cr tica textual cr ti ca estti ca.
Uma outra questo a do estilo, da retrica no texto de histria. Por exemplo, o tratamento irnico do problema, tal como voc identificou em Hayden White. Chartier: Quando Hayden Whi te descreve as quatro figuras retri cas que seri am sempre utili zadas pelos hi stori adores, i nclui , ao l ado da metfora, da sindoque e da meton mi a, a ironi a como uma forma de escri ta hi stri ca que se pode utili zar inclusive para temas que no tem a i roni a como objeto. No conheo mui tos hi stori adores que tenham empregado esse recurso para escr ever textos de hi stri a, tal vez por causa da tenso que o uso da i roni a provoca no texto. Creio que fazer ri r era a i di a de Darnton em O grande massacr e dos gatos, ao di vulgar o texto sobre aquel es artesos para os quai s era mui to di verti do matar gatos. Em todas essas obras veri fi camos que estamos di ante de uma descon ti nuidade. Os di sposi ti vos, os temas, as formas, os gneros que, em um dado momento, provocam o ri so ou o sorri so so hi stori camente defi nidos. Ao mesmo tempo, se podemos entender porque esse fato fazi a rir gente do Renasci mento porque h continuidade sufi ci ente para que os outros aspectos sejam percebi dos, entendi dos e compreendi dos. E o que mai s temos di scuti do com o ps moderni smo sobre a necessi dade de reconhecer as desconti nuidades hi stri cas sem cai r no rel ati vi smo que estabel ece que no h rel a o poss vel atravs de uma di stnci a profunda e que assi m i mposs vel qual quer compreenso do outro.
Ultimamente, aqui no Brasil, tm circulado na internet textos falsamente atribudos a escritores e jornalistas c lebres. So textos que tm uma certa identidade com o estilo do suposto autor, mas que so renegados com indignao. J houve tambm casos de textos atribudos a Jorge Lus Borges e a Gabriel Garca Mrquez, que, depois de muito terem rodado na rede, os especialistas negaram ser deles. Que o utros problemas para a questo da autoria a internet provoca? Chartier: Trata-se de uma ati tude inversa do pl gio, que roubar um trabal ho e assi n-lo, enquanto aqui se rouba o nome de al gum para por no seu prprio texto. Mas este no um fenmeno dir etamente vincul ado internet. Esta apenas modi fi cou a forma de ci rcul ao dessas fal si fi caes. Lope de Vega, por exemplo, em pl eno sculo 16, se quei xava que outros dramaturgos utilizavam seu nome para vender comdi as mui to ruins que el e nunca havi a escr i to. Para se proteger, el e di vul gou uma li sta com todas as su as obras, que er am mui tas, cer ca de 450, poi s el e era mui to prolfico. No mundo da i mprensa e da repr esentao teatr al essa apropri ao do nome pode ter di versos fins, no caso de Vega servi a para vender as comdi as. Pode tambm servi r para pensar em si mesmo como capaz de escrever um texto de Borges. No caso de
Borges, parece um fenmeno bem -vi ndo, uma vez que el e escreveu mui tas obras assi nadas com nomes que no eram o seu, como se ti vessem si do escri tas no sculo 18. O copyright se basei a na i di a de que o texto uma cri ao, uma parte do indi vduo, expr esso de seus senti mentos, de sua linguagem. A rel ao entre o texto e a subjeti vi dade, a i di a de que o texto uma projeo do indi vduo tendo como conseqnci a econmi ca a propri edade do texto surge a parti r da metade do sculo 18. O probl ema da ci rcul ao textu al em forma el etrni ca, quando no h formas de se fechar o texto, que el a criou difi culdades para os di rei tos de propri edade literr i a. Cada texto pode ser al terado pel o l ei tor e envi ado pel a i nternet. Essa mal eabilidade do texto na forma el etrni ca tornou dif cil proteger o direi to de propri edade literri a. Foucaul t apresentou na sua confernci a i naugural do Coll ge de Fr ance a i di a de um mundo textual sem apropri aes, sem nome, f ei to de ondas textuai s que se sucedi am, onde cada um poderi a escr ever suas pal avr as em um di scurso j exi stente. Era um paradoxo, porque el e apresentava seu sonho de uma textualidade col et i va, indefini da, a parti r da posi o mai s indi viduali zada, a mai s presti giosa da uni versi dade francesa. D e certa forma a i nternet per mi te aos autores que reali zem esse sonho medi da que dei xa o texto aberto s escri tas, apropri aes e al teraes. M as h a quel es fi i s ao scul o 18 que rei vindi cam a propriedade li terri a e a i dentidade da autori a. Um tema que vem sendo di scuti do nos EUA a forma de i mpedi r que o texto seja transformado, copi ado ou i mpresso. Trata - se de uma questo compli cada porque a ni ca maneira de sol ucion -l a fechando os textos. E i sto um paradoxo, poi s a inveno da i nternet deu -se justamente par a facili tar o acesso aos textos. Este foi o probl ema dos e -books, um texto pelo qual se pagava, mas que no se podia al terar, copi ar ou imp ri mir. Protegi a os direi tos do edi tor ou do autor, mas no fez sucesso porque o que torna essa nova tecnologi a textual to atraente justamente a liberdade, a mobilidade. Todas as i nvenes que vm no senti do de constranger essa liberdade so consi deradas vi ol nci as contra as novas tecnologi as. A mesma di scusso acontece no meio das publicaes ci entfi cas. H revi stas el etrni cas que querem proibir o acesso gratui to e a possi bilidade de cpi a dos artigos publicados. E h comunidades i nvesti gadoras que afi rmam, manei ra de Condorcet no sculo 18, que o saber al go que no pode ser apropri ado, poi s til para o progresso da humani dade. Al gumas comunidades investi gadoras na rea de bi ologi a, por exemplo, tentam cri ar uma forma de di fuso dos resul tados for a do control e econmi co das revi stas, cuja assi natura pode chegar a US$ 8 mil ou mesmo a US$ 12 mil . uma questo que ainda est par a ser resol vi da: a i nternet como uma textuali dade li vre e mvel ou como forma de publi cao segundo os mesmos cri trios jur di cos e estti cos da publi cao i mpressa.
Um controle difcil de obter, pois a indstria fonogrfica e st perdendo essa guerra Chartier: Mas a di ferena que a estrutura do livro impresso i mpe o texto ao l ei tor sem que el e possa modifi c -l o. Mesmo que se escr eva nas pgi nas em branco, h o
reconheci mento da autori a e que i sto implica em di rei tos econmi cos e morai s. Mas o texto el etrni co um texto aberto, no qual poss vel interferi r. uma grande di ferena. A outra grande di ferena que no mundo do texto i mpresso h uma correspondnci a entre o ti po de publi cao e o ti po de textos que se publi ca nel a. Uma revi sta no um jornal , que no um li vro, que no um documento ofi ci al , que no uma carta. H uma hi erarqui a de objetos que correspondem a uma diferenci ao na taxonomi a do texto. O computador quebra i sso. A parti r do momento em que o mesmo aparato, na mesma forma, d a l er todos os ti pos de di scursos em termos de gnero, da carta ao li vro, ou em termos de autori dade, mai s dif cil para o l ei tor que no est prepar ado fazer a diferenci ao i medi ata -que est mui to mai s evi dente no materi al i mpresso. Uma vez que todos os gneros de textos, desde os mai s nti mos aos mai s pblicos, se do a l er de uma forma quase idnti ca sobre o mesmo apar ato , h uma ruptura mui to grande na manei ra de entrar ou de conceber ou de manejar o mundo dos textos. Para o mel hor ou para o pior. Para o mel hor, porque permi te esta proximi dade entre os textos, porque h uma ci rcul ao textual que no si mpl esmente a mobi lidade de cada texto separadamente, sen o a mobilidade textu al , que seri a uma forma de i nveno e renovao. Para o pior, quando pensamos nos que negam a exi stnci a das cmaras de gs. Se al gum busca informaes sobre o Holocausto no mundo da cul tura i mpr essa ou se, ao fazer um trabal ho para a escol a, consulta enci clopdi as, li vros de hi stri a, revi stas reconhecidas, no ter tanto contato com a propaganda dos negaci oni stas, que total mente marginali zada. Em mui tos pa ses el a est proi bida ou s exi ste em revi stas que no se encontram facil mente. Assi m, as i nformaes sobre o Holocausto sero obti das em textos mai s ou menos control ados. Um jornali sta fez a mesma investi gao sobre o Holocausto na i nternet e encontrou uma enorme quanti dade da propaganda neg aci oni sta, revi si oni sta, apresentada com todas a aparnci a de texto ci entfi co. Se o l ei tor no est prepar ado para estabel ecer a di ferena que j foi estabel eci da na cul tura i mpressa por meio do formato edi tori al ou das comunidades ci enti fi cas, h um ri sco de confuso entre o que informao e o que saber. informao conhecer toda essa propaganda revi si oni sta, mas no saber. o contrrio do saber, a fal si fi cao da verdade.
A grande dificuldade como controlar, como estabelecer critrios para i sto. Quem vai estabelecer? Chartier: Vol tamos ao nosso pri mei ro tema de di scusso. No se trata de censura, mas de como reconhecer a autori dade ci entfi ca. No autoridade no senti do canni co, e si m a autoridade que se afi rma atr avs da evi dnci a, da prova. Os textos que descrevem uma reali dade hi stri ca no tm autori dade ci entfi ca equi val ente. atravs di sto que podemos reconhecer a diferena entre um texto dos revi sioni stas que inventaram que as cmaras de gs nunca exi sti ram, que nunca aconteceu o mass acr e de milhes de judeus, e um texto de um hi stori ador que se pode encontrar em uma enci clopdi a, em li vros de di vulgao e que estabel eceu uma percepo adequada do
aconteci mento. O que di go que este diferenci al de credibilidade ci entfi ca era estabel e ci do no mundo i mpresso a parti r das di ferenci aes edi tori ai s entre os ti pos de publi caes e as formas do di scurso. A gente podi a dar mais crdi to a um li vro publicado por uma edi tora reconheci da por sua exi gnci a que a um arti go de peridi co ou a uma car ta pri vada. Essa operao no i mposs vel com o texto el etrni co. El a se tornou mai s di f cil .
Talvez porque credibilidade uma coisa que se conquista com o tempo. como o prestgio de algumas universidades e o descrdito de outras. Dentro da internet ainda no houve tempo para criar portais em que o usurio possa dizer com toda convico: neste eu posso confiar. Chartier: De fato, preci so dar aos usurios da internet instrumentos cr ti cos para entender como os textos foram constru dos, par a avali ar o grau de seri edade de cada local . No podemos mini mi zar o si gnifi cado da ruptura de um mundo onde objetos e textos esto vincul ados atravs de materiali dades ml ti pl as com um mundo em que a mesma superf ci e iluminada do moni tor d a l er todos os gneros tex tuai s. A refl exo sobre essas tr ansformaes muda a per cepo dos textos e de suas diferenas. H uma descontinuidade com a l ei tura com que estvamos famili ari zados e i sto implica na transformao da rel ao fundamental com al go que continua a ser um texto , mesmo que em di ferentes formas. A l ei tura el etrni ca uma l ei tura da fragmentao, dos extr atos de li vro, sem que se sai ba nada sobre a totali dade da qual se extr aiu aquel e fragmento, poi s o fragmento el etrni co no mantm nenhuma ligao com o texto qu e garanti a o conheci mento da totalidade. O probl ema saber se a internet pode superar a tendnci a fragmentao.
Voc j orientou muitos brasileiros. Ao longo desse tempo voc leu muito sobre o Brasil nas teses de sses orientandos. A partir dessas leituras como voc v o Brasil? Chartier: Acho que h aqui uma ci rcul ao entre os campos di sciplinares da antropologi a, da histri a e da sociologi a cul tural mai s forte que em outros lugares. O campo da educao, por exemplo, que em mui tos pa ses mui to e speci ali zado, aqui me parece estar bastante integrado ao mundo das ci nci as soci ai s. A maior parte dos trabalhos que ori entei tratam de uma forma ou de outra do mundo das prti cas cul turai s, da hi stri a da publicao e da circul ao dos textos e um pouco t ambm do mundo soci al , da hi stri a da vi da pri vada, das estruturas soci ai s do Brasil colni a. H uma vi tali dade i mpressi onante nesse tipo de investi gao. O probl ema que na Europa ou nos Estados Unidos exi ste uma total fal ta de interesse por outros terri trios. Todo mundo est mui to preso a seu prprio campo de investi gao e no se d conta de que poss vel aprender mui to com estudos sobre temas que no so os seus. Isso i mpede que ci rcul em numerosos trabal hos que mereceri am ter um reconheci mento mai s f orte. Para di vulgar esses tr abal hos que tm uma fora metodolgi ca ou teri ca inspiradora, seri a preci so fazer com que edi toras norte -ameri canas tr aduzi ssem obras l atinoameri canas par a o pblico que no l em espanhol. Pode -se perceber nas refer nci as
bi bliogrfi cas de trabal hos reali zados na Europa e nos EUA que mui tas obras l atino ameri canas no esto em ingl s, sal vo trabalhos de autores ameri canos e i ngl eses sobre o Brasil.
Traduo de Ana Carolina Delmas
Isabel Lustosa ci enti sta polti ca, pesqui sadora da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janei ro, e autora de "Insul tos Impressos A Guerra dos Jornali stas na Independnci a" (Companhi a das Letr as, 2000).
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Cultura Popular Conceito HistóricoDokument21 SeitenCultura Popular Conceito HistóricoCarla Magdenier100% (1)
- Liv Rover So Definiti VaDokument125 SeitenLiv Rover So Definiti VaLiliane MarinhoNoch keine Bewertungen
- Educação e ContemporaneidadeDokument401 SeitenEducação e ContemporaneidadeLetícia da SilvaNoch keine Bewertungen
- Historia e Paradigmas RivaisDokument27 SeitenHistoria e Paradigmas RivaisPaulo César Dos SantosNoch keine Bewertungen
- Artigo Maria Lúcia de Arruda Aranha e A História Da EducaçãoDokument18 SeitenArtigo Maria Lúcia de Arruda Aranha e A História Da EducaçãoGeovanna PassosNoch keine Bewertungen
- 1 PBDokument206 Seiten1 PBLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- 4749 14696 1 PBDokument2 Seiten4749 14696 1 PBLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- 6200 18650 1 PB PDFDokument9 Seiten6200 18650 1 PB PDFLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- Educação Das Relações Étnico-Raciais No Brasil PDFDokument83 SeitenEducação Das Relações Étnico-Raciais No Brasil PDFMatheus AraújoNoch keine Bewertungen
- O Estágio Como Elemento Constitutivo de Aprendizagens Na Formação de Futuros Professores de História - Jaqueline - VivinaDokument17 SeitenO Estágio Como Elemento Constitutivo de Aprendizagens Na Formação de Futuros Professores de História - Jaqueline - VivinaLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- Livro Didático Como Mercadoria PDFDokument16 SeitenLivro Didático Como Mercadoria PDFFrancisco BalduinoNoch keine Bewertungen
- Ensinar A Aprender PDFDokument261 SeitenEnsinar A Aprender PDFEscott Escott MaiaNoch keine Bewertungen
- História da educação e democraciaDokument12 SeitenHistória da educação e democraciaalgoz36Noch keine Bewertungen
- Ensino de História: debates, conquistas e perdasDokument21 SeitenEnsino de História: debates, conquistas e perdasCristiano Rios da SilvaNoch keine Bewertungen
- DidaticahistoriaDokument18 SeitenDidaticahistoriaMauricio FragaNoch keine Bewertungen
- Liv Rover So Definiti VaDokument125 SeitenLiv Rover So Definiti VaLiliane MarinhoNoch keine Bewertungen
- DidaticahistoriaDokument18 SeitenDidaticahistoriaMauricio FragaNoch keine Bewertungen
- Artigo Maria Lúcia de Arruda Aranha e A História Da EducaçãoDokument18 SeitenArtigo Maria Lúcia de Arruda Aranha e A História Da EducaçãoGeovanna PassosNoch keine Bewertungen
- Teoria Da História I - Razão Histórica - Jorn RusenDokument193 SeitenTeoria Da História I - Razão Histórica - Jorn RusenLenita Rodrigues100% (3)
- O Estágio Como Elemento Constitutivo de Aprendizagens Na Formação de Futuros Professores de História - Jaqueline - VivinaDokument17 SeitenO Estágio Como Elemento Constitutivo de Aprendizagens Na Formação de Futuros Professores de História - Jaqueline - VivinaLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- Artigo Maria Lúcia de Arruda Aranha e A História Da EducaçãoDokument18 SeitenArtigo Maria Lúcia de Arruda Aranha e A História Da EducaçãoGeovanna PassosNoch keine Bewertungen
- Educação 2021 - para Uma História Do Futuro (Dr. António Nóvoa, Univ. de Lisboa) PDFDokument17 SeitenEducação 2021 - para Uma História Do Futuro (Dr. António Nóvoa, Univ. de Lisboa) PDFSeuze171Noch keine Bewertungen
- Heloisa Lück - Dimensoes Da Gestão Escolar PDFDokument14 SeitenHeloisa Lück - Dimensoes Da Gestão Escolar PDFFrancisco CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Saberes e Práticas Pedagógicas em Ensino de HistóriaDokument16 SeitenSaberes e Práticas Pedagógicas em Ensino de HistóriaLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- História da educação e democraciaDokument12 SeitenHistória da educação e democraciaalgoz36Noch keine Bewertungen
- A Educação Histórica Numa Sociedade Aberta Isabel BarcaDokument5 SeitenA Educação Histórica Numa Sociedade Aberta Isabel BarcaFeliciano Joaquim Cristo FerroNoch keine Bewertungen
- Heloisa Lück - Dimensoes Da Gestão Escolar PDFDokument14 SeitenHeloisa Lück - Dimensoes Da Gestão Escolar PDFFrancisco CarvalhoNoch keine Bewertungen
- Entrevista Umberto EcoDokument10 SeitenEntrevista Umberto EcoLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- CHARTIER, Roger - Cultura PopularDokument13 SeitenCHARTIER, Roger - Cultura Popularapi-3828232100% (3)
- Entrevista ChartierDokument15 SeitenEntrevista ChartierLenita RodriguesNoch keine Bewertungen
- Monografia - Wdson (1) (1) EX VOTOS DE TRINDADEDokument89 SeitenMonografia - Wdson (1) (1) EX VOTOS DE TRINDADEEDUARDO JOSÉ REIATONoch keine Bewertungen
- Adolf Guggendbuhl-Craig - o Casamento Esta Morto Viva o Casamento PDFDokument132 SeitenAdolf Guggendbuhl-Craig - o Casamento Esta Morto Viva o Casamento PDFJuliana Fernandes100% (2)
- Seminário ensina dons espirituaisDokument22 SeitenSeminário ensina dons espirituaisRobson Jps100% (4)
- Te Joseph Celebrent, Op.66.19 RavanelloDokument2 SeitenTe Joseph Celebrent, Op.66.19 RavanelloFlaviano SilvaNoch keine Bewertungen
- Dioniso, Diotima e a Erosofia SocráticaDokument14 SeitenDioniso, Diotima e a Erosofia Socráticas.renan1302Noch keine Bewertungen
- Psicologia Transpessoal PDFDokument5 SeitenPsicologia Transpessoal PDFcristianeredin716650% (2)
- A misteriosa montanha de Juratena e seu templo sagradoDokument21 SeitenA misteriosa montanha de Juratena e seu templo sagradoDemetrius Graciano50% (2)
- Rituais e festas na ordem e desordem socialDokument17 SeitenRituais e festas na ordem e desordem socialTatianaAmaralNoch keine Bewertungen
- Razões para eliminar entretenimento nos cultosDokument3 SeitenRazões para eliminar entretenimento nos cultossgomesa311304Noch keine Bewertungen
- A cena do rio do outro mundoDokument14 SeitenA cena do rio do outro mundoMarlene SantosNoch keine Bewertungen
- Orin de ExuDokument1 SeiteOrin de ExuBárbaraNoch keine Bewertungen
- Ficha de Leitura - CucheDokument15 SeitenFicha de Leitura - CucheDécio Soares VicenteNoch keine Bewertungen
- Ensino Música IgrejaDokument8 SeitenEnsino Música IgrejaWashington SoaresNoch keine Bewertungen
- O Poder SimbólicoDokument18 SeitenO Poder SimbólicoBárbara Gabriela S. Oliveira50% (2)
- Oração Espirita ComeçoDokument2 SeitenOração Espirita ComeçoFernando BatistaNoch keine Bewertungen
- Pathfinder - Ficha de Personagem (Sem Fórmula)Dokument2 SeitenPathfinder - Ficha de Personagem (Sem Fórmula)Serzedelo NetoNoch keine Bewertungen
- Espiritualidade e saúde bioenergéticaDokument5 SeitenEspiritualidade e saúde bioenergéticaPerisson DantasNoch keine Bewertungen
- Caderno Didatico SemioticaDokument68 SeitenCaderno Didatico SemioticaValdilene Santos Rodrigues VieiraNoch keine Bewertungen
- Semiótica: análise de significadosDokument65 SeitenSemiótica: análise de significadoshernanimacamitoNoch keine Bewertungen
- Azra Lumial DRACODokument11 SeitenAzra Lumial DRACOAugusto Macfergus100% (1)
- Em Teus Bracos Letra CifradaDokument4 SeitenEm Teus Bracos Letra CifradaFernando MegaNoch keine Bewertungen
- A Importância Dos Hinos Na Igreja, em Nossos Lares e em Nossas VidasDokument9 SeitenA Importância Dos Hinos Na Igreja, em Nossos Lares e em Nossas VidasRaquel Yopán CostaNoch keine Bewertungen
- Redenção É Por Deus - E. W. KENYONDokument2 SeitenRedenção É Por Deus - E. W. KENYONCarlos Roberto Querino da Rocha100% (1)
- Parsifal de Wagner: ciência, filosofia, arte e religiãoDokument36 SeitenParsifal de Wagner: ciência, filosofia, arte e religiãoMichael MouraNoch keine Bewertungen
- A Violência Masculina Como Uma Resposta Estereotipada Frente À Fragilidade Identificatória - Texto Felippe Na Pag 222 PDFDokument146 SeitenA Violência Masculina Como Uma Resposta Estereotipada Frente À Fragilidade Identificatória - Texto Felippe Na Pag 222 PDFShirlei RibeiroNoch keine Bewertungen
- A evolução da arteDokument29 SeitenA evolução da arteHenrique OliveiraNoch keine Bewertungen
- A VIDA EXTRAORDINÁRIA DE APOLÔNIO DE TIANADokument8 SeitenA VIDA EXTRAORDINÁRIA DE APOLÔNIO DE TIANAMarcello RossoneroNoch keine Bewertungen
- Filosofia de BotequimDokument25 SeitenFilosofia de BotequimJarvis BugfreeNoch keine Bewertungen
- Por que devemos confiar em DeusDokument4 SeitenPor que devemos confiar em DeusBruna SampaioNoch keine Bewertungen
- A extinção e o retorno dos muxarabis na arquitetura brasileiraDokument7 SeitenA extinção e o retorno dos muxarabis na arquitetura brasileiraBruna Batista GonçalvesNoch keine Bewertungen